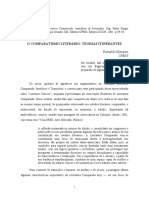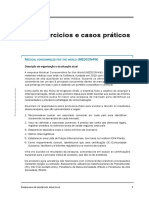Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Teoria Da Literatura IV
Încărcat de
Elis Silva VoluntáriaDescriere originală:
Drepturi de autor
Formate disponibile
Partajați acest document
Partajați sau inserați document
Vi se pare util acest document?
Este necorespunzător acest conținut?
Raportați acest documentDrepturi de autor:
Formate disponibile
Teoria Da Literatura IV
Încărcat de
Elis Silva VoluntáriaDrepturi de autor:
Formate disponibile
SUMRI O
Quadro-sntese do contedo programtico ................................................................ 11
Contextualizao da disciplina .................................................................................. 12
UNIDADE I
TEORIA LITERRIA E CRTICA LITERRIA
1.1 - Explicao do termo Teoria
1.2 - Especificidade do Literrio (Cincia Analtica X Cincia Fenomenolgica)
1.3 - Teoria: Cientificismo X Teoria: Fenomenologia (Eduardo Portella)
1.4 - Posicionamento crtico em favor da Fenomenologia (Eduardo Portella)
O Dever da Crtica Literria em Relao ao estudo da obra de arte literria
1.5 - Explicao do termo Crtica
1.6 - Objetivo da Crtica Literria (viso cientificista)
1.7 - Crtica Literria e Teoria Literria:
A Crtica como conscincia do Fato Literrio (viso fenomenolgica)
1.8 - Retrospectiva: A Natureza do Fenmeno Literrio
UNIDADE II
TEORIA LITERRIA E CRTICA LITERRIA: CARACTERES (CARTERES) INTERDISCIPLINARES
2.1 - O atual carter interdisciplinar da Teoria Literria
2.2 - Crtica de Eduardo Portella sobre as terminologias Teoria da Literatura e Teoria
Literria
2.3 - Crtica e Histria Literria
2.4 - Crtica e Sociedade
2.5 - O percurso histrico da Crtica Literria
2.6 - Reavaliando a atuao da Crtica Literria (Neuza Machado)
UNIDADE III
CRTICA LITERRIA: MODERNIDADE X PS-MODERNIDADE
3.1 - Modernidade
3.2 - Modernidade: Imanncia e Imediatismo ( de transmanncia)
3.3 - Ps-Modernidade
3.4 - Temas e Variaes da Ps-Modernidade
3.5 - Sobre a Poesia Ps-Moderna
3.6 - Sobre as Sociedades Capitalistas Ps-Modernas
3.7 - Ps-Moderno / Ps-Modernismo (Nicolau Sevcenko)
3.8 - Ps-Moderno / Ps-Modernismo (Jair Ferreira dos Santos)
3.9 - Ps-Moderno / Narrativas
3.10 - Tendncia Literria
3.11 - Narrativa Pos-Moderna/Ps-Modernista de 1
a
Gerao
3.12 - Narrativas Ps-Modernas/Ps-Modernistas de 1
a
e 2
a
Geraes
3.13 - Sobre o Marxismo Independente de Georg Lukcs como auxiliar nos estudos de
literatura pelo ponto de vista de Teofilo Urdanoz
3.14 - Modernidade/Ps-Modernidade: caractersticas scio-culturais e ficcionais
(Sculo XX ao incio do Sculo XXI)
3.15 - Sobre a Fico Ps-Modernista (2
a
Gerao Brasileira) de Rogel Samuel (Neuza
Machado)
3.16 - Leitura Crtico-Reflexiva de Neuza Machado (Sobre O Amante das Amazonas de
Rogel Samuel)
QUADRO-S NTESE DO CONTEDO
PROGRAMTI CO
UNIDADE OBJETIVOS ESPECFICOS
I - Teoria Literria X Crtica Literria Levar ao aluno informaes que definem a
- Explicao do termo Teoria situao do texto literrio (Arte Literria),
- Especificidade do literrio chamando a ateno para os aspectos que
- Teoria: Cientificismo X Teoria: Fenomenologia possam orientar teoricamente e criticamen-
- Posicionamento crtico (Fenomenologia) te suas leituras.
- Explicao do termo Crtica
- Objetivo da Crtica Literria (cientificismo)
- Crtica Literria e Teoria Literria (Fenomenologia)
- A Natureza do Fenmeno Literrio (retrospectiva)
II - Teoria Literria e Crtica Literria Levar o aluno a reconhecer no texto liter-
- O atual carter interdisciplinar da Teoria Literria rio a categoria genrica do mesmo.
- Crtica de Eduardo Portella sobre as terminologias
Teoria da Literatura e Teoria Literria
- Crtica e Histria Literria
- Crtica e Sociedade
- O percurso histrico da Crtica Literria
- Reavaliando a atuao da Crtica Literria
III - Crtica Literria: Modernidade X Ps-Modernidade Levar o aluno a reconhecer a Literatura da
- Modernidade Ps-Modernidade.
- Modernidade: Imanncia e Imediatismo
- Ps-Modernidade
- Temas e Variaes da Ps-Modernidade
- Sobre a poesia Ps-Moderna
- Sobre as Sociedades Capitalistas Ps-Modernas
- Ps-Moderno/Ps-Modernismo
- Ps-Moderno/Narrativas
- Tendncia Literria
- Narrativa Ps-Moderna/Ps-Modernista de 1
a
Gerao
- Narrativas Ps-Modernas/Ps-Modernistas de 1
a
e 2
a
Geraes
- Sobre o Marxismo Independente de Georg Lukcs
- Caractersticas Scio-Culturais e Ficcionais da Ps-
Modernidade
- Sobre a Fico Ps-Modernista no Brasil
- Leitura Crtico-Reflexiva de O Amante das Amazonas
(romance de Rogel Samuel) Neuza Machado
CONTEXTUALI ZAO DA DI SCI PLI NA
A disciplina Teoria Literria IV, acrescida de saberes de Crtica Literria, visa
reafirmar e consolidar o leque de informaes que foram utilizadas no decorrer dos
cursos de Teoria Literria I, Teoria Literria II e Teoria Literria III, e, ao mesmo
tempo, apresentar as renovadas e/ou inovadas orientaes terico-crticas do atual
momento histrico, orientaes estas que permitiro a sempre necessria e exigida
reciclagem de um contnuo e atualizado conhecimento do texto literrio (seja o texto
pesquisado literatura-arte ou no). A Crtica Literria, enquanto conhecimento que
busca a capacidade de julgar as camadas particulares do texto-arte e/ou paraliterrio, e
enquanto complemento indispensvel s diversas diretrizes tericas (replenas de
contedos universais), sempre estar em evoluo, acompanhando o prprio processo
transformador da disciplina aqui realada, apresentando-se, por este aspecto, como
contribuinte interdisciplinar, imprescindvel, para que o estudioso da literatura possa
interagir com todas as camadas de qualquer texto literrio (as camadas visveis e as
camadas invisveis).
Este conhecimento se somar s informaes dos cursos anteriores, pois, alm
de permitir a continuao das exploraes de todas as possibilidades e fundamentos da
Teoria Literria, afora o perrmanente reconhecimento dos papis da mimsis e da
catrsis no fenmeno literrio, o analista e/ou intrprete continuar a ter condies de se
disciplinar a estudar, com reanimado empenho, e, por tais motivaes, continuar a
desenvolver o senso crtico no intuito de prosseguir em estudos posteriores, tais como
Cursos de Ps-Graduao Lato Sensu em Teoria Literria e Literatura propriamente
dita, brasileira ou estrangeira, ou mesmo em Cursos de Ps-Graduao Stricto Sensu, ou
seja, um Mestrado e, posteriormente, um Doutorado.
Reafirmando as anteriores contextualizaes dos anteriores Instrucionais de
Teoria Literria , as informaes, contidas nesta disciplina, tendem a provocar no
estudioso da literatura, agora produtor de literatura-tcnica, a continuao do gosto pelo
crescimento intelectual, o qual o levar a pesquisas posteriores (Artigos, Ensaios,
Monografias, Dissertaes, Teses), assim, desenvolvendo e ampliando o seu saber ao
longo do tempo. Sem as informaes terico-crticas avanadas, j reconhecidas e
respeitadas, e as posteriores, ao trmino do Curso de Letras, o candidato a professor de
literatura (brasileira, portuguesa, inglesa, hispano-americana ou de qualquer outra
nacionalidade) no conseguir atingir o necessrio suporte para o seu prprio
desenvolvimento intelectual, tico e profissional.
UNI DADE I
TEORIA LITERRIA E CRTICA LITERRIA
Objetivos Especficos:
Quanto Teoria Literria: Levar o aluno a reavaliar as informaes terico-crticas
adquiridas anteriormente, as quais, nos cursos anteriores, definiram a situao do
texto literrio (texto-obra e/ou paraliterrio), com isto, chamando a ateno do
analista e/ou intrprete para os aspectos que tipificaram e orientaram a sua leitura.
Quanto Crtica Literria propriamente dita: Possibilitar ao estudioso da literatura
a faculdade de analisar e/ou interpretar a obra-de-arte literria auxiliado pelo atual
arcabouo crtico-literrio, principalmente a construo textual crtico-literria que
corresponde ao sculo XX e incio do sculo XXI (avaliadoras e reconhecedoras da
grandeza de obras narrativas modernistas e ps-modernistas, obras estas inovadoras,
em prosa e em versos, e poemas lricos das mesmas estticas) e reconhecer
(continuamente e fenomenicamente) a Natureza Especfica do Literrio.
1.1 - EXPLICAO DO TERMO TEORIA
O QUE TEORIA?
Nos estudos literrios e culturais, nos dias de hoje, fala-se muito sobre teoria
no teoria da literatura, veja bem; apenas teoria pura e simples. Para qualquer um
fora do campo, esse uso deve parecer muito estranho. Teoria do qu? voc gostaria de
perguntar. surpreendentemente difcil dizer. No a teoria de qualquer coisa em
particular, nem uma teoria abrangente de coisas em geral. s vezes, a teoria parece
menos uma explicao de alguma coisa, do que uma atividade algo que voc faz ou
no faz. Voc pode se envolver com a teoria; pode ensinar ou estudar teoria; pode odiar
a teoria ou tem-la. Nada disso, contudo, ajuda muito a entender o que teoria.
A teoria, nos dizem, mudou radicalmente a natureza dos estudos literrios,
mas aqueles que dizem isso no se referem teoria literria, explicao sistemtica
da natureza da literatura e dos seus mtodos de anlise. Quando as pessoas se queixam
de que h teoria demais nos estudos literrios nos dias de hoje, elas no se referem
demasiada reflexo sistemtica sobre a natureza da literatura ou ao debate sobre as
qualidades distintivas da linguagem literria, por exemplo. Longe disso. Elas tm outra
coisa em vista.
O que tm em mente pode ser exatamente que h discusses demais sobre
questes no-literrias, debate demais sobre questes gerais cuja relao com a
literatura quase no evidente, leitura demais de textos psicanalticos, polticos e
filosficos difceis. A teoria um punhado de nomes (principalmente estrangeiros); ela
significa Jacques Derrida, Michel Foucault, Luce Irigaray, Jacques Lacan, Judith Butler,
Louis Althusser, Gayatri Spivak, por exemplo.
Ento, o que teoria? Parte do problema reside no prprio termo teoria, que faz
gestos em duas direes. Por um lado, falamos de teoria da relatividade, por exemplo,
[ou seja] um conjunto estabelecido de proposies. Por outro lado, h o uso mais
comum da palavra teoria.
Por que Laura e Michel romperam?
Bom, minha teoria que ...
O que significa teoria aqui? Em primeiro lugar, teoria significa especulao.
Mas uma teoria no o mesmo que uma suposio. Minha suposio que ...
sugeriria que h uma resposta correta, que por acaso eu no sei: Minha suposio
que Laura se cansou das crticas de Michel, mas descobriremos com certeza quando
Mary, a amiga deles, chegar aqui. Uma teoria, por contraste, especulao que poderia
no ser afetada pelo que Mary diz, uma explicao cuja verdade ou falsidade ser difcil
de demonstrar.
Minha teoria que ... tambm pretende dar uma explicao que no bvia.
No esperamos que o falante continue: Minha teoria que porque Michel estava
tendo um caso com Samantha. Isso no contaria como uma teoria. Dificilmente
preciso perspiccia terica para concluir que, se Michel e Samantha estavam tendo um
caso, isso poderia ter tido alguma relao com a atitude de Laura para com Michel. O
interessante que, se o falante dissesse: Minha teoria que Michel est tendo um caso
com Samantha, de repente a existncia desse caso torna-se uma questo de conjectura,
no mais certa, e portanto uma possvel teoria.mas geralmente, para contar com uma
teoria, uma explicao no apenas no deve ser bvia; ela deveria envolver uma certa
complexidade: Minha teoria que Laura sempre esteve secretamente apaixonada pelo
pai e que Michel jamais conseguiria se tornar a pessoa certa. Uma teoria deve ser mais
do que uma hiptese: no pode ser bvia; envolve relaes complexas de tipo
sistemtico entre inmeros fatores; e no facilmente confirmada ou refutada. Se
tivermos esses fatores em mente, torna-se mais fcil compreender o que se entende por
teoria.
Teoria, nos estudos literrios, no uma explicao sobre a natureza da literatura
ou sobre os mtodos para seu estudo (embora essas questes sejam parte da teoria e
sero tratadas aqui, (...). um conjunto de reflexo e escrita cujos limites so
excessivamente difceis de definir. O filsofo Richard Rorty fala de um gnero novo,
misto, que comeou no sculo XIX: Tendo comeado na poca de Gothe, Macaulay,
Carlyle e Emerson, desenvolveu-se um novo tipo de escrita que no nem a avaliao
dos mritos relativos das produes literrias, nem histria intelectual, nem filosofia
moral, nem profecia social, mas tudo isso combinado num novo gnero. A designao
mais conveniente desse gnero misturado simplesmente o apelido teoria, que passou a
designar obras que conseguem contestar e reorientar a reflexo em campos outros que
no aqueles aos quais aparentemente pertencem. Essa a explicao mais simples
daquilo que faz com que algo conte como teoria. Obras consideradas como teoria tm
efeitos que vo alm de seu campo original.
Essa explicao simples uma definio insatisfatria, mas parece realmente
captar o que aconteceu desde o decnio de 1960: textos de fora do campo dos estudos
literrios foram adotados por pessoas dos estudos literrios porque suas anlises da
linguagem, ou da mente, ou da histria, ou da cultura, oferecem explicaes novas e
persuasivas acerca de questes textuais e culturais. Teoria, nesse sentido, no um
conjunto de mtodos para o estudo literrio, mas um grupo ilimitado de textos sobre
tudo o que existe sob o sol, dos problemas mais tcnicos de filosofia acadmica at os
modos mutveis nos quais se fala e se pensa sobre o corpo. O gnero da teoria inclui
obras de antropologia, histria da arte, cinema, estudo de gneros, lingstica, filosofia,
teoria poltica, psicanlise, estudos de cincia, histria social e intelectual e sociologia.
As obras em questo so ligadas a argumentos nessas reas, mas tornam-se teoria
porque suas vises ou argumentos foram sugestivos ou produtivos para pessoas que no
esto estudando aquelas disciplinas. As obras que se tornam teoria oferecem
explicaes que outros podem usar sobre sentido, natureza e cultura, o funcionamento
da psique, as relaes entre experincia pblica e privada e entre foras histricas mais
amplas e experincia individual.
Se a teoria definida por seus efeitos prticos, como aquilo que muda os pontos
de vista das pessoas, as faz pensar de maneira diferente a respeito de seus objetos de
estudo e de suas atividades de estuda-los, que tipo de efeitos so esses?
O principal efeito da teoria a discusso do senso comum: vises de senso
comum sobre sentido, escrita, literatura, experincia. Por exemplo, a teoria questiona
a concepo de que o sentido de uma fala ou texto o que o falante tinha em mente,
ou a idia de que a escrita uma expresso cuja verdade reside em outra parte, numa
experincia ou num estado de coisas que ela expressa,
ou a noo de que a realidade o que est presente num momento dado.
A teoria muitas vezes uma crtica belicosa de noes de senso comum; mais
ainda, uma tentativa de mostrar que o que aceitamos sem discusso como senso
comum , de fato, uma construo histrica, uma teoria especfica que passou a nos
parecer to natural que nem ao menos a vemos como uma teoria. Como crtica do senso
comum e investigao de concepes alternativas, a teoria envolve um questionamento
das premissas ou pressupostos mais bsicos do estudo literrio, a perturbao de
qualquer coisa que pudesse ter sido aceita sem discusso: o que sentido? O que um
autor? O que ler? O que o eu ou sujeito que escreve, l ou age? Como os textos se
relacionam com as circunstncias em que so produzidos?
O que um exemplo de uma teoria? Ao invs de falar sobre a teoria em geral,
vamos mergulhar direto em (...) textos difceis (...) dos mais celebrados tericos para ver
se podemos entend-los. (Conferir: CULLER, Jonathan. Teoria Literria: Uma
Introduo. Traduo de Sandra Vasconcelos. So Paulo: Beca, 1999: 11-14)
Ler proposta de Jonathan Culler (op. cit.: 14-26) de dois casos
relacionados, sobre teorias contrastantes que envolvem crticas de
idias do senso comum sobre sexo, escrita e experincia: a
teoria de A Histria da Sexualidade, de Michel Foucault, e a teoria de
Confisses (livro escrito no sculo XVIII) de Jean-Jacques Rousseau,
obra citada por Jacques Derrida (ps-estruturalista do sculo XX) em
Of Grammatology, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1976.
A teoria intimidadora. Um dos traos mais desanimadores da teoria
hoje que ela infinita. No algo que voc poderia algum dia dominar, nem
um grupo especfico de textos que poderia aprender de modo a saber teoria.
um corpus ilimitado de textos escritos que est sempre sendo aumentado
medida que os jovens e inquietos, em crticas das concepes condutoras de seus
antepassados, promovem as contribuies teoria de novos pensadores e
redescobrem a obra de pensadores mais velhos e negligenciados. A teoria ,
portanto, uma fonte de intimidao, um recurso para constantes roubos de cena:
O qu? Voc no leu Lacan! Como pode falar sobre a lrica sem tratar da
constituio especular do sujeito? Ou como pode escrever acerca do romance
vitoriano sem usar a explicao que Foucault d sobre o desenvolvimento da
sexualidade e sobre a histerizao dos corpos femininos e a demonstrao que
Gayatri Spivak faz do papel do colonianismo na construo do sujeito metropolitano?
s vezes, a teoria se apresenta como uma sentena diablica que condena voc a
leituras rduas em campos desconhecidos, onde mesmo a concluso de uma tarefa trar
no uma pausa mas mais deveres difceis. (Spivak? Sim, mas voc leu a crtica que
Benita Parry faz de Spivak e a resposta dela?) (Conferir: CULLER, Jonathan. Teoria
Literria: Uma Introduo. Trad.: Sandra Vasconcelos. So Paulo: Beca, 1999: 23-24)
Texto humorstico: Voc um terrorista? Graas a Deus. Entendi Meg dizer
que voc um teorista? (Conferir: CULLER, Jonathan. Teoria Literria:
Uma Introduo. Traduo de Sandra Vasconcelos. So Paulo: Beca, 1999: 24)
A impossibilidade de dominar a teoria uma causa importante de
resistncia a ela. No importa quo bem versado voc possa pensar ser, no pode
jamais ter certeza se tem de ler ou no Jean Baudrillard, Mikhail Bakhtin,
Walter Benjamin, Hlne Cixous, C.L.R. James, Melanie Klein ou Jlia Kristeva,
ou se pode ou no esquec-los com segurana. (Depender, naturalmente, de
quem voc e quem quer ser). Grande parte da hostilidade teoria, sem dvida,
vem do fato de que admitir a importncia da teoria assumir um compromisso
aberto, deixar a si mesmo numa posio em que h sempre coisas importantes que
voc no sabe. Mas essa uma condio da prpria vida.
A teoria faz voc desejar o domnio: voc espera que a leitura terica lhe d
os conceitos para organizar e entender os fenmenos que o preocupam. Mas a
teoria torna o domnio impossvel, no apenas porque h sempre mais para saber,
mas, mais especificamente e mais dolorosamente, porque a teoria ela prpria o
questionamento dos resultados presumidos e dos pressupostos sobre os quais eles
se baseiam. A natureza da teoria desfazer, atravs de uma constatao de
premissas e postulados, aquilo que voc pensou que sabia, de modo que os efeitos
da teoria no so previsveis. Voc no se tornou senhor, mas tampouco est onde
estava antes. Reflete sobre sua leitura de maneiras novas. Tem perguntas
diferentes a fazer e uma percepo melhor das implicaes das questes que
coloca s obras que l.
Essa brevssima introduo no o transformar num mestre da teoria, e no
apenas porque ela muito breve, mas porque esboam linhas de pensamento e reas de
debate significativas, especialmente aquelas que dizem respeito literatura. Ela
apresenta exemplos de investigao terica na esperana de que os leitores achem a
teoria valiosa e cativante e aproveitem para experimentar os prazeres da reflexo.
(Conferir: CULLER, Jonathan. Teoria Literria: Uma Introduo. Traduo de Sandra
Vasconcelos. So Paulo: Beca, 1999: 24-25)
1.2 - ESPECIFICIDADE DO LITERRIO (CINCIA ANALTICA X CINCIA FENOMENOLGICA)
A formao de um conceito para a palavra especificidade, pelo ponto de vista
cientificista, um conceito que diligencia analisar apenas as linhas do enunciado (ou seja,
os aspectos visveis do texto), determina ao analista ou intrprete da literatura um
entendimento fechado, esttico e formal. A literatura (literatura-arte) torna-se
simplesmente um objeto, no possibilita desenvolver uma apreciao reflexiva que
revele o lado oculto do texto, elimina-se a idia de compreenso das camadas profundas
(isto em relao apenas ao texto-arte) uma vez que o pesquisador se v obrigado a
analisar rigorosamente apenas as camadas expressivas do discurso literrio.
Pelo ponto de vista fenomenolgico, observa-se o texto-arte como um
fenmeno, em princpio, esttico, como visto pelos cientificistas rigorosos, mas, logo
a seguir, tal fenmeno torna-se dinmico, graas compreenso e ao conhecimento do
leitor, quando este empreende um estudo consciente das mensagens interlineares,
mensagens reveladoras, produtoras de novos conhecimentos, mensagens que estaro
sempre e sempre se renovando, pois, com o passar do tempo, novos leitores estaro
tambm em comunho anmica com tais textos (textos-arte, que fique bem entendido),
desenvolvendo renovados dilogos ao longo dos sculos (pelo menos, enquanto tais
textos existirem).
(Neuza Machado, Apontamentos de Teoria Literria e Crtica Literria, no prelo)
FENMENO aquilo que se manifesta [o j manifestado
(esttico) e o que ainda est se manifestando (dinmico)]
1.3 - TEORIA: CIENTIFICISMO X TEORIA: FENOMENOLOGIA (EDUARDO PORTELLA)
POSICIONAMENTO CRTICO CONTRA A CRTICA DE BASE CIENTIFICISTA EM
RELAO AOS TEXTOS LITERRIOS CONSIDERADOS ARTE
A partir do instante em que o pensamento ocidental fez a sua opo
declaradamente cientfica, as outras formas de conhecimento, apreenso ou
manifestao do real, foram sendo progressivamente desvalorizadas. Compreende-se:
uma histria escrita imagem e semelhana dos modelos cientficos guarda, no seu
incontido unidimensionalismo, uma profunda indiferena para com as demais figuras de
verdade. Todo o empenho dessa civilizao cientificizante se foi concentrando na tarefa
de desenvolver e aperfeioar uma tcnica a tcnica da transformao do mundo. E de
tal modo esse programa se imps, que a nova bblia decorrente chegou a considerar
irrealtudo o que no fosse passvel de transformao. A arte, imediatamente, passou a
ser a ptria da irrealidade. Mas enquanto perdurou e perdura o homem, ela sobreviveu e
sobrevive. Atravs de uma vida constantemente ameaada, mas sobrevive. Porque o seu
lugar na estruturao da existncia humana no um lugar supletivo ou acidental. A
arte dimenso fundadora do homem. (Conferir: PORTELLA, Eduardo. Fundamento
da Investigao Literria. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1974: 29-30)
1.4 - POSICIONAMENTO CRTICO EM FAVOR DA FENOMENOLOGIA (E. PORTELLA)
O DEVER DA CRTICA LITERRIA EM RELAO AO ESTUDO DA OBRA DE ARTE LITERRIA
Enquanto a cincia , toda ela, uma reduo homogeneidade, a obra de arte se
oferece como um conjunto heterogneo. Mas heterogneo precisamente pela fora de
atuao da linguagem; cujo desempenho fundamental consiste em promover
permanentemente a abertura do sistema sgnico. E assim a crtica literria deve
preservar a heterogeneidade para implicitar ou explicitar a verdade da obra. Deve
crescer por dentro. O que somente ser possvel mediante a restaurao da marca
original do literrio. O literrio no apenas discurso, porque d origem ao discurso.
No fala; faz falar. o pr-texto instaurando o entre-texto. Como penetrar nessa
estrutura heterognea? No basta o conhecimento da estrutura especfica de cada nvel,
da episteme de cada rea. imprescindvel estar de posse de um saber integrado e
integrador de toda a constelao elaborada pelo entre-texto. Perceber a dinmica que
alimenta as categorias fundadoras; estilo, individualidade, ambiente, forma, sons, todos
os diferentes recursos da unificao da obra, j que toda essa complexa e matizada
polivalia desemboca no nico esturio unificador: a obra. A apreenso dessa
disseminao ter de processar-se no interior da dialtica deidentidade (linguagem, pr-
texto) e diferena (lngua, texto). (Conferir: PORTELLA, Eduardo. Fundamento da
Investigao Literria. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1974: 69-70)
1.5 - EXPLICAO DO TERMO CRTICA
DEFINIO E OBJETIVO
CRTICA (Etimologia):
O termo crtica deriva do grego KRNEIN, que significa julgar, atravs do
feminino da forma latina CRITICU(M). KRITS significa juiz e KRITIKS, juiz ou
censor literrio.
A palavra crtica, ou qualquer de seus sinnimos, enriqueceu-se de sentido e
tornou-se universalmente aceita como designativo de anlise, interpretao e julgamento
da obra de arte, ou de objetos paralelos (crtica da situao econmica, crtica do
progresso cientfico, etc.), ou ainda indicativo dos modos de julgar (crtica histrica,
crtica oral, crtica jurdica, etc.).
Em razo da elasticidade semntica adquirida, a palavra tambm recorre no dia-
a-dia para emoldurar juzos ou opinies a favor ou contra [designao errada].
No curso do tempo, aos poucos o vocbulo crtica veio ganhando significados
novos, at chegar indeterminao semntica dos nossos dias (abarca atividades
mltiplas e diferenciadas: desde artigos de jornal tese universitria, passando pelas
monografias, ensaios, artigos de revista, conferncias, etc., tudo recebe indistintamente
o apelativo de crtica. Como se no bastasse, aglutina-se a atividades vizinhas, numa
inter-relao verdadeiramente labirntica; a historiografia literria, que possui mtodos e
objetivos prprios, no dispensa o suporte da crtica; a anlise literria conduz
necessariamente crtica e dela recolhe esclarecimentos, etc.). (Conferir: MOISS,
Massaud. A criao literria. 5. ed. So Paulo, Melhoramentos, 1973: 289-290)
1.6 - OBJETIVO DA CRTCA LITERRIA (viso cientificista)
Para a crtica literria o que interessa averiguar os processos literrios que o
autor empregou para traduzir a sua viso de mundo. (Massaud Moiss, Ibidem)
1.7 - CRTICA LITERRIA E TEORIA LITERRIA
A CRTICA COMO CONSCINCIA DO FATO LITERRIO (Viso fenomenolgica)
O conhecimento literrio no pode prescindir de uma base terica, que o
sustente sem limit-lo, que o livre dos achismos, sem confin-lo numa nica
perspectiva. (Conferir:
FATO coisa ou ao feita;
caso;
acontecimento;
feito;
aquilo que realmente existe, que real;
FENMENO (Filosofia).
TEORIA LITERRIA fornece elementos para a apreenso do
FENMENO LITERRIO.
A aprendizagem terica no pode estar desvinculada do contato profundo e constante com o texto literrio.
A teoria nasce do texto e para ele se volta. O texto literrio guarda a teoria, implcita ou explicitamente.
TEORIA E CRTICA inter-relao terico-analtica para o reconhecimento do texto literrio.
LITERATURA caracteriza-se pela pluralidade de sentidos.
TEORIA LITERRIA aberta s mltiplas dimenses do seu objeto
de estudo (a Literatura).
TEORIA LITERRIA carter interdisciplinar e, ao mesmo tempo,
independente.
A Teoria Literria assume um carter interdisciplinar porque assimila os
conhecimentos de cincias afins tais como a sociologia, a antropologia, a lingstica, a
histria, a psicanlise, todas voltadas igualmente para manifestaes do ser e do fazer
humanos. Este inter-relacionamento amplia e enriquece o estudo da Literatura. (...) A
crtica, qualquer que seja a via de acesso escolhida (sociolgica, psicolgica,
lingstica...), no pode descartar-se de sua dupla feio: enquanto crtica obedecer a
um rigor, que lhe garantido pelo mtodo de abordagem e, enquanto literria, incluir
literariamente o sentido que, na literatura, ultrapassa o campo do conhecimento com o
qual se articulou, na construo do modelo de leitura. (Conferir: SOARES, Anglica
Maria. A Crtica. In: SAMUEL, Rogel (Org.). Manual de Teoria Literria. Petrpolis:
Vozes: 90-91)
TEORIA LITERRIA E CRTICA LITERRIA
1) TEORIA LITERRIA Disciplina de configurao autnoma (porm de carter
interdisciplinar).
CRTICA *pratica concretamente o
sistema de ensino de
literatura
TEORIA
(NCLEO)
MTODO * TEORIA suporte para ensinar
literatura
LIMITES DA TEORIA LITERRIA Teoria: No pode desequilibrar as relaes de
poder das outras disciplinas literrias (limite
que no pode ser violado).
Limites: Impedem que a Teoria Literria se
transforme numa disciplina dominadora e
repressiva.
2) ALARGAMENTO INTERDISCIPLINAR uma natural conseqncia do seu
progresso tcnico.
METODOLOGIA ALTERNADA:
*
ANTROPOLOGIA TEXTO LITERRIO
LINGSTICA
PSICOLOGIA *Disciplinas aparentemente dissociadas
DIREITO
TEORIA LITERRIA
SOCIOLOGIA
SEMIOLOGIA
FILOSOFIA
HERMENUTICA
ANTROPOLOGIA
ETC.
* Unio para a DECIFRAO do enigma do homem.
(Ponto de vista de Eduardo Portella, na dcada de setenta Livro de Portella: Teoria
Literria, editora Tempo brasileiro)
INVESTIGAO LITERRIA = CRTICA LITERRIA
1.8 - RETROSPECTIVA: A NATUREZA DO FENMENO LITERRIO
H inmeras correntes terico-crticas formalizando idias de como interagir
com o texto literrio; h formas terico-crticas cientificistas de como recortar o texto,
seja ele paraliterrio ou texto-arte, e deter-se em um dos referentes, para investig-lo,
mas, subentendido, os outros dois sempre estaro presentes. importante que os trs
referentes estejam sempre interligados, para que o leitor possa desenvolver uma anlise
consciente do que se encontra visvel no objeto de sua investigao (ponto de vista
cientificista). Mas, o entendimento e/ou reconhecimento das entrelinhas (o que se
encontra invisvel no texto-arte), desenvolvido por intermdio do CONHECIMENTO
particular de cada leitor (ponto de vista fenomenolgico), algo que a investigao
cientificista no poder alcanar.
(Neuza Machado, Apontamentos de Teoria Literria e Crtica Literria, no prelo)
TEXTO = HOMEM + REALIDADE + EXPRESSO
TODO TEXTO O RESULTADO DE UMA LEITURA
LEITOR + TEXTO = relao objetiva e subjetiva.
LEITURA = PRODUTIVIDADE (enquanto modalidade de relao radical do homem com a realidade)
TEXTO = elaborao humana, trabalho
TRABALHO = ao humana (pela qual o homem textualizando, significando o real se significa)
Por um lado:
Esta elaborao humana s encontra sua plenitude na medida em que ao elaborar ele
colabora (pressupe o outro, socializa)
ao humana: o homem, textualizando, significando o real
se significa.
TEXTO
Ao =
significativa
TRABALHO
ao humana: ao elaborar (o texto como trabalho) o
homem co-labora (pressupe o outro, socializa-se)
LEITURA
supe colaborao, porque o texto no se l, o instrumento no se l;
pressupe o outro;
pressupe colaborao.
Por outro lado:
Tal noo evidencia que o texto no se limita ao escrito, implicando sobretudo o oral.
Uma fotografia, uma esttua, um instrumento, etc., um texto / expressa uma relao do
homem com o real.
Entre tantas modalidades de texto, quando um texto especificamente literrio?
(LITERRIO AQUI = LITERATURA-ARTE)
UNI DADE I I
TEORIA LITERRIA E CRTICA LITERRIA: CARACTERES (CARTERES) INTERDISCIPLINARES
2.1 - O ATUAL CARTER INTERDISCIPLINAR DA TEORIA LITERRIA
A Teoria Literria assume um carter interdisciplinar porque assimila os
conhecimentos de cincias afins tais como a sociologia, a antropologia, a lingstica, a
histria, a psicanlise, todas voltadas igualmente para manifestaes do ser e do fazer
humanos. Este inter-relacionamento amplia e enriquece o estudo da Literatura. (...) A
crtica, qualquer que seja a via de acesso escolhida (sociolgica, psicolgica,
lingstica...), no pode descartar-se de sua dupla feio: enquanto crtica obedecer a
um rigor, que lhe garantido pelo mtodo de abordagem e, enquanto literria, incluir
literariamente o sentido que, na literatura, ultrapassa o campo do conhecimento com o
qual se articulou, na construo do modelo de leitura. (Conferir: SOARES, Anglica
Maria. A Crtica. In.: SAMUEL, R. (Org.). Manual de Teoria Literria. Petrpolis:
Vozes, 1999: 90-91)
2.2 - CRTICA DE EDUARDO PORTELLA SOBRE AS TERMINOLOGIAS TEORIA DA
LITERATURA E TEORIA LITERRIA
O estudo moderno da literatura fez emergir, e potencializou progressivamente,
uma disciplina portadora de movimentada biografia, ou de honrosa ascendncia, a que
se vem chamando indiscriminadamente de Teoria Literria ou Teoria da Literatura.
Trata-se de disciplina estruturalmente ambgua, irresistivelmente interdisciplinar, ao
mesmo tempo autnoma e supletiva.
Preferimos a primeira opo terminolgica porque, se Teoria da Literatura diz
nominalmente todo e qualquer conceito que se dirige ou se aplica ao texto potico,
Teoria Literria antes uma modalidade reflexiva que surge ou se instala a partir do
literrio.
Essa pequena controvrsia terminolgica seria irrelevante se no escondesse ou
abrigasse um entendimento da prpria matria. A interdisciplinariedade (sic) referida foi
se ampliando de tal maneira que se transformou numa interdisciplinariedade,
estabelecendo estranho contraponto onde se observa de um lado a orgia terica e do
outro a insensibilidade literria. O novo saber comeou correndo o risco de se converter
num departamento menor de instituies maiores, especialmente da Lingstica, da
Antropologia e da Psicologia. E a nsia de objetividade incrustada no modelo cultural
da nossa era estimulou e promoveu essas conexes aprisionadoras. Do mesmo modo, e
como conseqncia, tiveram de processar a condenao da Esttica. Mas a demisso da
Esttica se apresentava por meio de raciocnios simplificados que, ao contrrio de
mostrar os sinais do cadver apodrecido, deixava aparecer um corpo pleno de vida e
mltiplas vibraes. Aquela Esttica proclamada morta talvez s tenha existido na
decodificao insuficiente de leitores desinformados.
A arte permanece como uma modalidade do real. E o processo diferenciante
passa a ter sentido se admitimos que nem toda realidade arte. Descrever a diferena da
arte na identidade do real, faz parte ou indica uma problemtica que escapa viso
mope da funcionalidade. justamente em meio a essa tenso infindvel que o entre-
texto proclama a sua autonomia. Entre-textualizar quer dizer autonomizar. (Conferir:
PORTELLA, Eduardo. Fundamento da Investigao Literria. Rio de Janeiro: Tempo
Brasileiro, 1974: 151 - 152)
Tenho uma tendncia pouco freqente a celebrar a especializao. Houve poca
em que cheguei a celebrar a especializao, porque imaginava que se as disciplinas se
verticalizassem, se salvariam. Progressivamente, porm, fui percebendo que as
disciplinas se fechavam em guetos, que com isso mesmo elas no perceberam que o
saber dispe de uma estrutura plural, que era fundamental estabelecer alianas,
parcerias, modalidades de cooperao pluridisciplinar para que elas pudessem ressurgir.
Ento, neste caso especfico, a interdisciplinaridade no constitui um espao de abrigo,
de proteo, mas uma base de lanamento: por ali que os conhecimentos em crise
circularo. Os conhecimentos que precisam de novas alianas para se reerguerem se
encontraro.
A transdisciplinaridade, contudo, s desponta no cenrio intelectual a partir de
um determinado perodo ao longo de 30 anos, os 30 anos de 1968. Inicialmente, at
1968, houve o imprio da anlise estilstica nos estudos literrios. A anlise estilstica j
foi vanguarda.j tinha sido pouco antes a nova crtica e, com a chegada de 1968,
irrompeu uma espcie de desconstruionismo ambicioso, que invadiu as margens
dediferentes reas do conhecimento. Ele invadiu tambm a rea do saber literrio e, com
isso, prestou alguns servios, ao desmontar alguns sistemas altamente instalados.
Instalados de maneira inflexvel, como se no houvesse lugar para certas
permeabilidades, coabitaes, regimes de convivncia. Com a descontrao, geramos
alguns paradigmas desconstrucionistas. Esses paradigmas tiveram um papel
fundamental, na medida em que contriburam para desestabilizar um conjunto de
princpios rigidamente constitudos. A chegada, portanto, desse esforo de
desconstruo teve um papel essencial o de abalar nossas certezas.
Todos sabem que ns vivemos, em alguns instantes quase dramaticamente, esse
tipo de transformao. Mas, de qualquer maneira, absorvemos com serenidade a
avalanche do desconstrucionismo e, ao mesmo tempo, fomos capazes de procurar sadas
para o impasse que ele gerou. Porque aps duas, trs geraes, no se pode mais viver
s de desconstruir. Me parece que hoje, 30 anos depois, ns j podemos dizer basta
desconstruo. Ela desempenhou um papel histrico fundamental, ela contribuiu
inegavelmente para alterar certo regime de propriedade intelectual. Mas, j precisamos,
nesse final de milnio, nesse final de reconstruo de uma histria perplexa, e de uma
histria seguramente incerta, ns precisamos rever este conjunto de princpios que
fizeram a glria da desconstruo.
Nesse (Naquele) perodo de domnio total da desconstruo, um grupo de
pessoas tentou fazer uma leitura hermenutica da literatura. Essa leitura no tinha a
menor aceitao no quadro de trabalho ento vigente. Era considerada uma inutilidade,
ou uma aberrao, ou uma imprudncia terica, ou as trs coisas simultaneamente.
Porque essa nova modalidade de interpretao significava uma espcie de ncleo de
resistncia a essa voracidade formalizadora. Era o perodo em que a lingstica
modelizava para todas as outras disciplinas.
Lembro-me que a sociologia se amparou enormemente na lingstica. Que
disciplinas complexas, como a neurologia ou como a prpria filosofia, em certos
instantes, comearam a modelizar em funo dos parmetros cientficos dispostos pela
lingstica. O momento era residualmente de combate ao impressionismo e aquelas
possibilidades de formalizao eram extremamente bem-sucedidas e bem recebidas.
Evidentemente, neste quadro de predominncia dos modelos formalizantes,
representados sobretudo pelo estruturalismo, aliado, mais do que aliado, da lingstica, a
proposta hermenutica era considerada de pouca cientificidade, de capacidade reduzida
para dar conta de uma relao mais objetiva com o texto. (Conferir: PORTELLA,
Eduardo. Os Paradigmas do Silncio. In: LOBO, Luiza (Org.). Globalizao e
Literatura. Discursos Transculturais. Rio de Janeiro: Relume Dumar, 1999: 11-13)
A partir do esforo de verticalizao, quando a conscincia crtica da literatura
assumiu o comando dos estudos literrios, deixando de lado o palpite emocionado mas
ingnuo, a investigao literria registrou algumas atitudes bsicas, importantes.
A primeira tomada de posio aconteceu com a chamada NOVA CRTICA, que
abrigava vrios tipos de anlise literria, desde a anlise estilstica alem ou espanhola
at o new criticism anglo-americano.
A segunda opo crtica [filolgica], embora podendo ser enlaada com a
primeira, identifica-se por um rigor sistemtico e por uma amplitude de viso, que
justifica plenamente o tratamento autnomo (isto, quando exercida por representantes
da fora criadora de um Leo Spitizer, de um Erich Auerbach, de um Damaso Alonso, de
um Hugo Friedrich).
O terceiro momento tem na Lingstica o seu modelo e o seu padro de
verdade. (Conferir: PORTELLA, Eduardo. Limites Ilimitados da Teoria Literria. In.:
PORTELLA, Eduardo (org.). Teoria Literria. R. J.: Tempo Brasileiro, 1977: 9)
2.3 - CRTICA E HISTRIA LITERRIA
Crtica e Histria Literria so encaradas atualmente de muitas perspectivas.
Em meio aos mltiplos ensaios e posies tericas torna-se cada vez mais difcil abrir
um caminho de apreenso e compreenso mnima, no s do objeto como das prprias
metodologias. que, a par das mltiplas pesquisas de que resulta uma bibliografia
numerosa, muitas vezes de difcil acesso, elabora-se uma nomenclatura especialssima.
Sucede ento que em vez de aquelas esclarecerem cada vez mais o objeto pesquisado,
tem-se um resultado inverso. Acresce que a mudana constante deixa o leitor
interessado o qual procura um acesso a tal conhecimento, confuso e desanimado. De
fato, nem sempre isto inevitvel, porque o conhecimento do literrio se constitui cada
vez mais crtica e reflexivamente. (Conferir: CASTRO, Manuel Antnio de. Crtica e
Histria Literria. In.: PORTELLA, Eduardo (Org.) Teoria Literria. Rio de Janeiro:
Tempo Brasileiro, 1975:19)
HISTRIA LITERRIA SUPE UM ENFOQUE TERICO-CRTICO.
*A posio crtica resulta de uma teorizao do que seja determinado objeto.
*A teoria literria, ao teorizar sobre o objeto (obra literria), automaticamente institui
um mtodo, decorrente da prpria teoria e do objeto de enfoque.
TEORIA OBJETO
MTODO
MTODO caminho para
REALIZAO METODOLGICA (se pode dar em forma de):
*proposies (teorizaes);
*forma prtica (ensaios, histria literria)
Partindo do princpio de que no h prtica sem teoria, acontece muitas vezes que a
prtica uma teoria que se desconhece. Temos assim, inevitavelmente, um primeiro
nvel de relacionamento entre Crtica e Histria Literria.(Conf.: CASTRO, op.cit.: 19)
2.4 - CRTICA E SOCIEDADE
DICIONRIO:
CRTICA
Faculdade de examinar e/ou julgar as obras do esprito, em particular as de
carter literrio ou artstico;
A expresso da crtica, em geral por escrito, sob forma de anlise, comentrio
ou apreciao terica e/ou esttica;
Discusso dos fatos histricos;
O conjunto daqueles que exercem a crtica; os crticos;
Juzo crtico; discernimento; critrio;
Apreciao minuciosa, julgamento;
SOCIEDADE
Agrupamento de seres que vivem em estado gregrio (sociedade humana;
sociedade de abelhas; etc.);
Conjunto de pessoas que vivem em certa faixa de tempo e espao, seguindo
normas comuns, e que so unidas pelo sentimento de conscincia do grupo; CORPO
SOCIAL (a sociedade medieval; a sociedade moderna; etc.);
Grupo de indivduos que vivem por vontade prpria sob normas comuns;
COMUNIDADE (sociedade crist; sociedade dos hippies);
Meio humano em que o indivduo se encontra integrado (A sociedade
constitui-se de classes de diferentes nveis);
Relao entre pessoas; vida em grupo; participao; convivncia;
comunicao (O homem precisa da sociedade dos seus semelhantes);
Reunio de indivduos que mantm relaes sociais e mundanas (os prazeres
da sociedade; homem de sociedade);
Grupo de pessoas que se submetem a um regulamento a fim de exercer uma
atividade comum ou defender interesses comuns (agremiao; centro; grmio;
associao [Sociedade brasileira de autores teatrais; Sociedade protetora dos animais,
etc.] );
Companhia de pessoas que se agrupam em instituies ou ordens religiosas;
Parceria; associao;
Etc.
2.5 - O PERCURSO HISTRICO DA CRTICA LITERRIA
As primeiras manifestaes no final do sculo XIX: Crtica Biogrfica
(Romantismo); Crtica Impressionista (Impressionismo) e Crtica Determinista
(Realismo/Naturalismo): O sculo XIX tem uma especial importncia, pois
quando nascem as principais idias e cincias que vo formar o sculo XX. No
sculo XIX aparecem Hegel e Marx, o positivismo e o evolucionismo. A razo, a
racionalidade desta poca atinge o mximo de seu apogeu com o capitalismo
europeu. (...) O sculo XIX assiste ao nascimento de um conflito terico prtico at
agora no superado, e modificou o velho mundo: as idias liberais e neoliberais
democrticas da burguesia ocidental predominaram. Correntes filosficas
fundamentavam dois tipos de teoria literria, dois modos de ler o texto, um
tradicional e o outro prospectivo, que tinha os olhos no futuro, nas transformaes
sociais. (Conferir: SAMUEL, Rogel. Novo Manual de Teoria Literria. Petrpolis:
Vozes, 2002: 61-62);
Sculo XIX no Brasil. No Brasil havia um ambiente de estagnao intelectual,
salvo pelo gnio de uns poucos crticos extraordinariamente ativos, como Tobias
Barreto (1839-1889), que superava a sua poca. Tobias Barreto revolucionava e
escreveu grandes obras hoje desconhecidas. // O meio cultural do Brasil persistia
reacionrio, no aceitando nada que exigisse algum esforo de compreenso ou que
lhe mudasse o gosto, a idia. (Conferir: SAMUEL, Rogel. Novo Manual de Teoria
Literria. Petrpolis: Vozes, 2002: 73);
O Formalismo Russo (Crculo Lingstico de Moscou, 1914): Caracterizando-se
pela recusa aos elementos extratextuais, como fonte de explicao da obra literria,
atravs de seu mtodo descritivo e morfolgico (Eikhenbaun), os formalistas vo
procurar distinguir, no prprio texto, as caractersticas que o tornam literrio, a sua
literariedade. Conferir: SOARES, Anglica Maria. A Crtica. In.: SAMUEL, Rogel
(Org.). Manual de Teoria Literria. Petrpolis: Vozes, 1999: 95);
A primeira notcia que se d sobre o Formalismo Russo diz que nasceu no Crculo
Lingstico de Moscou (1914-1915) e durou at 1924-25, quando o patrulhamento
ideolgico bruscamente interrompeu suas pesquisas, no sem o fuzilamento de
algum, como o do lingsta Polivanov. Nessa poca foi fundada a Associao para
o estudo da linguagem potica, chamada de Opaiaz, que tambm no escapou ao
incio do stalinismo. No era para estranhar: o chefe do formalismo, Chklovski,
atacava o marxismo. (...) // Os que deixaram trabalhos pioneiros foram Chklovski,
Eikhenbaurn, Jakobson e Tinjanov. A grafia destes nomes varia muito, e a
pronncia geralmente se desconhece: Jakobson disse que seu nome se dizia
/Jacobu/. (...) // A literatura, entretanto, explicada no formalismo como uma
funo da linguagem, a funo potica: que d nfase prpria mensagem (uma
contradio, j que se omitia o estudo da mensagem). (Conferir: SAMUEL, Rogel.
Novo Manual de Teoria Literria. Petrpolis: Vozes, 2002: 78-79);
Opoiaz (Associao Para o Estudo da Linguagem Potica, 1917): Um movimento
de crtica literria, estreitamente ligado aos movimentos artsticos de vanguarda e
ao Formalismo Russo. (Conferir: SOARES, Anglica Maria. A Crtica. In.:
SAMUEL, Rogel (Org.). Manual de Teoria Literria. Petrpolis: Vozes, 1999: 95);
A Dialtica Hegeliana: A Fenomenologia do Esprito de Hegel um texto que s
deve ser compreendido na integralidade de seu mtodo (o sistema um todo, ou o
verdadeiro o todo*, dizia ele), em que um fato gerador racionalmente verificado
como matriz de uma determinada forma de pensar o mundo, e qulquer parte se torna
obscura se no for vista como parte dele. O sistema da cincia como diz Hegel,
denominaria a atividade filosfica tem unidade interna que tudo sistematiza, e
quem se prope a pensar sem sistema, no faz cincia, apenas emite opinies e
convices, como na cultura de massa, opinies que s se justificariam dentro de um
contedo sistemtico que tem um princpio, ou seja, aquilo que determina tudo o
mais na construo da grade lgica. O sistema hegeliano, tal como se apresenta na
Fenomenologia, um crculo que se fecha sobre uma totalidade, mas se abre
contingncia, ao no-necessrio; e tambm se abre liberdade, revoluo, pois
filho da Revoluo Francesa, e Hegel foi o primeiro a submeter a dialtica da
filosofia Histria. Alm disso, a liberdade em Hegel significa poder ser, e tal
sistema deve conter em si uma capacidade, na medida em que nele sejamos
conduzidos a ver que ns produzimos o saber ou, dito de outro modo, na medida em
que descubramos que a realidade produzida por ns mesmos, como na Democracia
Representativa. (Conferir: SAMUEL, Rogel. Novo Manual de Teoria Literria.
Petrpolis: Vozes, 2002: 63-64). *NOTA DE ROGEL SAMUEL: HEGEL.
Fenomenologia do Esprito. Petrpolis: Vozes, p. 31. Traduo de Paulo Meneses.
Estilstica: um ramo da Cincia da Linguagem (apogeu: anos 30/40): Charles
Bally (!865-1947), discpulo de Saussure,foi quem primeiramente colocou a
estilstica como ramo da cincia da linguagem. Ele prope uma estilstica
fundamentalmente lingstica, ainda no voltada para os aspectos da funo esttica
da lngua literria. (Conferir: SOARES, Anglica Maria. A Crtica. In: SAMUEL,
Rogel (Org.). Manual de Teoria Literria. Petrpolis: Vozes, 1999: 98-99).
Nietzsche e a Crtica dos Valores: A crtica (toda a filosofia de Nietzsche
crtica) determina conceitos de valor, noo de valor que implica num certo
investimento crtico contra: 1) de um lado, os valores aparecem como princpios
pressupostos (existindo como tais); 2) de outro lado, ao contrrio, contra valores de
que derivam avaliaes, pontos de vista de apreciao, de onde esates valores
derivam (so fenmenos criados). Estas avaliaes no so valores, mas maneiras de
ser, modos de vida daqueles que julgam, avaliam e criam seus prprios princpios
sobre os quais so construdos os valores (a democracia, o socialismo). / A filosofia
crtica de Nietzsche* tem dois movimentos inseparveis: todas as coisas e todas as
origens de qualquer valor se referem a valores, para depois referir estes valores a
outra coisa que seja a origem (dos valores) e que decida o valor (dos valores), como
o bem e o mal. (Conferir: SAMUEL, Rogel. Novo Manual de Teoria Literria.
Petrpolis: Vozes, 2002: 70);
(* NOTA DE ROGEL SAMUEL: DELEUZE, Gilles. Nietzsche et la philosophie.
Paris: PUF, 1983, 282 p.)
O New Criticism norte-americano dos anos quarenta do sculo XX: Na dcada
de 30 surgiu, nos Estados Unidos, o New Criticism (Nova Crtica) / O new criticism
acabou com a crtica que se publicava nos jornais, acusada de impressionista, de
no-cientfica. Passou a ser exercida unicamente pelos professores universitrios,
que s deviam ver os elementos intrnsecos, formais, sendo abolidas as
verificaes extrnsecas, histricas e sociolgicas. // Os prprios escritores
tiveram mxima influncia naquele momento, dentre eles Paul Valry, Ezra Pound,
Henry James, T. S. Eliot. / Acreditava-se que a crtica podia ser produto da
experincia. Eliot dizia: A crtica honesta e a sensibilidade literria no se
interessam pelo poeta, e sim pela poesia. (Conferir: SAMUEL, Rogel. Novo
Manual de Teoria Literria. Petrpolis: Vozes, 2002: 81);
A nova crtica se prope a romper com a hermenutica (interpretao de texto),
com a ontologia (estudo metafsico ou do ser), com a filologia (interpretao a partir
de figuras de linguagem previamente dadas) e com a leitura de texto que empresta a
este a noo de inteno do autor ou se rege pelo perfil biogrfico do mesmo.
Dentro de uma noo de autonomia do texto esttico, a nova crtica prope para o
texto potico uma leitura microscpica (close reading), isto , imanente do texto
literrio, com uma anlise a partir do significado do prprio texto, e no de um
contexto histrico, biogrfico ou externo a ele, como seria o caso tambm de uma
leitura de fontes. A obra o prprio testemunho do autor. / O crtico busca portanto
os significados denotativos e conotativos das palavras, ambigidades tenses de
vocbulos e sintagmas, imagens, metforas e smbolos dominantes ou recorrentes,
processos retricos na composio de cada gnero a partir do enredo, personagens,
atmosfera, temas principais e secundrios. Na leitura microscpica o crtico se
aproxima do texto com objetividade e preciso, como um anatomista que estuda o
tecido ao microscpio, embora sem esquecer do aspecto humano da obra. A nfase
est no objeto analisado, a obra, e no no sujeito que a analisa, ou mesmo nas
origens e efeitos daquela. (...) / O objetivo da nova crtica aproximar o crtico do
texto potico e afast-lo da interpretao ontolgica ou hermenutica, que especula
sobre a essncia, ou da interpretao sociolgica ou histrica, que extrapola os
limites do texto. (Conferir: LOBO, Luza. A Crtica. In.: SAMUEL, Rogel (Org.).
Manual de Teoria Literria. Petrpolis: Vozes, 1999: 102-104);
A Nova Crtica Americana no cenrio cultural brasileiro dos anos 50/60 do
sculo XX: As proposies tericas da Nova Crtica foram introduzidas no Brasil
por Afrnio Coutinho. Sua atividade infatigvel, de um verdadeiro profissional das
Letras e no um mero diletante, provocou uma renovao dos estudos crticos
literrios e abriu-lhe novos rumos. Entre os numerosos escritos destaca-se A
literatura no Brasil, onde ps em prtica os princpios da Nova Crtica.. (Conferir:
CASTRO, Manuel Antnio de. Crtica e Histria Literria.. In: PORTELLA,
Eduardo (Org.) Teoria Literria. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1975:31);
E Estruturalismo: Reunio de pesquisas analtico-cientificistas (anos 50/60 do
sculo XX - Modelos de Anlise; Gramtica Geral da Narrativa): Trazendo a
herana do Formalismo Russo e recebendo a influncia do grande desenvolvimento
que tiveram os estudos lingsticos, com a publicao pstuma do Cours de
lingustique gnrale (1916) do genebrino Ferdinand de Saussure (no qual Bally e
Sechehaye reuniam anotaes de aula de trs cursos do mestre), aparecem, sob o
rtulo do estruturalismo, pesquisas diversas sobre a anlise do texto literrio, toas
elas guiadas pelo reconhecimento da obra como uma estrutura, isto , um sistema de
relaes, um todo formado de elementos solidrios, tais que cada um depende dos
outros e no pode ser o que , seno devido relao que tm uns com os outros.
Cada elemento teria uma maneira de ser funcional, determinada pela organizao do
conjunto e, conseqentemente, pelas leis que a regiam. Apreendendo-se o texto
literrio como estrutura verbal, essas leis eram buscadas na lingstica e, a partir
delas, criaram os estruralistas, desde os primeiros trabalhos de Roland Barthes
(1915-1980) ou de Tzvetan Todorov, modelos de anlise que conduziam a uma
possvel gramtica geral da narrativa. (Conferir: LOBO, Luza. A Crtica. In.:
SAMUEL, Rogel (Org.). Manual de Teoria Literria. Petrpolis: Vozes, 1999: 104-
105);
Sociologia da Literatura: Lukcs estuda a forma romanesca caracterizando a
existncia de um heri problemtico, isto , o romance seria a histria de uma
investigao degradada (ou demonaca), pesquisa de valores autnticos num mundo
inautntico (degradado). E se caracterizaria pela ruptura insupervel entre este heri
e o mundo, quando se dariam duas degradaes: a do heri e a do mundo.
(Conferir: SAMUEL, Rogel. A Crtica. In.: SAMUEL, Rogel (Org.). Manual de
Teoria Literria. Petrpolis: Vozes, 1999: 108-109);
Semiologia da Literatura: A Semiologia (tambm chamada num sentido
filosfico, semitica) a cincia dos signos. Seu criador foi C. S. Peirce (1839-
1914), que definiu o signo como um primeiro que mantm com um segundo,
chamado objeto, uma relao tridica capaz de determinar um terceiro, o
interpretante do sentido do signo. Ou seja, um signo se traduz por outro signo, no
qual se desenvolve. / O interpretante do signo na mente das pessoas se forma
quando elas se encontram em relao de comunicao com aquilo que representa
alguma coisa para algum. / A semiologia estuda os meios de comunicao, que
podem ser: 1) vocal: aes envolvidas na fala; 2) no-vocal: comunicaes que no
se utilizam da fala como o gesto, o sinal com o dedo; 3) verbal: comunicaes que
no usam a lngua codificada. H comunicaes vocal-verbais, como as palavras;
vocal no-verbal, como a entonao, a nfase; no-vocal verbal, as palavras escritas;
no-vocal, no-verbal, como os elementos faciais, os gestos. / Pearce fez a distino
de cone, ndice e smbolo. O cone retrata o objeto, um signo determinado por seu
objeto atravs da natureza interna dos dois. Por exemplo, uma onomatopia ou
fotografia. O cone imita o objeto, tem pelo menos um trao em comum com ele,
como as caricaturas. / O ndice tem uma relao real, causal, direta com seu objeto,
aponta para o objeto, assinala-o o signo determinado pelo objeto em virtude de
uma relao real que com ele mantm. Por exemplo, a fumaa ndice do fogo. / O
smbolo no imita nem indica nada, mas o representa de maneira arbitrria. um
elemento determinado pelo seu objeto convencionalmente, como uma bandeira ou
um nome de batismo. / O cone imita de fora: a fotografia. O ndice tem uma relao
real e contnua com o objeto: a fumaa em relao ao fogo. O smbolo no tem
nenhuma relao com o simbolizado. Mas o signo marca sempre a inteno de
comunicar um sentido. Chama-se significao esta relao entre significante e
significado. Quando um significante se refere ou sugere vrios significados h
literariedade. (Conferir: SAMUEL, Rogel. Novo Manual de Teoria Literria.
Petrpolis: Vozes, 2002: 84-85);
Hermenutica Antiga (religiosa) X Hermenutica Literria (profana): O termo
hermenutica tem origem em Hermes, divindade-intrprete a quem era confiada a
transmisso das mensagens do destino dos mortais. E, como atividade de
interpretao, da hermenutica podemos traar um longo caminho que vem desde a
poca clssica ateniense at os nossos dias. Nosso propsito, no entanto, aqui
apresentar algumas de suas caractersticas atuais, com relao crtica literria.
Colocando-se em oposio a uma postura epistemolgica, a hermenutica substitui a
tarefa analtico-descritiva por um trabalho de interpretao, que parte do texto e se
encaminha para uma reflexo sobre a ess~encia humana.
Alicerando-se filosoficamente, os postulados dessa proposta de compreenso
existencial da obra literria esto hoje ligados, sobretudo, conceituao de histria
de Wilhelm Dilthey, ontologia [ontologia = Filosofia que trata do ser enquanto
ser, isto , ser concebido como tendo uma natureza comum que inerente a todos e
a cada um dos seres] de Martin Heidegger e hermenutica filosfica de Hans-
Georg Gadamer. (...).
Eduardo Portella esclarece, em seu Fundamento da Investigao Literria, que
para alm da estrutura pronta, do sistema de signos, do texto, constitui-se a literatura
por uma fora de criao da linguagem, energia geradora do texto, que, estando por
trs dele e mantendo-se em permanente tenso com ele, faz com que seu sentido
penetre no no-dito, pelo pr-texto. O texto potico seria sempre, portanto, um
entretexto, uma entidade dinmica resultante da tenso texto/pr-texto. E caberia ao
intrprete apreender a literatura enquanto processo de entretextualizao, atravs de
um modelo aberto e transmanente, construdo com conscincia de que o sentido da
obra no se esgota numa perspectiva, pois que a imagem potica , a todo o tempo,
uma coisa nova, nos dirigindo para possibilidades ilimitadas.
Emmanuel Carneiro Leo, em vrios ensaios do seu Aprendendo a pensar, remete-
nos para a necessidade de uma crtica que se exera literariamente, para que mais se
aproxime do processo de constituio da obra. (...)
A razo hermenutica seria, portanto, conscientemente inconclusa e antiimpositiva,
mantendo, muitas vezes, a pergunta como nica resposta possvel, deixando, tantas
vezes, que o poema fale, ao invs de falar por ele, pois a imagem potica, como
lembrou Otvio Paz, no pode ser explicada com outras palavras, seno pelas da
prpria imagem, que, enquanto imagem, j deixaram de ser simplesmente palavras.
A imagem, segundo o crtico mexicano, nos convidaria sempre a recri-la, a reviv-
la: proposta que nos parece muito tem a ver com a da leitura potica. (Conferir:
LOBO, Luza. A Crtica. In.: SAMUEL, Rogel (Org.). Manual de Teoria
Literria. Petrpolis: Vozes, 1999: 117-119);
De acordo com Ricoer e Gadamer, a hermenutica v os textos como expresses da
vida social fixadas na escrita, atravs de fatos psquicos, de encadeamentos
histricos. Sua interpretao consiste, ento, em decifrar o sentido oculto no
aparente e desdobrar os diversos graus de interpretao ali implicados.
S h interpretao quando houver ambigidade, e na interpretao que a
pluralidade de sentidos se torna manifesta.
Na realidade, a hermenutica a compreenso de si mediante a compreenso do
outro: o mximo de interpretao se d quando o leitor compreende a si mesmo,
interpretando o texto.
A ttica da interpretao aparece sempre que h ambigidade, mas compreender no
significa a repetio do conhecer. A hermenutica postula uma superao: ela se
quer uma teoria e uma arte, fazendo da leitura uma nova criao; e dela se exige
uma reflexo que leve ao. (Conferir: SAMUEL, Rogel. Novo Manual de Teoria
Literria. Petrpolis: Vozes, 2002: 86);
A Crtica Filosfica de Gaston Bachelard: Gaston Bachelard (1884-1962) se
caracteriza pelo trabalho dedicado pesquisa da epistemologia. Seus trabalhos sobre
a imaginao revolucionaram o campo da crtica literria francesa e deram origem,
durante os anos 50, aos estudos das imagens, ou crtica temtica. Bachelard
trabalha com as imagens da terra, gua, ar e fogo como contexto metodolgico para
a sua pesquisa da imaginao. Nesses quatro elementos tradicionais considerou os
componentes principais de todo o universo imaginativo. Sua meta era estudar a
imaginao como forma de conscincia, conceito que pareceu indispensvel a ele
para que estudasse a criao potica. (Conferir: SAMUEL, Rogel. Novo Manual de
Teoria Literria. Petrpolis: Vozes, 2002: 89-90);
Conceitos psicanalticos na elucidao de textos literrios do sculo XX
(Psicocrtica): grande a apropriao da psicanlise pela recente teoria literria,
especialmente com respeito ao trabalho de Freud e Lacan. Em particular foi usado o
mtodo da teoria da subjetividade para colocar a questo do falar, escrever e ler em
relao aos sistemas simblicos e s representaes inconscientes. Estudou-se,
tambm, assim, a funo da fantasia e do desejo no texto literrio. (Conferir:
SAMUEL, Rogel. Novo Manual de Teoria Literria. Petrpolis: Vozes, 2002: 91-92);
Crtica Marxista e Neomarxista: Nos anos 70 os intelectuais romperam ao
mesmo tempo com o capitalismo e com o comunismo do regime de Stalin.
Desenvolveram-se novas tradies esquerdistas e marxistas at ento reprimidas,
principalmente na Inglaterra, como correntes alternativas do marxismo
revolucionrio ligado poltica de massas luxemburguista, trotskista, maosta.
Simultaneamente, os vrios legados do marxismo ocidental, nascido de Lukcs,
Korsch e Gramsci, tornaram-se importantes, sob a influncia do marxismo de Sartre,
Lefbvre, Adorno, Marcuse, Della Volpe, Colletti, Althusser e outros. (...)
A crtica marxista baseada na teoria histrica, econmica e sociolgica de Karl
Marx e Friedrich Engels. De acordo com o Marxismo, a conscincia de uma
determinada classe em um determinado momento histrico deriva do modo de
produo material. O jogo de convices, valores, atitudes e idias, que constituem a
conscincia de classe, forma uma superestrutura ideolgica, e esta superestrutura
ideolgica amoldada e determinada pela infra-estrutura material ou base
econmica. Conseqentemente, o termo marxismo v o produto de foras histricas
e uma relao dialtica entre trabalho literrio e base scio-histrica. A crtica
dialtica marxista focaliza as conexes causais entre contedo, ou forma de uma
obra literria, e os fatores sociais, econmicos, de classe ou ideolgicos, que
amoldam e determinam aquele contedo ou forma. Por exemplo, escritores
burgueses propagam a ideologia burguesa que busca inevitavelmente universalizar o
status quo, vendo isto como natural e no como fato histrico. A noo de que h
uma correspondncia entre conscincia de classe, ideologia do trabalho e a base
scio-histrica na qual emerge freqente no Marxismo. Mas Fredric Jameson
mostra a influncia de uma determinada matria-prima social, no s no contedo,
mas na forma mesma das obras. (Conferir: SAMUEL, Rogel. Novo Manual de
Teoria Literria. Petrpolis: Vozes, 2002: 93-97);
A Esttica da Recepo de Base Alem (Dilogo com o Texto) Presente no
Cenrio Cultural Brasileiro, no final do sculo XX: A crtica literria
desenvolvida na Alemanha Ocidental durante os anos 60 e 70 inclui a Escola de
Constance que se volta para a recepo de textos literrios, ao contrrio dos mtodos
que enfatizam a produo ou sua leitura. Essa escola fez sucesso na Alemanha
durante uma dcada como teoria da recepo ou como esttica da recepo, mas
no foi muito conhecida at quando os trabalhos mais importantes foram traduzidos,
como os de Hans Robert Jauss e Wolfgang Iser.
Surgiu durante o movimento estudantil que pedia reformas educacionais e
questionava os mtodos tradicionais na Universidade Experimental de Constance,
fundada em 1967. Surgiu quando uma conferncia de Hans Robert Jauss (1967) foi
pronunciada, sobre o que se chamou de Esttica da Recepo, e era uma tentativa de
superar o formalismo e a crtica marxista.
Segundo Jauss, o marxismo representava uma aproximao positivista, e o
formalismo tinha uma percepo esttica que isolava a arte de seu contexto
histrico. Por isso, ele tentava fundir as melhores qualidades do marxismo e do
formalismo, propondo alterar a perspectiva pela qual ns normalmente
interpretamos os textos literrios. (Conferir: SAMUEL, Rogel. Novo Manual de
Teoria Literria. Petrpolis: Vozes, 2002: 117-118);
Os novssimos rumos da Crtica Literria no Panorama Mundial: Como a
crtica sociolgica, a crtica marxista se orienta para a realidade social que
condiciona as obras de arte, como na teoria de Frankfurt e em Benjamin.
A nova esquerda hoje representada por Hobsbawm, que fez a interpretao do
sculo XIX; Jameson, que escreveu sobre ps-modernidade; Robert Brenner, que
ofereceu uma interpretao econmica do desenvolvimento capitalista desde a
Segunda Guerra Mundial; e tambm Giovanni Arrighi, sobre estrutura temporal
mais extensa. Tom Nairn e Benedict Anderson so importantes autores sobre o
nacionalismo moderno. Regis Debray desenvolveu uma teoria da mdia
contempornea. Terry Eagleton desenvolveu seus estudos no campo literrio. T. J.
Clark nas artes visuais e David Harvey na reconstruo da geografia. Nos campos da
filosofia, sociologia e economia, estariam includos os trabalhos de Habermas,
Bordieu, Fredric Jameson, Edward Said e Perry Anderson. (Conferir: SAMUEL,
Rogel. Novo Manual de Teoria Literria. Petrpolis: Vozes, 2002: 96-97);
A Crtica Literria no Brasil: Nestes anos iniciais do Terceiro Milnio, que
rumo devemos tomar? (Repensar as palavras de Eduardo Portella, publicadas em
1970).
Sem dvida um pensamento que no se arme dialeticamente permanecer
inteiramente perdido diante de um fenmeno to multidimensional como o
literrio. Na chave da dicotomia, as categorias se opem excluindo-se mutuamente.
Somente os pensadores trictomos pensam no eixo da contradio, admitindo um
terceiro elemento como mediador dialtico. E s estes possuem olhos para penetrar
nas esquinas secretas dos caminhos da arte. (Conferir: PORTELLA, Eduardo.
Teoria da Comunicao Literria. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1970: 61-62.)
Decodificao no quer dizer necessariamente coincidncia ou acordo; quer dizer
apenas a ultrapassagem da incompreenso. Porque o nico que se lhe pede que
esteja ancorada no porto seguro do entendimento. (Conferir: PORTELLA, Eduardo.
Teoria da Comunicao Literria. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1970: 25.)
2007: Postul(o) uma contribuio satisfatria para o entendimento atual do literrio,
uma contribuio entre duas grandes correntes crticas (a cientificista e a
fenomenolgica) em benefcio da correta decodificao e interpretao do texto
literrio, para que a compreenso fique ancorada no porto seguro do entendimento
[como a quer Eduardo Portella]. Ao reivindicar uma colaborao da Semiologia com a
Hermenutica, no quero (parodiando Eduardo Portella) repudiar o silncio, que se
encontra palpitante no interior da Obra Literria, e reverenciar a loquacidade
enganadora de um analismo que, em nome da objetividade, se mostra impermevel ao
subjetivismo. Ao contrrio, proponho um labor crtico dialtico, usando dos
ensinamentos de ambas as correntes, para que esse silncio seja rompido. Reivindico
uma colaborao consciente entre as duas correntes (afirmo que esta colaborao, que
muitos dizem existir nestes anos iniciais do Terceiro Milnio, no se efetua na prtica
em nossos dias), para que este silncio se oua acima dos estudos esquemticos
(estudos de origem estruturalista) e promova a compreenso dos sentidos corretos do
texto literrio.* (Conferir: MACHADO, Neuza. Reavaliando a atuao da Crtica
Literria, item 2.18 deste Manual)
*(Nota de Neuza machado: Conferir: PORTELLA, Eduardo. Teoria da Comunicao
Literria. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1970: 25.)
2.6 - REAVALIANDO A ATUAO DA CRTICA LITERRIA (NEUZA MACHADO
)
Sem dvida um pensamento que no se arme dialeticamente permanecer inteiramente perdido
diante de um fenmeno to multidimensional como o literrio. Na chave da dicotomia, as
categorias se opem excluindo-se mutuamente. Somente os pensadores trictomos pensam no
eixo da contradio, admitindo um terceiro elemento como mediador dialtico. E s estes
possuem olhos para penetrar nas esquinas secretas dos caminhos da arte.
1
APRESENTAO
Esta reflexo terico-crtica tem por fim provar a possibilidade de uma
colaborao da Semiologia de Segunda Gerao (Estudos Analticos da Literatura) com
o desenvolvimento da Hermenutica de um determinado texto (mbito do
Conhecimento).
No se trata de qualquer texto, como se ver, j que cada obra impe o seu
prprio mtodo de anlise e/ou interpretao. Mas, no tipo de texto que pretendo
intermediar criticamente (A hora e vez de Augusto Matraga, de Guimares Rosa, o qual
fez parte de minha Dissertao de Mestrado, e, posteriormente, de minha Tese de
Doutorado), a Semiologia de Segunda Gerao (de Roland Barthes, Umberto Eco e
Anazildo Vasconcelos da Silva), certamente, oferece um corpo terico, para a anlise, e
colabora com a posterior interpretao hermenutica, possibilitando uma interao
paradigmtica consciente, de acordo com as exigncias crticas atuais, voltadas
interdisciplinaridade.
Para que esta propedutica no se desvirtualize (j que a direciono aos alunos de
graduao em Letras), comearei resenhando o livro de Emerich Coreth, Questes
Fundamentais de Hermenutica
2
, sobre a histria do problema hermenutico. A seguir,
desenvolverei alguns dos principais elementos metodolgicos do movimento
Neuza Machado doutora em Cincia da Literatura / Teoria Literria pela Faculdade de Letras da
Universidade Federal do Rio de Janeiro.
1
PORTELLA, Eduardo. Teoria da Comunicao Literria. R. J.: Tempo Brasileiro, 1970: .61-62.
2
CORETH, Emerich. Questes Fundamentais de Hermenutica. So Paulo: Ed. Da Universidade de So
Paulo, 1973.
hermenutico do sculo XIX e verei o relacionamento dialtico entre Hermenutica e
Cincia, a partir de Richard Palmer
3
e Paul Ricoer
4
, discutindo as noes de
compreenso, interpretao e o problema do mtodo crtico. Ressalto que apoiar-me-
ei nas concluses do Professor Eduardo Portella (escritas na dcada de setenta, mas
ainda atuais), para superar determinados impasses tericos, j que colocarei a
Semiologia de Segunda Gerao (prpria para anlises literrias) como Cincia Auxiliar
compreenso dos sentidos. Para tal empresa, utilizarei tambm alguns postulados do
semilogo italiano Umberto Eco. Assim, nas pginas finais desta propedutica,
retomarei os ensinamentos de Ricoer e Eduardo Portella, esperando demonstrar ento a
possibilidade da Semiologia da Literatura realizar com a Hermenutica um criador
dilogo, uma contribuio criadora para o entendimento atual do fenmeno literrio.
Quero esclarecer ainda que, ao postular a possibilidade de uma colaborao entre
Semiologia e Hermenutica, no minha inteno comparar o mtodo de uma Cincia
com o de outra. Ambos (os mtodos) possuem, segundo o meu ponto de vista,
qualidades prprias. A experincia de contemplao da obra tem de abranger os dados
visveis e no-visveis. Esta experincia de contemplao da obra um conhecimento
(nomenclatura hermenutica). No h como separar forma e contedo. Direi ainda,
apoiada em Gadamer: o essencial na experincia esttica de uma obra no o contedo
nem a forma, mas a matria significada, ou seja, um mundo com a sua prpria dinmica.
No pretendo comparar dois mtodos cientficos, mas admitir que um (o semiolgico)
pode colaborar com o outro (o hermenutico).
HERMENUTICA E SEMIOLOGIA: UM PROBLEMA DA CRTICA LITERRIA ATUAL
Neste incio de sculo XXI, observa-se um fenmeno significativo no que
concerne Crtica Literria (alis, este fenmeno j antigo no Brasil: seus primrdios
se localizam nos anos oitenta): h um impasse de teorias diversificadas, vrias maneiras
de se penetrar no universo do texto, e isto traz, para a Cincia da Interpretao, a
dvida, quanto a direo a ser seguida, na realizao do trabalho crtico. Ressalte-se o
fato de que todas as teorias convivem nos meios acadmicos brasileiros, seno em
harmonia total, pelo menos se respeitando cordialmente, evitando, assim, as
divergncias que existiram nos anos setenta. Nos anos sessenta, no ser demais
lembrar, o Estruturalismo (no que se refere literatura e seu entendimento, um ponto de
vista analtico repressor) imperou nas Universidades. Nos anos cinqenta, os
universitrios que se dedicavam ao estudo da literatura estavam submetidos s diretrizes
tericas (tambm analticas e repressoras) do New Criticism americano, divulgado aqui
no Brasil, pelo Professor Afrnio Coutinho, com o nome de Nova Crtica.
Por tais motivos, compreende-se que no h como escolher um partido terico
nico no mbito da Literatura-Arte se h atualmente a facilidade de se conhecer cada
feio crtica e avaliar-lhe suas contribuies, em funo do desvelamento e
compreenso do texto. Restar ao crtico literrio brasileiro hodierno, antes de fazer
uma escolha consciente, observar as sugestes oferecidas pela prpria obra, pelo prprio
texto, relacionando razo e compreenso: A obra impe a sua verdade e, portanto, o
seu prprio mtodo a ser utilizado. No se pode dissociar a Crtica da Arte.
Em conseqncia deste impasse, a maneira de como interpretar um texto literrio
tornou-se um problema nos meios acadmicos. (No estou referindo-me aos tericos
conceituados). O que se observa atualmente, entre os alunos de Letras, a utilizao
3
PALMER, Richard E. Hermenutica. Lisboa: Edies 70, 1986.
4
RICOER, Paul. Interpretao e Ideologias. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1977.
aleatria de todas as correntes crticas. H um cruzamento de nomenclaturas que, ao
invs de esclarecer a mensagem, torna-a ilegvel.
Reconheo que este problema se origina no fato de o aspirante funo de
Crtico Literrio no possuir um conhecimento de base, j que o mesmo desconhece os
postulados fundamentais de cada corrente crtica.
No que se refere Hermenutica, por exemplo, o problema torna-se mais grave,
por esta ter sua origem nos primrdios da Histria religiosa do homem ocidental. Fala-
se muito em Hermenutica, mas no h, nos meios acadmicos, um conhecimento
correto em relao mesma. Desconhecem-se seus questionamentos de origem, sua
ligao com os Textos Sagrados, as divergncias que a marcaram no decorrer de sua
histria a sua posterior incurso nos domnios da Filosofia e da Literatura.
Por estas razes, farei uma breve retrospectiva da Histria da Hermenutica,
desde o seu advento, em que o que a preocupava era o problema da correta interpretao
dos Textos Sagrados. Esta retrospectiva baseia-se em dados oferecidos por Emerich
Coreth (op. cit.), e tem por objetivo inicial reconhecer a histria do problema teolgico
e a sua ligao com as questes hodiernas da Hermenutica, ou seja, a questo do
conhecimento ao se contemplar as obras literrias no religiosas. A seguir, por esta
mesma retrospectiva, buscarei um diferente olhar crtico, o qual ir proporcionar-me a
defesa de meu objetivo central: provar a possibilidade de uma colaborao
consciente da Semiologia da Literatura com o desenvolvimento da Hermenutica
de um determinado texto.
UMA RETOMADA DA HISTRIA DA HERMENUTICA
Muito antes de se pensar na Hermenutica como a concebemos hoje, ou seja,
como Cincia da Interpretao e da Observao Crtica cincia que questiona a correta
interpretao dos textos literrios , j a questo era problematizada pelos intrpretes
(os antigos escribas) das mensagens contidas no Antigo Testamento. Emerich Coreth,
ao se referir aos escribas, situa-os como os primeiros exegetas que procuravam
questionar a importncia de uma correta interpretao dos Textos Sagrados. Observe-se
que esses textos anunciavam o nascimento do Salvador, e os mesmos eram interpretados
por sacerdotes rudes, os quais legaram posteridade suas interpretaes ambguas.
Com o advento do Novo Testamento, as ambigidades se desfazem, pois quem as
esclarece no outro seno o prprio Filho de Deus, o Salvador esperado. Segundo
Coreth, o Novo Testamento se coloca, desde as primeiras pginas, como o nico
intrprete autntico das Mensagens Sagradas. Reavaliando as palavras de Coreth por
uma diretriz interpretativa, isto se deve ao aval de Jesus Cristo, ao procurar elucidar,
para as multides que o acompanhavam, todas as ambigidades do Antigo Testamento
anteriormente questionadas, algumas que foram interpretadas incorretamente, de acordo
com o que nos passa o Novo Testamento.
Jesus Cristo posicionou-se como o fecho de um ciclo da Histria dos hebreus e a
estrutura basilar de uma nova etapa da Histria da humanidade. Se graas sua
interpretao os Textos Sagrados ficaram devidamente esclarecidos, ou se o povo
acatava os ensinamentos sem formular questes, quanto profundidade do que era
recebido haja vista as parbolas simplificadas , o mesmo no aconteceu
posteriormente. Coreth alerta para toda uma problemtica da compreenso, tanto do
Antigo quanto do Novo Testamento, envolvendo os exegetas dos Textos Sagrados,
desde o sculo II d. C. Menciona as divergncias existentes entre os padres que seguiam
as orientaes da Escola de Antioquia, em contraponto com os postulados da Escola
Alexandrina. Situa esse momento como marco de um futuro problema hermenutico,
pois, se uma Escola procurava ressaltar o sentido histrico contido na Bblia (Escola de
Antioquia), a outra colocava em evidncia a necessidade de se atingir o sentido
espiritual que se evolava das pginas sagradas. Esses dois pontos de vista divergentes
atestam o carter polmico da Bblia (como repositrio das mais diversas expresses
literrias), sem, contudo, despojar-se de sua condio de reveladora da palavra de
Deus. Atestam, inclusive, a dificuldade do intrprete de ater-se a uma interpretao
consensual. Coreth informa ainda que Orgenes [um estudioso preocupado em unir a
investigao histrico-filolgica do texto a uma noo distinta dos vrios sentidos que
se podem destacar do mesmo] procurava ligar as duas correntes conscientemente,
procurando desenvolver uma investigao cuidadosa. Prosseguindo em sua
recapitulao histrica do problema teolgico, ressalta, cuidadosamente, as divergncias
de opinies entre So Jernimo e Santo Ambrsio, bispo de Milo, e orientador de
Santo Agostinho em sua redescoberta do Cristianismo.
No que se refere a Santo Agostinho, importante destacar seu carter
conciliador, ao procurar aliar as duas formas de interpretar a Bblia. Isto se prende ao
fato de que o mesmo vivenciou vrias formas de vida contemplativa, antes de se
converter definitivamente ao cristianismo. Conhecendo-se suas transformaes
existenciais e religiosas, no difcil compreender o porqu dessa atitude conciliadora
(tambm destacada por Coreth). De origem crist, o futuro Bispo de Hipona
desenvolveu sua inteligncia dentro de conceitos filosficos e cientficos distantes dos
ensinamentos religiosos de sua infncia. Estudou retrica, leu os professores e poetas
latinos, desenvolveu estudos referentes s Cincias Humanas (foi aluno de Varro) e,
posteriormente, aderiu-se doutrina Maniquesta, abandonando os postulados cristos
da revelao sobrenatural da palavra de Deus, em benefcio de uma orientao religiosa
fundamentada apenas no conhecimento racional. No satisfeito com esta doutrina,
torna-se discpulo de Ambrsio, Bispo de Milo. Por tais razes, mesmo abandonando
os conceitos da razo pura e retornando s normas do Cristianismo, o ex-estudioso das
teorias de Varro, ex-professor de gramtica e retrica, ex-maniquesta, jamais pode
eliminar de sua vida o que foi aprendido e vivenciado. Restou-lhe uma atitude
conciliadora: interpretar a Bblia observando o elemento sobrenatural, sem abdicar do
racional.
O problema da compreenso dos Textos Sagrados continuou repercutindo nas
etapas seguintes da Era Moderna: a reforma luterana em oposio Igreja Romana,
posteriormente a Contra-Reforma [numa tentativa de recuperar o anterior poder
religioso, naquele momento em decadncia], passando pelo pensamento Iluminista e sua
viso racional da mensagem divina, at chegar a Hegel e outros pensadores.
No sculo XIX, inaugura-se o movimento hermenutico, propriamente dito.
nesse momento que vamos encontrar a palavra hermenutica como sinnimo de
investigao e compreenso do texto ainda religioso, visando a opor-se pesquisa
histrico-crtica, mtodo que tem sua origem na obra polmica de David Friedrich
Strauss, A Vida de Jesus, e que procurava ressaltar, na Bblia, a histria do Antigo
Oriente, preocupando-se em estudar os aspectos lingsticos e culturais em detrimento
do sentido sobrenatural contido nos Textos e revelador dos desgnios de Deus. O
movimento hermenutico opunha-se ao mtodo histrico-crtico, mas, ao mesmo tempo,
no desprezava a contribuio valiosa oferecida por essa forma de investigao crtica
da Bblia e, inclusive, destacava seu carter esclarecedor. No se tratava exatamente de
uma oposio, mas de conciliao, postura que outros exegetas da Bblia adotaram, no
transcorrer da Histria Religiosa do Homem.
Observando a repercusso histrica do problema teolgico, pelo ponto de vista
crtico de Emerich Coreth, contido no livro j citado, pude encontrar o cerne de meu
questionamento sobre o problema da Crtica atual, em outras palavras, a base para o
meu prprio postulado que, a partir de agora, desenvolverei, ou seja, o problema atual
dos vrios paradigmas analtico-interpretativos que convivem, mescladamente, no
mbito da Cincia da Literatura. Trazendo luz os problemas que afligiam os
intrpretes da Bblia no passado, Coreth procurou demonstrar a perenidade dos conflitos
interpretativos, tanto na rea das Cincias Exatas, quanto na das Cincias Humanas,
inerentes Histria da Humanidade. Diz ele, falando especificamente do problema
hermenutico:
Em todo caso, pe-se aqui j o problema em toda a sua amplitude, evidenciando que a
questo hermenutica da atualidade no , no fundo, nova, mas retoma um antigo
problema, ainda que de um outro modo e sob novos pontos de vista.
5
O que marca o movimento hermenutico do sculo XIX no seu carter
opositor e, ao mesmo tempo, conciliador, mas o fato de que, por intermdio dele, o
posicionamento crtico, marcadamente religioso, desprende-se dos Textos Sagrados,
alcanando os domnios da Filosofia e da Literatura. A Crtica passa a centralizar-se no
problema da compreenso do texto como linguagem, questionamentos esses que
levaram ao entendimento da essncia do Homem e do Universo, e que estavam antes
restritos ao mbito dos estudos teolgicos.
Quanto Literatura, nosso tema de reflexo crtica, a Hermenutica passa a
promover a compreenso dos textos, tornando-se conhecida como a teoria que permite
compreender e, posteriormente, explicar o que foi compreendido. Compreenso no
como faculdade de compreender, como se v nos dicionrios, mas como maneira de
ser e relacionar-se com os seres e com o ser, no dizer de Ricoer.
6
Sem deixar de pertencer aos domnios da investigao teolgica (o que se
conhece como Hermenutica Especfica), a Hermenutica da Filosofia e da Literatura
expande-se, e passa a centralizar na linguagem do texto (seja religioso, histrico ou
literrio) a sua busca de compreenso da essncia do Homem e de sua atuao como
ser-no-mundo, passando tambm a possibilitar ao investigador uma maior amplitude de
viso, permitindo-lhe o alcance dos sentidos do texto investigado.
No que se refere interpretao literria, faz-se necessrio, agora, um
esclarecimento. Observe-se que compreender um texto no suficiente, necessita-se de
uma operao ou transao que possibilite esclarecer e decifrar o significado da obra.
Necessita-se saber distinguir o que realmente quis-se anunciar; quais as mensagens
contidas em um texto que se produz em uma linguagem pluri-ambgua. Impe-se assim
um mtodo de abordagem transmutativo, uma atitude mediadora entre compreenso e
explicao (posicionamento fundamental da Hermenutica). A este mtodo de
abordagem d-se o nome de interpretao. Como interpretar fundamenta-se em
postulados cientficos, alguma coisa diferente da compreenso como elemento do
universo crtico-filosfico hermenutico (fenomenolgico), subentende-se que no h
como fugir a um inter-relacionamento entre Hermenutica e Cincia. Uma questo que
foi observada nos anos setenta permanece ainda insolvel neste incio de terceiro
milnio, incomodando a maior parte dos profissionais da Cincia da Literatura,
simpatizantes do antigo mtodo da anlise literria estruturalista. No momento em que
se prope uma nova atitude didtica, uma aproximao necessria entre o professor e
seus alunos, no h mais como promover o distanciamento. Se o professor for realmente
5
CORETH (1977), p. 6
6
RICOER (1977), p. 17
um artfice de categoria, em sua disciplina de estudos literrios, saber como promover
o entendimento e o dilogo receptivo.
INTERCMBIO ENTRE CINCIA E HERMENUTICA: UM DILOGO NECESSRIO
Quando se retoma o posicionamento de Richard E. Palmer
7
, apresentado nos
anos oitenta, recusando-se a reconhecer no mtodo cientfico uma atitude vlida para o
esclarecimento do texto, volta-se questo, j assinalada pelos exegetas da Bblia, de
opor-se ou aderir-se a uma conciliao entre o sentido apreendido e a forma de
esclarecer o que foi decifrado. Palmer desenvolve e reconhece a necessidade de se
procurar um mtodo, ou teoria que possibilite a decifrao da marca humana contida
na obra literria. Mtodo e Teoria so palavras que fazem parte do universo terico-
crtico das Cincias Exatas; decifrar no o mesmo que compreender, portanto, no
se visualiza outra sada para a Crtica Literria atual: pressupe-se um intercmbio entre
Cincia (anlise) e Hermenutica (conhecimento), em benefcio da verdadeira
compreenso do texto literrio.
Palmer diz:
certo que os mtodos de anlise cientfica podem e devem ser aplicados s obras,
mas ao proceder deste modo estamos a tratar as obras como objetos silenciosos e
naturais. Na medida que so objetos, so redutveis a mtodos cientficos de
interpretao; enquanto obras, apelam para modos de compreenso mais sutis e
compreensveis.
8
Palmer no procura separar interpretao e compreenso, apenas no concorda
que as obras sejam observadas como objetos silenciosos. lgico que h, hoje, vrias
formas de interpretar e avaliar a mensagem do texto [um fenmeno da globalizao],
mas todas passam por pressupostos cientficos, inclusive a interpretao que se faz,
atualmente, por uns poucos iniciados, dentro do que se impe como Crtica Receptiva.
Como sabemos, esta diretriz crtica exatamente a tal forma conciliadora, retirada de
um pensamento trictomo (relembrando aqui a epgrafe desta propedutica, de autoria
de Eduardo Portella), revestida com um ttulo pomposo Esttica da Recepo , mas
que tem suas razes na Hermenutica e Dialtica.
A Hermenutica, como a concebemos atualmente, tambm Cincia, ou por
outra, um postulado cientfico, porquanto passa por uma averiguao que no se pode
localizar no mbito apenas da compreenso divinatria, se me reporto aos ensinamentos
de Schleiermacher. H de se acrescentar intuio espontnea o esclarecimento da
Verdade Cientfica. Nesta manifestao do intelecto est a faculdade de percepo do
Homem atual. Sem se pleitear confundir compreenso com faculdade de compreender,
faz-se necessrio observar o Homem e o Mundo ps-modernos, e, conseqentemente, a
obra literria, que os problematiza dentro de sua realidade. Realidade esta, no ser
demais lembrar, que j se encontra mascarada por opinies ou juzos conflituosos, que
longe esto do padro comunitrio dos antigos dogmas religiosos. Sem se pretender
confundir compreenso com faculdade de compreender, faz-se imprescindvel observar
o Homem como ser-no-mundo, como ser especfico de um mundo que, ao longo do
sculo XX, foi-se deteriorando, gradativamente, fragmentando-se, e encaminhando-se
para um ponto que, segundo as reflexes de Baudrillard
9
, em seu livro Amrica, ser um
ponto de fuga em direo ao Nada.
No que se relacione ao texto literrio, e de acordo com os postulados
hermenuticos, concebemo-lo como repositrio da problemtica social e psquica que
7
PALMER (1986), op. cit.
8
Idem, p. 19
9
BAUDRILLARD, Jean. Amrica. Rio de Janeiro: Rocco, 1986.
envolve o Homem e o Mundo. Para que haja uma interpretao consciente de um texto
literrio, h a necessidade de o intrprete estar preparado para captar a ambigidade, a
pluralidade de sentidos que uma obra da arte literria oferece. A obra literria um
enigma; preciso decifrar esse enigma, trazer luz os sentidos ocultos, os quais
subjazem nas entrelinhas. Assim, para um reconhecimento crtico seguro, faz-se
indispensvel um conhecimento analtico que propicie, depois da anlise evidentemente,
a compreenso dessas camadas invisveis. Por esta linha conciliadora (exigncia deste
momento ps-moderno), o intrprete se apropria do papel de leitor participativo,
incorporando-se ao texto interpretado, pois, graas a uma prvia compreenso do que se
passa no universo da linguagem literria (seja ela potica ou ficcional), passa a
compreender a mensagem do outro. O texto se coloca como mediador entre a obra e o
intrprete. Este s compreende e interpreta porque possui j uma compreenso anterior
de sua prpria atuao como ser-no-mundo, e, assim, est apto para compreender o que
se encontra subentendido nas entrelinhas do enunciado criativo. Compreendendo,
liberta-se; interpreta-se a extenso do ato de compreender. Compreendendo o texto, o
intrprete dispe-se a observar suas prprias preconcepes do mundo, e dele mesmo,
que se acham inseridas em sua conscincia transmutativa.
O texto tambm mediador entre compreenso e interpretao.
Compreendendo-o e interpretando-o hermeneuticamente, interpreta-se a prpria
conscincia, desvenda-se o prprio inconsciente. Compreendendo o outro, interpretando
seus questionamentos, sua posio diante do Mundo e do enunciado, passa-se a
compreender as prprias indagaes e as indagaes do Universo; permutam-se
conhecimentos; exerce-se o ato (ou hbito) de questionar e/ou responder, ou mesmo de
se buscar a resposta atravs da polissemia da palavra, promovedora de uma srie de
significaes.
Mas, se a compreenso do texto literrio proporciona conceb-lo como
repositrio da problemtica social e psquica que envolve o Homem e o Mundo,
tambm lcito repetir que estou aqui a referir-me ao Homem e ao Mundo atuais. Estes j
vivenciaram novas etapas de vida; novos conhecimentos se foram agregando aos do
passado. No o caso de avaliar se tais conhecimentos foram benficos ou no, o fato
que eles se materializaram, e impossvel pensar em desfazer-se deles.
E eis que chego, agora, ao ponto central de meu postulado: Como conceber um
mtodo crtico satisfatrio, se no universo da Crtica Literria atual h diversos
encaminhamentos que propiciam o desvelamento do texto?
bom reafirmar que a questo no nova. Desde o advento da Lingstica, e o
posterior surgimento dos postulados cientficos, penetrando o universo da obra literria
e tentando decodific-la unicamente por meio da anlise explcita, que o problema se
faz presente nos domnios da Crtica.
Se nos ltimos decnios do sculo dezenove a compreenso hermenutica, ao se
desprender dos Textos Sagrados, possibilitou uma amplitude de viso, centralizada no
texto profano e na sua ambigidade, permitiu tambm, gradativamente, o
desenvolvimento de diferentes abordagens, todas de carter cientfico.
A chamada Teoria do Conhecimento Literrio passou a ceder a vez s anlises
cientficas, ou seja, cedeu a vez s anlises fechadas e auto-suficientes, e, quando j se
pensava que a supremacia do posicionamento cientfico era um fato concreto e
irreversvel, ressurge a Hermenutica (e ressurgir sempre que houver necessidade de
mudanas], dessa vez provando que [e eis nesta prova algo de cientfico), alm do texto
explcito (a linguagem escrita), h outras camadas da obra literria dignas de serem
observadas e compreendidas.
Os antagonismos existentes entre as duas faces eram visveis nos anos setenta,
e naquele momento que encontro, no que se relaciona especialmente Crtica
Literria, no Brasil, o professor Eduardo Portella, preocupado com o cientificismo
crtico, que aqui se aportara nos anos cinqenta e sessenta, e que se fechava em
prepotentes modelos de como se interpretar os textos literrios. Observe-se a sua
posio defensiva, a respeito da questo a qual seria examinada no decorrer de sua
teorizao acentuadamente hermenutica e que est registrada em seu livro
Fundamentos da Investigao Literria.
Recusamo-nos inicialmente a imaginar a crtica literria fechada em si mesma,
entregue a uma estranha forma de autodevoramento. Criticar rasgar novos horizontes
de compreenso. Uma crtica enclausurada ser fatalmente uma crtica cega,
provinciana ou parasitria. O seu entendimento superlativo pressupe a conscincia de
sua interdisciplinaridade.
10
Penso tambm, resguardada por Eduardo Portella, que criticar rasgar novos
horizontes de compreenso; reconheo, como profissional de Letras, que no se pode
prescindir, nos estudos literrios, da contribuio da Crtica Hermenutica, propulsora
do alcance das camadas mais profundas da obra literria e diretriz consciente da
compreenso de suas mensagens unvocas, que se encontram camufladas nas
entrelinhas. Mas, assim como Eduardo Portella j observava, na dcada de setenta, a
progressiva presso dos modelos cientficos no mbito do fazer ou do saber literrio
11
,
e se preocupava em desenvolver uma espcie de reciclagem terminolgica, visando se
posicionar hermeneuticamente, abolindo de suas teorizaes qualquer contato
epistemolgico, assim, tambm, encontro-me agora, nesta propedutica e em meu
prprio campo de trabalho. Usando outras palavras, tenho conscincia de que a questo
permanece, aqui no Brasil (no estou a referir-me aos posicionamentos americanos e
europeus), apesar da afirmao de uns poucos tericos, os quais divulgam que a tenso
entre as duas correntes inexiste. Para tal comprovao, bastar ao crtico trictomo fazer
uma avaliao do que ocorre, em termos de ensino da Literatura, nas diversas
Universidades do pas.
Atualmente, ao invs da presso, o que existe so trilhas dspares, abertas a
todos incondicionalmente, e que levam o analista desavisado e/ou o pseudo-intrprete
da obra literria a desenvolver uma crtica aleatria, misturando os conceitos e as
terminologias dos diversos tipos de crtica literria. lcito lembrar que estes diversos
paradigmas so importantes, mas deveriam ser teoricamente bem encaminhados.
Ainda, apoiando-me no pensamento do professor Eduardo Portella, continuo
repetindo a sua assertiva: criticar rasgar novos horizontes de compreenso. Penso
que todos esses encaminhamentos crticos so vlidos, desde que se saiba situ-los
corretamente. Penso no texto como mediador de compreenso e somente ele dir qual a
forma de desenvolvimento crtico a ser seguida. Cada texto impe a prpria Verdade, e
no lcito que o crtico se afaste desta Verdade compreendida.
Se hoje, em nossos meios intelectuais, no h mais a presso dos modelos
cientficos no mbito do fazer ou do saber literrio, como muitos afirmam, infere-se
que estas linhas crticas dspares reverteram-se em um novo problema. Urge reordenar o
desordenado por meio de uma conciliao crtica satisfatria. A Semiologia de Segunda
Gerao, proposta por Umberto Eco nos anos oitenta, continua vlida, uma vez que,
pressionada pelas exigncias crticas da Fenomenologia, a mesma reconheceu a sua
validade apenas para os estudos analticos preliminares, lineares, aceitando as
10
PORTELLA (1981), p. 22
11
Ibidem
posteriores incurses do analista-intrprete nas camadas invisveis da obra. Esta
aceitao deveu-se unicamente aos plurissignificativos textos [de poesia e prosa] dos
escritores do sculo XX, os quais naturalmente se obrigaram a interpretar criativamente
a sua desordenada realidade. Assim, a Semiologia de Segunda Gerao (anos oitenta),
de Umberto Eco, de Roland Barthes e outros, reivindicando somente a decodificao do
texto literrio, por meio de esquemas objetivos, e certa ao aceitar que se desenvolva
posteriormente qualquer tipo de interpretao, desde que se respeite seus postulados
bsicos, o que reconheo como postulados preliminares, limitados apenas ao texto,
enquanto camada explcita da obra literria], aliada conciliadoramente Hermenutica,
ou qualquer outra linha crtica scio-fenomenolgica, parece-me a soluo ideal, pelo
menos momentaneamente (no se deve perder de vista o fato de que a Crtica Literria
dever, forosamente, adaptar-se aos valores estticos das pocas vindouras). Presa ao
meu momento histrico-esttico (um momento de transio secular e milenar), penso
em uma conciliao entre anlise e interpretao. Mais precisamente, como base
analtica, s vejo a Semiologia de Segunda Gerao como colaboradora de uma
interpretao extra-texto. Aos Estudos Semiolgicos de Segunda Gerao, conhecidos
como Crtica Semiolgica, no importam se a posterior interpretao (do que foi
decodificado por meio de esquemas) semi-hermenutica (termo de minha autoria, pois
a crtica autenticamente hermenutica no se permite misturas), psicanaltica ou
sociolgica. Importam-lhes que a interpretao seja pertinente e no se distancie em
demasia do universo pesquisado, distorcendo a mensagem explcita e/ou unvoca do
texto literrio. bem verdade que a Semiologia, enquanto suporte analtico, no
possibilita a compreenso do sentido que se oculta ali, ao desenvolver seus estudos
esquemticos, mas no impede que se observe a posteriori as outras camadas.
Atualmente, os j renovados semilogos da literatura tm conscincia de que a
linguagem do texto-arte pluri-ambgua, permitindo diversos pontos de vista
interpretativos. O problema se atm somente ao fato de que no h um consenso
pertinente, que esclarea a desordenao crtica atual, observada no entrelaamento
aleatrio das diversas e confusas nomenclaturas.
A partir de agora, entro no ncleo temtico deste empreendimento: superar o
impasse terico-crtico, no mbito especfico da Crtica Literria, entre anlise
(cientificismo) e interpretao (fenomenologia).
A Semiologia de Segunda Gerao, tal como a entendo e pratico, no uma
teoria reducionista, no reduz a obra literria a um mero objeto de anlise sem vida. H,
realmente, aqueles semilogos que assim procedem. Eu defendo, aqui, as idias de
Roland Barthes e Umberto Eco, provedoras de uma Semiologia (para o texto literrio)
aberta, uma Semiologia que seja, e no mais que isto, um ponto de partida para a
posterior interpretao hermenutica. Esta minha Semiologia agregada interpretao
fenomenolgica do tipo praticada pelos semilogos acima citados, visa a decodificar os
signos e sinais contidos no texto, nas mensagens, nos relatos, mas passa adiante,
ultrapassando o sistema de signos e chegando, mais precisamente com Barthes, quase ao
nvel do texto literrio propriamente dito.
Umberto Eco, um dos baluartes da arte de como desenvolver uma leitura
semiolgica do texto literrio, na introduo de seu livro Leitura do Texto Literrio
12
,
coloca em evidncia a necessidade de uma cooperao interpretativa nos textos
literrio, no sem antes assinalar o fato de que esta cooperao interpretativa ,
realmente, um problema a ser avaliado.
12
ECO, Umberto. Leitura do Texto Literrio. Lisboa: Presena, 1983.
Como uma obra de arte poderia, por um lado, postular uma livre interveno
interpretativa por parte dos prprios destinatrios e, por outro, exibir caractersticas
estruturais que estimulam e ao mesmo tempo regulam a ordem das suas
interpretaes?
13
Como exemplos de seu questionamento, Umberto Eco, referindo-se a um estudo
de Jakobson, sobre Les chates, de Baudelaire, procura demonstrar, em benefcio da
compreenso, a funo ativa desempenhada pelo leitor na estratgia potica do
soneto.
14
Quando publicou o seu livro Obra Aberta
15
Eco j fora criticado por Lvi-
Strauss, que no concordava com a sua concepo de que a obra aberta interpretao
do leitor. Para Lvi-Strauss, a obra fechada, dotada de propriedades precisas que
somente o posicionamento analtico justifique.
Reportando-se anlise feita por Jakobson, Umberto Eco se defende e
demonstra que o prprio Jakobson j previra a cooperao do leitor [talvez
inconscientemente], ao desenvolver categorias, observadas atravs de um ponto de vista
estruturalista, acerca das funes da linguagem. Tais categorias falavam de emissor,
destinatrio e contexto como indispensveis ao tratamento do problema da
comunicao, mesmo da comunicao esttica.
16
Umberto Eco assinala, ainda, que um
texto como Les chats reivindica a cooperao do leitor, assim como deseja tambm
que este ensaie uma srie de opes interpretativas, e defende a sua tese de que
possvel uma abertura interpretativa do texto, mesmo sendo adepto dos postulados
semiolgicos.
Postular a cooperao do leitor no significa contaminar a anlise estrutural com
elementos extratextuais. O leitor, como princpio ativo da interpretao, faz parte do
quadro generativo do prprio texto.
Se at mesmo os reenvios anafricos postulam cooperao por parte do leitor, ento
nenhum texto escapa a esta regra.
17
Se antes a interveno interpretativa era vista com desdm pelas normas
estruturalistas [portanto, exclusivamente cientficas], e totalmente eliminada em
proveito de um estudo objetivo e metodolgico, agora a mesma passou a ser respeitada,
mas, ainda h opositores, oriundos das antigas exigncias estruturalistas, que se recusam
a uma necessria reciclagem crtica. Ento, se a questo permanece sublinearmente
(interagindo nas diversas Universidades do pas), porque no buscar a conciliao, por
meio de um renovado ponto de vista crtico, aceito por todos, e que seja devidamente
registrado nos meios intelectuais. O semilogo Umberto Eco, com seus
questionamentos dos anos oitenta (quase moda hermenutica), permitiu uma abertura,
permitiu-se conciliar pontos de vista divergentes em prol de uma consciente
compreenso do texto.
Procuro articular as semiticas textuais com a semntica dos termos, limitando o
objeto do meu interesse aos processos de cooperao interpretativa.
18
Logo, para Umberto Eco, o sentido dos significados to importante quanto o
desenvolvimento de uma articulao semiolgica com os textos literrios. E, para ele,
no lcito isolar estruturas formais, ou seja, desenvolver anlise de aspectos
significantes sem acatar, de antemo, uma interpretao, um preenchimento dos
13
Idem, p. 7
14
Idem, p. 9
15
Idem, p.8
16
Ibidem
17
ECO, op. cit., p. 9
18
Idem, p. 11
espaos das entrelinhas (espaos estes que jamais podero ser tachados de vazios,
quando, ao contrrio, so plenos de significaes), os quais s podero ser revelados por
meio da colaborao do leitor.
Percebe-se que Umberto Eco no avesso a uma interpretao hermenutica,
mesmo que, por motivos bvios, no assinale em seu trabalho esta provvel
concordncia. A Cincia um fato palpvel em nossos dias. Prepotente ou no, ela faz-
se presente em nosso cotidiano e, como sempre se observou, no se eliminam da
Histria do Homem os conhecimentos que foram revelados e que vo sendo
sucessivamente manifestados.
Assim, a Hermenutica atual se v em face de uma questo, qual seja a de usar
uma metodologia, sem se submeter s imposies da Cincia. O problema foi detectado
por Eduardo Portella, no incio da dcada de setenta, passou pelos anos oitenta e
noventa, e, segundo minhas observaes acadmicas, continua insolvel, neste incio de
Terceiro Milnio.
Como forma de reviso do impasse gerado nos anos setenta, recupero, aqui, o
posicionamento de Eduardo Portella, delineando a sua concepo de expresso crtica, e
defendendo uma disposio acentuadamente hermenutica.
O empreendimento metodolgico que levamos a efeito, embora obediente a
determinados padres de rigor que so eminentemente cientficos, em nenhum instante
quis comprometer a natureza peculiar do fenmeno literrio.
19
Como se observa, no estou extrapassando limites ou colocando o termo dentro
da jurisdio cientfica. Muito menos me coloco como adepta inconteste dos postulados
da crtica de base cientfica, quando reconheo a priori a importncia da Hermenutica,
para que se desenvolva uma compreenso autntica do sentido do texto. Apenas admito
uma cooperao semiolgica, repito, de Segunda Gerao, uma vez que, nestes meus
anos de magistrio, ainda no reconheci novos segmentos da Semiologia Literria (
bem possvel que, no mbito da Lingstica, tal fato tenha acontecido). Admito a
cooperao semiolgica porque, no se pode negar, a Semiologia, aquela que lida
especificamente com a forma literria, permite que se observe o texto translucidamente,
promovendo a correta compreenso da mensagem implcita nele.
Repetirei mais uma vez: sou partidria de uma saudvel conciliao entre
cincia e fenomenologia. A cincia explica e a fenomenologia esclarece (a postulao
de uma episteme, como base de estudos crticos, ser sempre necessria ao estudioso da
literatura). Como j observei antes, pela tica de Paul Ricoer, ao adepto da
Hermenutica atual se coloca a alternativa entre compreender e explicar a mensagem e
esta alternativa s se realiza por intermdio da interpretao. ainda pelo ponto de vista
de Ricoer que continuo a refletir esta questo to antiga em nossos meios e, ao mesmo
tempo, to atual.
Vejo a histria recente da hermenutica dominada por duas preocupaes. A primeira
tende a ampliar progressivamente a visada da hermenutica, de tal modo que todas as
hermenuticas regionais sejam includas numa hermenutica geral. Mas esse
movimento de desregionalizao no pode ser levado a bom termo sem que, ao mesmo
tempo, as preocupaes propriamente epistemolgicas da hermenutica, ou seja, seu
esforo para constituir-se em saber de reputao cientfica, estejam subordinadas a
preocupaes ontolgicas segundo as quais compreender deixa de aparecer como um
simples modo de conhecer para tornar-se uma maneira de ser e de relacionar-se com
os seres e com o ser. O movimento de desregionalizao se faz acompanhar, pois, de
19
PORTELLA (1970), op. cit., p. 22.
um movimento de radicalizao, pelo qual a hermenutica se torna, no somente geral,
mas fundamental.
20
Assim, num primeiro posicionamento, a Hermenutica preocupa-se mais com a
linguagem, mais especificamente, com a linguagem escrita. Isto acontece porque a
linguagem escrita reflete uma caracterstica peculiar da linguagem humana (a
polissemia), quando se observa o significado das palavras fora de seu contexto
expressivo. Por meio desta constatao, passa-se para um segundo posicionamento, no
qual se exige sensibilidade e compreenso, porque, ainda segundo Ricoer,
(...) o manejo dos contextos (...) pe em jogo uma atividade de discernimento que se
exerce numa permuta concreta de mensagens entre os interlocutores, tendo por modelo
o jogo da questo e da resposta. Esta atividade de discernimento , propriamente, a
interpretao: consiste em reconhecer qual a mensagem unvoca que o locutor
construiu apoiado na base polissmica do lxico comum. Produzir um discurso
relativamente unvoco com palavras polissmicas, identificar essa inteno de
univocidade na recepo da mensagem, eis o primeiro e o mais elementar trabalho da
interpretao. no interior desse crculo bastante amplo de mensagens trocadas que a
escrita demarca um domnio limitado, chamado por W. Dilthey (...) de expresses da
vida fixadas na escrita. So elas que exigem um trabalho especfico de interpretao,
por razes (...) que se devem justamente efetuao do discurso como texto. Digamos,
provisoriamente, que, com a escrita, no se preenchem mais as condies da
interpretao direta mediante o jogo da questo e da resposta, por conseguinte, atravs
do dilogo. So necessrias, ento, tcnicas especficas para se elevar ao nvel do
discurso a cadeia dos sinais escritos e discernir a mensagem atravs das codificaes
superpostas, prprias efetuao do discurso como texto.
21
Ricoer j postulava, nos anos setenta, como se v, uma Hermenutica que se
baseasse em pressupostos cientficos. O termo discernir, por exemplo, distancia-se em
muito dos postulados hermenuticos anteriores, os quais pregavam apenas uma
compreenso para uma posterior explicao, moda dos exegetas da Bblia. Discernir
remete-me aos postulados semiolgicos, os quais indicam a forma exata de como
distinguir, diferenciar, separar, apartar, identificar, palavras-chave que conduzem
decodificao (termo tambm usado por Ricoer, nesta longa citao que destacamos
acima), e que, de acordo com a nomenclatura semiolgica, servem para destacar os
referentes, os sememas, os semas, as isotopias ncleos que compem o todo do
texto ; palavras-chave que permitem discernir a verdadeira mensagem do texto-arte,
evitando que se desenvolva uma crtica distanciada do seu sentido exato, e que poder
ser destacado na interpretao.
Foi Schleiermacher o primeiro a se conscientizar da necessidade de uma
reavaliao dos pressupostos hermenuticos. Antes dele, as questes se localizavam nas
duas formas, j assinaladas no incio de minha consideraes, de como se interpretar os
Textos Sagrados, e numa anlise filolgica dos textos greco-romanos. Portanto, foi a
partir de Schleiermacher que a arte de compreender desenvolveu-se at chegar ao
ponto em que se encontra agora.
de meu particular interesse lembrar que a Semiologia desenvolve uma tcnica
objetiva, cerceando, num primeiro momento, por intermdio de estudos esquemticos, a
compreenso espontnea do intrprete, mas, repito, depois dos estudos semiolgicos, o
texto se ilumina, permitindo que se observe o seu prprio reverso. Depois da anlise, o
intrprete passa a observar o que se esconde nas entrelinhas do literrio.
20
RICOER (1977), op. cit., p. 18
21
RICOER (1970), op. cit., p. 19
Retomo, agora, as reflexes de Eduardo Portella, para, novamente, concordar
com a sua assertiva de que criticar rasgar novos horizontes. Se no h como
pensar a literariedade sem ser em tenso (ou, direi por minha vez, em colaborao)
com a cientificidade, porque no submetermo-nos a um encontro que se efetive para
alm da recusa passional ou da submisso ingnua: seja um dilogo criador.
22
Ainda em relao ao termo decodificao, de largo uso na crtica de base
cientificista, Eduardo Portella esclarece:
Decodificao no quer dizer necessariamente coincidncia ou acordo; quer dizer
apenas a ultrapassagem da incompreenso. Porque o nico que se lhe pede que esteja
ancorada no porto seguro do entendimento.
23
No foi outra coisa o que propus aqui. Postulei uma contribuio satisfatria
para o entendimento atual do literrio, uma contribuio entre duas grandes correntes
crticas (a cientificista e a fenomenolgica) em benefcio da correta decodificao do
texto literrio, para que a compreenso fique ancorada no porto seguro do
entendimento. Ao reivindicar uma colaborao da Semiologia com a Hermenutica,
no quero (e, aqui, quero pedir licena para parodiar Eduardo Portella) repudiar o
silncio, que se encontra palpitante no interior da Obra Literria, e reverenciar a
loquacidade enganadora de um analismo que, em nome da objetividade, se mostra
impermevel ao subjetivismo. Ao contrrio, proponho um labor crtico dialtico,
usando dos ensinamentos de ambas as correntes, para que esse silncio seja rompido.
Reivindico uma colaborao entre as duas correntes (afirmo que esta colaborao, que
muitos dizem existir, no se efetua na prtica, em nossos dias), para que este silncio
se oua acima dos estudos esquemticos (que, em absoluto, no so por mim rejeitados),
ou seja, estudos de origem estruturalista (simplesmente, anlise), e promova a
compreenso dos sentidos corretos do texto literrio (planos invisveis).
(Texto de Neuza Machado. Este texto pertence aos Apontamentos de Teoria
Literria e Crtica Literria, um livro que est sendo elaborado pela autora e
que ser publicado em breve por sua editora particular, NMachado, editora da
autora, registrada no ISBN Rio de Janeiro)
ATENO: A Crtica Literria, como explicao e decodificao
(analismo) e/ou reflexo e interpretao (fenomenologia) de obra
literria, dever se posicionar em permanente transformao,
seguindo as diretrizes impostas pelos prprios textos literrios em
evoluo, ou seja, dever se desenvolver de acordo com o momento
histrico de tais textos (utilizando as tcnicas analticas e/ou estudos
fenomenolgicos do momento presente). Por este ponto de vista, no
h como enquadrar uma obra ps-moderna, por exemplo, em
instrues e modelos crticos j desatualizados, os quais no daro
conta das referidas anlises e/ou interpretaes. O estudioso e/ou
professor dever estar sempre em permanente reciclagem intelectiva.
22
PORTELLA (1970), op. cit., p. 22.
23
Idem, p. 25.
UNI DADE I I I
CRTICA LITERRIA: MODERNIDADE X PS-MODERNIDADE
3.1 - MODERNIDADE
Na Modernidade a reificao humana transforma o humano em objeto social,
na massa, imanente ao todo. As sociedades modernas so sociedades de massa e
estamos nelas como gua dentro da gua, para usar a metfora de Bataille. O
capitalismo de massa imanente ao todo. Se sair dessa imanncia, morre.
Na massa, a individuao no nem coisa nem homem. Fica no meio do
caminho que vai daquela para este. Pois as coisas esto no nvel da terra, do planetrio,
sem um sentido dinmico que lhes d vida. As coisas mesmas, em si mesmas, so o
no-sentido, se ns as imaginamos sem uma conscincia que as pense, que transforme
as coisas em objetos do pensamento. A coisa, como tal, no ainda objeto (do sujeito),
no ainda objeto do conhecimento, pois o objeto passa a existir de um sujeito que o
pensa. O vazio das coisas o terror que se limita a ver o horizonte vazio e oco, espcie
de lugar sem alma, lugar da morte, paisagem lunar.
Na medida em que ns possamos ver no ser humano tambm uma coisa, seu
absurdo no ser menor do que o das pedras, mas ele no sempre redutvel realidade
inferior que atribumos s coisas. Pois o problema que se avista na reificao a
incomunicabilidade, o absurdo de viver no mundo despovoado de sentido, de no
participar da histria, de no compreender o todo, de ignorar as causas das decises dos
acontecimentos. O moderno se encontra num limite. O afastamento da natureza, onde
era exigido o exerccio pleno dos sentidos, trouxe o artificialismo da vida tecnolgica,
uma espcie de inteligncia sem alma. Nosso mundo o mundo eletrnico dos
microcomputadores, porta-vozes de uma felicidade sem alma, anestsica, onde tudo
funciona sem nervo. A sociedade parece ter sido transformada em objeto da cincia,
imanente ao todo. (Conferir: SAMUEL, Rogel. Novo Manual de Teoria Literria.
4.ed. Petrpolis:Vozes, 2007: 135-136)
3.2 - MODERNIDADE: IMANNCIA E IMEDIATISMO ( DE TRANSMANNCIA)
O mundo da Modernidade o da imanncia e do imediatismo, (...). A
transcendncia pertence a uma categoria humana anterior de conscincia em relao s
coisas. A vacuidade do olhar que v o vdeo revela a imanncia existencial no mais
exercendo o seu poder de transcendncia. A transcendncia pertence a uma categoria
humana anterior, de conscincia em relao s coisas. A vacuidade do olhar que v o
vdeo revela a imanncia existencial no mais exercendo o seu poder de transcendncia.
Objeto o emprego que a tecnologia moderna faz das coisas tornadas teis,
prticas, aperfeioadas, interrompendo-se a continuidade harmoniosa e natural em que
se encontravam.
O olhar que v o objeto no o mesmo olhar que v a coisa dada na natureza.
Assim como o olhar que v o vdeo no igual ao olhar que olha a flor. Olhar a flor faz
a redeno daquele olhar capaz de transcendncia. O vdeo fez o olhar desaprender, o
olhar no mais decodifica a flor. A flor agora vem pronta, como produto industrial, no
a flor da margem da estrada. O olhar j no pra na margem da estrada, para a
contemplao da flor. Pois a contemplao pertence a um passado, algo remoto e
histrico. A contemplao no mais possvel na tcnica que tudo traduz, no fato
matematizado. A tcnica revela o esquecimento do olhar.
A tcnica nos prepara para aceitar esta imanncia, que submete o sujeito ao jugo
do objeto. Ensina-o a ser feliz. Os habitantes do Estado cientfico se submetem sem
protesto ao mundo dos objetos, sem experimentar um horror reificao. (Conferir:
SAMUEL, R. Novo Manual de Teoria Literria. 4.ed. Petrpolis:Vozes, 2007: 136)
3.3 - PS-MODERNIDADE
Nos manuscritos conhecidos como Grundisse, ou Fundamentos da crtica da
economia poltica, viu Marx que, medida que se desenvolve a grande indstria, a
criao da riqueza dependeria menos do tempo de trabalho do que de poder dos fatores
tecnolgicos postos em ao durante esse tempo de trabalho, fatores esses que esto
ligados ao nvel geral da cincia e progresso tecnolgico como aplicao tecnocientfica
produo industrial.
Essa passagem das relaes sociais de produo de uma situao de trabalho
fsico para um processo de trabalho intelectual que exige conhecimento especfico do
sistema de automao e informatizao da sociedade no deve ter modificado
completamente a base econmica da sociedade.
Por base econmica se entende um conjunto dialtico constitudo pelas foras
produtivas e pelas relaes de produo. A fora de trabalho foi aperfeioada pelo
conhecimento tecnocientfico. E na posio das classes sociais dos pases desenvolvidos
se tem o novo proletrio de colarinho branco, esse novo grupo social de produo em
novas formas de repartio dos produtos que geraram a sociedade globalizada.
Na chamada sociedade ps-moderna no parece ter havido mudana estrutural
da base econmica. Essa sociedade ps-industrial continua capitalista. A apropriao
privada dos meios de produo persiste hoje camuflada em capitalismo de Estado, ou de
empresas de capital aberto. E o carter social da produo ainda repousa na contradio
entre capital e trabalho.
Hoje, o capital pertence aos pases desenvolvidos, enquanto o nus do trabalho
pertence aos pases em desenvolvimento ou subdesenvolvidos.
Ps-modernidade um nome genrico dado para formas culturais de um perodo
que aparece desde os anos 1960. Abrange certas caractersticas como reflexo,ironia e
um tipo de arte que mistura o popular e o erudito.
Embora o termo tenha sido primeiro usado na arquitetura (Jencks), hoje descreve
a literatura, artes visuais, msica, dana, filme, teatro, filosofia, crtica, historiografia,
teologia, e qualquer atividade de cultura em geral. visto ora como uma continuao
dos aspectos mais radicais da Modernidade; ora, ao contrrio, como marcador de uma
ruptura com ela.
A Ps-modernidade uniu a lgica cultural do capitalismo tardio (Jameson); a
condio geral de conhecimento em tempos de tecnologia da informao (Lyotard); a
substituio de um foco da epistemologia modernista por uma ontologia (MacHale); e a
substituio do simulacro pela realidade (Baudrillard).
Por um lado, a literatura ps-moderna foi chamada de literatura de
reabastecimento (Barth); por outro, de literatura de uma economia inflacionria
(Newman).
Em resumo, h pouco acordo nas razes de sua existncia ou na avaliao de
seus efeitos.
No obstante, um estudo das preocupaes que se sobrepem aos vrios tipos de
arte e discursos nos quais o termo usado pode definir certos denominadores comuns
que servem para compreend-la.
Ela envolve a combinao aparentemente paradoxal de autoconscincia e algum
tipo de fundamento histrico, porm, ironizado. Por exemplo, o que foi chamado de
metafico historiogrfica (HUTCHEON, Poetics) uma fico preocupada com seu
estado de fico, de narrativa ou de linguagem, e tambm fundamenta alguma realidade
histrica verificvel.
Os discursos ps-modernos instalam e subvertem convenes; e normalmente
tratam essas contradies com ironia e pardia. Empregando formas e expectativas
tradicionais e as destruindo ao mesmo tempo, os discursos Ps-modernos conseguem
apontar as convenes como convenes, e isto inclui estruturas ideolgicas como
capitalismo,patriarcado, imperialismo e mesmo humanismo.
O discurso Ps-moderno tambm desafia limites fixos entre os gneros, entre
tipos de arte, entre teoria e arte, entre arte erudita e cultura de massa.
As interpretaes e avaliaes da Ps-Modernidade radicalmente discrepantes
so em parte o resultado de sua incerteza poltica, inscrevendo-se, mas tambm
subvertendo vrios aspectos da cultura dominante. Essa dubiedade poltica estratgica
o denominador comum de muitos discursos ps-modernos e tambm uma das razes
para as diferenas de opinio sobre a validez e valor da ps-modernidade que
problematiza temas como histria, representao, subjetividade, ideologia e pobreza.
(...).
A objetividade racional ps-moderna afasta as imprecisas determinaes do
sujeito, objetivando o prprio sujeito. O indivduo, criado pelas novas relaes sociais,
se torna objeto de controle, mas cujos desejos devem ser satisfeitos de alguma maneira e
cujas necessidades novas devam ser satisfeitas no mercado. Mascara-se, com a
decadncia do bem-estar da classe mdia, um gigantesco aparato cientfico de
dominao policial por meio do conhecimento dos mecanismos internos do desejo
produzido, tornando o sujeito um objeto de um sistema de resultados. (Conferir:
SAMUEL, R. Novo Manual de Teoria Literria. 4. ed. Petrpolis:Vozes, 2007: 161-164)
3.4 - TEMAS E VARIAES DA PS-MODERNIDADE
Num texto composto de sries descontnuas, John Cage (apud Temas e
variaes, publicado em Arte e palavra, do Frum de Cincia e Cultura da UFRJ,
1987) conseguiu resumir um iderio da condio ps-moderna, seus temas verbais e sua
experincia de vida da seguinte forma:
No-inveno: que se ope ao finalismo progressista;
Renncia ao controle: que se ope ao controle do Estado social;
Afirmao da vida: ecologicamente;
Imitao da natureza: no seu modo simples de ser;
Multiplicidade: individualista;
Pluralidade dos centros;
Individualismo;
Terminais domsticos dos computadores;
Coexistncia das dessemelhanas;
Nenhuma idia de ordem;
Sensao de um processo contraditrio e sem objetivo: que caracteriza a formao
de qualquer nova realidade ainda em estgio anrquico;
Indeterminao;
Aventura: na vida e na cultura;
Passagem do medo para o amor;
Ser conduzido por pessoa (e no por idias ou livro);
Fim da ideologia;
Sensao de bem estar e segurana derivada do capitalismo de servios;
Indeterminao do certo e errado ao mesmo tempo (o capitalismo de servio cria
ampla margem de segurana como os direitos humanos);
Capacidade de sair do zero (de iniciar e de ser);
Possibilidade de ajudar sem fazer nada (fim da violncia como modo de agir; fim da
idia de luta de classes);
Tdio mais ateno (capacidade de ser sujeito o tempo todo, uma sensao de que a
sociedade est organizada e o futuro garantido como seguro social, educao
permanente, etc.);
Atividade em lugar de comunicao;
Comunicao em lugar de informao;
Informao para levar ao;
Desmassificao do indivduo;
Estar fora de moda (criar a prpria moda individual);
Fim dos meios de comunicao como elementos formadores da opinio pblica;
Entendimento pessoa a pessoa;
Valorizao dos dilogos, das conversas, da conscincia interpessoal;
Encontro para fazer algo junto;
Anonimato (fim da busca da fama). (Conferir: SAMUEL, Rogel. Novo Manual de
Teoria Literria. 4. ed. Petrpolis:Vozes, 2007: 164-165. Observao: Os
marcadores so de responsabilidade da conteudista deste Instrucional)
3.5 - SOBRE A POESIA PS-MODERNA
Diz Cage:
Poesia no ter nada a dizer e dizer: no possumos nada.
Ele v [Cage], porm, uma incerteza pairando no ar: a desconfiana na
competncia da educao como elemento de hominizao; v importncia, agora, de
estar perplexo; v todos em direes diferentes numa anarquia mental; v a valorizao
do budismo: a mente silenciosa. (Conferir: SAMUEL, Rogel. Novo Manual de Teoria
Literria. 4. ed. Petrpolis:Vozes, 2007: 165)
3.6 - SOBRE AS SOCIEDADES CAPITALISTAS PS-MODERNAS
Nas sociedades capitalistas ricas aparece o desemprego como opo: a
desistncia de possuir (a capitulao): o objetivo no ter objetivo. (Conferir:
SAMUEL, R. Novo Manual de Teoria Literria. 4. ed. Petrpolis:Vozes, 2007: 165)
3.7 - PS-MODERNO / PS-MODERNISMO (NICOLAU SEVCENKO)
RECAPITULAO (Este captulo poder ser encontrado tambm no Instrucional de
Teoria da Literatura II, pgina 96)
(In.: OLIVEIRA, Roberto Cardoso de (Org.). Ps-modernidade. 1.ed. Campinas:
Unicamp, 1987. Pp. 43 - 55)
Resumo:
PS-MODERNO Supe uma reflexo sobre o tempo (por exemplo: Era Medieval /
Era Moderna / Era Ps-Moderna) // A que tempo se refere? No a um tempo
homogneo, linear, em que se possa estabelecer um recorte e fixar uma data decisiva,
um ato inaugural, como se poderia esperar da viso simplista da histria, na qual somos
zelosamente educados. No se pode definir um incio preciso e, embora se prenuncie e
se deseje uma superao, ela no nunca o fim. (p.45)
ATITUDE PS-MODERNA Atitude nascida do espanto, do desencanto, da
amargura aflitiva, que procura se reconstruir em seguida como alternativa parcial,
desprendida do sonho de arrogncia, de unidade e poder, de cujo naufrgio participou,
mas decidiu salvar-se a tempo, levando consigo o que pode resgatar da esperana. (p.45)
QUE NAUFRGIO? QUE CATSTROFE FOI ESSA?
[O autor analisa a partir de Walter Benjamim: Naufrgio e catstrofe produzidos pelas
caldeiras insaciveis da locomotiva do progresso. (p.47)] (Cf.: Walter Benjamim)
[Naufrgio e catstrofes provindos da racionalidade, do maquinismo, da transformao
da sociedade num gigantesco autmato auto-regulado, em que a arte, a tcnica e a vida
se fundiriam numa unidade revitalizadora. Uma utopia da igualdade perfeita, produzida
pela razo, governada pela tcnica e desfrutada pela arte. (p.47)] (Ler Benjamim)
[Os Artistas se identificaram no incio com a militncia surrealista, ou seja, a plenitude
da mquina em seu mximo desempenho. (...) Os prprios Artistas viam-se como um
movimento, um ncleo de combate, uma vanguarda. Metforas tcnicas e militares que
prenunciavam j a guerra tecnolgica e o planejamento totalitrio das sociedades.
(p.47)]
Quando Benjamim analisa o quadro de Paul Klee as iluses j se haviam consumido. A
tcnica derivada da razo instrumental, apropriadora, planejadora, ao invs de libertar,
submetera os homens ao imprio da mquina genocida, dotada de uma capacidade
destrutiva sem precedentes. A herana de Prometeu, ele descobre afinal, a guia que
devora as vsceras de cada um e no a redeno da humanidade. Ele e Klee se sentiram
trados, mas muitos intelectuais e artistas envolvidos na vanguarda dispuseram-se de
boa vontade a colaborar com os novos poderes, na Europa e nos Estados Unidos,
sobretudo depois da guerra. Revelao final: a vanguarda em si no foi trada, ela
mantinha no seu ntimo uma correspondncia com as foras do progresso. (p. 47, final,
e p.48)
[Anlise do quadro de Klee Angelus Novus pp.48-49)
Por que cham-lo de Angelus Novus?
1
o
) Os anjos so intemporais, no tm vontade prpria, so governados pelo desgnio
divino e por isso mesmo a natureza ou as foras do mundo celeste jamais atuam sobre
eles. // Se a tempestade letal do progresso, que vem do paraso, decorreu da vontade
de Deus, esse anjo no mais obedece, mas resiste aos propsitos do Supremo.
2
o
) ANJO DA HISTRIA
anjo decado e sua rebeldia o tornou impotente para auxiliar os vencidos, mortos e
humilhados.
no mais sintonizado com o poder
ele prprio est condenado a ser um vencido e enxovalhado
sua natureza de ser destinado vida eterna o submete ao castigo de assistir
paralisado destruio do mundo e degradao de si mesmo [ele cuja
misso precpua agir e salvar]
ANGELUS NOVUS (QUADRO DE PAUL KLEE) METFORA DE PS-MODERNIDADE
No deve haver dvida quanto ao sentido desta metfora: o ANGELUS NOVUS
representa a prpria condio do artista e do intelectual depois que o sonho modernista
perdeu a sua inocncia. A expresso novo justifica-se assim pela mudana de
perspectiva criadores aturdidos. Eles j no voam na mesma direo e na mesma
velocidade do vento do progresso. J no gozam do privilgio de se fundirem com a
fonte nica de todo poder, de toda vontade e de toda justia. No esto mais voltados
para o infinito radiante do futuro e sim para a tragdia impronuncivel do passado. No
acreditam mais no absoluto, nem se deixam levar por suas falsas promessas. Esto ss,
reduzidos aos limites estreitos de sua fraqueza, seu horror e sua fria. Essa a condio
do novo que se manifesta aps a modernidade. (p.50)
A CONSUMAO DO PROJETO DA MODERNIDADE PELA RAZO PLANEJADORA
A consumao do projeto da modernidade pela razo planejadora no significou o seu
ponto final, embora alguns intelectuais e artistas tenham iniciado a crtica das
vanguardas, depois que serviram na encruzilhada entre o planejamento totalitrio e o
terrorismo genocida, a maior parte manteve-se fiel a uma prtica artstica que, aps a
guerra, recebeu a consagrao de estilo oficial das galerias e de governos
comprometidos com a reconstruo, o desenvolvimento e o progresso. Marx j disse
que a histria no se repete seno como farsa, ao que caberia acrescentar que a arte no
retoma sua aura seno como fuga. O que antes era moderno, agora se tornou pastiche,
simulao, impostura: um gesto repetitivo, andino e frouxo. (pp.50-51)
No h como querer datar com preciso o incio do PS-MODERNO.
Benjamim pode ter sugerido que esse marco a Segunda Guerra.
ESSE PENSAMENTO QUESTIONVEL.
Em Kafka tambm existe uma sugesto a respeito.
ATITUDES DA RAZO PLANEJADORA (p.52)
Atitude de rejeio da herana socrtica da unidade, transcendncia e supremacia
dos princpios da razo, da verdade e do belo;
Atitude de repdio reduo de toda realidade e toda experincia homogeneidade
e coerncia das representaes metafsicas (o que chamado de esprito moderno desde
o Renascimento e o Iluminismo), podem ser encontradas em Mallarm, Joyce e Borges.
As vanguardas tiveram um papel decisivo na destruio de uma ditadura da
representao realista, segundo os cnones autoritrios das belas artes.
As vanguardas abriram caminho para o questionamento da suposta autonomia da
arte, expuseram e tematizaram os artifcios da composio e exigiram a liberdade
radical da imaginao criadora.
As vanguardas substituram a tirania do bom gosto burgus pela da utopia
compulsria da razo planejada e do maquinismo. (p.52)
O movimento modernista nunca foi homogneo. Do Futurismo ao Dada medeiam as
distncias que vo de um discurso colado arregimentao fascista denncia visceral
de qualquer engajamento. Da mesma forma no h qualquer unidade dentre as
experincias artsticas e filosficas que tm sido postas sob a legenda do PS-
MODERNISMO. (P.53)
PS-MODERNISMO No h sequer acordo sobre o significado desse termo.
Para os americanos: mera correspondncia na rea cultural do advento da tecnologia
ps-industrial, baseada nos recursos da ciberntica e informtica.
Para alguns autores: crtica voltada negao total das vanguardas, que exalta o
perodo anterior ao modernismo e se inclina para um retorno s fontes da histria e do
passado.
Outros ainda denunciam como uma mera pasteurizao dos cacoetes das vanguardas,
sem vitalidade e sem compromissos.
Todas essas concepes so de fundo reacionrio e esvaziam o sentido crtico
profundo do movimento.
H autores que se autoproclamam ps-modernista. H latncias passveis de
discusso como os riscos do esteticismo hermtico de Aldo Rossi, ou da fetichizao do
passado em Palladio, por exemplo, para s falarmos da arquitetura. H o
monumentalismo autoritrio e a seduo comprometedora pela tcnica de Philip
Johnson e dos autores do edifcio do Centro Pompidou. O ps-moderno sem dvida traz
ambigidades alis feito delas e deve ser criticado e superado. isso que ele
prope: a prudncia como mtodo, a ironia como crtica, o fragmento como base e o
descontnuo como limite. (pp. 53-54)
PS-MODERNO
Anseio de uma justia que possa ser sensvel ao pequeno, ao incompleto, ao
mltiplo, condio de irredutvel diferena que marca a materialidade de cada
elemento da natureza, de cada ser humano, de cada comunidade, de cada circunstncia,
ao contrrio do que nos ensinam a metafsica e o positivismo oficiais. A sensibilidade
para a expresso inevitvel do acaso, do contraditrio, do aleatrio. O espao para o
humor, o prazer, a contemplao, sem outra finalidade seno a satisfao que o homem
neles experimenta. O aprendizado humilde da convivncia difcil mas fundamental com
o impondervel, o incompreensvel, o inefvel depois de sculos de f brutal de que
tudo pode ser conhecido, conquistado, controlado. (p.54)
3.8 - PS-MODERNO / PS-MODERNISMO (JAIR FERREIRA DOS SANTOS / TRECHOS)
In.: OLIVEIRA, Roberto Cardoso de (org.). Ps-Modernidade. 1
a
ed.
Campinas: Unicamp, 1987. P. 59-69.
RESUMO:
Para a identificao da literatura Ps-Modernista (Sculo XX):
Barth (escritor americano) verbos no passado; // Deus, ou qualquer outro grande
referente tipo Histria, Natureza, Conhecimento so liquidados como abonadores da
ordem ou de um sentido para o universo e a vida; e em seguida anulado o realismo, a
mais cara das convenes literrias, com sua f de sapateiro numa realidade objetiva
que seria singelamente captada na linguagem por um sujeito-narrador atento e forte, em
franca afinidade com as coisas.
PS-MODERNISMO
Literatura bem-humorada, fantasiosa, sem iluminaes, problematizando ao
mximo a percepo da experincia e da prpria literatura. (p.59)
Entropia (desordem) e anti-realismo so os decalques, na literatura, do capitalismo
ps-industrial, baseado na tecnocincia e na informao, em ascenso nos Estados
Unidos da Amrica h duas dcadas. Receptor de mensagens aleatrias, emitidas pela
mass media e os sistemas informatizados, o indivduo percebe o mundo e a Histria
como um espetculo entrpico (desordenado), fragmentrio, sem totalidade e irracional,
enquanto sua volta a realidade se dissolve numa colagem de signos e simulacros cujos
referentes so remotos ou se perderam. Nesse cosmos tendente ao caos, sem princpio
unificador seja ele cristo ou newtoniano, o sujeito , quando muito, um tomo
estatstico surfando nas ondas do provvel e do incongruente. (p.60)
Anos 60: Nova sensibilidade, no linear, no livresca quntica no seu feitio
descontnuo estava sendo modelada pela TV, a moda, a publicidade, o design, o rock.
Era Pop e gregria, dionisaca e contracultural, experimentadora e sem hierarquias,
enfeixando o que seria a revanche ps-moderna dos sentidos contra a inteligncia
modernista. O consumo desbancava a Bblia, McLhuan abalava Marx e Dylan
silenciava Eliot. Aos escritores americanos do ps-guerra, como Barth, Pynchon, Heller,
Vonnegut, Brautingan, s restava no se oporem a essa sensibilidade pelo
intelectualismo, mas pesquisar um estilo ou anti-estilo para expor sua face apocalptica,
sua farsa terminal, engendrar uma antiforma para o absurdo sob o guarda-chuva nuclear,
numa era de mutao cultural. (p.60)
Dcada de 60 (nos EUA): O romance tradicional perdera a eficcia e a credibilidade.
A nova complexidade cultural e social ultrapassava seus meios de espelhar a realidade.
Anteriormente: Dos Passos, Hemingway, Faulkner tinham feito a glria trgica do
indivduo e do tempo esfacelados, tinham explorado os conflitos da conscincia
alienada a poderosas foras sociais. (...) Esses meios explorados por esses escritores
agora pareciam canhestros ante um mundo informacionalmente hiperblico. (p.61)
1963: Thomas Pynchon incoerncia grotesca mas talentosa (Romance V)
ROMANCE V: Alguma coisa experimental e ldica igual ao modernismo emergia
irredutvel, no entanto, ao modernismo, excluindo muitos dos seus dogmas. Vinha sem
revelaes epifnicas; descartava o privilgio do artista como guia para iluminar os
pores da subjetividade; substitua a psicologia por uma sociologia meio alegrica meio
delirante; trocava a originalidade formal pela reciclagem, em pardia, dos vrios
gneros; desfazia ou recompunha o enredo sem aludir a uma mtica tomada como
quintessncia da realidade; criava enfim sem se pretender cultura superior. (p. 61-62)
ROMANCE TRADICIONAL (MODERNO) X ROMANCE PS-MODERNO
Argumento de Barth:
(...) numa ambincia niilista, desencantada, o romance tradicional, calcado na iluso
verossmil, um flatus vocis... A soluo seria jogar esse impasse intelectual contra
si mesmo. Isto , o romance deve se tornar uma imitao deliberada do romance,
dos gneros literrios ou de qualquer outro texto apto a injetar-lhe sobrevida. Era a
hora da metafico, literatura sobre literatura, texto que expe sua fraude e renega
o ilusionismo. (p.62)
O BURLESCO (AUTODEVORAO CRIADORA)
O burlesco (exagero cmico) vai ser o tom dominante da metafico. Uma esttica
jocosa, fantasista, no-modernista, do absurdo passar por ele. Gnero menor, modo
temtico e estilo narrativo, o burlesco, em ao na literatura inglesa desde o sculo
XVII, surrupiado ao francs Searson, um dispositivo de pardia que faz rir pela
incongruncia entre o fundo e a forma (algo assim como transpor a Eneida com a
linguagem virgiliana para o meio de uma famlia calabresa vivendo hoje no Brs). Para
fazer rir, o burlesco convoca toda a baixaria: sexo, violncia, drogas, loucura, perverso,
escatologia, em outras palavras, a parte maldita com a qual o ps-modernismo, sem
iluses ante a sociedade tecnolgica, desanca o projeto Iluminista em sua crena na
emancipao do homem pelo conhecimento e progresso. Nessa mesma trilha, o
burlesco ainda a ponte intertextual por onde os autores ps-modernos cruzam o
fosso (bem modernista) entre arte culta e arte de massa: fico cientfica, romance
policial, conto de fadas, pornografia, western e quadrinhos so alegremente
canibalizados pelos espritos mais requintados. (p.62)
METAFICO
No apenas uma fisiologia do escabroso e do bizarro, nem os funerais de gneros que
se esgotaram. A metafico um contra-romance que imita o romance. Ela quer ser
uma nova epistemologia literria, um desmascaramento das convenes ficcionais
mantidas intactas pelo prprio modernismo, e por a, criando mundos verbais
alternativos, ser um ataque atualidade, na qual, segundo Borges, total a
contaminao da realidade pelo sonho. (p.63)
NARRATIVA PS-MODERNA (ESSA IDIA J SE TORNOU CHAVO)
Vitimada pela entropia (volta desordem), caotiza espao, tempo e enredo.
Enredo: destrudo por saturao (Ler Barth) // Acontecem mais coisas do que a
memria pode reter ou seria necessrio; ou simplesmente o descartar (ler Donald
Barthelme).
No existe curva dramtica na narrativa ps-moderna // A curva dramtica
inexiste e o fim no traz mensagem tica; antes lugar para glosas. Exemplo: Em Lost
in the Funhouse, Barth-Narrador prope e rejeita vrios finais.
PERSONAGENS: Cmicos (a comear pelo nome) // So emblemas
bidimensionais com rala psicologia, como se extrados das histrias em quadrinhos; //
So palhaos como ns do acaso (seus desastres no levam compaixo mas ao riso,
pois lembram, na sua inanidade, na sua estupidez, ou na sua frieza, os bonecos
beckettianos, em que filsofos europeus tm lido o eclipse do sujeito.
TCNICA NARRATIVA: Est voltada incerteza, que na metafico endmica
(uma doena). O labirinto tambm instvel. Pessoas ou pronomes narrativos podem
se permutar at no meio de uma frase e ficamos sem saber quem est narrando. //
Perda da unidade de tom; // Carga de incerteza, que provoca resistncia leitura,
representa a opacidade do mundo interpretao, o que obtido mediante a
desestabilizao de elementos antes intocados da gramtica narrativa. // Constatao
da narrativa pela narrativa [exemplo (incio de um conto): Percorro a ilha e eu a
invento]. Segue-se, em 55 fragmentos, uma desova, em abismo, de contos de fadas
mortos pela narrao, mal nascem na narrativa, centrados nos motivos da varinha e do
beijo mgicos. (Ler The Magic Poker, de Robert Coover); // No conto A frase, de
Donald Baethelme, o personagem a prpria frase que est sendo escrita sem ponto
algum por oito pginas. (p.65)
INTERTEXTUALIDADE
Se a intertextualidade sistemtica, carnavalesca marca de nascena no ps-
modernismo, Nabokov (escritor russo) seu rebento mais radical. Seu fantstico Pale
Fire (1962), cujo humor e inteligncia metem no chinelo as critures, fatura Tel Quel,
parodia ao mesmo tempo thriller de espionagem, estudo literrio e anlise filolgica, at
consumar-se em delirante mquina intertextual. Pois seu personagem um poema de
999 versos escrito por John Shade possivelmente a partir de conversas com seu vizinho
Kimbote. Mas Kimbote, que tenta provar sua participao na criao do poema, um
homossexual luntico que se cr o exilado e perseguido rei de Zembla, e, com isso, a
narrativa nos mantm at o fim flutuando, incertos, entre dois textos e vrios nveis de
realidade: o objetivo, o delirante, o ficcional. (p.66)
METAFICO AMERICANA (Plural nas suas vertentes)
prosa especializada em poesia concreta
romances
pornografias
formalismo ultrachic
narrativa picaresca (ironias)
Em comum: Recusam a dourar o bezerro da cincia e da tecnologia na Amrica ps-
industrial, e porque, esteticamente, ostentam inventividade e consistncia prova de
qualquer crivo crtico. // Os autores de metafico americana (alguns) pedem
ateno especial.
THOMAS PYNCHON (1937): Entropia (conto); V (romance); The Crying of Lot
49 (romance 1966);
JOHN BARTH (1930): The Floating Opera; Chimera; Letters; Sabbatical; Giles
Goat-Boy (Giles, o Menino-Bode, 1966, 810 pginas); Giles, o Menino-Bode, de John
Barth: Alegoria = pardia da Bblia; releitura de dipo, com uma parfrase em versos;
farsa da guerra fria entre EUA x URSS; reciclagem burlesca do mito do heri errante
(Wandering hero), chupado confessadamente ao livro The Hero With Thousand Faces,
de Joseph Campbell. Seu alvo predileto, no entanto, a cincia. Todos os cientistas so
cretinos ou defeituosos, e, logo na terceira pgina, Max Spielman, pastor de Giles e
Psicoproctologista matemtico, desvenda o mistrio do Universo medindo o nus das
cabras, com uma das quais amasiado. A metfora universitria esculacha no s a
poltica como tambm o ensino americano, onde o passar (pass) ou esmerdear (flunk)
convertido em princpio absoluto. Os computadores, que so autoprogramveis,
simbolizam a troca da liberdade frente ao destino pela tecnologia, mas tambm
permitem ao ecletismo ps-moderno de Barth a deglutio literria da fico cientfica.
Em seu pique [ moda de] Rabelais, smbolos e metforas a servio da burla
filosfica, Barth castiga numa s verdade: sendo ilusrio o herosmo, viver passar da
fantasia ao saber, da ingenuidade conscincia, mas inutilmente. Se estamos perdidos
no mito, estiolamos no saber. Da iluso perigosa cincia triste, o percurso pela
desmistificao e o ridculo. Somos uma lucidez desencantada. Se no h fins ideais que
norteiem os meios, o niilismo bate no corao do conhecimento.
O americano, dizem, vai Disneylndia para sentir que fora dali sua vida real. O ps-
modernismo est ancorado aqui: na insustentvel leveza de no crer nem na realidade
nem na fico. Nesse desvo descrente passeiam os simulacros ofertados pelos mass
media, os modelos computacionais, a tecnocincia nova ordem na qual a simulao do
romance pela sua destruio ainda subversiva, porque invoca clownescamente, se no
verdades, ao menos possibilidades atravessadas pelo absurdo, o que sempre
inquietante. No outro o motivo da generosa acolhida que essa literatura teve entre os
jovens.
Na origem dessa virada esttica sem dvida est o fato de que, sem projeto histrico
alm do consumo, sem novos ideais em substituio aos valores tradicionais, a
sociedade ps-industrial abandona o artista deriva de um pacto patafsico com a
entropia: se a desordem o destino, vamos rir enquanto tempo. Pois ele sabe que a
arte, na viso ps-moderna, no passa de um sublime excremento e que chegou tarde
demais. Sua voz vazia, glacial, alusiva, inumana, retr. O que afinal, para ainda dar o
que pensar, no um privilgio ps-moderno. Como transcreve Barth num
surpreendente ensaio publicado nos anos 70, The Literature of Replenishment, o escriba
egpcio Khakheperresemb j se queixava 200 anos antes de Cristo: Tivesse eu frases
desconhecidas, palavras singulares numa lngua jamais usada... (pp. 70-71)
3.9 - PS-MODERNO / NARRATIVAS
ANOS 60 (MOMENTO DE TRANSIO PARA O PS-MODERNISMO NA LIT. BRASILEIRA)
Nova sensibilidade no linear, descontnua (modelada pela TV, a moda, a
publicidade, o design, o rock);
Pop X gregria;
Dionisaca X contracultural;
Experimentalista X sem hierarquias;
REVANCHE PS-MODERNA DOS SENTIDOS CONTRA A INTELIGNCIA
MODERNISTA
A IDEOLOGIA AMERICANA DIRECIONANDO
CONSUMO E DESBANCANDO A BBLIA
McLhuan abalando Marx
Bob Dylan silenciando T. S. Eliot.
3.10 - TENDNCIA LITERRIA
Sensibilidade (oposio ao intelectualismo);
Pesquisa de um estilo, ou anti-estilo, para expor a face apocalptica da realidade;
Engendramento de uma anti-forma para o absurdo (localizado sob o teto nuclear);
Tendncia literria inserida numa Era de mudanas culturais.
ANTES DE 60 (MODERNISMO)
Explorao dos conflitos da conscincia (alienada a poderosas foras sociais)
DEPOIS DE 60 (PS-MODERNISMO)
EXPLORAO DE UM MUNDO INFORMACIONALMENTE HIPERBLICO;
ALGO MEIO PARECIDO COM A TENDNCIA MODERNISTA (EXPERIMENTAL E
LDICA), MAS EXCLUNDO MUITO DOS SEUS DOGMAS.
EXEMPLOS:
Excluindo as revelaes epifnicas (Clarice Lispector e Guimares Rosa
epifnicos);
Descartando o privilgio do Artista como guia para iluminar os pores da
subjetividade;
Substituindo a psicologia por uma sociologia meio alegrica, meio delirante;
Trocando a originalidade formal pela reciclagem, em pardia dos vrios gneros;
Desfazendo e recompondo o enredo, sem aludir a um arcabouo mtico (o mtico
com quintessncia da realidade);
Criao sem pretenso a uma cultura superior;
Testamento com alegorias onde o apocalipse um thriller moda dos quadrinhos.
Literatura-Pardia ou Literatura de Exausto;
Homenagem aos autores de antes;
Sacralizao desses autores (principalmente, de Jorge Luis Borges): notas de p-
de-pgina a textos imaginrios;
Ambincia niilista, desencantada;
Embate intelectual: Literatura X literatura;
Impasse intelectual (o intelectual-indivduo contra o mundo intelectual
circundante) // A narrativa ficcional imitando deliberadamente a narrativa
ficcional, os gneros literrios ou qualquer outro texto apto a injetar-lhe
sobrevida (METAFICO: literatura sobre literatura / texto que expe sua
prpria fraude e renega o ilusionismo);
PS-MODERNI SMO:
AUTODEVORAO CRI ADORA (os instrumentos ainda estavam
por inventar, ou reinventar, por isto, o indivduo-narrador busca no exagero
o tom dominante de sua metafico) ESTTI CA DO ABSURDO
Caractersticas da Literatura Ps-Modernista:
Romance-Ensaio
Detm-se na anlise de fatores ntimos e reaes psicolgicas familiares;
Situado na confluncia do existencialismo e do realismo crtico, exprimindo com
sutil e desencantada lucidez uma problemtica do nosso tempo e situao;
Expresso da vivncia do tempo, das relaes entre o passado e o presente;
Escrita revolucionria. A caneta como arma, ou ento, como um juz implacvel,
questionando, indagando, apontando as falhas do Sistema. S que este juz no
tem respostas para os seus questionamentos e indagaes e no tem poder
ideolgico suficiente para consertar os erros que incomodam.
Escrita-Pesquisa
No h um projeto ficcional que a sustente;
Narrador: no sabe o que vai escrever;
Obra: a fico acontecendo; o mundo ficcional se movimentando e, ao mesmo
tempo, sendo construdo desordenadamente; Literatura-Viva;
Tentativa de preenchimento discursivo (diferente da forma romanesca tradicional
com princpio, meio e fim).
MUNDO REAL (VITAL) X MUNDO FICCIONAL
- Catico e confuso - Catico e confuso
- Fragmentado - Fragmentado
- Inautntico - Inautntico
- Realidade vital absurda - Realidade ficcional absurda
- Homem-objeto - Personagem-objeto
Outras caractersticas:
Vida existencial e vida ficcional: vrias dimenses que se interpenetram, cada
uma possuindo leis prprias e particulares. Por exemplo: vida social, vida
ntima, vida conjugal, vida religiosa, etc.
O romancista no aceita o tempo cronolgico, linear, previsvel, assim,
observa-se a confuso espacial e temporal, produzida pelo monlogo interior
ou dilogo entre vrios eus ficcionais que, na verdade, representam uma
outra forma de monlogo interior do prprio ficcionista.
3.11 - NARRATIVA PS-MODERNA/PS-MODERNISTA DE 1
a
GERAO
REJEITA OS VALORES FICCIONAIS J CONHECIDOS;
REGISTRA, POR MEIO DE UM TURBILHO DE PALAVRAS, A AVENTURA
EXISTENCIAL DE UM HERI PROBLEMTICO, O PRPRIO NARRADOR,
ALTER EGO DO ESCRITOR PS-MODERNO;
O HERI PROBLEMTICO DA SEGUNDA METADE DO SCULO XX E INCIO
DO SCULO XXI O PRPRIO ESCRITOR (HERI PROBLEMTICO DE UMA
NARRATIVA PROBLEMTICA).
Rejeitando os valores j conhecidos da fico linear, problematizando a realidade
ficcional, o escritor do sculo XX e incio do sculo XXI s tem duas sadas:
1
o
) Como porta-voz da realidade vital, ele imagina tambm uma realidade
objetiva (social ou psicolgica). Sua proposta inicial: oferecer aos leitores seu
testemunho pessoal de uma realidade que ele almeja decifrar. Ele est vivendo um
momento de crise, no sabe como enfrentar o porvir, e a sua obra torna-se o meio
de expresso desse desequilbrio (ou seja, de como estar e permanecer no mundo).
2
o
) A realidade apenas um pretexto para o seu narrar. A forma (a palavra) mais
importante para a realizao da narrativa. A forma que dar consistncia sua voz
ininteligvel, monocrdia, solitria, repleta de rumores brancos (ler: Rumor
Branco, de Almeida Faria, 1962, ficcionista portugus). A forma abrangendo,
atropeladamente, toda essa realidade. O escritor esvazia as imagens tradicionais,
ficcionais, que do consistncia a essa realidade; contesta, desarticula, rejeita as
tcnicas discursivas j sacralizadas.
3.12 - NARRATIVAS PS-MODERNAS/ PS-MODERNISTAS DE 1
a
E 2
a
GERAES
Em busca da linguagem primordial. O homem primitivo (o primeiro de uma Nova
Era) se apoderando da linguagem, afastado das regras idiomticas que
conduziram a humanidade at ento.
ESCRITOR PS-MODERNO/PS-MODERNISTA DE 2
a
GERAO: o
Senhor Absoluto dessa linguagem e, j que no h regras a seguir, est livre para
utiliz-la do jeito que quiser.
3.13 - SOBRE O MARXISMO INDEPENDENTE DE GEORG LUKCS COMO AUXILIAR NOS
ESTUDOS DE LITERATURA PELO PONTO DE VISTA DE TEOFILO URDANOZ
URDANOZ, Teofilo. Histria de la Filosofia. Madrid: Biblioteca de autores cristianos, 1985
(Vol. VIII): 33-37.
Georg Lukcs iniciador da corrente de marxistas independentes que surgiram fora
da Rssia Sovitica. // Lukcs alcanou especial notoriedade por seus vrios desvios da
ortodoxia marxista, durante sua longa vida. E tambm por sua grande fama e influncia
sobre a corrente neomarxista, graas a sua fecunda atividade literria, como crtico de
arte e terico da esttica marxista. (op.cit.: 33)
MARXISMO REVISIONISTA
Lukcs pensador marxista, inconformista e recalcitrante.
abre caminho a uma srie de marxistas independentes do mundo ocidental.
no se satisfaz com o socialismo materialista, que impunha o abandono
da cultura das cincias do esprito.
A longa e turbulenta vida de Lukcs um caso tpico de pensador marxista
inconformista e recalcitrante que posteriormente vai servir de exemplo e abrir o
caminho a uma srie de marxistas independentes do mundo ocidental, recusando-se a
ligar-se aos rgidos cnones dogmticos do marxismo-leninismo. (op. cit.: 34)
As interpretaes pessoais da filosofia marxista desenvolvidas por Lukcs
renovam, a seu modo, os desvios esquerdista e direitista que foram dados nas discusses
internas do marxismo russo. Sua obra, de 1923, Histria e Conscincia de Classe, que
revela uma profundeza especulativa superior dos marxistas de ento, representa o
revisionismo de esquerda, semelhante ao professado na Rssia por Deborin, ainda que
de signo mais radical. No prlogo posterior, de 1967, esclarece (explica) seu sentido,
dizendo que o livro significou o intento, provavelmente mais radical, de reatualizar o
revolucionrio de Marx, mediante uma renovao e continuao da dialtica hegeliana e
seu mtodo. A empresa resultou porque, paralelamente, ou seja, naqueles mesmos anos
se faziam cada vez mais intensas, na filosofia burguesa, as tendncias renovao de
Hegel. (op. cit.: 37)
3.14 - MODERNIDADE/PS-MODERNIDADE: CARACTERSTICAS SCIO-CULTURAIS E FICCIONAIS
(SCULO XX AO INCIO DO SCULO XXI)
Transformao do mundo: rompimento com as tradies seculares;
Descaso;
Corrupo;
Construo e Destruio;
Progresso tcnico;
Industrializao avanada;
Ligao de longas distncias;
Crescimento rpido;
Desenvolvimento acelerado;
Realce dos valores econmicos;
Novas tecnologias;
Desapego religio;
Criao de novos conceitos religiosos;
Emancipao das reas do saber;
Apropriao e reformulao dos saberes (religiosos e/ou filosficos) de culturas
antigas e/ou exticas e transformao das mesmas em literatura direcionada massa.
3.15 - SOBRE A FICO PS-MODERNISTA (DE 2
a
GERAO) DE ROGEL SAMUEL
(NEUZA MACHADO
evidente que, em relao s obras, as idias permanecem sempre breves, e que nada pode
substituir as primeiras. Um romance que no fosse mais do que o exemplo de gramtica que
ilustra uma regra ainda que acompanhada de sua exceo seria naturalmente intil: bastaria
o enunciado da regra. Exigindo para o escritor o direito inteligncia de sua criao, e insistindo
sobre o interesse que a conscincia de sua prpria pesquisa representa para ele mesmo, sabemos
que sobretudo ao nvel do estilo que esta pesquisa se realiza, e que no instante da deciso nada
est claro. Assim, aps ter indisposto os crticos ao falar da literatura com a qual sonha, o
romancista se sente repentinamente desarmado quando esses mesmos crticos lhe pedem:
Explique-nos portanto por que voc escreveu esse livro, o que significa, o que voc pretendia
fazer, com que inteno voc empregou esta palavra, por que construiu esta frase desse modo?
Diante de semelhantes perguntas, seria possvel dizer que sua inteligncia no lhe serve para
mais nada. O que ele quis fazer foi apenas aquele livro mesmo. Isto no quer dizer que ele est
sempre satisfeito com esse livro; mas a obra continua a ser, em todos os casos, a melhor e a
nica expresso possvel de seu projeto. Se o escritor tivesse tido a faculdade de dar uma
definio mais simples de seu projeto, ou de reduzir suas duzentas ou trezentas pginas a uma
mensagem em linguagem clara, de explicar o funcionamento de seu projeto palavra por palavra,
em suma, de dar a razo de seu projeto, no teria sentido a necessidade de escrever o livro. Pois
a funo da arte no nunca a de ilustrar uma verdade ou mesmo uma interrogao
antecipadamente conhecida, mas sim trazer para a luz do dia certas interrogaes (...) que ainda
no se conhecem nem a si mesmas. (Conf.: ROBBE-GRILLET, Alain. Por um novo
romance. Ensaios sobre uma literatura do olhar nos tempos da reificao.
Traduo: T. C. Netto. So Paulo: Documento, 1969: 11)
Com estas palavras de Alain Robbe-Grillet, sobre o novo romance (no apenas
francs), o fenmeno literrio que marcou o globalizado e catico sculo XX (o sculo
que propiciou a difcil transio histrica da modernidade para a ps-modernidade),
palavras estas escritas no final da dcada de cinqenta, exprimo o meu empenho de
dialogar reflexivamente com a obra de Rogel Samuel denominada O Amante das
Amazonas
i
(publicada em segunda edio, em 2005, pela editora Itatiaia de Belo
Horizonte). Recupero as asseres de Robbe-Grillet sobre o narrador do sculo XX
(neste momento interativo da crtica literria no Brasil, e neste incio de sculo XXI),
porque medito sempre o enigma criador do ficcionista do todo do sculo passado,
independente de sua localizao de nascimento, e percebo que as inovaes
ficcionais, daquele momento, continuam hoje sob renovadas roupagens, e as questes
terico-crticas (que enlaam o escritor ficcional), levantadas por Robbe-Grillet,
continuam ainda a fazer parte da realidade scio-intelectual do crtico literrio
brasileiro. Retomo o assunto, porque, nestes tempos ps-modernos, tempos
globalizados, o escritor (seja de qualquer nacionalidade, poeta ou ficcionista ou
dramaturgo ou outro direcionamento literrio) se coloca na obrigao de explicar a sua
criatividade chamada imprensa cultural dominante. matria verdadeira que somente
algumas questes visveis so questionadas, porque, as invisveis vo estar resguardadas
no plano particular do autntico texto-obra, a exigir que o leitor-especulador do
momento histrico de sua publicao, ou de pocas futuras, as venha examinar. Sem o
aval das explicaes exigidas (uma vez que os textos ficcionais da ps-modernidade so
de difcil entendimento), o escritor dos dias de hoje no se contempla reconhecido pela
mass media como criador literrio, perdendo por tal desvalimento a oportunidade de ser
lido, o que, convenhamos, o anseio normal de quem escreve.
Esta propedutica, objetivando espelhar a posio do crtico literrio atual, se
fez/faz-se necessria, porque a enxergo apontada em minha direo, uma vez que, para
interagir com a diferenciada obra ficcional de R. Samuel, respeitante ao espao
geogrfico do Amazonas social e mtico , lugar pouco conhecido minha prpria
percepo intelectiva, movi-me, inicialmente, em busca das estimveis explicaes do
prprio escritor, acauteladas nas diversas entrevistas por ele permitidas aos jornalistas-
internautas.
Por intermdio das Entrevistas, Rogel Samuel ofereceu, aos leitores de seu
romance, encaminhamentos seguros sobre a natureza de sua criatividade ficcional a qual
reputo como autenticamente Ps-Moderna/Ps-Modernista de Segunda Gerao.
Autntica, porque h no momento inautnticos autores que se fazem passar por
ficcionistas ps-modernos, mas que so, em verdade, escritores-mercadores de uma
literatura de massa sem nenhum crdito no mbito da Arte Literria. Apenas foram
conceituados pela mdia enganosa deste momento scio-intelectual como bons
escritores, para visarem ao lucro em detrimento da qualidade de um texto. O romance de
Rogel Samuel, pelo exame terico-interpretativo-reflexivo, ultrapassa tais exigncias
comerciais, pelo fato de ser uma narrativa de alto nvel criativo e se inserir no que
qualifico como peculiar obra ps-moderna.
3.16 - LEITURA CRTICO-REFLEXIVA DE NEUZA MACHADO (SOBRE O AMANTE DAS
AMAZONAS DE ROGEL SAMUEL
(Conferir: literaturarogelsamuel.blogspot.com.br)
O incio do captulo quarto do nosso O amante das amazonas ou PAXIBA
diz assim:
E chega que algum diz: Bons dias (a voz como era?) - sim, que quem se
introduz nesta estria e ento fala o enorme bugre caboclo Paxiba, naquela poca
com cerca de dezenove anos, mas j bem dotado de grande, de nome, de alto, de um
metro e noventa e dois de altura, ah, bem me lembro inteiro dele sim, a gente fica velho
mas, antes de morrer, a memria a gente aviva, e nela vive, at o tampo do tempo nos
apagar, gato lustroso que passa sua lngua, nada, no para, o esquecido, tal que logo
desaparecemos que vai ser como se nem nunca tivssemos existido, nem mesmo como
personagem de fico que o que . Mas o olho burro tudo v, e registra mosca da
vida sobre a rosa de sangue e da conversa v. Pois sim. Que diz-que Paxiba era filho
de um negro barbadiano da Madeira-Mamor com uma ndia Caxinau que no conheci,
e se tomou lendrio e eterno ele-mesmo se aproximando assim, remando silencioso e
feroz pela face da manh, no luxo de frente do porto do Laurie Costa, que ficava na
margem esquerda do Igarap do Inferno, submerso e distribudo pelo prestigioso vale.
Pois se aproximava somente para dizer: Bons dias, e assim se referia a uma
certa e acocorada Zilda, esposa do Laurie Costa, lavadeira das roupas, agachada sobre a
prancha lisa, lixiviada, de Itaba, tabuo de sabo, ela nem o tinha visto e pressentido
em suas costas feito um jacar inteiro estirado imenso Paxiba na montaria,
espetculo bom de ver, mas literrio, mas enorme de belo, que j o conheci assim,
escuro caboclo e tigre, grando, desenvolto, olho de cobra, de bicho, poderosamente
selvagem, no vivo, no ensolarado do olho amarelo, luminoso, feroz, sobre musculatura
nobre de dar inveja s esttuas do Louvre, erguida cabea sobre o pescoo grosso,
slido, de muito viva, e guerreira, assassina, arisca subjetividade era assim que ele
vinha, cnico, atravessador, a ningum poupando ou aturando, nem a juiz, como se
dissesse: te conheo: sei quem s o certo da culpa, gesto indecente e ameaador, de
assustar policial seu poder vinha do cheiro de camaru que arrancava da vtima fcil
confisso antecipada, sim, enfraquecia e anestesiava a gente, nos dando um sono sob
seu pulso, que se sabia dele em quem nunca se pde confiar impondo mole aquilo que
o sustentava nos seus sangrentos desgnios e poderes, saberes e prazeres, o que
encontrava no fundo de ns-mesmos, arrancados e submetidos acessibilidade, ah, o
bruto, mas fundamental, da impresso fugidia para a certeza, correta e culposa, que
coage, que oprime, na lgica da nossa tenebrosa regio infantil, a revelar-se, impelida,
fora hipntica, para fora, para novas submisses, e sorrisos, se infiltrando nas fendas
do poder de onde imperava, ardiloso e interno, na interseo vazia e na interdio da
resposta, na inverso das foras a r, malandragem desmascarava nica nobreza,
qualquer dignidade sobrevivente: Diga sua verdade era a linguagem da ordem de
seus olhos no risco do seu sorriso sensual e perverso, sublinhado por esboo de pecado
que nos fotografava, que nos dizia, no espelho avaliado das baixezas. Paxiba era bom
de no se encontrar de repente, na estrada deserta. Exigia prudncia, medo e prtica
muda da obscura familiaridade com a ternura se via na transmisso de seu segredo. Em
uma palavra: explcito. Quando se retirava, a gente se persignava. Porque se efetivava
guerreiro de pocas irregulares, de tempo inverso, remotssimos mecanismos ardilosos,
das possibilidades do corpo, privilegiadas, sexuais, capazes de muito realizar,
sedimentando o msculo vivo e assumido. Paxiba, emblema da Amaznia amontoada
e brutal, sombria, desconhecida, nociva. E a montaria, transpostos os espaos da
vigilncia, esbarrava nela, na prancha do cais onde Zilda lavava roupa branca e pura,
iluminada, a espuma saindo e se indo assim de sabes e bolhas de vidro, se esparzindo
na bordadura branca da superfcie do rio espelhado de sol e na purificao religiosa da
gua.
A LEITURA DE NEUZA MACHADO (MACHADO, Neuza. O Fogo da Labareda
da Serpente: Sobre O Amante das Amazonas de Rogel Samuel. Rio de Janeiro: N.
Machado, 2008. 105p.) se inicia desse modo:
Manifestado moda dos lendrios heris de misteriosas histrias de cerimnias
e cultos diversos, Paxiba a encarnao mtico-ficcional de antigos guardies
extravitais (de qualquer arcabouo esotrico da humanidade; humanidade esta quase
sempre conduzida por elementos das foras sobrenaturais), os quais povoaram, ao longo
do tempo, a poderosa imaginao reduplicada, sintagmtica, do mundo dos conceitos
venerveis. Paxiba se configura como o smbolo das foras da natureza selvagem do
Amazonas (no caso, o estrato mtico-substancial da sociedade indgena amazonense) e,
acima de sua aparncia exterior, a matria pica se faz presente no relato ficcional,
realando o prestgio prosopopaico de sua natureza humana.
Se me encontro aqui como apreciadora de obra ficcional da ps-modernidade,
envolta em minhas prprias teorizaes analtico-fenomenolgicas sobre um assunto no
qual eu mesma me alterco constantemente, confirmo que em O Amante das Amazonas
h um altssimo grau de entropia no sistema de narrao (ausncia da ordem narrativa
moda tradicional). Para explicitar o seu personagem mtico-ficcional Paxiba, o criador
ps-modernista de Segunda Gerao se vale dos enclaves narrativos, to do gosto dos
escritores ps-modernos/ps-modernistas da Primeira Gerao. Entretanto, enquanto
autor-criador de um novo direcionamento esttico-ficcional, mais de acordo com a
vivncia do homem do sculo XXI, objetivou abandonar o esteretipo (lugar comum)
do personagem reificado (inacreditvel, fantasioso) da primeira fase, procurando
descortin-lo por meio de um olhar diferenciado (o ser mtico a se transformar em
humano), circunscrito a inslitos acontecimentos dinamizados. (Preciso esclarecer que
os escritores do final do sculo XX, dos anos 80 para c, perceberam as qualidades
intrnsecas das regras scio-culturais do sculo XXI, e, por sua vez, como participante
ativo daquele momento, o narrador rogeliano enxergou criativamente a mudana que j
se avizinhava).
A entropia narrativa, no sculo XX, surgiu das pioneiras modalidades scio-
culturais capitalistas, intermedirias de uma novssima cincia, baseada em um conjunto
de mtodos cientficos, de novas modalidades existenciais que visavam resolver os
problemas do homem ps-moderno. Fundamentado-se em normas predominantemente
cientficas e em transmisses de notcias generalizadas oferecidas pelos meios de
comunicao em evidncia naquele momento (rdio, televiso e cinema), as mensagens
saam de uma realidade cotidiana, poderosa, mas que j chegavam descaracterizadas aos
destinatrios, propiciando espetculos inslitos. Assim, a tcnica discursiva da
propaganda imps suas diretrizes no universo ficcional da ps-modernidade, naquela
Primeira Gerao de escritores ficcionistas, obrigando-os a criar seus textos
sintagmticos ou paradigmticos pelo ponto de vista de uma realidade liquidificada,
reduzida a diversas cpias (ou colcha-de-retalhos, ou patchwork quilt) de conceitos
vitais diversificados e entrelaados, conceitos esses vistos pelos crticos da literatura do
final do sculo XX como simulacros de uma realidade h muito despojada de suas
caractersticas fundamentais.
O bugre Paxiba, que chega dizendo Bons dias lavadeira Zilda (nesta
segunda etapa da narrativa), no um simples personagem reificado. Ele possui um
nome que o dignifica. Em seus domnios mticos, ele Pati wa que, em tupi, significa
palmeira dos igaps, uma planta palmcea, das regies amazonenses alagadas pela
chuva (igaps), que mede cerca de dez a quinze metros de altura. A dimenso ficcional
do Manixi (o Palcio e as terras que o cercam) pertence matria mtica. O bugre
Paxiba traduz a heroicidade dos lendrios habitantes de um lugar de pura maravilha (e
a palavra maravilha aqui no possui sentido telrico). Aquele ndio mestio filho de
uma ndia caxinau e de um negro barbadiano jamais poder ser conceituado como
um personagem sem nome, o que caracterizou as narrativas do Primeiro Momento Ps-
Moderno/Ps-Modernista. Paxiba no poder ser avaliado como um personagem
menor, sem qualidade literria, a se debater no Caos das chamadas narrativas inslitas,
porque sua grandeza mtica se solidifica at ao final narrativo, mesmo quando o ncleo
ficcional se traslada para a Cidade de Manaus.
No mximo, se me predisponho a avali-lo somente pelo ponto de vista das
regras estruturais da fico (analise cientificista), uma vez que o prprio narrador
concedeu-me esta incurso terico-crtica, ao revel-lo como espetculo bom de ver,
mas literrio, ou seja, ndio-bugre enorme tetrpode, aventuro-me a dizer que o
caboclo Paxiba se presentificou, na fico rogeliana, por meio da narrao simblica,
passada de gerao a gerao, como demonstrativo do valor das origens do homem
amazonense. Assim, aqui, por intermdio da palavra do escritor, nomeando-o como
literrio, apresenta-se uma diferenciada fora da matria mtico-ficcional. Todos os
adjetivos qualificativos, utilizados pelo ficcionista, impelem o leitor a conceb-lo como
um ser extraordinrio. E o extraordinrio jamais significar a realidade vital
sedimentada no racionalismo cientificista. A perfeio mtica, dos primeiros segmentos
narrativos, o coloca em uma posio privilegiada: Paxiba, o poderosamente
selvagem, possui uma musculatura nobre de dar inveja s secularmente conceituadas
esttuas do Louvre, pois possui a cabea erguida sobre o pescoo grosso, slido, de
muito, e guerreira, assassina, arisca subjetividade. E quem confirma a grandeza de
Paxiba, sabe o por qu de tal afirmao. As esttuas do Museu do Louvre foram,
muitas vezes, analisadas, ou mesmo interpretadas pelo escritor, um homem que nunca
se recusou s aventuras das viagens internacionais, um conhecedor inconteste das
reverenciadas obras dos grandes artistas de todos os tempos, obras estas destacadas nas
famosas paredes e galerias do Museu francs.
A gua doce a verdadeira gua mtica
ii
, assim afirmou Gaston Bachelard.
Paxiba se introduz na histria e ento fala porque, para criar o espao tridimensional
do Manixi scio-mtico-ficcional , patrocinado pelo elemento gua (garantindo-lhe
perenidade), e para, posteriormente, lan-lo no imaginrio-em-aberto do leitor
reflexivo, o narrador ps-modernista de Segunda Gerao percebeu a necessidade de
uma outra renovada e poderosa chave, para abrir-lhe a porta da dimenso mtica,
sobrenatural, de uma terra desconhecida. Na primeira etapa da narrativa rogeliana, a
chave resguardada pelos parentes possibilitou ao narrador-personagem Ribamar de
Sousa a interao com os aspectos histricos visveis daquela realidade diferenciada. O
tio Genaro e o irmo Antnio, possuidores da primeira chave, conheciam somente as
duas margens conceituais do Igarap do Inferno e umas poucas trilhas terrestres do
Manixi. No eram natos do lugar, portanto, no poderiam propiciar ao narrador do
sculo XX um incomum reconhecimento das peculiaridades mtico-ficcionais, ainda no
nomeadas, daquele fabuloso espao scio-substancial. Por conseguinte, urgia encontrar
uma soluo que o levasse a interagir com as aquticas sinuosidades desconhecidas da
narrativa, ou seja, intuir uma singular chave transcendental. E eis que Paxiba se
introduz na histria, diferenciado dos parentes, revelando o poder de fala dos antigos
narradores de tempos hericos.
A voz como era?, indaga o primeiro narrador, maravilhado com a sua nova
direo ficcional. Paxiba, o bruto, possui o poder da voz que representa o heri mtico.
Assim, como uma divindade semi-humana, possui voz tonitruante. Somente os heris
mitificados possuem voz poderosa. Este heri o possuidor da chave simblica que
far o primeiro narrador, agora tambm mitificado, a percorrer com o prprio olhar
diferenciado, a mo dinamizada e o imaginrio fantasticamente iluminado, os limites
mgicos do Manixi. Ah, bem me lembro inteiro dele sim, a gente fica velho, mas, antes
de morrer, a memria a gente aviva, e nela vive, at o tampo do tempo nos apagar,
revela o primeiro narrador. As lembranas fazem parte da memria, e na memria se
concentra o poder mtico. A memria mtica s resguarda tempos hericos e seres extra-
reais, mesmo assim, no se pode duvidar de sua verdade. A verdade mtica ser sempre
renovada, revestida por novas roupagens. Neste intervalo narrativo-ficcional, o narrador
ter de passar pela iniciao do conhecimento primordial e sobrenatural. Pginas
adiante, o segundo e verdadeiro narrador entrar ficcionalmente e vitoriosamente no
quarto escuro do repouso fervilhante, para de l sair renovado. Neste segundo
momento ficcional, Paxiba o representante da chave mtica (chave mgica). A
terceira chave, transcendental (oriunda do plano da conscincia dinamizada), aquela que
vigorou/vigora no imaginrio-em-aberto do escritor Ps-Moderno/Ps-Modernista de
Segunda Gerao, desde o incio da narrativa, s ser percebida e interpretada pelos
leitores-eleitos incomodados quando o segundo narrador se predispuser a aparecer no
fluxo interativo do recontar renovado.
No entanto, este narrador da ps-modernidade, narrador do escritor do final do
sculo XX e princpio do sculo XXI, querendo ou no, pois se v envolvido pelas
diferenciadas normas ficcionais de seu momento social, ter de se valer da tcnica do
olhar simulador para apresentar o Manixi, o espao scio-ficcional de sua narrativa.
Assim, o Palcio do Manixi e as terras que o rodeiam tero de aparecer em toda a sua
grandiosidade e imponncia, moda dos simulacros televisivos e cinematogrficos que
imperaram (imperam) em sua atualidade. Por enquanto, a sada digna, irrepreensvel,
para que, posteriormente, o verdadeiro narrador possa desmistificar a sua prpria
realidade vital e a sua outra diferenciada realidade scio-ficcional, buscar nos
domnios do mito uma diretriz qualificada que apresente, aos leitores do momento e aos
leitores do futuro, a suntuosidade exigida pelo hodierno momento histrico das
grandezas simuladas. O arcabouo mtico ser sempre uma dimenso que em todo
tempo satisfar tais requisitos. Paxiba o guardio da chave. O narrador ter de elev-
lo categoria de heri mtico-ficcional. No entanto, como semi-humano, o seu aparecer
glorioso, ao longo da segunda etapa da narrativa, no representar um simulacro. A
verdade da fico-arte do Ps-Moderno/Ps-Modernismo de Segunda Gerao
ultrapassa os limites da simulao do fingir depreciativo (simulacro), para, em seguida,
alcanar a glria do fingir da literatura-arte (recriar). E convenhamos: so poucos os
escritores eleitos para tal misso, neste tempo presente de incomuns calamidades.
Mas o olho burro tudo v, e registra (...). O terico da literatura de orientao
fenomenolgica, neste incio de sculo e de milnio, no poder desprestigiar as
expresses ficcionais que o incomodam. Por que olho burro? Ser que este olho
burro representa o olhar do primeiro narrador, um ser hbrido, resultante do
cruzamento entre o telrico e o espetaculoso, aquele representante dos narradores que
vem em demasia? Mas, a realidade ficcional do sculo XX e incio do sculo XXI est
ali a exigir-lhe (ao narrador da primeira fase ficcional) um cenrio grandioso para
apresentao do personagem mtico que se aproxima. Ento, quem tem conscincia
desse olho burro o segundo narrador, possivelmente, narrador de um terceiro
narrador, o qual intui, por sua vez, uma possvel quarta chave (imaterial), propiciadora
de uma inslita conduo para o quarto cogito, onde se percebe o Tempo Espiritual.
(Esse terceiro narrador se encontra muito bem camuflado nas tramas ficcionais do
romance, nesses primeiros captulos da narrativa). Ou ser que olho burro representa
outra expresso j conhecida, ou seja, dar com os burros ngua, o que, em outras
palavras, significaria a perda momentnea do poder narrativo singular, exclusivo da
fico paradigmtica. O olho do escritor-artista paradigmtico no registra, recria a
realidade que o cerca. No entanto, continuo aqui a resistir s assertivas ficcionais
rogelianas. Se me atenho idia de uma afirmao diferenciada, consciente da
capacidade criativa do escritor, infiro que o olhar esclarecido, intelectual, do segundo
narrador, acompanha por sua vez a perspectiva visual do primeiro narrador. O olho
burro tudo v, e registra ele-mesmo a aproximao de Paxiba, remando silencioso e
feroz pela face da manh, no luxo de frente do porto do Laurie Costa, criativamente
secundado pelo olhar talentoso do escritor ficcional da ps-modernidade. Os narradores
sintagmticos no possuem tal viso diferenciada. Assim, o olho burro, explcito na
narrativa rogeliana, sublinearmente e paradoxalmente, se transforma em olho
inteligente, se for avaliado pelo ponto de vista do crtico fenomenolgico. Por meio de
um narrar paradoxal, o incomum ficcionista de O Amante das Amazonas revelou (revela
e revelar), aos incomodados leitores de seu romance, a indiscutvel qualidade de sua
fico.
O olhar inteligente do narrador, nesta segunda fase da criao ficcional, se
sustentar pela ligao da forma de expresso da linguagem mtica com as inovaes da
linguagem ficcional da ps-modernidade. Assim, o nomear enigmtico colabora com o
narrado ps-moderno, oferecendo-lhe, nesta segunda etapa do romance, um princpio
ficcional moda do narrar mtico-lendrio, mas, paradoxalmente, imbudo de
expresses dialetais familiarizadas. Pois sim. Que diz-que Paxiba era filho de um
negro barbadiano da Madeira-Mamor com uma ndia Caxinau que no conheci, e se
tornou lendrio e eterno.
iii
Na primeira fase, a busca de conhecimento histrico ofereceu-lhe tambm um
princpio ficcional. Ribamar de Sousa comea a sua trajetria diferenciada, de Patos,
Pernambuco (realidade histrica), ao Manixi Amaznico (realidade ficcional),
assinalando a data do incio de suas peripcias existenciais em busca do extraordinrio:
madrugada do Natal de 1897
iv
. O princpio assinalado denuncia a caminhada do
homem do sculo XX: aquele que no pode mais se estabelecer em seu meio
comunitrio, pois, adulto, sujeito a uma vida de mendicncia, ter de comear a correr,
prisioneiro das colocaes, e a seguir estrada com tigelinha de flandres
v
. Este
princpio, moda tradicional, nesta fico anticonvencional, s se tornou possvel, em
plena ps-modernidade entrpica, graas ao auxlio da Histria. As chamadas narrativas
de estruturas inovadoras da ps-modernidade, principalmente as da Primeira Fase, no
se atm ao tempo vital (tempo linear, do relgio), so narrativas de acontecimento,
visualizando apenas o presente e no preocupadas com um clmax que as leve a um
fecho moda tradicional.
No entanto, se atento para os enclaves que superexcedem no todo deste romance
em especial, recupero uma terceira fase, autenticamente reveladora das imposies
respeitantes s inovadoras formas estruturais de narrar da ps-modernidade. No captulo
sete, o arcabouo mtico desaparece para oferecer o espao ao narrador da fase final do
sculo XX. O prprio ttulo do captulo j por si uma revelao peculiar: SETE:
DESAPARECE. Quem desaparece? Do desaparecido, falarei depois. Por ora, a palavra
desaparece se projeta como um referente (um sinal) de finalizao da narrativa mtica e
de nova mudana narrativa: do mtico para o plano da fico-arte (a anterior sinalizou a
caminhada do histrico para o mtico). No captulo seguinte (captulo Oito), h um
ponto indefinido direcionando a mudana de estilo narrativo, revelando a decadncia
da realidade scio-substancial amazonense, apresentada inicialmente pela maneira de
narrar grandiosa da linguagem histrico-lendria.
Contudo, ainda no me desenredei de Paxiba. O arcabouo mtico-ficcional
diferenciado exige-me novas reflexes sobre este poderoso personagem. Ele, neste
momento em que o reflito, est vindo ao encontro de Zilda, a esposa do Laurie Costa,
(...) lavadeira pessoal do Palcio, das roupas brancas, exceto as lavadas em Lisboa
vi
.
Ele est vindo tambm ao encontro de minhas reflexes terico-crticas. Vejo-me em
expectativa: assim como a outra energtica Zilda, a da mitologia germnica, a
poderosssima guerreira da vitria, a guerreira de ferro, terei de venc-lo teoricamente e
reflexivamente pela razo, pelo conhecimento, pela ponderao inovadora , terei de
vencer suas guardas mticas e seus desafios existenciais. No posso deixar-me seduzir
teluricamente pelo seu fabuloso porte, descomunal, colocando-me em perigo diante das
j insuficientes e, ainda, exigidas anlises significativas (dogmticas), as quais esto
aqui a digladiarem-se com as minhas inferncias fenomenolgico-interpretativas.
Paxiba surge no desenrolar ficcional ps-moderno como personagem cnico,
atravessador, anunciando que, mesmo possuidor de uma aura mtica (que, pelo ponto
de vista pico, deveria ser de autntica pureza), ele no ser concebido como tal. Seu
papel o de atravessador, de intermedirio entre as trs dimenses da efetiva fico
criativamente alterada: a scio-substancial, a mtico-substancial e a ficcional-arte.
Desde o seu surgimento at ao final da escrita rogeliana, ele atuar com desenvoltura
nestes trs planos da criao literria. Seu poder ser atuante. Pari passu com o primeiro
personagem-narrador, a sua importncia se revelar sempre ativada.
Seu poder vinha do cheiro de camaru. Em volta da Alta Palmeira dos Igaps
(Paxiba), com seus trs caules indivisos (o social, o mtico e o ficcional) e sua mtica
coroa de flores (o cocar), manifesta-se a interferncia do cheiro do camaru, uma
pequena rvore de flores aromticas, de fruto indeiscente (que no se abre
espontaneamente ao atingir a maturao). O cheiro agradvel, afrodisaco, verbenceo,
impregna criativamente todos os captulos referentes a Paxiba. Ao longo da leitura, o
cheiro vai anestesiando inclusive o leitor. Eis o poder indiscutvel do heri ficcional. Eis
o poder indiscutvel desta narrativa especialmente. Seu personagem no apenas um
simples simulacro, como os personagens representantes das fices paraliterrias (os
representantes dos textos de novela televisiva e cinema, ou mesmo das novelas
paraliterrias lineares, sintagmticas , produzidas para a massa). Paxiba ter vida
ficcional permanente, enquanto o romance existir e houver leitores-eleitos. A Fico-
Arte no se materializa apenas para o entretenimento do leitor. A Fico-Arte exige do
ficcionista (incluindo posteriormente o leitor) a plena-ateno, como recomenda com
encmio a filosofia budista (normas filosfico-religiosas que, no por acaso,
administram a vida espiritual do escritor aqui destacado).
Paxiba, o bruto, o fundamental, o da impresso fugidia para a certeza, correta e
culposa, aproxima-se do porto do Laurie Costa, porque o semi-humano (o semideus)
interessou-se por uma mortal, uma comum lavadeira do Palcio Manixi. Ele ter de
tom-la sexualmente do Laurie Costa, o marido, para, assim, transitar livremente na
dimenso humana. (Assim se comportou Jpiter, ao se relacionar com Alcmena, esposa
de Anfitrio; assim se comportaram os Anjos do nico Deus dos Hebreus, nos
Evangelhos Apcrifos, ao se relacionarem com as filhas dos homens). Entretanto, o
cheiro do camaru (camar, cambar) que vigora na interseo vazia entre o dito e o
no-dito desta obra ficcional incomum. Paxiba, graas ao perfume do camaru,
ultrapassa as regras do narrar mtico, fundamental, para vigorar na lgica da
tenebrosa regio infantil, energeticamente ficcional, de quem escreve. Ele se revela
no apenas pelo poder do mito, mas por meio da fora hipntica (do pensar
efervescente, do repouso ativado), para fora, para novas submisses. Ele o somatrio
de todos os indgenas, bugres e caboclos que povoaram o arcabouo mtico-infantil do
ficcionista nascido ali, naquelas paragens, a manifestarem-se, exigindo dele que, mesmo
saindo de seu lugar de origem, no poder deixar de revelar as suas impresses
primeiras, as suas particularidades e as particularidades de seus contemporneos.
O discurso mtico a oratria da ordem, a explanao (oral ou escrita) de
fatos e seres grandiosos (humanos ou no), estruturalmente inseparveis da tradio de
um povo. Paxiba possui a chave da verdade mtica de quem escreve, mas, quem ter de
manuse-la o primeiro narrador (narrador do segundo), enquanto personagem
principal das ocorrncias narradas. Paxiba possui o poder de mando, assim como os
grandes guerreiros e personalidades notveis do passado. E os legendrios heris do
passado mtico (passado que se perde nas fendas do tempo, anterior aos severos dogmas
do cristianismo) no conheceram a natureza ntima da bondade. A ordem dos olhos e
o sorriso sensual perverso caracterizam a face reduplicada do personagem Paxiba. O
ser mtico selvagem, primitivo. Possui o que Max Weber classificou como poder do
ontem eterno ou poder do carismtico-guerreiro. A ordem dos olhos para que o
narrador diga somente verdades (apreciveis ou no), mesmo que o narrar mtico da
ps-modernidade seja a edificao intelectual de uma narrativa em prosa, idealizada. A
Floresta Amaznica, revista ficcionalmente pelo escritor nascido ali, em suas
imediaes, concentra a essncia do mito de antigas eras, mas, aqui, insolitamente
revestido pela roupagem do arcabouo mtico-lendrio dos ndios daquela localidade. A
pureza mtica poder ser classificada como a integridade vivencial do ser primitivo,
aquele que no foi maculado por exigncias ideolgicas (sociais ou religiosas). O ser
primitivo no conheceu (no conhece) o nus do pecado cristo. Paxiba no cristo.
um ser original. Ento, quem reconhece o sorriso sensual e perverso, sublinhado por
esboo de pecado a fotograf-lo, o narrador. A ordem mtica dos olhos de Paxiba
possui a pureza do primitivismo herico. O bugre no sabe o que seja pecado, e no
creio extratexto que Frei Lothar (um outro personagem importante) o tenha catequizado.
Quem se percebe avaliando o sorriso sensual e perverso de Paxiba o narrador.
Quem avalia o olhar do pecado o fotografando o narrador, aquele que,
historicamente, conhece os dogmas do cristianismo, no que tange a relacionamentos
sexuais. As baixezas do olhar de Paxiba saram do espelho simblico-ficcional
duplicado e sublimado de quem narra, no da pureza primitiva do mito.
Paxiba se efetivara guerreiro de pocas irregulares, de tempo inverso
(invertido), possuidor dos remotssimos mecanismos ardilosos, das possibilidades do
corpo, ou seja, remotssimos mecanismos ardilosos da urgncia sexual. O guerreiro
de pocas contrrias s regras (de civilidade), nesta dimenso da narrativa ficcional
rogeliana, a personificao do ser mitolgico. Este ser em especial (o Paxiba)
conhece as normas e os preconceitos sexuais do ser civilizado, por isto capaz de
muito realizar sexualmente, pois sabe sedimentar (endurecer), a partir de seu apetite
carnal fabuloso, o msculo vivo e assumido. Seu poder o da fora bruta. Se h algo
que deseja, ele o toma. Por isto, era bom de no se encontrar de repente, na estrada
deserta. Por isto, a exigncia da cautela, da precauo. Por isto Zilda, a esposa do
Laurie Costa, uma certa e acocorada lavadeira das roupas (roupas do Palcio),
agachada sobre a prancha lisa do tabuo de sabo
vii
, se assusta com o regular da
urgncia daquele olhar
viii
.
Paxiba, emblema da Amaznia amontoada e brutal, sombria, desconhecida,
nociva.
ix
Por que o narrador visualiza Paxiba (como) emblema da Amaznia
amontoada e brutal, sombria, desconhecida, nociva? Paxiba o smbolo do guerreiro
mtico, gerado por seres excepcionais: a ndia caxinau e o negro barbadiano. O pai de
Paxiba, para o projeto mtico-ficcional em questo, teria de ter uma ascendncia
diferenciada, notvel. Paxiba teria de ser oriundo da fuso do lendrio indgena com o
fantstico do imaginrio africano. H poucos negros no Estado do Amazonas. O pai
teria de se constituir diferente dos outros pais das miscigenaes usuais da realidade dos
costumes amazonenses. O caboclo, originrio da mistura entre o ndio e o branco, no
possui o porte, o vigor deste personagem. Paxiba o emblema, o smbolo dos
poucos bugres, representantes da raa forte que por ali transita. Para a Amaznia
amontoada e brutal, sombria, desconhecida, nociva, o autor reserva os smbolos
depreciativos. Amaznia amontoada: todos os estratos sociais (brasileiros e
universais) que para ali vo, em busca de riqueza fcil. Amaznia brutal: espao
geogrfico onde se digladiam, em prol do rendimento pecunirio, seres grosseiros e
violentos, j maculados pelas regras insanas do capitalismo selvagem. Amaznia
sombria: receptculo de seres tristes, lgubres, despticos, capazes de quaisquer aes
de conseqncias desagradveis para alcanarem seus intentos progressistas.
Amaznia desconhecida: espao geogrfico ignorado politicamente (pelo menos,
durante a ocasio do desenvolvimento do projeto ficcional), terra de ningum onde se
faz presente a lei do preferencialmente forte, social e miticamente apresentada.
Amaznia nociva: Amaznia em que todos estes danos, apresentados pelo narrador,
ameaam destruir a hegemonia da nao brasileira. Paxiba o emblema (smbolo)
porque, por intermdio de sua face scio-substancial, duplicada pela fico, o narrador o
coloca como pistoleiro do rei, o capanga profissional, o assecla do poderoso dono do
Manixi. E, para ser o emblema do Amazonas e sustentar a honraria, o candidato ao
cargo e ao ttulo teria (ter) de ostentar (mesmo que no fosse / que no seja imortal) a
poderosa face do mito.
Paxiba, pistoleiro do rei. A partir desta assertiva, inicia-se a transformao
dimensional do personagem. O semi-humano Paxiba foi apresentado aos leitores,
anteriormente, moda dos lendrios heris mitificados, mas, como assecla do poderoso
dono do Manixi, vigorar, daqui para frente, como personagem da dimenso scio-
substancial. A proposta ficcional do escritor amazonense no lhe concedeu o direito de
gloriosamente retornar (retomar a) dimenso mtica, uma vez que Paxiba no heri
de narrativa pica. Mesmo assim, at aqui, os adjetivos abonadores caracterizam o heri
lendrio, e os adjetivos que no combinam com a aura do mito saem da perspectiva
diferenciada do escritor da segunda fase do ps-modernismo brasileiro de Segunda
Gerao. Neste interregno mtico-ficcional, Paxiba caracteriza o soldado, o assecla,
o jaguno, o matador profissional, o lugar-tenente dos antigos e poderosos donos-de-
terra do Brasil, regidos h bem pouco tempo por normas polticas imperiais.
E naqueles mesmos dias ocorreram grandes fatos em outros lugares e horas,
histricos e decisivos para a sucesso desta fico e que relatarei no momento oportuno,
mais que para tanto ainda tenho de revelar surpresas de muitos outros ocorridos
x
. O
desenrolar narrativo de grandes fatos (...) histricos e decisivos e as surpresas de
muitos outros ocorridos ficcionais, daqui para frente, sero relatadas pelo segundo e
principal narrador, estrategicamente fortalecido pelo incomum imaginrio-em-aberto do
escritor.
Nos captulos da terceira fase da fico rogeliana (do captulo oito em diante), os
quais, pelo meu ponto de vista, explicitam com maior vigor o j mencionado
imaginrio-em-aberto supraverdadeiro, Paxiba reaparecer como personagem
simplesmente ficcional. Em uma narrativa autenticamente ficcional (fenmeno da Era
Moderna) o poder mtico se fragiliza. Se, como exemplo, recupero, aqui, o Quixote de
Miguel de Cervantes, a minha explicao se produzir sem custo terico. A partir da Era
Moderna, a postura ideolgica do heri caracterstico de um passado pico no mais se
adequava s novssimas exigncias scio-culturais que estavam a comandar aquela
realidade. Por isto, a nomenclatura diversificada para significar o personagem central de
Cervantes: heri da triste figura. Por esta razo, a renovada necessidade de
descaracterizar o mito de Paxiba (e finaliz-lo), no desenrolar narrativo ficcional
rogeliano (a supremacia pura / mtica / significativa do personagem, mesmo nas
urgncias sexuais). A partir do captulo dez, Paxiba desenvolver mais os atributos
animalescos instintivos do homem da realidade scio-substancial, a violncia dos
sentidos, excesso dos propsitos, o inconsciente imperando sobre a razo, em
detrimento dos genunos e transparentes arroubos sexuais que caracterizaram, no
segundo segmento narrativo, a sua personalidade mtica. A decadncia do Manixi (a
scio-substancial somada ao mtico-substancial) proporcionou o esboroamento da
fantstica fora do personagem (a reduo da importncia mtica do bugre em pequenos
fragmentos ficcionais, o lento desmoronar de sua imponncia, levando-o para um estado
de velhice e morte, de acordo com as normas vitais). Por exemplo, por ocasio da
agonia do Manixi (op. cit.: 102), ainda no auge de sua fora sexual, Paxiba se
aproxima perigosamente de Maria Caxinau, dominando-a sexualmente. As mos
enormes e os braos do ser monstruoso que a agarraram, j no refletiam a posse
sexual do ser puramente mtico. Quem agarra Maria Caxinau o mulo Paxiba, a
besta selvagem j maculada por instintos da energia telrica, originria da matria
primordial.
O personagem lendrio desta narrativa, o Paxiba, nos ltimos captulos, passa a
interagir (pela tica interativa do narrador principal) com as indues visveis e
invisveis do capitalismo desenfreado (benficas ou malficas), intrnsecas no plano
scio-substancial relativo decadncia do aparato capitalista do Manixi (o Manixi
mtico permaneceu/permanece intacto, pois o narrador principal, por intermdio de seu
narrador-auxiliar, na pgina 103, afirma que a floresta vencera). Posteriormente,
envolvido por tais indues, disseminadas na maneira de pensar dos personagens
relacionados com o aparato empresarial amazonense, Paxiba comea a perder a sua
aura guerreira o brilho mtico, explcito, que o dignificava , terminando sua
existncia de uma forma diferente do narrar fabuloso, ou seja, pela forma exigida pelo
vital, acionada pelo dinamismo cclico da fico.
bem verdade que a dimenso ficcional do Manixi, o lugar onde o poder mtico
de Paxiba se fez/se faz visvel, j estava maculado por valores capitalistas, desde o
incio da trajetria ficcional do primeiro narrador Ribamar de Sousa (e isto ser
decodificado nos prximos captulos desta minha apreciao fenomenolgica),
entretanto, nas duas primeiras fases do romance, o espao de concepo da obra se
projetou por meio da fuso do scio-substancial com o mtico-substancial (o que os
tericos da literatura em prosa denominam como realismo-mgico). Na primeira etapa,
reinou o narrador Ribamar, como representante da dimenso scio-substancial. Na
segunda etapa, o (verdadeiro) narrador, criativamente, cedeu o privilgio ao bugre
Paxiba, pois se percebeu motivado a reclamar a aura lendria do gigantesco
personagem, para iluminar e revigorar o seu desenrolar narrativo. Eis aqui a razo
(fenomenolgica) da imponncia do personagem. No entanto, a aura de Paxiba no
permanecer visvel nos captulos subseqentes da terceira fase ficcional (e final). E a
nova face de Paxiba comea/comear a aparecer a partir da decadncia exterior do
Manixi, sustentada e assinalada por ocasio de seu encontro voluptuoso com a
Caxinau.
No captulo intitulado DEZESSETE: A RUA DAS FLORES, o bugre Paxiba
reaparece como homem original (ser primitivo), ao aproximar-se de Conchita Del
Carmen, uma mulher gorda, muito gorda e muito sexy, a dona da Rua das Flores,
o mais belo jardim humano da prostituio bem-educada da cidade de Manaus, uma
Transvaal incrustada nos domnios do Mito Indgena e recriada pela arte ficcional
rogeliana (de uma forma nunca vista em outros escritores da ps-modernidade).
Paxiba se afigurou
xi
como homem primitivo diante de Conchita Del
Carmen. Transitando dentro dos limites poderosos de um complexo populacional
urbano, calcognico, repleto de emanaes terrestres, Paxiba perde a aura lendria,
aquela aparncia miticamente iluminada que o caracterizou, quando de sua atuao
como ser extraordinrio, o emblema da Amaznia amontoada e brutal, sombria,
desconhecida, nociva.
Meio envergonhado, como convinha tratar a uma senhora-dama, ele veio
dizendo uns bons dias.... Aquele que, meio envergonhado, se aproxima dizendo uns
bons dias senhora-dama Conchita Del Carmen, no o mesmo Paxiba que
assustou a lavadeira Zilda com a urgncia de sua mtica necessidade sexual.
Nesta seqncia da narrativa rogeliana, Paxiba perde a sua primazia herica,
pois penetrou no Olimpo telrico da prostituio do recinto de Transvaal, e quem se
coloca em evidncia agora o narrador da fase final do sculo XX, oferecendo aos
leitores de seu romance a possibilidade de alcanarem o reverso da medalha da
narrativa em prosa que caracteriza a escritura literria da era ps-moderna. A partir do
captulo oito, a sensibilidade criativa, j distinguida desde as primeiras linhas do
romance, alcana um reanimado pdio ficcional. Nesta seqncia, j no h lugar para
as aes engrandecidas de Paxiba, ou mesmo dos outros personagens (brancos ou
ndios) situados nas fronteiras do Manixi. Em princpio, o ficcionista se mobilizou em
funo de uma vigorosa retomada dos valores histrico-sociais do Estado do Amazonas,
espao geogrfico brasileiro de onde se originaram os crditos culturais que
sedimentaram sua caminhada vivencial. O narrador rogeliano, no incio da narrativa,
retoma ficcionalmente o grandioso passado histrico do Amazonas (em sentido positivo
e negativo), para reagir paradoxalmente contra as injustias, scio-polticas, que aos
poucos propiciaram a decadncia do lugar. O descendente de um povo mitificado, o
amante (cultural, intelectual) das lendrias guerreiras amazonenses, o admirador
inconteste da grandiosidade histrica do lugar, percebe que h mistrios a serem
revelados. Esses mistrios, ao contrrio das regras oficiais da narrativa ficcional, tero
de ser engendrados ficcionalmente por sua sensibilidade mpar, e esta sensibilidade de
ficcionista incomum no se enquadra (no se encaixilhar jamais) em padres pr-
estabelecidos. Depois da grandiosa extenso territorial do Manixi, indita e
diferenciada, (com o seu magnfico, supremo, inominvel, majestoso
xii
Palcio),
surgem ratos na cidade de Manaus. Os ratos se manifestam depois da decadncia e
morte do Manixi
xiii
, ativados pelo terceiro cogito do escritor-testemunha do
crepsculo da era da borracha, surpreendido agora pela necessidade de contemplar para
a posteridade, mesmo que seja por intermdio de fragmentos narrativos, as frestas dessa
decadncia (contrria s regras e aos bons costumes das puras e antigas sociedades
mitificadas, reverenciadas pelas geraes posteriores).
Revela-se, nos captulos finais de O Amante das Amazonas, a autntica
documentao (pelo ponto de vista ficcional) do que no se pode avaliar, porque a
presente histria scio-cultural do ficcionista ps-moderno ainda no se completou.
Urge fazer justia aos seus naturais (ao seu povo, que sentiu na prpria pele os estragos
da decadncia); urge encontrar um justiceiro que aceite a co-participao em seus atos
de autoridade judicial. Urge eliminar o mito do grandioso em proveito do pequeno, do
incompreensvel, das migalhas de po que caem da mesa dos antigos poderosos, agora,
decadentes.
Gaston Bachelard, em A Terra e os Devaneios do Repouso
xiv
, cita Tristan Tzara:
Aumentadas no sonho da infncia, vejo de muito perto as migalhas secas de po e a
poeira entre as fibras de madeira dura ao sol. A Manaus da fico rogeliana saiu do
arcabouo vivencial infanto-juvenil. O narrador principal foi testemunha dos ltimos
estilhaos do esplendor da borracha, do que restou da grandeza capitalista. Foi
testemunha da decadncia. Foi ele que viu, por intermdio de sua sensibilidade provinda
naturalmente da infncia, os ratos, como um trao cinematogrfico, contnuo, se
infiltrando entre as frestas da construo carcomida
xv
de sua anterior realidade scio-
existencial. Assim, percebe-se a urgncia em causar a morte do mito (autoritrio,
exemplar), adotando ficcionalmente o descontnuo existencial do momento, em prol de
uma futura nova ordem fundamental (ps-moderna). Por este ngulo interpretativo,
Paxiba ter de morrer, afigurado como homem primitivo (Paxiba, o Mulo). Algum
ter de apertar o gatilho e eliminar o mito, transmutado em ser primitivo, da face do
Amazonas. Para tanto, o narrador delega esse poder a um outro personagem, o Benito
Botelho. Benito atirou no meio do trax, matando-o. Benito o matou, sim. O morto era
Paxiba, o Mulo.
xvi
Pela tica da crtica literria cientificista-estruturalista, cerceadora, ter de existir
uma razo para a morte do bugre. Por enquanto, fica a pergunta moda
fenomenolgica: Qual foi o motivo (real ou ficcional) que levou o personagem Benito
Botelho a matar Paxiba? Sobre este assunto, indagarei no captulo a ele reservado.
In: NEUZA MACHADO. O Fogo da Labareda da Serpente: Sobre O Amante das
Amazonas de Rogel Samuel. Rio de Janeiro: NMACHADO, 2008. (No prelo - ISBN
978-85-904306-5-0)
BIBLIOGRAFIA:
1. ADORNO, Theodor W. Notas de Literatura. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro,
1973.
2. ARISTTELES. Arte Retrica e Arte Potica. Traduo de Antnio Pinto de
Carvalho. Rio de Janeiro: Euro-Amrica, 1969.
3. ARISTTELES. Obras Completas. Traduo de Francisco de P. Samaranch.
Madrid: Aguilar, 1973.
4. AUERBACH, Erich. Mmesis. 2.ed. So Paulo: Perspectiva, 1976.
5. BARTHES, Roland. Crtica e Verdade. Traduo de Antnio Arnoni Prado. So
Paulo: Perspectiva: 1976.
6. BACHELARD, Gaston. A gua e os Sonhos. Traduo de Antnio de Padua
Danesi. 1.ed. So Paulo: Martins Fontes, 1989.
7. BACHELARD, Gaston. A Chama de Uma Vela. Traduo de Glria de Carvalho
Lins. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989.
8. BACHELARD, Gaston. A Dialtica da Durao. Traduo de Marcelo Coelho. So
Paulo: tica, 1988.
9. BACHELARD, Gaston. A Potica do Devaneio. Traduo de Antnio de Padua
Danesi. So Paulo: Martins Fontes, 1988.
10. BACHELARD, Gaston. A Potica do Espao. Traduo de Antnio de Padua
Danesi. So Paulo: Martins Fontes, 1989.
11. BACHELARD, Gaston. A Psicanlise do Fogo. Traduo de Maria Izabel Braga.
Lisboa: Litoral, 1989.
12. BACHELARD, Gaston. A terra e os Devaneios da Vontade. Traduo de Paulo
Neves da Silva. So Paulo: Martins Fontes, 1991.
13. BACHELARD, Gaston. A Terra e os Devaneios do Repouso. Traduo de Paulo
Neves da Silva. So Paulo: Martins Fontes, 1990.
14. BACHELARD, Gaston. tude sur la Silo de Gaston Roupnel. France: Editions
Gouthier, 1932.
15. BACHELARD, Gaston. Fragmentos de Uma Potica do Fogo. Traduo de Norma
Telles. So Paulo: Brasiliense, 1990.
16. BACHELARD, Gaston. O Ar e os Sonhos. Traduo de Antnio de Padua Danesi.
So Paulo: Martins Fontes, 1990.
17. BACHELARD, Gaston. O Direito de Sonhar. Traduo de Jos Amrico Motta
Pessanha e outros. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 1991.
18. BARTHES, Roland (Org.). Literatura e Semiologia. Traduo de Clia Neves
Dourado. Petrpolis: Vozes, 1972.
19. BARTHES, Roland. O Grau Zero da Escritura. 2. ed. Traduo de Heloysa de
Lima Dantas, Anne Arnichand e lvaro Loorencini. So Paulo: Cultrix, 1974.
20. BARTHES, Roland. O Prazer do Texto. Traduo de Maria Margarida Barahona.
So Paulo: Edies 70, 1983.
21. BELSEY, Catherine. A Prtica Crtica. Traduo de Ana Isabel Sobral da Silva
Carvalho. So Paulo: Edies 70, 1972.
22. BENJAMIM, Walter. Magia e Tcnica, Arte e Poltica. Traduo de Srgio Paulo
Rouanet. So Paulo: Brasiliense, /s.d./.
23. BENJAMIM, Walter. O Narrador. In.: OS PENSADORES: Textos Escolhidos.
Traduo de Jos Lino Grnnewald e outros. So Paulo: Abril Cultural, 1980.
24. BENVENISTE, mile. O Homem na Linguagem. Traduo de Izabel Maria Lucas
Pascoal. Lisboa: Veja, /s.d/.
25. BERMAN, Martin. Tudo o que slido desmancha no ar. So Paulo: Companhia
das Letras, 1986.
26. BOFF, Leonardo. Igreja, Carisma e Poder. 3. ed. Petrpolis: Vozes, 1982.
27. BONET, Carmelo M. As Fontes da Criao Literria. Traduo de Luiz Aparecido
Caruso, So Paulo: Mestre Jou, 1970.
28. BONET, Carmelo M. A Tcnica Literria e Seus Problemas. Traduo de Miguel
Maillet. So Paulo: Mestre Jou, 1970.
29. BONET, Carmelo M. Crtica Literria. Traduo de Luiz Aparecido Caruso. So
Paulo: Mestre Jou, 1970.
30. BOSI, Alfredo. Histria Concisa da Literatura Brasileira. So Paulo: Cultrix,
1970.
31. BRANDO, Junito. Mitologia Grega. Petrpolis: Vozes, 1994.
32. CAMUS, Albert. O Mito de Ssifo. Lisboa: Livros do Brasil, /s.d./.
33. CNDIDO, Antonio (Org.). A Personagem de Fico. So Paulo: Perspectiva,
1976.
34. CNDIDO, Antonio. Formao da Literatura Brasileira: Momentos Decisivos.
So Paulo: Martins Fontes, 1964. 2 Volumes.
35. CANETTI, Elias. Massa e Poder. So Paulo: Melhoramentos, 1983.
36. CASTAGNINO, Raul H. Anlise Literria. Traduo de Luiz Aparecido Caruso.
So Paulo: Mestre Jou, 1968.
37. CASTAGNINO, Raul H. O que Literatura? Traduo de Luiz Aparecido Caruso.
So Paulo: Mestre Jou, 1969.
38. CASTAGNINO, Raul H. Tempo e Expresso Literria. Traduo de Luiz
Aparecido Caruzo. So Paulo: Mestre Jou, 1970.
39. CASTRO, Heliane. Ideologia da Obra Literria. Rio de Janeiro: Presena, 1983.
40. CASTRO, Josu de. Documentrio do Nordeste. So Paulo: Brasiliense, 1959.
41. CASTRO, Josu de. Geografia da Fome. Rio de Janeiro: Grfica O Cruzeiro,
1948.
42. COELHO, Nelly Novais. Literatura e Linguagem. 4.ed. So Paulo: Quron, 1986.
43. CORETH, Emerich. Questes Fundamentais de Hermenutica. So Paulo: Editora
Pedaggica Universitria, 1973.
44. CORTAZAR, Jlio. Valise de Cronpio. Traduo de Davi Arrigucci Jr. & Joo
Alexandre Barbosa. So Paulo: Perspectiva, 1974.
45. CULLER, Jonathan. Teoria Literria: Uma Introduo. Traduo de Sandra
Vasconcelos. So Paulo: Beca, 1999.
46. DAICHES, David. Posies da Crtica em Face da Literatura. Traduo de
Thomaz Newlands Neto. Rio de Janeiro: Acadmica, 1967.
47. DEFINA, Gilberto. Teoria e Prtica de Anlise Literria. So Paulo: Pioneira,
1975.
48. DERRIDA, Jacques. A Escritura e a Diferena. Traduo de Maria Beatriz
Marques Nizza da Silva. So Paulo: Perspectiva, 1971.
49. DUFRENNE, Mikel. O Potico. Traduo de Luiz Arthur Nunes e Reasylvia Kroeff
de Souza. Porto Alegre: Globo, 1969.
50. ECO, Umberto. A Escritura Ausente. Traduo de Prola de Carvalho. So Paulo:
Perspectiva, 1987.
51. ECO, Umberto. Leitura do Texto Literrio. Traduo de Mrio Brito. Lisboa:
Presena, 1979.
52. ECO, Umberto. Obra Aberta. Traduo de Sebastio Uchoa Leite. So Paulo:
Perspectiva, 1976.
53. ELIADE, Mircea. Imagens e Smbolos. Traduo de Snia Cristina Tamer. So
Paulo: Martins Fontes, 1991.
54. ELIOT, Thomas Stearns (Org.). Ensaios de Doutrina Crtica. Lisboa: Guimares,
1962.
55. ENGELS, F. A Origem da Famlia, da Propriedade Privada e do Estado. Rio de
Janeiro: Civilizao Brasileira, 1978.
56. FAC, Rui. Cangaceiros e Fanticos. 6. ed. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira,
1980.
57. FERNANDES, Florestan. Capitalismo Dependente e Classes Sociais na Amrica
Latina. Rio de Janeiro: Zahar, 1981.
58. FERNANDES, Jos. O Existencialismo na Fico Brasileira. Goinia: UFG, 1986.
59. FOUCAULT. A Microfsica do Poder. Rio de Janeiro: Graal, 1979.
60. FREITAG, Brbara. A Teoria Crtica Ontem e Hoje. So Paulo: Brasiliense, 1986.
61. FREYRE, Gilberto. Nordeste. Rio de Janeiro: Jos Olympio, 1937.
62. FRYE, Northrop. Anatomia da Crtica. Traduo de Pricles Eugnio da Silva
Ramos. So Paulo: Perspectiva, 1973.
63. FRYE, Northrop. Caminho Crtico. Traduo Antnio Arnoni Prado. So Paulo:
Perspectiva, 1973.
64. FURTADO, Celso. Os Ares do Mundo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991.
65. GALVO, Walnice Nogueira. As Formas do Falso. So Paulo: Perspectiva, 1972.
66. GARAUDY, Roger. A Grande Virada do Socialismo. Traduo de Jos Paulo
Netto e Gilvan P. Ribeiro. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 1970.
67. GARAUDY, Roger. Para um Dilogo das Civilizaes. Traduo de Manuel J.
Palmerim e Manuel J. de Mira Palmerim. Lisboa: Dom Quixote, 1977.
68. GENETTE, Grard. Discurso da Narrativa. Traduo de Fernando Cabral Martins.
Lisboa, Veja, /s.d./.
69. GOFFMAN, Erving. A Representao do Eu na Vida Cotidiana. Traduo de
Maria Clia Santos Raposo. Petrpolis: Vozes, 1985.
70. GOLDMANN, Lucien. A Sociologia do Romance. 2.ed. Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 1976.
71. GREIMAS, A. J. (Org.). Ensaios de Semitica Potica. Traduo de Heloysa de
Lima Dantas. So Paulo: Cultrix/USP, 1975.
72. HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Esttica. 2.ed. Traduo de Ricardo Mazo.
Barcelona: Pennsula, 1973.
73. HEIDEGGER, Martin. Arte y Poesias. Mxico: Fondo de Cultura Econmica, 1978.
74. HESSEN, Johannes. Filosofia dos Valores. 3.ed. Coimbra: Almedina, 1967.
75. HOLANDA, Srgio Buarque de. Razes do Brasil. 11.ed. Rio de Janeiro: Jos
Olympio, 1977.
76. HOLENSTEIN, Elmar. Jakobson: O Estruturalismo Fenomenolgico. Traduo
de Antnio Gonalves. Lisboa: Veja, /s.d./.
77. HUISMAN, Denis. A Esttica. 2. ed. Traduo de J. Guinsburg. So Paulo: Difuso
Europia do Livro, 1961.
78. IMBERT, Enrique Anderson. Mtodos de Crtica Literria. Traduo de Maria M.
Madeira de Aguiar e Silva. Coimbra: Almedina, 1971.
79. INGARDEN, Roman. A Obra de Arte Literria. 3. ed. Traduo de Albin E. Beau,
Maria da Conceio Puga & Joo Barrenta. Lisboa: Fundao Calouste Gulbenkian,
1965.
80. JAMESON, Fredric. Ps-modernidade e Sociedade de Consumo. CEBRAP,
Junho/1985, p. 16-26.
81. JAUSS, Hans Robert (Org.). A Literatura e o Leitor. Traduo de Luiz Costa Lima.
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979.
82. JOSEF, Bella. A Mscara e o Enigma. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1986.
83. KANT, Immanuel. Textos Selecionados. 2.ed. Traduo de Tnia Maria Bernkopf,
Paulo Quintela e Rubens R. Torres Filho. So Paulo: Abril Cultural, 1984, 2 Vol.
84. KAYSER, Wolfgang. Anlise e Interpretao da Obra Literria. Traduo de
Paulo Quintela. Coimbra: Armnio Amado, 1970.
85. KOTHE, Flvio Ren. A Alegoria. So Paulo: tica: 1986.
86. KOTHE, Flvio Ren. O Heri. So Paulo: tica, 1985.
87. LEO, A. Carneiro. Fundamentos de Sociologia. 11. ed. So Paulo:
Melhoramentos, 1956.
88. LEFEBVE, Maurice-Jean. Estrutura do Discurso da Poesia e da Narrativa.
Traduo de Jos Carlos Seabra Pereira. Coimbra: Almedina, 1980.
89. LEITE, Dante Moreira. Psicologia e Literatura. 2. ed. So Paulo: Nacional/USP,
1967.
90. LESKY, Albin. A Tragdia Grega. So Paulo: Perspectiva, 1971.
91. LIMA, Luiz Costa. Dispersa Demanda. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1981.
92. LIMA, Luiz Costa. Mmesis e Modernidade. Rio de Janeiro: Graal, 1980.
93. LIMA, Luiz Costa (Org.). Teoria da Literatura Em Suas Fontes. 2.ed. Rio de
Janeiro: Francisco Alves, 1983.
94. LOBO, Luiza (Org.). Globalizao e Literatura. Discursos Transculturais. Rio de
Janeiro: Relume Dumar, 1999.
95. LUKCS, Georg. Introduo a uma Esttica Marxista. Traduo de Carlos
Nilson Coutinho & Leandro Konder. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 1968.
96. LUKCS, Georg. Sociologia. Traduo de Jos Paulo Netto & Carlos Nelson
Coutinho. So Paulo: tica, 1981.
97. LUKCS, Georg. Sociologia de la Literatura. 3. ed. Traduo de Michael Faber-
Kaiser. Barcelona: Pennsula, 1973.
98. LUKCS, Georg. A Teoria do Romance. Traduo de Alfredo Margarido. Lisboa:
Presena, 1962.
99. LYOTARD, Jean-Franois. O Ps-Moderno. Traduo de Ricardo Corra Barbosa.
2.ed. Rio de Janeiro: Jos Olympio, 1986.
100. MACHADO, Neuza. O Fogo da Labareda da Serpente. Rio de Janeiro:
NMACHADO, 2008. (No prelo)
101. MAQUIAVEL. O Prncipe. Traduo de Mrio Celestino da Silva. Rio de Janeiro:
Vecchi, 1943.
102. MENDILOW, A. A. O Tempo e o Romance. Porto Alegre: Globo, 1972.
103. MERQUIOR, Jos Guilherme. A Astcia da Mmese. Rio de Janeiro: Jos
Olympio, 1972.
104. MERQUIOR, Jos Guilherme. Arte e Sociedade em Marcuse, Adorno e
Benjamim. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1969.
105. MERQUIOR, Jos Guilherme. Formalismo e Tradio Moderna: O Problema da
Arte na Crise da Cultura. Rio de Janeiro: Forense Universitria, 1974.
106. MOISS, Massaud. Guia Prtico de Anlise Literria. So Paulo: Cultrix, 1972.
107. NETTO, Modesto Carone. Metfora e Linguagem. So Paulo: Perspectiva, 1974.
108. NIETZCHE, Friedrich. Alm do Bem e do Mal. So Paulo: Nova Crtica-Matra,
1970.
109. PALMER, Richard E. Hermenutica. Lisboa: Edies 70, 1986.
110. PAZ, Octvio. Signos em Rotao. So Paulo: Perspectiva, 1972.
111. PLATO. A Repblica. Traduo de Sampaio Marinho. Lisboa: Euro-Amrica,
1975.
112. PLATO. Dilogo. Traduo de Carlos Alberto Nunes. Par: UFP, 1980, 2 Vol.
113. PLATO. Obras Completas. 4.ed. Traduo de Maria Arajo, Francisco Yague e
outros. Madrid, Aguilar, 1979.
114. PORTELLA, Eduardo. Confluncias: manifestaes da conscincia
comunicativa. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1983.
115. PORTELLA, Eduardo. Democracia Transitiva. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro,
1983.
116. PORTELLA, Eduardo. Fundamento da Investigao Literria. 3. ed. Rio de
Janeiro: Tempo Brasileiro, 1981.
117. PORTELLA, Eduardo. Literatura e Realidade Nacional. 3. ed. Rio de Janeiro:
Tempo Brasileiro, 1975.
118. PORTELLA, Eduardo. O Intelectual e o Poder. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro,
1983.
119. PORTELLA, Eduardo. Teoria da Comunicao Literria. 3. ed. Rio de Janeiro:
Tempo Brasileiro, 1976.
120. PORTELLA, Eduardo (Org.). Teoria Literria. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro,
1976.
121. PRADO JUNIOR, Caio. Dialtica do Conhecimento. So Paulo: Brasiliense, 1952,
2 Volumes.
122. RAMOS, Maria Luiza. Fenomenologia da Obra Literria. Rio de Janeiro:
Forense, 1969.
123. RICOEUR, Paul. Interpretao e Ideologias. Rio de Janeiro: Francisco Alves,
1977.
124. ROBBE-GRILLET, Alain. Por Um Novo Romance. Ensaios sobre uma literatura
do olhar nos tempos da reificao. Traduo: T. C. Netto. So Paulo: Documento,
1969.
125. ROSENFELD, Anatol. Estrutura e Problemas da Obra Literria. So Paulo:
Perspectiva, 1976.
126. ROSENFELD, Anatol. Texto-Contexto. So Paulo: Perspectiva, 1969.
127. ROSSUM-GUYON, HAMON & SALLENAVE. Categorias da Narrativa. Lisboa:
Vega, /s.d./.
128. SAMUEL, Rogel (Org.). Manual de Teoria Literria. 13. ed. Petrpolis: Vozes,
2000.
129. SAMUEL, Rogel. Novo Manual de Teoria Literria. 3. ed. Petrpolis: Vozes,
2006.
130. SARTRE, Jean-Paul. A Imaginao. 4.ed. Traduo de Luiz Roberto Salinas
Fontes. So Paulo: Difel, 1973.
131. SILVA, Anazildo Vasconcelos da. Formao pica da Literatura Brasileira. Rio
de Janeiro: Elo, 1987.
132. SILVA, Anazildo Vasconcelos da. Semiotizao Literria do Discurso. Rio de
Janeiro: Elo, 1984.
133. SOURIAU, Etienne. Chaves da Esttica. Traduo de Cesariana Abdala Belm.
Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 1973.
134. STAIGER, Emil. Conceitos Fundamentais da Potica. Rio de Janeiro: Tempo
Brasileiro, 1969.
135. TELES, Gilberto Mendona. A Retrica do Silncio. 2.ed. Rio de Janeiro: Jos
Olympio, 1989..
136. TELES, Gilberto Mendona. Vanguarda Europia e Modernismo Brasileiro. 8.ed.
Petrpolis: Vozes, 1985.
137. TODOROV, Tzvetan. As Estruturas da Narrativa. Traduo de Leyla Perrone
Moiss. So Paulo: Perspectiva, 1979.
138. TODOROV, Tzvetan (Org.). Linguagem e Motivao: Uma Perspectiva
Semiolgica. Traduo de Maria da Glria Bordini, Tnia Franco Carvalhal,
Regina Zilberman e Luiz Arthur Nunes. Porto Alegre: Globo, 1977.
139. TODOROV, Tzvetan. Os Gneros do Discurso. Traduo de Elisa Angotti
Kossovitch. So Paulo: Martins Fontes, 1980.
140. TOFFLER, Alvin. A Terceira Onda. Traduo de Joo Tvora. 14.ed. Rio de
Janeiro: Record, 1980.
141. WEBER, Max. Ensaios de Sociologia. 4.ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1979.
142. WELLEK, Ren. Conceitos de Crtica. Traduo de Oscar Mendes. So Paulo:
Cultrix, 1963.
143. WELLEK, Ren & WARREN, Austin. Teoria da Literatura. 4.ed. Lisboa: Europa-
Amrica, 1983.
144. YLLERA, Alicia. Estilstica, Potica e Semitica Literria. Traduo de Evelina
Verdelho. Coimbra, Almedina, 1979.
145. ZERAFFA, Michel. Romance e Sociedade. Lisboa: Estdios Cor, 1974.
ii
BACHELARD, Gaston. A gua e os Sonhos. Traduo de Antonio de Pdua Danesi. 1. ed. de 1989. So Paulo: Martins Fontes, 1998: 158.
iii
Ibidem.
iv
Idem: 9.
v
Idem: 14.
vi
Idem: 37- 41.
vii
Idem: 37-38.
viii
Idem: 39.
ix
Ibidem.
x
Idem: 46 - 47.
xi
Ibidem.
xii
SAMUEL, Rogel, 2005: 151.
xiii
Idem: 90.
xiv
TZARA, Tristan. Lantitte. L nain dans soncornet, p. 44. In.: BACHELARD, Gaston. A Terra e os Devaneios do Repouso. 1. ed. brasileira. Traduo: Paulo Neves da
Silva. So Paulo: Martins Fontes, 1990: 15.
xv
SAMUEL, Rogel, 2005: 89.
xvi
Idem: 138.
S-ar putea să vă placă și
- Texto, contexto, interpretação: Cenas de um debate teórico em História das ideiasDe la EverandTexto, contexto, interpretação: Cenas de um debate teórico em História das ideiasÎncă nu există evaluări
- Teoria (literária) americana: Uma introdução críticaDe la EverandTeoria (literária) americana: Uma introdução críticaÎncă nu există evaluări
- Teoria Literária e Crítica Literária: conceitos e objetivosDocument67 paginiTeoria Literária e Crítica Literária: conceitos e objetivosGabriela SilvaÎncă nu există evaluări
- Teoria Literatura IntroduçãoDocument37 paginiTeoria Literatura IntroduçãoCastigo BenjamimÎncă nu există evaluări
- Fundamentos da Teoria LiteráriaDocument148 paginiFundamentos da Teoria Literáriasilvinholira100% (1)
- Fundamentos teóricos da literaturaDocument17 paginiFundamentos teóricos da literaturaYasmim EloiÎncă nu există evaluări
- Teoria Da Literatura IiiDocument97 paginiTeoria Da Literatura IiiGabriel Felipe100% (1)
- Ensino de Literatura na EADDocument195 paginiEnsino de Literatura na EADPatricia SilvaÎncă nu există evaluări
- Teoria Literária: Fundamentos e AbordagensDocument17 paginiTeoria Literária: Fundamentos e AbordagensJohnLocke0% (1)
- Teoria Da Literatura IDocument17 paginiTeoria Da Literatura IAna Luíza DrummondÎncă nu există evaluări
- Teoria da Literatura e suas disciplinasDocument10 paginiTeoria da Literatura e suas disciplinasDuilio Hernan Duete MartinezÎncă nu există evaluări
- Talysson TambergDocument23 paginiTalysson TambergJohn Jefferson AlvesÎncă nu există evaluări
- Teoria Da LiteraturaDocument56 paginiTeoria Da LiteraturaRonie JohnÎncă nu există evaluări
- AD. MUSSALIM Análise Do Discurso Literário - Campo Discursivo e Posicionamento InterlínguaDocument15 paginiAD. MUSSALIM Análise Do Discurso Literário - Campo Discursivo e Posicionamento InterlínguaThiago OliveiraÎncă nu există evaluări
- Roberto C Oliveira - Sobre O Pensamento AntropologicoDocument168 paginiRoberto C Oliveira - Sobre O Pensamento AntropologicoSimone Moura50% (2)
- O Ensaio Como VocaçãoDocument20 paginiO Ensaio Como VocaçãoKarolina de AbreuÎncă nu există evaluări
- (Artigo) Teoria em Tempos de Crise - Três Desafios Da Reflexão Teórica HojeDocument22 pagini(Artigo) Teoria em Tempos de Crise - Três Desafios Da Reflexão Teórica HojethayenneÎncă nu există evaluări
- Descriptive Translation StudiesDocument16 paginiDescriptive Translation StudiesAna Paula CyprianoÎncă nu există evaluări
- Teoria Literária Hoje - Jonathan CullerDocument18 paginiTeoria Literária Hoje - Jonathan CullerFatima AlbuquerqueÎncă nu există evaluări
- O problema do método nos estudos literáriosDocument11 paginiO problema do método nos estudos literáriosRobert GonçalvesÎncă nu există evaluări
- Aula 01 Teoria e Critica Literária IDocument12 paginiAula 01 Teoria e Critica Literária ILeo VelasquezÎncă nu există evaluări
- UntitledDocument369 paginiUntitledLucas da Cunha ZamberlanÎncă nu există evaluări
- Fundamentos Filosóficos e Críticos Do Conceito de FantásticoDocument42 paginiFundamentos Filosóficos e Críticos Do Conceito de FantásticoIsabella CabralÎncă nu există evaluări
- 1 Teoria Da Narrativa Unidade 1Document34 pagini1 Teoria Da Narrativa Unidade 1Abilio PachecoÎncă nu există evaluări
- Unidade 4 Conceitos de Literatura e Teoria Literaria Teoria Critica e HistoriaDocument7 paginiUnidade 4 Conceitos de Literatura e Teoria Literaria Teoria Critica e HistoriaGiselli OliveiraÎncă nu există evaluări
- Crítica Literária: Correntes e AnáliseDocument10 paginiCrítica Literária: Correntes e AnáliseElizabeth SilvaÎncă nu există evaluări
- A representação do mundo segundo ChartierDocument3 paginiA representação do mundo segundo ChartierJulio Larroyd100% (1)
- Poesia Desafio Ao Pensamento Estudo SobrDocument466 paginiPoesia Desafio Ao Pensamento Estudo SobrMaycon Da Silva TannisÎncă nu există evaluări
- MODELO DE PROJETO DE DOUTORADO - Fernanda Libério PereiraDocument18 paginiMODELO DE PROJETO DE DOUTORADO - Fernanda Libério PereiraGenival Vasconcelos100% (1)
- 106017-Texto Do Artigo-233359-2-10-20161207Document26 pagini106017-Texto Do Artigo-233359-2-10-20161207CarolinaÎncă nu există evaluări
- Teoria Da Literatura - PercursosDocument19 paginiTeoria Da Literatura - PercursosMarcia Pinheiro MarciaÎncă nu există evaluări
- Teorias itinerantes no comparatismo literárioDocument12 paginiTeorias itinerantes no comparatismo literárioAugusto LéoÎncă nu există evaluări
- Literatura ComparadaDocument121 paginiLiteratura ComparadaFlávia100% (2)
- André Luiz Anselmi - Literatura Comparada - Seses, 2016 PDFDocument121 paginiAndré Luiz Anselmi - Literatura Comparada - Seses, 2016 PDFArmando VicentiniÎncă nu există evaluări
- Diálogos Possíveis Entre Estudos Literários e Estudos CulturaisDocument17 paginiDiálogos Possíveis Entre Estudos Literários e Estudos CulturaisMemória E Projeto ProduçõesÎncă nu există evaluări
- Teoria LiterariaDocument17 paginiTeoria LiterariaGuguh SantosÎncă nu există evaluări
- Fundamentos da Crítica LiteráriaDocument9 paginiFundamentos da Crítica LiteráriaLucio MartinsÎncă nu există evaluări
- Historiografia: um guia para compreender a evolução da HistóriaDocument85 paginiHistoriografia: um guia para compreender a evolução da HistóriaUlisses ColiÎncă nu există evaluări
- O Proprio e o AlheioDocument12 paginiO Proprio e o AlheioAline Cristina MazieroÎncă nu există evaluări
- Critica Textual MaxDocument5 paginiCritica Textual Maxfabiofrohwein7383Încă nu există evaluări
- Literatura Comparada: Credenciada Junto Ao Mec Pela PORTARIA #1.004 DO DIA 17/08/2017Document61 paginiLiteratura Comparada: Credenciada Junto Ao Mec Pela PORTARIA #1.004 DO DIA 17/08/2017Evan CarvalhoÎncă nu există evaluări
- As estruturas narrativas de Tzvetan TodorovDocument7 paginiAs estruturas narrativas de Tzvetan TodorovJose Carlos MarquesÎncă nu există evaluări
- Apostila de Leitura 160214182736Document114 paginiApostila de Leitura 160214182736Anisio Rogerio BatistaÎncă nu există evaluări
- Estudos Literários-7Document25 paginiEstudos Literários-7Rose RochaÎncă nu există evaluări
- Língua Portuguesa - Módulo III EJA Ensino Médio - 2º BimestreDocument40 paginiLíngua Portuguesa - Módulo III EJA Ensino Médio - 2º Bimestreroger brittoÎncă nu există evaluări
- Ontologia e Crítica Do Tempo PresenteDocument306 paginiOntologia e Crítica Do Tempo Presenteeditoriaemdebate100% (4)
- Teoria Da Literatura I 2018Document144 paginiTeoria Da Literatura I 2018Paula Sousa Sousa100% (3)
- Resumo acadêmico, Keith JenkinsDocument3 paginiResumo acadêmico, Keith Jenkinsswtyx.brxnoÎncă nu există evaluări
- Projeto de PesquisaDocument8 paginiProjeto de PesquisaThiago SilvaÎncă nu există evaluări
- Metodologia da Pesquisa em Estudos Literários guia completoDocument131 paginiMetodologia da Pesquisa em Estudos Literários guia completoAndréiaÎncă nu există evaluări
- O método da itinerância crítica em Flora SüssekindDocument257 paginiO método da itinerância crítica em Flora SüssekindManuela Manu100% (1)
- Teoria Da LiteraturaDocument44 paginiTeoria Da LiteraturaKarina MartinsÎncă nu există evaluări
- Metodologia e transdisciplinaridade nos estudos literáriosDe la EverandMetodologia e transdisciplinaridade nos estudos literáriosÎncă nu există evaluări
- Teoria da Literatura: Desenvolvimento e MétodosDocument3 paginiTeoria da Literatura: Desenvolvimento e MétodosReduzidoÎncă nu există evaluări
- Fichamento de texto sobre a construção do objeto históricoDocument4 paginiFichamento de texto sobre a construção do objeto históricoAdolfo BaptistaÎncă nu există evaluări
- Teoria Da Literatura - Zilberman - AcademicoDocument17 paginiTeoria Da Literatura - Zilberman - AcademicoVinicius BeltrãoÎncă nu există evaluări
- Orientar professores FilosofiaDocument113 paginiOrientar professores FilosofiaAtlhon Asael67% (3)
- Visões Do Ultrarromantismo - Melancolia Literária e Modo Ultrarromântico - Andre - SenaDocument542 paginiVisões Do Ultrarromantismo - Melancolia Literária e Modo Ultrarromântico - Andre - SenaDanillo MeloÎncă nu există evaluări
- Coutinho Descrever GenerosDocument9 paginiCoutinho Descrever GenerosIse LoboÎncă nu există evaluări
- Marta PraganaDocument10 paginiMarta PraganaSiul OtsenreÎncă nu există evaluări
- José Verrissimo A Construção Do Cânone Literário PDFDocument13 paginiJosé Verrissimo A Construção Do Cânone Literário PDFElis Silva VoluntáriaÎncă nu există evaluări
- As Contribuições Do Ensino de Literatura para A Formação Do Leitor No Ensino MédioDocument97 paginiAs Contribuições Do Ensino de Literatura para A Formação Do Leitor No Ensino MédioElis Silva VoluntáriaÎncă nu există evaluări
- Letramento TextoDocument1 paginăLetramento Textoluis_bedendoÎncă nu există evaluări
- Linguística TextualDocument66 paginiLinguística TextualIrineu Cruzeiro100% (3)
- Slides Aula Imagem e Poesia - CópiaDocument19 paginiSlides Aula Imagem e Poesia - CópiaElis Silva VoluntáriaÎncă nu există evaluări
- Considerações FinaisDocument1 paginăConsiderações FinaisElis Silva VoluntáriaÎncă nu există evaluări
- Miolo Melhores Praticas ResumidoDocument34 paginiMiolo Melhores Praticas ResumidoElis Silva VoluntáriaÎncă nu există evaluări
- Slide de Apresentação Da OficinaDocument7 paginiSlide de Apresentação Da OficinaElis Silva VoluntáriaÎncă nu există evaluări
- Slide de Apresentação Da OficinaDocument7 paginiSlide de Apresentação Da OficinaElis Silva VoluntáriaÎncă nu există evaluări
- Manual de Estilo Academico - Lubisco - 2013 - Ufba PDFDocument150 paginiManual de Estilo Academico - Lubisco - 2013 - Ufba PDFCARLOS AUGUSTO VASCONCELOS PIRES100% (1)
- Análise do soneto Tanto de meu estado me acho incertoDocument2 paginiAnálise do soneto Tanto de meu estado me acho incertoElis Silva VoluntáriaÎncă nu există evaluări
- Slides Aula Imagem e Poesia - CópiaDocument19 paginiSlides Aula Imagem e Poesia - CópiaElis Silva VoluntáriaÎncă nu există evaluări
- Contribuições Lingüísticas de SaussureDocument21 paginiContribuições Lingüísticas de SaussureElis Silva VoluntáriaÎncă nu există evaluări
- Saussure, estudos linguísticos no século XX e a linguística aplicadaDocument13 paginiSaussure, estudos linguísticos no século XX e a linguística aplicadaElis Silva VoluntáriaÎncă nu există evaluări
- Vozes DocerradoDocument15 paginiVozes DocerradoElis Silva VoluntáriaÎncă nu există evaluări
- Contribuições Lingüísticas de SaussureDocument21 paginiContribuições Lingüísticas de SaussureElis Silva VoluntáriaÎncă nu există evaluări
- DIÁRIOS - Lima e CarolinaDocument4 paginiDIÁRIOS - Lima e CarolinaElis Silva VoluntáriaÎncă nu există evaluări
- Saussure, estudos linguísticos no século XX e a linguística aplicadaDocument13 paginiSaussure, estudos linguísticos no século XX e a linguística aplicadaElis Silva VoluntáriaÎncă nu există evaluări
- Ensino sobre drogas usando texto informativoDocument2 paginiEnsino sobre drogas usando texto informativoElis Silva VoluntáriaÎncă nu există evaluări
- Literatura e Aformação Do Leitor - Bordoni FichamentoDocument10 paginiLiteratura e Aformação Do Leitor - Bordoni FichamentoAnonymous Syhm81TgraÎncă nu există evaluări
- Oficina TP4 Unidade 16Document3 paginiOficina TP4 Unidade 16Elis Silva VoluntáriaÎncă nu există evaluări
- Projeto de PesquisaDocument36 paginiProjeto de PesquisaElis Silva VoluntáriaÎncă nu există evaluări
- Oficina 4 SemestreDocument3 paginiOficina 4 SemestreElis Silva VoluntáriaÎncă nu există evaluări
- Orientações Estágio Supervisionado I 2012.2Document6 paginiOrientações Estágio Supervisionado I 2012.2Elis Silva VoluntáriaÎncă nu există evaluări
- Referencial Teórico - PoesiasDocument1 paginăReferencial Teórico - PoesiasElis Silva VoluntáriaÎncă nu există evaluări
- Memórias em conflito sobre a colonização do Planalto da ConquistaDocument223 paginiMemórias em conflito sobre a colonização do Planalto da ConquistaElis Silva Voluntária100% (1)
- Oficina TP4 Unidade 16 Modelo CronogramaDocument3 paginiOficina TP4 Unidade 16 Modelo CronogramaElis Silva VoluntáriaÎncă nu există evaluări
- A Presença Indígena Na Formação Do BrasilDocument272 paginiA Presença Indígena Na Formação Do BrasilFrederico Dalla Nora Fagundes100% (7)
- Colonização PortuguesaDocument210 paginiColonização PortuguesaAna Paula Pereira100% (1)
- A Liberdade Humana e o Problema Do Mal No Pensamento Trágico de Dostoiévski - Pe. CarlosDocument16 paginiA Liberdade Humana e o Problema Do Mal No Pensamento Trágico de Dostoiévski - Pe. Carlosglautonvarela6090Încă nu există evaluări
- Quem Foi EvaDocument3 paginiQuem Foi EvaRoberto TeixeiraÎncă nu există evaluări
- JESUS NO SEPULCRODocument46 paginiJESUS NO SEPULCROAlexandre Siqueira100% (1)
- SI - Gove - Consuilta NacionalDocument21 paginiSI - Gove - Consuilta Nacionalcarolina nevesÎncă nu există evaluări
- Plano de Lubrificação Retroescavadeira CAT 416-DDocument2 paginiPlano de Lubrificação Retroescavadeira CAT 416-DEdinho Dinho100% (1)
- A Magia do Fogo revela poderes divinos através de símbolosDocument4 paginiA Magia do Fogo revela poderes divinos através de símbolosDavidWS100% (6)
- Introdução à SemióticaDocument43 paginiIntrodução à SemióticaLetícia RodriguesÎncă nu există evaluări
- Enunciado Da Avaliação 2 - Análise Das Demonstrações Contábeis (IL60003)Document3 paginiEnunciado Da Avaliação 2 - Análise Das Demonstrações Contábeis (IL60003)Matheus coutoÎncă nu există evaluări
- MEDCON4W internacionalização estratégiaDocument2 paginiMEDCON4W internacionalização estratégiafernandoabel010% (1)
- Manual Do Usuário INTERTEC 360Document22 paginiManual Do Usuário INTERTEC 360Lukas AlmeidaÎncă nu există evaluări
- A TRINDADE - Portal Da Teologia PDFDocument10 paginiA TRINDADE - Portal Da Teologia PDFInstituto Teológico GamalielÎncă nu există evaluări
- Parcial II Ciclo - TIPO BDocument8 paginiParcial II Ciclo - TIPO BLéa GamaÎncă nu există evaluări
- Adjetivo - Graus Comparative and SuperlativeDocument9 paginiAdjetivo - Graus Comparative and SuperlativepatriciaaaaaaaaaaaaaÎncă nu există evaluări
- Robert N Gunn - Duplex Stainless Steels, Microstructure, Properties and Applications (1997, Woodhead Publishing)Document18 paginiRobert N Gunn - Duplex Stainless Steels, Microstructure, Properties and Applications (1997, Woodhead Publishing)Fabiana SantosÎncă nu există evaluări
- Lista de revisão de matemática 3Document12 paginiLista de revisão de matemática 3Lucas DetoniÎncă nu există evaluări
- Situacao Problema Gestao Estrategica RHDocument2 paginiSituacao Problema Gestao Estrategica RHCamilla CrivelaroÎncă nu există evaluări
- Cálculo de Duração Das Atividades para Os Alunos Sem RespostaDocument6 paginiCálculo de Duração Das Atividades para Os Alunos Sem RespostaRicardo Sousa CruzÎncă nu există evaluări
- EpigenéticaDocument53 paginiEpigenéticaPri LuÎncă nu există evaluări
- OnzeneiroDocument10 paginiOnzeneiroFernanda MaiaÎncă nu există evaluări
- RESUMODocument4 paginiRESUMOJoão Vitor Farias UFCÎncă nu există evaluări
- A revolução industrial e suas consequências na sociedadeDocument15 paginiA revolução industrial e suas consequências na sociedadeErc CleptonÎncă nu există evaluări
- Boneca Cecilia 2Document9 paginiBoneca Cecilia 2Caroline Lima EsteticistaÎncă nu există evaluări
- Operação Da EscavadeiraDocument5 paginiOperação Da Escavadeiradrico12Încă nu există evaluări
- Aditivos alimentares: classificação e aplicaçõesDocument30 paginiAditivos alimentares: classificação e aplicaçõesLaura SaliaÎncă nu există evaluări
- Ex Alv EditavelDocument23 paginiEx Alv EditavelFrederico MorgadoÎncă nu există evaluări
- Engenharia CivilDocument4 paginiEngenharia CivilPriscylla Bezerra CameloÎncă nu există evaluări
- KERN - Ações Afirmativas e Politizacao Da Questao RacialDocument18 paginiKERN - Ações Afirmativas e Politizacao Da Questao RacialWilliane PontesÎncă nu există evaluări
- Ebook - Confeccao 4.0Document11 paginiEbook - Confeccao 4.0João SacheteÎncă nu există evaluări
- Teatro popular de Gil VicenteDocument37 paginiTeatro popular de Gil VicenteLUKE SHELTONÎncă nu există evaluări
- Sistema Score 2022Document5 paginiSistema Score 2022celia pecciniÎncă nu există evaluări