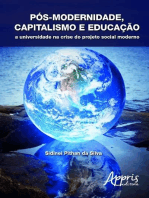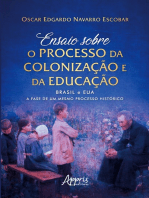Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Revista Impulso29 - Modernidade e Pós-Modernidade
Încărcat de
Janderle RabaiolliTitlu original
Drepturi de autor
Formate disponibile
Partajați acest document
Partajați sau inserați document
Vi se pare util acest document?
Este necorespunzător acest conținut?
Raportați acest documentDrepturi de autor:
Formate disponibile
Revista Impulso29 - Modernidade e Pós-Modernidade
Încărcat de
Janderle RabaiolliDrepturi de autor:
Formate disponibile
IMPULSO ISSN 0103-7676 PIRACICABA/SP Volume 12 Nmero 29 P 1-195 2001
p g y p
Universidade Metodista de Piracicaba
Reitor
A
LMIR
DE
S
OUZA
M
AIA
Vice-reitor Acadmico
E
LY
E
SER
B
ARRETO
C
SAR
Vice-reitor Administrativo
G
USTAVO
J
ACQUES
D
IAS
A
LVIM
EDITORA U
NIMEP
Conselho de Poltica Editorial
A
LMIR
DE
S
OUZA
M
AIA
(
PRESIDENTE
)
A
NTNIO
R
OQUE
D
ECHEN
C
LUDIA
R
EGINA
C
AVAGLIERI
E
LIAS
B
OAVENTURA
E
LY
E
SER
B
ARRETO
C
SAR
(
VICE
-
PRESIDENTE
)
G
USTAVO
J
ACQUES
D
IAS
A
LVIM
G
ISLENE
G
ARCIA
F
RANCO
DO
N
ASCIMENTO
N
ANCY
A
LFIERI
N
UNES
N
IVALDO
L
EMOS
C
OPPINI
Comisso Editorial
A
MS
N
ASCIMENTO
E
LIAS
B
OAVENTURA
(
PRESIDENTE
)
J
ORGE
L
UIS
M
IALHE
J
OSIANE
M
ARIA
DE
S
OUZA
T
NIA
M
ARA
V
IEIRA
S
AMPAIO
Editor executivo
H
EITOR
A
MLCAR
DA
S
ILVEIRA
N
ETO
(MT
B
13.787)
Equipe tcnica
Secretria: I
VONETE
S
AVINO
Apoio administrativo: A
LTAIR
A
LVES
DA
S
ILVA
Bolsista atividade: N
ILSON
C
SAR
DE
S
OUSA
Edio de texto: M
ILENA
DE
C
ASTRO
Reviso do espanhol: J
UAN
C
ARLOS
B
ERCHANSKY
Reviso em ingls: C
RISTINA
P
AIXO
L
OPES
Grca UNIMEP
Coordenao: C
ARLOS
T
ERRA
Capa: M
ARIA
M
ACHADO
L
EO
Foto Capa: S
TOCK
P
HOTOS
E
R
ICARDO
F
UNARI
Impresso: Y
ANGRAF
G
RFICA
E
E
DITORA
L
TDA
.
Editorao Eletrnica: C
ARLA
C
YNTHIA
S
MANIOTO
Reviso Grca: J
URACI
V
ITTI
Produzida em ago./2001
A revista
IMPULSO
uma publicao quadrimes-
tral da Universidade Metodista de Piracicaba
U
NIMEP
(So Paulo, Brasil). Aceitam-se artigos aca-
dmicos, estudos analticos e resenhas, nas reas
das cincias humanas e sociais, e de cultura em
geral. Os textos so selecionados por processo
annimo de avaliao por pares (
peer review
). Veja
as normas para publicao no nal da revista.
IMPULSO
is a quarterly journal published by the
Universidade Metodista de Piracicaba U
NIMEP
(So Paulo, Brazil). The submission of scholarly arti-
cles, analytical studies and book reviews on the
humanities, society and culture in general is wel-
come. Manuscripts are selected through a blind
peer review process. See editorial norms for submis-
sion of articles in the back of this journal.
Impulso indexada por:
Impulso is indexed by:
Bibliograa Bblica Latino-Americana; ndice Biblio-
grco Clase (UNAM); e Sumrios Correntes em
Educao.
Administrao, redao e assinaturas:
Editora UNIMEP
www.unimep.br/editora
Rodovia do Acar, km 156
Tel./fax: 55 (19) 3124-1620 / 3124-1621
13.400-911 Piracicaba, So Paulo/Brasil
E-mail: editora@unimep.br
Revista de Cincias Sociais e Humanas
da Universidade Metodista de Piracicaba
Vol. 1 N.
1 1987
Quadrimestral/Quarterly
ISSN 0103-7676
1- Cincias Sociais peridicos
CDU 3 (05)
p g y p
EDITORIAL
MODERNIDADE & PS-MODERNIDADE?
O tema deste nmero da revista IMPULSO sem dvida duplo,
ambguo e plural. Modernidade ou ps-modernidade? Eis a questo.
Muito tem sido dito sobre um assunto e outro, e a insistncia em
se lanar mais uma publicao com essa abordagem pode encontrar
reaes adversas. Arma-se, hoje em dia, que tanto a modernidade
como a ps-modernidade teriam se exaurido. Enquanto alguns espe-
ram seguindo assim o credo moderno pelo choque do novo mais
alm dessa tradio, outros chegam a dizer em tom decididamente
ps-moderno que o assunto morreu. J se fala em ps-contempor-
neo, pstumo ou mesmo ps-tudo. Por que, ento, dedicar uma revista
a tal temtica?
Diante de eventuais questionamentos, e antes mesmo das respos-
tas a eles, poder-se-ia concluir que este nmero da IMPULSO estaria, de
antemo, fadado redundncia. Seria justicado somente por uma in-
transigncia editorial. Mais ainda, poderia ser acusado de antiquado,
quadrado e montono. Basta, porm, uma nica pergunta, para rela-
tivizar todas essas crticas e justicar no somente a escolha desta pau-
ta, mas tambm dos textos que compem a publicao: o que signica
modernidade?
Tal a questo fundamental, ainda em aberto, a partir da qual se
dene tambm o que tradio e o que ps-modernidade. com base
nessa discusso que se pode pretender uma possvel resposta proble-
mtica geral de nossa realidade. Essa a inquietao que perpassa os v-
rios textos aqui apresentados. A multiplicidade de anlise, de termos e
de novas indagaes indica a atualidade e importncia do tema.
Mais alm destes aspectos semnticos, a pergunta acima coloca-
da tambm nos remete a problemas loscos, histricos, econmi-
cos, polticos, estticos, culturais... Fala-se atualmente da crise dos
grandes projetos, do m da histria, da fragmentao da sociedade, da
falta de consenso, do universalismo exacerbado, do multiculturalismo,
p g y p
do m do Estado-nao, da globalizao e de tantos outros temas que
vm no bojo dessa mesma questo. Em meio a todo esse debate, como
dar conta de tamanha pluralidade e ter uma orientao para a vida co-
tidiana, tanto no plano individual como social, no mbito poltico
como internacional?
De todo modo, tais contedos remetem, por sua vez, a tpicos
at ento relegados, que ora comeam a ganhar brilho prprio. Cate-
gorias ligadas s questes de identidade, alteridade, etnia, gnero, re-
ligio e poltica localizada, bem como prticas da economia informal,
sentimentos e discursos do cotidiano desbancaram os grandes temas,
como metafsica e nao, religio e cultura, f e razo. Como ainda re-
conhecer essas vrias perspectivas sem mesmo poder abarc-las todas?
Questionamentos, indagaes e dvidas. Isso o que esta edio
da IMPULSO sugere. Selecionados em avaliao por pares, os textos
aqui publicados no trazem respostas decisivas, mas apresentam posi-
es de pesquisadores, do Brasil e do exterior, das mais variadas reas.
Para ajudar o leitor a dar sentido diversidade de abordagens que lhe
oferecida, os artigos esto aqui ordenados de modo a progressiva-
mente apresentarem da abordagem de problemticas mais gerais (ge-
ralmente vinculadas tradio europia) s mais especcas, sul-ame-
ricanas e brasileiras, que nos trazem, ao m, de volta questo central,
o que signica ser moderno?.
Assim, partindo da tradio liberal iluminista europia, o profes-
sor da UNIMEP Sidney Reinaldo da Silva trata da razo comum de
Condorcet no prisma conceptual de J. Rawls, constatando que a con-
cepo tradicional da racionalidade pblica sofreu mudanas profun-
das com as novas tendncias loscas ps-modernas. E, da Argenti-
na, nos chega o artigo de Gladys B. Morales: foca a produo de sen-
tidos na perspectiva ps-moderna, que visa a um sujeito descentrado,
incompleto, singular, a partir de aspectos do pensamento de Michel
Pcheux, representante da escola francesa de anlise de discurso.
Marianna Papastephanou, de Chipre, aborda a teoria de Haber-
mas sobre o consenso como meio de legitimao da ao em contraste
com a teoria da dissenso proposta por Lyotard. J Miroslav Milovic,
da Srvia, trata a questo da racionalidade e conclui que a ps-moder-
nidade ajuda a sair do deserto do pensamento metafsico, no qual se
repetem as estruturas dominantes.
Lindgren Alves, cnsul geral do Brasil em So Francisco (EUA),
discute os excessos do culturalismo ao identicar que os movimentos
sociais teriam abandonado o universalismo caracterstico das posies
de esquerda. E, considerando a inuncia das teorias originrias dos
p g y p
Estados Unidos, em especco nos modelos adotados no Brasil, ques-
tiona: ps-modernidade ou americanizao da esquerda? Por sua vez,
Antonio Celso Gemente (Universidade Federal de So Carlos) traa
um panorama da modernidade, suas origens, formao e perspectivas,
indicando que as caractersticas do mundo ps-moderno caberiam ser
modicadas para sair do impasse em que se encontra, notadamente no
campo cultural das humanidades. E Lemuel Dourado Guerra Sobri-
nho (Universidade Federal da Paraba) volta-se para a discusso no m-
bito das cincias sociais, expondo uma viso geral do tributo de auto-
res clssicos do ps-modernismo no contexto anglo-saxo, destacando
o processo de interpretao das novas conguraes do social.
A contribuio latino-americana ca a cargo de Santiago Castro-
Gmez, da Colmbia, que parte da distino entre teoria tradicional e
teoria crtica feita por Horkheimer para chegar a uma crtica s teorias
contemporneas que pretendem vincular cultura a atributos de tipo an-
tropolgico, econmico e humanista.
Nesta mesma perspectiva, mas detendo-se sobre o tema da mo-
dernizao no Brasil como problema losco, Luiz Alberto Cerquei-
ra (Universidade Federal do Rio de Janeiro) data o incio do processo
de modernizao no Brasil com a supresso do aristotelismo do ensi-
no, atravs da expulso dos jesutas e a reforma da instruo pblica
promovidas pelo marqus de Pombal. Para ele a assimilao do cogito
cartesiano como princpio da losoa moderna supe, no Pas, a con-
verso religiosa como princpio da formao cultural brasileira sob o
aristotelismo.
Voltando-se para questes ainda mais localizadas, relacionadas ao
Brasil e a Piracicaba, temos a participao de quatro professoras da UNI-
MEP. Maria Thereza Miguel Peres & Eliana Tadeu Terci revisitam a mo-
dernidade brasileira, salientando os fundamentos, as concepes e prio-
ridades norteadoras do processo de desenvolvimento urbano-industrial
pela soberania e autonomia em relao ao exterior. De sua parte, Elisa-
bete Stradiotto Siqueira & Valria Rueda Elias Spers expem os vnculos
entre ps-modernidade e o contexto organizacional moderno, com n-
fase nas tendncias e nos desaos das organizaes atualmente.
J Ams Nascimento (UNIMEP) discute modernismo e discursos
ps-modernos no Brasil. Para tanto, estabelece duas questes centrais:
o que signica ser moderno? e o que signica ser moderno no Bra-
sil?. Ao trat-las, chama a ateno para que sejam estabelecidos novos
sentidos para moderno, ps-moderno e seus respectivos generativos, a
partir do reconhecimento e eliminao das abstraes seletivas apon-
tadas em seu artigo.
p g y p
E, fechando esta edio da IMPULSO, a seo Comunicao
traz Walter Matias Lima, da Universidade Federal de Alagoas, que es-
tabelece a relao entre corpo e ps-modernidade, abordando tem-
ticas relativas s mudanas na noo de corpo e de como, partindo de
tendncias da ps-modernidade, pode-se sugerir uma leitura sobre esse
tema.
COMISSO EDITORIAL
p g y p
...............................
ILUMINISMO E LIBERALISMO POLTICOS
A RAZO COMUM DE CONDORCET
NO PRISMA CONCEPTUAL DE J. RAWLS
Political Enlightenment and Liberalism
Condorcets common reason under
J. Rawls conceptual prism
SIDNEY REINALDO DA SILVA 9
A PRODUO DE SENTIDOS
EM PERSPECTIVA PS-MODERNA
The Production of Meanings:
a postmodernist perspective
GLADYS B. MORALES 23
INTERAO E LEGITIMAO
LINGISTICAMENTE MEDIADAS:
CONSENSO OU DISSENSO?
Linguistically Mediated Interaction and
Legitimation: consensus or dissent?
MARIANNA PAPASTEPHANOU 33
PS-MODERNIDADE vs. MODERNIDADE
A QUESTO DA RACIONALIDADE
Postmodernity vs. Modernity the issue of rationality
MIROSLAV MILOVIC 53
EXCESSOS DO CULTURALISMO:
PS-MODERNIDADE OU AMERICANIZAO
DA ESQUERDA?
The Excesses of Culturalism:
postmodernity or the americanization of the Left?
J. A. LINDGREN ALVES 65
UM PANORAMA DA MODERNIDADE:
ORIGENS, FORMAO E PERSPECTIVAS
A View of Modernity: origins,
evolution and perspectives
ANTONIO CELSO GEMENTE 85
S
u
m
r
i
o
p g y p
O PS-MODERNISMO E AS CINCIAS
SOCIAIS: ANOTAES SOBRE O
ATUAL ESTADO DA DISCUSSO
Postmodernism and the Social Sciences:
notes on the state of the debate
LEMUEL DOURADO GUERRA SOBRINHO 99
TEORA TRADICIONAL Y TEORA
CRTICA DE LA CULTURA
Traditional and Critical Theories of Culture
SANTIAGO CASTRO-GMEZ 113
A MODERNIZAO NO BRASIL
COMO PROBLEMA FILOSFICO
Modernization in Brazil as a Philosophical Problem
LUIZ ALBERTO CERQUEIRA 125
REVISITANDO A MODERNIDADE BRASILEIRA:
NACIONALISMO E DESENVOLVIMENTISMO
Reviewing the Brazilian Modernity:
nationalism and development
MARIA THEREZA MIGUEL PERES & ELIANA TADEU TERCI 137
OS DESAFIOS DAS ORGANIZAES
NO CONTEXTO PS-MODERNO
The Challenge of the Organizations
in the Postmodern Context
ELISABETE STRADIOTTO SIQUEIRA &
VALRIA RUEDA ELIAS SPERS 155
MODERNISMO E DISCURSOS
PS-MODERNOS NO BRASIL
Modernism and Postmodern Discourses in Brazil
AMS NASCIMENTO 169
...............................
Comunicao
CORPO E PS-MODERNIDADE
Body and Postmodernity
WALTER MATIAS LIMA 187
S
u
m
r
i
o
p g y p
i mpulso n 29 9
ILUMINISMO E
LIBERALISMO
POLTICOS A RAZO
COMUM DE
CONDORCET NO
PRISMA CONCEPTUAL
DE J. RAWLS
Political Enlightenment and Liberalism
Condorcets common reason under
J. Rawls conceptual prism
Resumo A razo pblica uma modulao das decises coletivas. A tradicional con-
cepo da racionalidade pblica sofreu mudanas profundas com as novas tendncias
loscas ps-modernas. Este artigo confronta duas concepes de razo pblica. A
primeira se apresenta na obra do marqus de Condorcet, a outra proposta por J. Ra-
wls. So elementos comuns nos dois lsofos idia de contrato, tolerncia e demo-
cracia, como fundamentos da razo comum. Mas o prprio papel da razo que os
distingue.
Palavras-chave TEORIA DA JUSTIA RAZO PBLICA LIBERALISMO POLTICO
ILUMINISMO POLTICO MODERNIDADE PS-MODERNIDADE.
Abstract The public reason is a modulation of collective decisions. The traditional
conception of public rationality suffered deep changes with the new postmodern phi-
losophical trends. The present article confronts two conceptions of public reason.
The rst can be found in Condorcets work, and the other is proposed by J. Rawls.
The ideas of contract, tolerance and democracy are common elements to both phi-
losophers, as the basis for common reason. But it is the reasons role itself that dis-
tinguishes them.
Keywords THEORY OF JUSTICE PUBLIC REASON POLITICAL LIBERALISM PO-
LITICAL ENLIGHTMENT MODERNITY POSTMODERNITY.
SIDNEY REINALDO DA SILVA
Graduado (PUCCamp), mestre e
doutor em losoa
(IFCH/Unicamp) e ps-doutorando
em losoa da educao
(FE/Unicamp). Professor de
losoa na UNIMEP
sidrei@uol.com.br
p g y p
10 i mpulso n 29
INTRODUO
A. Uma boa lei deve ser boa para todos os homens, como uma
proposio verdadeira verdadeira para todos os homens.
1
B. A justia a primeira virtude das instituies sociais, como a
verdade o dos sistemas de pensamento.
2
s dois enunciados acima supem uma correspondncia
entre verdade e justia como ndices capazes de denir
escolhas coletivas. O enunciado A apresenta-se na for-
ma de uma prescrio, sendo B um princpio avaliativo.
Em todo caso, ambos referem-se s relaes entre a ver-
dade e a justia, destacando a analogia entre elas, en-
quanto critrios respectivos de correo e validade. As
duas idias servem como pontos de partida para se pen-
sar a poltica. Contudo, A e B so produzidos em contextos to diversos que
acabam signicando coisas dspares.
Em agrupamentos democrticos, livres e abertos, as decises no so
prerrogativas de apenas um indivduo ou de um grupo particular, mas da co-
letividade. O problema sempre como modular uma autntica expresso co-
letiva. Conforme os enunciados acima, a virtude ou bondade das instituies
e leis concede a elas a legitimidade e aceitabilidade por parte dos seus con-
cernidos, da mesma maneira que a conformidade com um mtodo, capaz de
permitir o controle coletivo da produo do conhecimento, garante a vera-
cidade dele. Mas at que ponto a produo da verdade na cincia (episteme)
torna-se um paradigma para a produo da justia na poltica? A crtica ao
iderio da modernidade se d especialmente com uma negao da prioridade
do epistmico (clculo, razo instrumental e controle tecnocientco do po-
ltico) como ndice do justo. A obra do marqus de Condorcet (1743-1794),
lsofo revolucionrio francs, visa a uma concepo racionalista do poltico,
sem negar-lhe o carter democrtico. Rawls (1921-), lsofo americano e
professor em Harvard, prope uma viso do poltico que recupera outros va-
lores da modernidade, como a idia de contrato, mas nega a prioridade do ra-
cional, em sua verso racionalista/cienticista.
O que est em questo no s aquilo que fundamenta e/ou justica
o verdadeiro e o justo, mas tambm a propriedade deles de legitimar as de-
cises pblicas ou a sua iseno (carter poltico). Para os dois pensadores, as
decises pblicas devem se pautar na justia. Contudo, para Condorcet, o
verdadeiro (episteme) e o justo so necessariamente compatveis, o que no
admitido por Rawls. Este acredita que o poltico torna-se auto-suciente, ga-
rantindo, conforme uma dinmica prpria, a legitimidade das decises gera-
das em seu interior, de acordo com o que ele denominou de consenso sobre-
posto (overlapping consensus). Os dois distinguem-se no ponto em que, para
1
CONDORCET, 1968, p. 378.
2
RAWLS, 2000a, p. 3.
OO
O O
p g y p
i mpulso n 29 11
um, o justo problema cientco e, para o outro,
poltico. No que Condorcet negue o poltico ou a
esfera conituosa da interao dos indivduos, regu-
lada por princpios razoveis, pela abertura e trans-
parncia, enquanto expresso legtima do pblico.
No que Rawls negue a episteme cincia ou lo-
soa moral enquanto ndice de um saber funda-
mentado, capaz de se validar metodologicamente.
Ocorre que onde um deles v virtude, o outro v v-
cios, quando se refere a denir o que justo. Para o
primeiro, o poltico no est isento da episteme, que
lhe confere validade. Para o segundo, a cincia no
est isenta do conito, no podendo, portanto, de-
nir de modo neutro os valores pblicos.
Destaco uma diferenciao entre esses dois
pensadores, caracterizando a losoa poltica de
Condorcet como liberalismo ilustrado e a de Rawls
como liberalismo poltico. A ilustrao a concep-
o iluminista da racionalidade expressa na cincia e
na tcnica, alcunhada de razo instrumental. O po-
ltico, em Rawls, como veremos, a perspectiva p-
blica, com valores prprios, distinguindo-a dos
pontos de vista particulares. Discutirei a constitui-
o da razo pblica a partir dos conceitos de ilustra-
o e de poltico. Em Condorcet, o poltico deve
ser implicado pelo racional. Em Rawls, o racional deve
ser implicado pelo poltico. Para o primeiro pensador,
a articulao se d conforme o racional (episteme); para
o segundo, conforme o razovel (moral).
O PBLICO E A JUSTIA LIBERAL
EM CONDORCET E RAWLS
As leis e instituies sociais remetem ao p-
blico, ao mbito em que as decises adquirem car-
ter poltico. O conceito de poltico diz respeito a um
amplo aspecto, que vai desde a concepo e institu-
cionalizao das funes pblicas at as vrias for-
mas do exerccio delas. O poltico pode ser tambm
oposto ao analtico, no sentido de que este se refere
ao processo de tomada de deciso pblica pautada
em critrios cientcos, tcnicos e administrativos,
ao passo que aquele diz respeito interao entre in-
divduos e grupos, foras no racionalizveis, no
analticas, na formulao da deciso pblica.
3
Em Condorcet, o poltico, no sentido los-
co do termo, tomado como o objeto da investi-
gao dos efeitos que as constituies, as leis, as
instituies pblicas podem ter sobre a liberdade
dos povos, sobre a propriedade, a fora dos Estados,
sobre a conservao da independncia deles, da for-
ma dos governos.
4
Para Rawls, a especicidade do
poltico lhe confere atributos prprios, no sentido
de demarcar um espao que, embora se enraze na
vida privada e suas diversas manifestaes, distin-
gue-se dela pela forma de identicar e diferenciar-se
das vrias idiossincrasias. Condorcet fala tambm da
natureza dos poderes polticos para se referir
constituio do pblico, do espao em que se pro-
duzem os fenmenos polticos. Esses fenmenos
so oriundos da necessidade de se estabelecer regras
comuns. O poder poltico apresenta-se como algo
estranho ao privado. O poder uma fora que
age sobre as aes dos indivduos, independente-
mente da vontade deles, da razo deles. Contudo,
a legitimidade est, paradoxalmente, na conformi-
dade dessa independncia do poltico com a racio-
nalidade individual (clculo individual e prudncia).
Ao passo que, para Rawls, a legitimidade do pblico
se d pela capacidade do poltico de articular as di-
versas perspectivas privadas, sem neg-las, produ-
zindo assim um prisma comum. Para esse lsofo,
a vontade poltica legitima-se pela razo pblica
(public reason). Em Condorcet, a legitimidade se d
por um clculo, pelo qual uma razo comum (rai-
son collective/commune) estabelecida, de modo a
tornar-se espao prprio de formao da vontade
poltica. em torno da caracterizao da razo po-
ltica (pblica, comum) que confronto esses dois
pensadores.
Ambos propem uma concepo da esfera
pblica liberal que visa a solucionar a questo da jus-
tia, ou, mais apropriadamente, estabelecer critrios
para se avaliar as decises no mbito poltico, capa-
zes de dar legitimidade s escolhas coletivas. O con-
fronto entre esses dois autores revela um aspecto da
mudana de justicao do poder pblico na socie-
dade liberal: a passagem da neutralidade dada pela
universalidade racional para a neutralidade baseada
3
A respeito dessa distino, cf. LINDBLOM, 1987.
4
CONDORCET, 1988, p. 200.
p g y p
12 i mpulso n 29
no consenso moral contextualizado, garantida pelas
regras da razo prtica. Entendo aqui a sociedade li-
beral por aquela calcada no princpio jurdico da li-
berdade. Assim, a liberdade tomada como priori-
tria no ordenamento da coletividade diante dos de-
mais aspectos da vida social, como a igualdade, a
propriedade, a segurana. Em Condorcet, a liberda-
de, a segurana e a igualdade formam a base dos di-
reitos fundamentais. A relao entre pessoa e proprie-
dade passa pelo equacionamento da liberdade, da se-
gurana e da igualdade, formando um emaranhado
jurdico: a segurana da pessoa vincula-se seguran-
a da propriedade, da mesma forma que a liberdade
da pessoa refere-se liberdade da propriedade.
A igualdade formal, jurdica, diz respeito ao
no-privilgio de qualquer natureza como base da
eqidade.
5
A eliminao da desigualdade de riqueza,
de condio de segurana social e de instruo
6
re-
fere-se diminuio da desigualdade de fato dada
pela diferena entre os direitos reconhecidos pela lei
e os direitos realmente usufrudos. J uma desigual-
dade de fato de propriedade e de acesso informa-
o no seria inqua, desde que no gerasse depen-
dncia e subordinao,
7
resguardando o atributo b-
sico da pessoa, que seria a liberdade. Do ponto de
vista poltico, toda desigualdade de propriedade ins-
tituda deve ser consentida pelos que esto na pior
posio,
8
ao mesmo tempo em que deve promover
o progresso.
9
O progresso poltico se mede pela ca-
pacidade de certa mudana ampliar a liberdade, su-
primir todo tipo de tirania e opresso.
Para Rawls, a liberdade (liberty principle) apre-
senta-se como prioritria, conforme uma ordem le-
xical. As desigualdades econmicas e sociais (diffe-
rence principle) s devem receber qualquer equacio-
namento depois de respeitado o princpio da liber-
dade, embora todo semelhante ajuste deva tambm
resguardar o princpio da eqidade.
10
em torno do
conceito de liberdade que se articulam as concep-
es de justia inerente s regras do sistema econ-
mico, legislativo e administrativo.
A liberdade (pblica) de escolher as regras
que limitam a liberdade dos indivduos (privada)
deve ser constituda de modo a tornar o menos con-
traditrio possvel o princpio da liberdade de impor
a si mesmo constrangimentos. Em torno dessa ar-
ticulao da liberdade dos antigos e dos modernos,
apresento o conceito de poltico nos dois autores em
questo.
Condorcet e Rawls visam a uma esfera pbli-
ca capaz de maximizar a liberdade igual. O acesso
eqitativo propriedade deve ser discutido em rela-
o a tal maximizao. Contudo, para ambos, no se
trata de maximizar o acesso aos bens, utilidade e
felicidade. Tal maximizao no da competncia
da esfera pblica, mas deve ser uma resultante da li-
vre interao econmica entre os indivduos. Nesse
sentido, eles concebem uma sociedade aberta, em
que o poltico no deve interferir no resultado ma-
terial do jogo social, mas apenas na regulamentao
formal de suas regras. Em tal liberalismo, a justia
enquanto eqidade (igualdade de oportunidades)
modula o equilbrio das liberdades, e no propria-
mente a distribuio da propriedade.
Ambos os autores objetivam continuar, ele-
vando em um nvel mais alto, a teoria tradicional
do pacto social. Condorcet continua a seu modo
essa empreita, ao passo que Rawls o faz partindo de
5
Idem, 1968, p. 181ss.
6
Idem, 1988, p. 272.
7
Aquele que no sabe escrever e ignora a aritmtica depende realmente
do homem mais instrudo, a quem ele sem cessar obrigado a recorrer. (...)
Aquele que no instrudo nas leis bsicas que regem o direito de proprie-
dade no goza desse direito da mesma maneira daquele que os conhece.
Nas discusses que se levantam entre eles, no combatem com armas
iguais (...) o homem que foi instrudo dos fundamentos das leis civis no
est na dependncia do mais esclarecido jurisconsulto, do qual os conheci-
mentos no podem seno o ajudar e no o dominar (asservir) (idem,
1968, p. 171).
8
No texto Essai sur la Constituition des Assembles, Condorcet
arma que, se nenhuma autoridade necessria para deixar os homens na
liberdade natural, seria, porm, necessrio uma para estabelecer uma in-
galit que nest pas legitime quautant quelle est ncessaire au bien-tre des
individus placs au dernier rang, et consenti par eux-mmes (idem, 1986,
pp. 363-364).
9
Para Condorcet, trata-se de eliminar as desigualdades injustas originadas
da imperfeio da arte social (poltica), substituindo-as por uma inga-
lit utile lintrt de tous, parce quelle favorisera les progrs de la civilisation,
de linstruction et de lindustrie, sans entrainer, ni dependence, ni humiliation,
ni appauvrissement (idem, 1988, p. 266).
10
1) Todas as pessoas tm igual direito a um projeto inteiramente satisfa-
trio de direitos e liberdades bsicas iguais para todos, projeto compatvel
com todos os demais; e nesse projeto, as liberdades polticas, e somente
estas, devero ter seu valor eqitativo garantido; 2) as desigualdades sociais
e econmicas devem satisfazer dois requisitos: primeiro, devem estar vin-
culadas a posies e cargos abertos a todos, em condio de igualdade
eqitativa de oportunidades; devem apresentar o maior benefcio possvel
aos membros menos privilegiados da sociedade (RAWLS, 2000, pp. 47-
48).
p g y p
i mpulso n 29 13
Kant. Ao resgatar o conceito de razo prtica, o au-
tor americano prope um sistema baseado na mo-
dalidade razovel da razo. Seu pensamento aban-
dona o racionalismo universalista e assume cada vez
mais a razoabilidade da razo prtica e o construti-
vismo moral. Por seu lado, Condorcet, afastando-se
do dogmatismo, em virtude do seu contato com a
losoa ctica, prope uma soluo para o proble-
ma da deciso pblica democrtica, que, desde
Rousseau, se encontrava envolta em paradoxos po-
lticos. O marqus no admitiu nenhuma possibili-
dade de se ter certeza absoluta das deliberaes co-
letivas, campo em que reinaria apenas o saber pro-
vvel.
11
Embora o pensamento de Condorcet possa
ainda ser compreendido no contexto losco da
siocracia, expresso cartesiana da poltica, ele no
admite que a evidncia tenha as respostas para as de-
cises pblicas mais fundamentais. O padro ou
ideal capaz de regular as decises pblicas, ainda que
seja dado pela natureza e pela razo do ser humano,
no imediatamente acessvel a uma conscincia
moral. No obstante o homem sendo sensvel e ca-
paz de formar raciocnios e adquirir idias morais,
12
ele no possuiria uma faculdade moral ou habilida-
des inatas para estabelecer normas generalizveis,
isto , uma modalidade prtica da razo. Da a ne-
cessidade de uma instruo especial que o capacite a
decidir moral e politicamente, ou seja, a respeitar os
demais seres sensveis, a defender seus prprios in-
teresses e direitos, enm, a agir conforme a razo.
Apesar de ser um dos primeiros pensadores a apon-
tar o paradoxo inerente ao clculo matemtico da
agregao de votos,
13
Condorcet no negou a pos-
sibilidade da democracia, buscando dar-lhe uma for-
mulao capaz de conciliar, ao mximo possvel, o
princpio da soberania popular e a racionalidade das
decises pblicas.
Os utilitaristas sempre desejaram buscar um
fundamento ltimo para a deciso pblica, capaz de
ser imposto para eliminar as disputas e conitos. O
que caracteriza a losoa dos dois autores em ques-
to a negao da possibilidade de se dar semelhan-
te justicao escolha coletiva. Contudo, ambos
evitam cair em um niilismo, ou seja, na negao de
um ndice coletivamente admissvel, sem car, con-
tudo, apenas num modus vivendi ou equilbrio pre-
crio de foras, baseado em negociaes provisrias
e instveis. Para Condorcet, a questo est em saber
qual o ndice de erro que a sociedade estaria disposta
a aceitar no que se refere s decises pblicas, pro-
blema inerente forma das deliberaes coletivas
(constituio das assemblias/racionalizao das
eleies) e instruo pblica (acesso ao saber cien-
tco ou verdade poltica por parte dos cidados).
Para Rawls, o problema diz respeito produo do
consenso sobreposto, isto , at que ponto poder-
se-ia integrar as perceptivas consideradas razo-
veis dos diversos grupos sociais, ou guardar a uni-
dade da pluralidade. Trata-se do problema da deli-
mitao das concepes razoveis (raisonable com-
prehensive doctrines), da tolerncia e do critrio de
incluso de pontos de vista.
A RAZO COMUM EM CONDORCET
Os princpios constituintes do poltico em
Condorcet so a razo, a tolerncia e a humanida-
de.
14
A razo deve ser a base objetiva de todas as es-
colhas. Esse critrio supe que as provas da lei no
mudam de uma hora para outra
15
(objetividade). As
leis tambm so objetivas, no sentido de no arbitr-
rias, pois operam como leis de um jogo.
16
Contu-
do, enquanto regras comuns, as leis devem basear-se
na vontade daqueles que sero obrigados a obedec-
las. Ainda que o carter epistmico delas exija uma
anlise rigorosa para a sua proposio pelo legisla-
dor, elas s se legitimam com o assentimento dos
indivduos a quem se aplicaro, conforme o critrio
11
As verdades absolutas, aquelas que subsistem independentemente de
toda medida, de todo clculo, so freqentemente inaplicveis e vagas para
as coisas susceptveis de serem medidas ou de receber numerosas combina-
es; elas no ultrapassam os primeiros princpios e tornam-se insucientes
desde os primeiros passos (CONDORCET, 1986, p. 599).
12
Ibid., p. 217.
13
Na lgica ordinria, o resultado de uma seqncia de proposies se
forma pelo julgamento de um s; mais naquela de uma assemblia delibe-
rante, ele formado pela opinio da maioria que no sempre composta
por indivduos iguais; e ainda que cada um tenha raciocinado justamente, o
resultado de suas opinies combinadas poderia conter uma contradio
evidente (idem, 1968, p. 562).
14
Idem, 1988, p. 227.
15
Idem, 1968, p. 4.
16
As regras que parecem arbitrrias so fundadas quase todas sobre
razes que os jogadores sentem vagamente, das quais os matemticos,
acostumados ao clculo das probabilidades, poderiam dar conta (ibid., p.
498).
p g y p
14 i mpulso n 29
do voto majoritrio. Esse processo se inicia com a
escolha dos que preencheram a funo legislativa,
supondo tambm o referendum e mesmo a contra-
partida da iniciativa individual. Um cidado pode de-
mandar a sua assemblia primria a reviso de uma lei.
Ao receber o apoio de sua assemblia primria, sua
demanda seria submetida s demais assemblias pri-
mrias distribudas pelo territrio nacional. Caso a
maioria delas aprove sua proposio, seriam convoca-
das as assemblias departamentais. Aprovada pela
maioria nesse nvel, o pedido de reviso passaria para
a assemblia legislativa nacional. Se essa assemblia
no aprovar a demanda, todas as assemblias prim-
rias seriam convocadas. Na hiptese de essas assem-
blias se pronunciarem a favor da demanda, a assem-
blia nacional deveria ser dissolvida e renovada. A cir-
culao da proposio nos diversos nveis possibilita-
ria garantir uma debate nacional regrado, como
processo de formao da vontade poltica.
Somente o indivduo pode avaliar se determi-
nado comando coletivo fere ou no os seus direitos
naturais. Distingue-se, portanto, trs nveis: o analti-
co, o majoritrio e o singular. O erro ou a injustia
pode ocorrer nos trs. Por isso, ningum detentor
da razo comum. Assim, somente a colegiabilidade,
ou o envolvimento formal (nas assemblias), infor-
mal (instruo pblica, imprensa) e contnuo (reviso
peridica da constituio) de toda a coletividade na
discusso e anlise das leis pode denir o que justo.
Contudo, nada pode ser decidido em denitivo.
O meio de evitar as insurreies , portanto,
dominar a vontade do povo pela razo, de
for-lo, esclarecendo-o, no a se dobrar dian-
te da lei, mas de querer manter-se submisso a
ela. O meio de evitar as insurreies , por-
tanto, organizar reclamaes regulares, irre-
sistveis (...), que forcem a soberania nacio-
nal a pronunciar sua opinio. O meio de
prevenir as revolues dar aos cidados a
facilidade de as fazerem de modo legal e pa-
cco. (...) Enm, os cidados no sero
mais expostos a se enganar sobre a vontade
geral, a confundi-la com os caprichos dos
homens que os cercam, se eles tm um
meio seguro de interrog-la e conhec-la.
17
A racionalidade da razo comum um reexo
da racionalidade individual, que se expressa, de
modo colegiado, nos mais diversos nveis de articu-
lao das assemblias. Na razo comum funda-se a
tolerncia, que faculta a todos expor suas razes. A
intolerncia se refere a qualquer tipo de discrimina-
o, censitria, de gnero ou de credo religioso. So
os princpios racionais, cientcos, e no a supersti-
o, a ignorncia e os preconceitos, que devem de-
nir os critrios de expresso da coletividade e da
instruo pblica. A tolerncia s pode ocorrer
quando a razo for o nico princpio orientador da
vida poltica, pois s esta expressa a universalidade
do gnero humano. As diferenas de concepes
culturais, religiosas e morais tendem a ser suprimi-
das, medida que a razo avana com o progresso
da instruo pblica. Como condio prvia da to-
lerncia est a ampliao do espao pblico nacional
para abranger toda a humanidade. Um dos princi-
pais critrios da justia poltica est na universaliza-
o das suas conseqncias. O objetivo da justia
eliminar toda forma de opresso em todos os cantos
da Terra. A razo, sendo nica e igual em todo ser
humano, torna esse ideal no s realizvel, mas um
dever dos amigos da humanidade e da justia.
No texto De la nature des pouvoirs politi-
ques dans une nation libre (1792), Condorcet ana-
lisa a instituio do poltico. Esse campo pblico
vincula-se diviso dos homens entre dominantes e
dominados, no sentido de governantes e governa-
dos. O poder funda-se no hbito de obedecer. Os
homens tm adquirido de tal modo o hbito de
obedecer outros homens, que a liberdade , para a
maioria deles, o direito de no se submeter seno a
senhores escolhidos por eles mesmos.
18
Essa meia liberdade congura inicialmente o
poltico. No sendo inteira, utua ainda entre as
tendncias de se lhe dar nouvelles chanes e de
briser celles qui lui restent. O poltico, enquanto
poder pblico conforme a razo e a natureza, seria
aquele programado para se extinguir, e no para se
manter.
19
Ele surge com o estabelecimento de
obrigaes sociais. Essas obrigaes instauram a
17
Ibid., p. 612.
18
Ibid., p. 590.
19
Ibid., p. 607.
p g y p
i mpulso n 29 15
razo pblica: a necessidade e a obrigao de obe-
decer, nas aes que devem seguir uma regra co-
mum, no sua prpria razo, mas a razo coletiva da
maioria.
20
Contudo, a razo comum no pode ser
uma imposio arbitrria da vontade da maioria so-
bre a minoria. Trata-se de submeter sa raison et
non sa volont.
21
Essa distino funda-se no su-
posto de que uma coleo de homens pode e deve,
tal como um indivduo, distinguir o que ela quer, o
que ela acha razovel e justo.
22
Entretanto, a cole-
tividade pode errar, no s pelos vcios da forma de
eleio, da composio das maiorias, mas, sobretu-
do, por conta do baixo nvel de instruo dos vo-
tantes. E o fato de a razo comum poder errar no
a isenta de legitimidade, mas lhe impe a condio
de dever ser provisria. A submisso a ela no in-
condicional. Como Condorcet diz em outro texto,
il faut quen aimant les lois, on sache les juger.
23
A lei
necessria, mas deve ser revista constantemente.
A origem da razo comum encontra-se no
clculo individual. Diante da necessidade de se se-
guir, em certas situaes, uma regra qual as aes
dos outros devero tambm se submeter, o indiv-
duo, instituindo o campo do poltico, raciocina da
seguinte maneira:
Eu no posso exigir que essa regra seja con-
forme a minha razo, j que, ento, ela po-
deria ser contrria razo de outro, a qual eu
no tenho nenhum direito de submeter
minha. (...) Devo, portanto, conforme a mi-
nha razo mesmo, procurar um sinal (carac-
tre) independente dela, ao qual devo ligar a
obrigao de me submeter; e esse sinal eu
encontro no voto da maioria.
24
A regra comum resulta de um saber coletivo,
expresso no voto majoritrio. Ela no emana de
vontades isoladas. Contudo, cada indivduo a con-
sente como a conseqncia do ato de se renunciar
prpria razo individual como critrio absoluto para
se escolher normas coletivas. Ao admitir o critrio
do voto majoritrio, passa-se a participar de uma
forma colegiada de racionalidade. Entretanto, acei-
tar a razo comum no signica renegar a prpria
razo, mas agir conforme a ela mesma, que apenas
estaria admitindo um critrio independente dela
para se denir as regras comuns. A racionalidade do
critrio independente para se estabelecer a regra co-
letiva est na forma pela qual produzida. Ainda
que semelhante regra no esteja em conformidade
com a razo de alguns indivduos, sua genuinidade
garantida pelo mtodo que daria os parmetros para
se escolher coletivamente de acordo com a verda-
de mais provvel. A verdade signica a real
conformidade com a vontade da maioria. A questo
passa a ser a de regulamentar a razo comum, de
modo que as regras de agregao das vontades par-
ticulares no inviabilizem a expresso da genuna
voz coletiva. Conforme a teoria condorcetiana do
motivo de crer, a manifestao da opinio majo-
ritria tem carter epistmico, pois susceptvel de
ser controlada sua probabilidade de estar confor-
me vontade da maioria pode ser calculada. Sendo
assim, a nica forma de se contestar a razo comum
seria provando que ela estaria ferindo algum direito
natural de um dos membros da coletividade. Mas,
com isso, somente comea uma nova fase da razo
comum. Ela passa a ser articulada no mais apenas
conforme s diversas formas e nveis de assemblias.
A sua verdade resultaria da discusso nos mais va-
riados setores da expresso da soberania nacional.
Aparecem, ento, novos ltros da razo comum: a
imprensa, a instruo pblica, a academia.
A razo comum no se exerce imediatamen-
te, mas de forma escalonada. Trata-se da instituio
do corpo legislativo. A funo legislativa no seria
um poder delegado: a maioria no pode dar o
que ela no possui.
25
A conana nos funcionrios
pblicos existe somente quando eles so freqente-
mente renovados e quando a escolha deles for uma
atividade dos cidados. A vontade geral (poltica)
no pode ser interpretada, nem, muito menos, mo-
nopolizada por ningum. Cada um deve perceb-la
como sua prpria obra.
26
Seria absurdo conceder ao
legislativo, ainda que escolhido democraticamente,
20
Ibid., pp. 589-590.
21
Ibid., p. 590.
22
Ibid.
23
Ibid., p. 477.
24
Ibid., p. 591.
25
Ibid., p. 592.
26
Ibid., p. 602.
p g y p
16 i mpulso n 29
o poder de dizer voil ce que la majorit de la nation
croit raisonnable.
27
Os legisladores devem se limitar
a declarar quais regras comuns, entre as regras que a
maioria reconhece conforme seus direitos, so as
que mais esto de acordo com a razo.
28
O Legis-
lativo institudo em virtude da diculdade tcnica
de combinar as leis adotadas textualmente, de modo
a se conformarem com o direito natural de cada in-
divduo. Trata-se, por exemplo, de evitar as contra-
dies entre a liberdade, a igualdade, a segurana e a
propriedade.
A criao do corpo legislativo permite a ree-
xo da razo comum. Quando essa estabelecida
diretamente, no resta outro recurso a quem discor-
dar dela seno o de se submeter, apenas para manter
o pacto social ou a dissoluo dele. Mas quando a
discordncia se d em relao a uma declarao do
legislador, restar o recurso de consultar imediata-
mente o voto da maioria, e somente a impossibili-
dade desse meio pode determinar o abandono do
pacto.
29
O controle da razo comum, em sua ex-
presso no corpo dos magistrados, no deve ser fei-
to por um outro corpo especial. Isso complicaria a
tirania, ao invs de a destruir.
30
A razo pblica, no
sendo monoplio de ningum, deve ser controlada
por todos. O papel da imprensa, assim como o da
instruo pblica so primordiais para a ampliao
da razo comum, tornando-a efetivamente patri-
mnio coletivo: depois do amplo acesso imprensa,
nenhum atentado aos direitos poderia car desper-
cebido e impune.
31
A razo comum racional e
progride conforme o avano do esprito humano
(cincia/tcnica/losoa). Alm do mais, s se efe-
tiva medida que certas verdades se expandem: nas
cincias polticas existe uma ordem de verdades, so-
bretudo entre os povos livres, que s so teis quan-
do geralmente conhecidas e aprovadas.
32
No liberalismo ilustrado de Condorcet, a es-
tabilidade social se d pelo reconhecimento da ins-
tabilidade e pela viabilizao de um processo de re-
arranjo democrtico, em que a busca da justia das
estruturas bsicas contnua, uma vez que a socie-
dade concebida como perfectvel. A perfectibilida-
de das leis no se refere apenas ao fato de a vontade
poltica errar, mas tambm por faz-lo em decorrn-
cia da necessidade de reajustar os princpios, que,
embora em determinado momento pudessem ser
tomados como justos, tornar-se-iam inadequados
em conseqncia da sua aplicao. Nenhuma gera-
o poderia legislar para outra. Esse desequilbrio
faz parte da natureza das coisas. Dele decorre a per-
fectibilidade do esprito humano:
Como no existe nenhuma entre elas [ver-
dades] que no fornea um meio de se ele-
var a uma outra; como cada passo, ao nos
lanar diante de obstculos mais difceis a
vencer, nos comunica ao mesmo tempo
uma nova fora, impossvel de assinalar al-
gum termo a tal aperfeioamento.
33
O POLTICO E A RAZO
PBLICA EM RAWLS
A razo pblica em Rawls exprime-se com
base nas noes de sociedade bem ordenada (well-
ordered society), posio original (original position),
vu da ignorncia (veil of ignorance), convices pon-
deradas (considered julgments), consenso sobreposto
(overlapping consensus), entre outras idias funda-
mentais do liberalismo poltico (political liberalism).
Aps a obra Uma Teoria da Justia, Rawls discute
menos os princpios da justia (da liberdade e da di-
ferena), concentrando-se mais na concepo de
um processo de escolha coletiva, capaz de denir
princpios de convivncia para uma sociedade libe-
ral. Como horizonte unicador de seu pensamento
est a articulao de um processo de escolha coleti-
va, ao qual se compatibilizariam seus princpios de
justia.
Inicialmente, na obra Teoria da Justia, o au-
tor prope princpios de justia capazes de funda-
mentar uma sociedade bem ordenada, possibilitando
uma harmonia razovel entre seus membros e, com
isso, sua estabilidade. Trata-se de uma sociedade
composta por pessoas racionais, morais, livres e
27
Ibid., p. 592.
28
Ibid., pp. 594-595.
29
Ibid., p. 593.
30
Ibid., p. 606.
31
Ibid.
32
Idem, 1988, p. 290.
33
Idem, 1968, p. 178.
p g y p
i mpulso n 29 17
iguais. Esses princpios seriam mutuamente reco-
nhecidos. O racional (the rational) refere-se con-
cepo de bem ou s prioridades do indivduo em
sua vida privada. O bem seria tudo aquilo racional
de se supor que um indivduo desejaria.
34
O racional
exprime a concepo que cada participante tem de
sua vantagem e que tenta, enquanto indivduo, con-
cretizar. A moralidade remete concepo do justo.
Ambos vinculam-se ao razovel (the reasonable), re-
ferindo-se capacidade de propor e aceitar acordos
eqitativos. O razovel prioritrio, pois condicio-
na o racional na medida em que diz respeito s limi-
taes impostas busca do bem. Alm do mais, o
bem est sujeito a preferncias, mas no o justo. A
unidade da razo prtica ocorre com o envolvimen-
to e o condicionamento do racional pelo razovel.
Os indivduos so livres para escolher seu bem pr-
prio e revis-lo, assim como para optar por determi-
nada concepo moral, religiosa e losca. Eles
so iguais, porque todas as pessoas seriam portado-
ras dessas caractersticas fundamentais.
O campo do poltico diz respeito s possibi-
lidades de se construir uma perspectiva ou ponto de
vista comum (a freestanding view), capaz de estabe-
lecer uma concepo publicamente reconhecida de
justia, com base na qual as reivindicaes dos cida-
dos possam ser avaliadas. Contudo, no se trata de
uma precedncia do indivduo sobre a sociedade. A
sociedade poltica fechada, no se podendo entrar
ou sair dela voluntariamente. Por ser uma relao de
pessoas, no interior do quadro de uma estrutura b-
sica, composta por instituies bsicas, a sociedade
torna-se uma realidade na qual ingressamos por
nascimento e da qual s samos por nossa morte.
35
A legitimidade do poder poltico coercitivo de al-
guns cidados sobre os outros est na possibilidade
do consenso baseado na pluralidade de perspectivas,
muitas vezes contrrias e opostas. Contudo, os va-
lores articuladores de tal consenso no podem ser
concebidos como dados intuitivamente, nem existir
objetivamente, aguardando uma descoberta racio-
nal. Devem ser produtos de um processo constru-
tivista de escolha.
O construtivismo (construtivism) a princi-
pal marca kantiana da losoa poltica de Rawls.
Uma determinada concepo moral s pode delimi-
tar uma orientao muito geral, que depende de
nossas faculdades de reexo e julgamento. Contu-
do, essas faculdades no so xadas de uma vez por
todas, mas se desenvolvem no quadro de uma cul-
tura pblica comum que as forma.
36
Os princpios
da justia dependem das crenas comuns a certa cul-
tura poltica sobre a natureza humana e o funciona-
mento da sociedade. Eles no so vlidos para todos
os mundos possveis, pois so produtos de acordos
(razoabilidade) e, portanto, restritos a uma socieda-
de determinada. Contudo, eles no seriam histori-
cistas e relativistas: aplicados na elaborao de uma
concepo de justia mundial, tais princpios permi-
tiriam julgar as diferentes sociedades e suas polti-
cas de ao social. Eles so universais enquanto
susceptveis de serem aplicados no mbito mundial.
Essa universalidade se d na medida em que se po-
deria pensar em uma posio original de nvel mais
alto: comeamos por sociedades (fechadas) e esta-
belecemos uma sociedade internacional de estados
(...) outros podem querer comear por uma posio
original, na qual os parceiros so considerados re-
presentantes de cidados da sociedade mundial.
37
Essa universalidade no signica a unidade do gne-
ro humano, mas a possibilidade de uma perspectiva
comum da manifestao de sua pluralidade.
Como princpio regulador da razo prtica
est a idia de justia como eqidade (justice as fair-
ness). Os termos eqitativos da cooperao so ter-
mos com base nos quais desejamos, como pessoas
iguais, cooperar de boa-f com todos os membros
durante toda a nossa vida, fundamentado no respei-
to mtuo. Os termos seriam reconhecidos por to-
34
Rawls admite cinco categorias de bens primrios bsicos: 1. liberdades
bsicas de pensamento, conscincia: condio para o desenvolvimento e
exerccio das faculdades morais e para proteger uma gama extensa de con-
cepes de bens; 2. liberdade de movimento e livre escolha: para escolher e
revisar ns ltimos; 3. poderes e prerrogativas das funes e dos postos de
responsabilidades: permitem desenvolver as diversas capacidades autno-
mas e sociais do eu; 4. renda e riqueza: meios polivalentes para concretizar
direta ou indiretamente uma gama extensa de ns, sejam quais forem; 5.
bases sociais de respeito prprio, auto-estima: conscincia do prprio
valor, enquanto pessoa, para que seja capaz de desenvolver e exercer suas
faculdades morais e de fazer avanar suas metas e ns com conana em si
prpria. Cf. RAWLS, 2000b, pp. 62-63.
35
Ibid., p. 349.
36
Ibid., p. 121.
37
RAWLS, 2000 b, p. 366.
p g y p
18 i mpulso n 29
dos, sem ressentimento nem humilhao. De acor-
do com a justia como eqidade sero estipulados
os princpios que ordenaram a estrutura bsica da
sociedade (the basic struture of society).
A conceito de pessoa (moral person) apresen-
ta-se como orientador da elaborao dos princpios,
uma vez que eles no esto dados. Pessoa expressa a
capacidade de ser membro integral da cooperao
social, de respeitar compromissos e relaes durante
toda a vida. Trata-se de uma unidade bsica da ao
e da responsabilidade na vida social, bem como das
capacidades intelectuais, morais e ativas que lhe cor-
respondem. Refere-se tambm capacidade de se
conceber um bem (ser racional) e o justo (capacida-
de de propor respeitar termos eqitativos de coope-
rao, de ser razovel).
*
Posio original
38
o conceito central em Uma
Teoria da Justia, de Rawls. Partindo dele podemos
compreender a relao entre racional e razovel,
bem e justo. A posio original denida como um
espao hipottico de negociao em que os cidados
representativos negociariam os princpios de justia
para a sociedade em que iriam viver. Ela concebida
de tal modo que qualquer consenso atingido seria
justo. um estado no qual as partes seriam repre-
sentadas como igualmente dignas e o resultado no
seria condicionado por contingncias arbitrrias ou
pelo mero equilbrio relativo e instvel de foras so-
ciais. Para garantir essas condies do consenso, Ra-
wls prope tambm o conceito de vu da ignorn-
cia.
39
Ele seria um dispositivo imaginrio, limitador
da informao. pensando com base na concepo
dos indivduos, na ocasio do contrato original hi-
pottico, como pessoas morais, e no como bene-
ciadas ou no pelas contingncias de sua posio so-
cial, pela distribuio das aptides naturais e pelos
acidentes da histria durante o desenrolar da vida.
O vu da ignorncia no permitiria ao indivduo co-
nhecer sua real situao na sociedade para a qual ele
estaria denindo princpios de justia. Embora os
parceiros na posio original sejam concebidos
como racionais,
40
o liberalismo poltico de Rawls
funda-se no razovel. A racionalidade nada mais
do que um recurso para promover o senso de eqi-
dade,
41
supondo-se que o medo, ou uma suposta
averso ao risco, levaria os parceiros a admitir a re-
levncia da hiptese de estarem na pior posio so-
cial, o que os conduziria, por prudncia, a garantir
um mnimo de benefcios ligados a semelhante si-
tuao.
O razovel so os cerceamentos aos quais es-
to submetidas as deliberaes dos parceiros, dos
agentes racionais de um processo de construo. Os
princpios seriam expresso do razovel ou justo
para a estrutura bsica da sociedade, com base nos
quais seriam julgadas as instituies e leis sociais.
Essa denio de justia no se funda no conheci-
mento e na informao. A relao entre a liberdade
de escolher e a informao inversa. Quanto maior
liberdade de escolher o que quer que seja para regu-
lamentar a estrutura mais bsica da sociedade, me-
nos informao devem ter os negociadores. Quan-
do mais informao (e interesses especcos) estiver
em jogo, menos liberdade deve se conceber para de-
cidir sobre os princpios da estrutura bsica. Em
cada etapa decisria, o racional est condicionado
pelo razovel de modo diferente:
Os parceiros na posio original so indiv-
duos representativos racionalmente autno-
mos, limitados pelos cerceamentos razoveis
que comportam a posio original, e sua ta-
refa consiste em adotar princpios de justia
que se apliquem estrutura bsica. Os dele-
gados de uma assemblia constituinte tm
menos margem de liberdade, uma vez que
devem aplicar, quando da escolha de uma
constituio, os princpios de justia que fo-
ram adotados na posio original. Os legis-
ladores tm menos liberdade, pois as leis
que devem promulgar, quaisquer que sejam
elas, devem estar de acordo, ao mesmo tem-
po, com a constituio e com os dois prin-
cpios da justia.
42
O razovel possibilita a produo do consenso
sobreposto
43
ou a concepo de um ponto de vista
38
Idem, 2000a, p. 127ss; 2000b, p. 56ss; e 2000c, p. 65ss.
39
Idem, 2000a, p. 146ss; 2000b, p. 67ss; e 2000c, p. 66ss.
40
Idem, 2000b, p. 54.
41
Ibid., p. 60.
42
Ibid., p. 194.
43
Ibid., p. 179ss.
p g y p
i mpulso n 29 19
comum a respeito do poltico. Numa sociedade li-
vre, garantida por um regime constitucional, o exer-
ccio da racionalidade produziria uma sociedade
plural, marcada pela heterogeneidade de valores,
crenas, doutrinas loscas e concepes de mun-
do e de bens individuais. Trata-se das concepes
abrangentes ou iderios que se dizem vlidos para to-
dos os setores da vida humana, capazes de abarcar a
moral, a economia, a arte, a religio etc. Com isso,
surge o problema de estabelecer uma perspectiva
comum a essa diversidade, uma vez que nenhuma
doutrina especca poderia ser consensual, confor-
me o fato do pluralismo (the fact of pluralism). O
que Rawls tenta evitar que uma das concepes
abrangentes se imponha como a nica perspectiva
pblica, fundada no apoio do Estado (fato da fora),
de modo a reprimir a livre expresso das demais
concepes. O fato do pluralismo deve prevalecer
perante o fato da fora, pois somente ele poderia as-
segurar, a despeito de divises profundas, e graas
ao reconhecimento pblico de uma concepo po-
ltica razovel de justia, a estabilidade e a unidade
sociais.
44
O consenso sobreposto deve permitir um
entendimento permanente, e no provisrio. Trata-
se, contudo, de um consenso baseado em fatores
morais, e no no ceticismo ou indiferena. O en-
dosso da mesma concepo poltica no supe ne-
nhuma recusa de valores morais, religiosos ou con-
cepes de mundos.
45
Destacam-se, com isso, os
valores propriamente polticos, como a cooperao,
a reciprocidade e a tolerncia.
A losoa poltica proposta por Rawls no se
afasta da sociedade e do mundo, uma vez que no
pretende descobrir o que a verdade com seus
prprios mtodos distintivos de raciocnio, apartada
de toda e qualquer tradio de prtica e pensamento
polticos.
46
As convices reetidas ou ponderadas
no so imposies dos princpios lgicos: valores,
princpios e normas so formulados e organizados
de maneira a ser livremente reconhecidos como
aqueles que realmente aceitamos ou devemos acei-
tar.
47
No processo de reexo e ponderao, as
concepes abstratas e os juzos particulares devem
ser complementados e ajustados, formando uma vi-
so coerente.
48
Assim, os princpios gerais da lo-
soa no vo se impondo e eliminando o emaranha-
do da tradio (valores, concepes de mundo,
doutrinas religiosas e polticas), de modo a se esta-
belecerem como verdades gerais que devem justi-
car o uso da fora pblica contra determinados gru-
pos, ou impor certas idias consideradas superiores
por estarem anadas com a cincia. Esse apenas
um critrio entre outros, reconhecido apenas den-
tro de uma perspectiva pblica consensual, e no
como seu fundador ou guia exclusivo. As verdades
cientcas fazem parte da cultura poltica, de modo
que a razo pblica no um instrumental ou tc-
nica de adequar sistematicamente meios a ns. A ra-
zoabilidade do consenso justaposto, a base da de-
nio do saber poltico, uma viso pluralista, no
sendo, portanto, sistemtica e fechada.
49
Seu pro-
blema no denir a verdade: embora as pessoas
possam reconhecer as vises de todos os outros
como razoveis, no podem admiti-las como verda-
deiras, e no h uma base pblica e compartilhada
para distinguir as crenas verdadeiras das falsas.
50
A
aceitabilidade de um consenso sobreposto no re-
pousa em um critrio de verdade losca, mas
em valores polticos.
A vantagem de estar no mbito do razovel
que s pode haver uma doutrina abran-
gente verdadeira, embora, como vimos,
existam muitas razoveis. (...) Defender
uma concepo poltica como verdadeira e,
somente por isso, consider-la o nico fun-
damento adequado da razo pblica uma
atitude de sectarismo, que, com certeza, fo-
mentar a diviso poltica.
51
O poltico diz respeito estrutura bsica da
sociedade. Ele no um campo metafsico, mas ti-
co. Sua neutralidade no signica pureza racional,
nem indiferena, nem ceticismo, mas uma base co-
mum composta por valores compartilhados.
52
O
44
Ibid., p. 248.
45
Ibid., p. 196ss.
46
Idem, 2000c, p. 89.
47
Ibid.
48
Ibid., p. 90.
49
Ibid., p. 201.
50
Ibid., p. 175.
51
Ibid., p. 176.
52
Idem, 2000b, p. 267ss.
p g y p
20 i mpulso n 29
campo do poltico no oferece recursos para julgar
doutrinas abrangentes em conitos.
53
Contudo,
embora independente de todos os valores no pol-
ticos (doutrinas abrangentes), ele no se separa de-
les.
54
A justia objeto do poltico quando visa no
ao exame das situaes particulares, mas ao da es-
trutura das instituies bsicas da sociedade e do
contexto por elas constitudo (constituies polti-
cas e principais acordos econmicos sociais). Trata-
se da maneira pela qual as instituies sociais mais
importantes distribuem direitos e deveres funda-
mentais e determinam a diviso de vantagens pro-
venientes da cooperao social.
55
A razo pblica (public reason), para J. Rawls,
maneira de ser apropriada ao poltico. Consiste
nas regras dos mais diversos procedimentos pbli-
cos (pesquisas de opinio, negociaes, contratos e
debates). Seus princpios abrangem desde o senso
comum at as teorias cientcas solidamente estabe-
lecidas.
56
A publicidade garante que a sociedade seja
efetivamente governada por princpios compartilha-
dos de justia. Mediante ela, ocorre o reconheci-
mento de que os princpios primeiros da justia re-
ferem-se s crenas gerais, luz das quais eles po-
dem ser aceitos (teoria da natureza humana e das
instituies). A concepo pblica da justia ainda
susceptvel de uma justicao completa, conforme
a qual cada cidado voc e eu diria no momen-
to de estabelecer a teoria a ela referente. Enm, a
publicidade permite que ocorra de fato a congrun-
cia entre o justo e o bem, pois garante no s a pos-
sibilidade do acordo bsico sobre o justo, como
tambm as regras que permitem avaliar as provas re-
gentes da aplicao desses princpios.
57
A razo pblica apresenta-se como controle
moral das escolhas coletivas, de modo a vigiar o li-
mite entre os valores polticos e no polticos, so-
bretudo para evitar que prevaleam estes ltimos na
denio dos valores da justia e dos valores da pr-
pria publicidade da razo. A razo pblica expressa-
se como o lugar mais apropriado da elaborao das
convices ponderadas em torno da busca de um
equilbrio razovel de valores polticos a propsito
de determinada questo.
58
Ela se aplica a todos os ci-
dados em geral e, especialmente, a autoridades,
funes e procedimentos pblicos. O supremo tri-
bunal (caso da Suprema Corte Americana) exem-
plo da razo pblica. Sua forma de decidir sobre
conitos entre as vrias instncias pblicas, os diver-
sos nveis de legislao e os princpios da justia ex-
pressa a idia de frum pblico. Pela razo pblica
deve circular o saber que engendra a vontade polti-
ca. Trata-se de um espao aberto. Para sabermos se
estamos de acordo com a razo pblica ou no, pre-
cisamos perguntar: como nossos argumentos nos
pareceriam sob a forma de uma opinio no supremo
tribunal.
59
Mas o procedimento tambm inverti-
do, no sentido de que os membros da corte deveriam
colocar seus argumentos sob a forma da opinio p-
blica. Ao julgar questes polticas fundamentais, o
tribunal interpreta a constituio; caso falhe, abre-se
uma controvrsia que s pode ser resolvida no m-
bito dos valores pblicos. A constituio no o
que a Suprema Corte diz que ela , e sim o que o povo,
agindo constitucionalmente por meio de outros po-
deres, permitir dizer que ela .
60
Emendas e maiorias
polticas estveis poderiam impor Corte uma inter-
pretao especca da constituio. O debate, que por
ventura surgisse em torno das mudanas encaminha-
das, deniria os termos do ajuste de valores consti-
tucionais bsicos s novas circunstncias polticas e
sociais, visando a incorporar constituio um en-
tendimento mais amplo e mais abrangente desses va-
lores.
61
Ao levar as pessoas a reetir sobre as questes
constitucionais bsicas, esse processo educa os cida-
dos,
62
tornando-os mais aptos para a poltica, inte-
grando-os no processo de negociao consensual.
CONSIDERAES FINAIS
A losoa de Condorcet prpria do ilumi-
nismo oitocentista francs. Destaca, sobretudo, a
idia de universalidade (caracterstica de ser correta
53
Ibid., p. 261.
54
Ibid., p. 350.
55
Idem, 2000c, p. 309.
56
Idem, 2000b, p. 259.
57
Ibid., pp. 82-99; e idem, 2000c, pp. 110-116.
58
Idem, 2000c, p. 305.
59
Ibid.
60
Ibid., p. 288.
61
Ibid., p. 289.
62
Ibid., p. 290.
p g y p
i mpulso n 29 21
e boa para todos os homens) da verdade e da justia,
calcadas na racionalidade, independentemente da
tradio. Rawls visa a um equilbrio entre a raciona-
lidade e a tradio. Para o iluminista, o que garante
a universalidade o mtodo, portanto, a validade
ancora-se numa epistemologia. Ela um critrio in-
dependente para o resultado bom (verdadeiro ou
justo). Ao passo que, para o autor do liberalismo
poltico, o que caracteriza a virtude o procedimen-
to enquanto tal. Mas se trata da justia procedimen-
tal pura. No se admite a possibilidade de um pro-
cedimento correto ou justo, de modo que o resul-
tado seja tambm correto ou justo (justia procedi-
mental perfeita). Prevalece a ausncia de um
critrio independente de justia. A diferena entre
procedimento puro e mtodo est no suposto de
que o mtodo garante a correo do resultado ou a
conformidade a uma objetividade, ao passo que o
procedimento apenas o legitima.
No primeiro caso, o que d validade a e-
ccia do processo, ou seja, o uso do mesmo mto-
do garante os mesmos resultados na apurao,
caso contrrio, o mtodo no adequado. A ver-
dade seria sempre a mesma. No que para Con-
dorcet o procedimento no seja prioritrio. Ocor-
re que ele por si mesmo no garante o resultado
bom, qualquer que seja. O mtodo essencial por
permitir atingir a universalidade, ou seja, ele d os
parmetros, servindo de corrimo para chegar
verdade. O acesso verdade depende sempre do
aperfeioamento do mtodo. A virtude no estaria
no mtodo enquanto tal, mas naquilo em razo do
qual ele arquitetado: contedo independente,
objetivo, universalizvel, para especicar o justo.
Para Rawls essa objetividade no existe no campo
da moral; portanto, ela no pode ser ndice do jus-
to. Objetivo refere-se estrutura de pensamento e
argumentao, aos critrios e evidncias mutua-
mente reconhecidos, aos procedimentos regula-
dores da razo prtica, s razes conforme as quais
se deve guiar em determinadas circunstncias, e
discusso e reexo segundo os princpios do jus-
to e do direito, referentes razo prtica e aos pro-
cedimentos de construo.
63
O objetivo diz res-
peito base comum para se discutir as questes
pblicas fundamentais.
Condorcet e Rawls visam a evitar a imposio
de um ideal supostamente tomado como uma von-
tade geral para a totalidade dos indivduos. Contu-
do, o primeiro admite a existncia desse ideal ou
modelo-utopia, embora negue que ele possa ser
agenciado pela coletividade, ou seja, expresso de-
nitivamente. Trata-se de um problema epistemol-
gico. Esse ideal no conhecido de uma vez por to-
das, pois o ajuste dos princpios sempre necessrio
em conseqncia da aceitabilidade deles. Uma vez
aplicados, os princpios produzem efeitos que exi-
gem ajustes, pois, sem isso gerariam injustias que
no incio visavam a evitar. Justo o que permite a
melhoria contnua das coisas. Princpios justos, ao
serem admitidos, mudam as circunstncias s quais
foram aplicados, produzindo novos desajustes que
s poderiam ser reequilibrados com o ajuste dos
princpios iniciais. Uma sociedade justa aquela cuja
dinmica prpria permite uma perfectibilidade
constante.
Em Condorcet, a declarao dos direitos na-
turais expressa um ponto inicial para a crtica dos
diversos nveis de legislao. Em conformidade a
ela que a constituio deveria ser estabelecida e
reformulada. A ela tambm se sujeitaria a legisla-
o ordinria, uma vez que esta estaria subordina-
da s leis fundamentais. Segundo Rawls, a concep-
o dos direitos naturais, ainda que zesse parte da
tradio ou cultura poltica liberal, no poderia por
si s ser o critrio bsico para tudo julgar. Tais di-
reitos so valorizados como tradio, e no na qua-
lidade de elementos objetivos e racionais que de-
vem se impor. Se, para Condorcet, a racionalidade
tenderia a suprimir a tradio, para Rawls, a racio-
nalidade apenas mais um componente da tradi-
o liberal.
A universalizao , segundo Condorcet, um
corolrio da unidade do gnero humano. medida
que a razo vai se expandindo no ordenamento das
instituies sociais, estas se tornam modelos para
todas as naes, o que levaria a supor a possibilidade
de uma grande sociedade humana em que as naes
seriam limites apenas simblicos. Para Rawls, essa
unidade no possvel politicamente. Entre as na-
63
RAWLS, 2000 c, pp. 157-158.
p g y p
22 i mpulso n 29
es, deve prevalecer tambm um consenso sobre-
posto, de modo a preservar as diferenas. Ao mes-
mo tempo, seria criado um campo comum capaz de
constituir um amplo cenrio poltico mundial, em
que os princpios da justia, discutidos por negocia-
dores representantes de todas as partes do globo,
pudessem servir para julgar as mais diversas insti-
tuies e programas de ao nacionais, base para
impor cerceamentos, por exemplo, s polticas ex-
pansionistas ou s violaes dos direitos humanos.
Referncias Bibliogrcas
CONDORCET, O.Esquisse dun Tableau Historique des Progrs de Lesprit Humain. Paris: G. Flamarion, 1988.
__________. Sur les Elections et Autres Textes. Paris: Fayard, 1986.
__________. Stuttugard-Bad Cannstatt. Friedrich Frommann Verlag, 1968, 12v.
LINDBLOM, C. O Processo de Deciso Poltica. Braslia: Editora da Universidade de Braslia, 1987.
RAWLS, J. Uma Teoria da Justia. So Paulo: Martins Fontes, 2000a.
__________. Justia e Democracia. So Paulo: Martins Fontes, 2000b.
__________. O Liberalismo Poltico.So Paulo: tica, 2000c.
__________. Political Liberalism. New York: Columbia University Press, 1993.
__________. A Theory of Justice. Cambrigde: Havard Press, 1971.
p g y p
i mpulso n 29 23
A PRODUO DE
SENTIDOS EM
PERSPECTIVA
PS-MODERNA
*
1
The Production of Meanings:
a postmodernist perspective
Resumo Este artigo traz um estudo sobre como so produzidos os efeitos de sentido,
conforme a perspectiva terica que coloca em questo o sujeito centrado da moder-
nidade atravs de uma perspectiva mais caracterstica da ps-modernidade, que visa a
um sujeito descentrado, incompleto, singular. A nfase aqui orienta-se sobretudo por
aspectos do pensamento de Michel Pcheux, importante representante da escola fran-
cesa de anlise de discurso. Apontam-se tambm outros pensadores seguidores dessa
linha de pensamento. Assim, em um primeiro momento caracterizado o objeto de
estudo, o objetivo fundamental da anlise de discurso. Em seguida, so indagadas as
categorias de sujeito, efeitos de sentido e interpretao, sem perder de vista o sujeito
enquanto posio a ser preenchida. Por m, apresento sucintamente algumas ques-
tes cruciais para que se possa pensar a anlise de discurso como uma possibilidade de
reetir sobre a produo de sentidos enquanto proposta terica que supera o mbito
especco dos lingistas, tornando-se um outro referencial com base no qual pos-
svel criar novos signicados.
Palavras-chave PS-MODERNIDADE ANLISE DE DISCURSO SUJEITO EFEITOS
DE SENTIDO INTERPRETAO.
Abstract This paper presents a study on how meaning effects are produced in a the-
oretical perspective that questions the centered subject of modernity through a pers-
pective closer to postmodernism that considers a non-centered, incomplete, singular
subject. In this study, the emphasis is placed mainly on aspects of Michel Pcheuxs
thought, an important representative of the French School of Discourse Analysis.
Other followers of this line of thought are also mentioned. In rst place, the object
of study was characterized: the main objective of Discourse Analysis; then, other
subject categories, meaning effects and interpretation were examined without losing
sight of the subject as a position to be completed. Finally, some crucial points under
discussion are briey presented so that one can think of Discourse Analysis as a pos-
sibility of thinking about production of meanings as a theoretical proposition that
surpasses the specic area of linguists, becoming another reference from which is
possible to create new meanings.
Keywords POSTMODERNISM DISCOURSE ANALYSIS SUBJECT MEANING
EFFECTS INTERPRETATION.
1
Artigo resultado de tese de doutorado subvencionada pela Capes (1997-ago./2000).
GLADYS B. MORALES
Mestra e doutora em educao
pela Universidade Nacional de
Ro Cuarto (Argentina), onde
professora de francs e
portugus. Pesquisadora na rea
de compreenso de textos de
especialidade em portugus
gmorales@hum.unrc.edu.ar
*
p g y p
24 i mpulso n 29
INTRODUO
debate modernidade/ps-modernidade alcana diversas
reas de saber, como a losoa da linguagem, a esttica,
a arquitetura e os estudos culturais, mas o que interessa
nessa comunicao refere-se anlise de discurso da
chamada escola de orientao francesa: campo que se
ocupa do estudo do discurso, isto , da produo de
sentidos.
Antes de abordar o especco dessa comunicao, en-
tendo como necessrio situar o leitor a respeito da relao entre anlise de
discurso e lingstica. Falar de anlise de discurso (AD) no signica situar-
nos estritamente no campo da lingstica. Contudo, cabe reconhecer que a
AD nasceu dos estudos lingsticos, e, dessa maneira, analisa a materialidade
discursiva, ou seja, as materialidades lingsticas vistas como corporicao
da memria do dizer. Assim, para a AD, os sentidos se manifestam na mate-
rialidade discursiva, que no transparente, mas opaca e exvel, propiciando
a produo de mltiplos sentidos incompletos, mutveis. Como aponta Ma-
ingueneau,
2
a AD no busca apreender a organizao textual, nem a situao
de comunicao, e sim o dispositivo de enunciao, que relaciona certa or-
ganizao textual e um lugar social particular. Portanto, essa conceitualizao
apresentada distancia a AD dos estudos da linguagem em contexto e de de-
nies restritivas que opem a AD anlise da conversao. O importante
para a AD reside em indagar a produo de sentidos, apoiando-se na tripla
tenso entre lngua, sujeito e histria.
Nesse ponto introdutrio, cabe esclarecer tambm que seria um enga-
no falar de anlise de discurso de maneira genrica, pois a AD uma disciplina
fecunda, sujeita a mudanas. Mesmo se tratando da orientao francesa, no
possvel pens-la como mbito terico homogneo, dominado por um ni-
co pensador ou por uma metodologia de trabalho. Branca-Rosoff et al. con-
rmam essa maneira de entender a anlise de discurso: LAD recourt aussi
lanalyse d un faiseau de processus. Ce qui explique que pour nous elle ne puisse
tre rduite une mthodologie applicative.
3
Tal orientao abre certamente
ao pesquisador certa liberdade na escolha das sinalizaes para traar seu ca-
minho investigativo. difcil se referir AD sem reconhecer a grande impor-
tncia dos estudos de Pcheux nessa orientao.
4
No entanto, na elaborao
deste artigo apoiei-me em idias da terceira fase desse lsofo,
5
em que h
uma desconstruo de alguns pilares de sua teoria elaborada nos dois mo-
mentos anteriores.
6
Logo, no tratarei da AD em geral, mas de como ela en-
2
MAINGUENEAU, 1996.
3
BRANCA-ROSOFF et al., 1995, p. 60.
4
Dominique Maingueneau conta a histria da AD francesa, com o objetivo de traar os rumos dessa disciplina
nos dias de hoje. Cf. MAINGUENEAU, 1993.
5
Essa terceira fase passvel de discusso. Ela abre a teorizao para a psicanlise atravs do sujeito. Mas consi-
dero que, ao se tratar da linguagem, tambm abre para o interdiscurso, a pluralidade de sentidos e a histria
segundo uma viso inspirada em Foucault. Cf. idem, 1990.
6
PCHEUX, 1993.
OO
O O
p g y p
i mpulso n 29 25
tendida por Pcheux na fase do seu trabalho que diz
respeito relao entre sujeito e sentidos conforme
visto na perspectiva ps-moderna, ainda que
Pcheux no explicite a sua postura.
Conforme indiquei brevemente, h pouco, a
AD contempla os entrecruzamentos de sujeito, his-
tria e lngua para a constituio dos sentidos. Me-
diante a tripla tenso entre sistematicidade da lngua,
historicidade e interdiscurso
7
possvel reconstituir
as posies-sujeito produzidas em diferentes dis-
cursos. Isso signica que, para a anlise de discurso,
preciso se debruar sobre marcas discursivas que
apontem para essas relaes vinculadas aos efeitos
de sentido
8
correspondentes a diferentes posies-
sujeito. Preocupado com uma teoria sobre o discur-
so, Michel Pcheux elaborou sustentaes tericas
que traaram os contornos de um mbito de saber
que, mesmo prximo da lingstica, no se identi-
cava especicamente com ela: a anlise de discurso.
Nesse campo de estudo dos sentidos, o sujeito um
protagonista descentrado, falado, que se constitui
no discurso.
SUJEITO E SENTIDO
Maldidier comenta que o discurso, para
Pcheux, era o noeud que articulava os tericos
do marxismo, da lingstica e da psicanlise,
9
discur-
so entendido como lugar terico de entrelaamento
de questes relativas lngua, ao sujeito e histria,
no como objeto emprico. Lugar terico de con-
testaes, incertezas, desconstruo e questiona-
mento, que no permite pensar a produo terica
de Pcheux como um trabalho uniforme, sem alti-
baixos. Contudo, nesse processo de reexes sobre
o seu objeto de estudo, delineava-se a continuidade
do questionamento sobre as fundaes epistemo-
lgicas globalizantes, a indagago sobre a produo
de sentidos pelo sujeito.
A anlise de discurso constitua, para
Pcheux, o mbito que podia contestar o estatuto
pr-cientco das cincias sociais segundo um dis-
positivo cientco, como meio de evitar a rotina da
crtica losca tradicional.
10
Os seguidores de
Pcheux situam essa preocupao do autor na pri-
meira fase de sua trajetria (1969-1975), representa-
da em A Anlise Automtica do Discurso, e denomi-
nada por Maldidier como le temps des grandes cons-
tructions.
11
Nesse perodo, Pcheux elabora o seu
projeto de lanalyse automatique du discours e seu
trabalho Les Vrits de la Palice.
12
A cronologia tra-
ada por Maldidier aponta que, depois dessa fase,
Pcheux viveu uma poca de incertezas, ttonne-
ments (1976-1979), sentindo que com Les Vrits
de la Palice tinha levado o seu projeto at o limite:
Il lui faut retrouver un nouveau soufe (...) mais les
ides vritablement neuves manquent.
13
Entre 1976
e 1979, a palavra se impunha sobre a escrita, signi-
cando que as armas de que Pcheux devia dispor
no eram as mesmas da poca das grandes constru-
es. Explode a noo de mquina estrutural fecha-
da, da primeira fase, abrindo-se para uma idia de
formao discursiva invadida por elementos oriun-
dos de outras formaes discursivas. Esses questio-
namentos resultam na chamada terceira fase do au-
tor (1980-1983), que Maldidier denomina dcons-
truction matrise
14
e que ca em aberto com a mor-
te de Pcheux, em 1983. Ele mesmo indica que nela
acontece uma desconstruo das mquinas discur-
sivas, fazendo emergir novos procedimentos da AD.
Conforme indiquei acima, ainda que a lings-
tica seja uma das disciplinas que compem o n do
7
Para compreender o conceito interdiscurso em Pcheux, a relao com a
formao discursiva necessria no sentido de que esta ltima dissimula o
todo complexo com dominante das formaes discursivas, ou seja, o
interdiscurso, intrincado no complexo das formaes ideolgicas. Para
Brando, ao tomar o interdiscurso como objeto, procura-se apreender no
uma formao discursiva, mas a interao entre formaes discursivas dife-
rentes (idem, 1995, p. 90). Nessa tese, o todo complexo dominante o
interdiscurso ser entendido como um campo de entrecruzamentos, de
redes de sentidos historicamente determinadas. Dessa maneira, o interdis-
curso tem a ver com a noo de historicidade, de Pcheux, j que a produo
de sentidos exige o interdiscurso, que historicamente determinado.
8
A expresso efeitos de sentidos uma categoria terica que singulariza o
mbito da anlise de discurso e solicita a trade sujeito, lngua e histria,
apontada anteriormente.
9
MALDIDIER, 1990.
10
HENRY, 1993.
11
MALDIDIER, 1990.
12
Traduzido para o portugus como Semntica e Discurso. Cf. PCHEUX,
1995.
13
MALDIDIER, 1990, p. 46.
14
Courtine duvida do trao de matrise da desconstruo: je ne suis
nullement sr, en particulier, que la dconstruction de la dernire priode ait
t maitrise. Com essas palavras, Courtine reete sobre o aggiorna-
mento que inevitavelmente se instalava no pensamento marxista, denomi-
nado por ele aggiornamento post-marxiste. Cf. COURTINE, 1991.
p g y p
26 i mpulso n 29
discurso a chamada trplice aliana terica
15
, em
que Pcheux se apoiou para as suas teorizaes,
16
o
sujeito da lingstica recusado na sua perspectiva te-
rica. O sujeito-falante que gerencia os sentidos, que
acredita na transparncia da relao entre a lngua e o
objeto nomeado, afastado, abrindo espao para um
sujeito visto como efeito de assujeitamento maqui-
naria da formao discursiva (FD) com que se identi-
ca.
17
Sujeito que, considerando o conceito althus-
seriano de interpelao ideolgica, entendido como
ideologicamente interpelado. Delineia-se um sujeito
que no pode ser entendido como origem de sentido,
mas que est preso na reproduo de sentidos. Nessa
relao entre sentido e sujeito, nem o sentido existe
como uma exterioridade autnoma, nem o sujeito
fonte de sentidos. Isso signica que o sujeito repro-
duz sentidos porque apenas pode nomear, dar conta
do que conhece, do que internalizou.
Pcheux reconhece que o sujeito sente,
18
que dono do seu dizer, que um. Nesse sentido,
enuncia dois esquecimentos, baseados possivelmen-
te em Freud via Lacan,
19
que levam o sujeito a se
pensar como homogneo, autnomo e origem de
sentidos, e que evidenciam o sujeito preso na repro-
duo de sentidos. No primeiro esquecimento, o
sujeito no pode se colocar fora da ideologia que o
domina. Desse modo, o inconsciente e o assujeita-
mento ideolgico criam a iluso do sujeito fonte de
sentidos. O segundo esquecimento indica que o su-
jeito falante tem a iluso de transparncia do senti-
do, eu sei o que eu digo, eu sei do que eu falo,
20
es-
quecendo que os sentidos por ele produzidos pro-
vm da formao discursiva qual ele se lia.
O sujeito que produz sentido, assumindo po-
sies, tomado segundo uma perspectiva althusse-
riana, uma forma-sujeito que revela a forma de
existncia histrica de qualquer sujeito, agente das
prticas sociais.
21
Da maneira como estou mos-
trando o sujeito de que fala Pcheux, no pretendo
apontar dois sujeitos: um do inconsciente e outro
atravessado pela ideologia. A noo de forma-sujeito
reconhece a marca do inconsciente que traz o dis-
curso do Outro (o Outro de Lacan). Este, por sua
vez, faz com que o sujeito funcione como se tomas-
se posio em total liberdade (iluso do sujeito). Na
verdade, esclarece Pcheux, a tomada de posio
no um ato originrio, e sim um efeito do retorno
do Sujeito no sujeito.
22
Essa viso do sujeito, proposta por Pcheux
(na primeira e na segunda fase do seu trabalho), aca-
bou criticada por ele mesmo, que admitiu ter levado
demasiadamente a srio a iluso de um sujeito em
que nada falha. Tal sujeito parece no deixar vcuos,
ser um sujeito completo, em que o assujeitamento
pela ideologia se d automaticamente. Noes
como interdiscurso e pr-construdo
23
abrem uma
brecha para pensar o sujeito constitudo pela exte-
rioridade. Pcheux comenta: uma FD no um
espao estrutural fechado, pois constitutivamente
invadida por elementos que vm de outro lugar (is-
to , de outras FDs que se repetem nela).
24
Do meu
ponto de vista, o reconhecimento da alteridade na
identidade discursiva e o primado do outro sobre o
mesmo so alguns aspectos que sinalizam a reexo
do lsofo em direo interpretao.
Pensar um sujeito que interpreta modie tota-
lement le statut de la discipline,
25
a Anlise de Discurso
(AD), pois esse sujeito interpretante produz sentidos
na trama tecida entre o interdiscurso, a memria
26
e a
15
A trplice aliana constituda pela lingstica, pelo marxismo e pela
psicanlise, mediante a releitura de Saussure, Althusser e Lacan, respectiva-
mente.
16
PCHEUX, 1990.
17
HENRY, 1990, p. 314.
18
A expresso sente minha.
19
GADET et al. comentam que nem Freud nem Lacan guram na biblio-
graa da Anlise Automtica do Discurso, e a psicanlise enquanto tal se
encontra a apenas furtivamente mencionada (GADET et al., 1993, p. 49).
20
PCHEUX & FUCHS, 1993, p. 176.
21
PCHEUX, 1995, p. 183.
22
Embora os conceitos de ideologia e a perspectiva de Lacan sejam consi-
derados por Pcheux em seus estudos, no so entendidos como orienta-
dores desta pesquisa. Ainda assim, entendo importante resgatar a idia do
sujeito como posio a ser preenchida.
23
Para Pcheux, o conceito de pr-construdo, de Paul Henry, remete
simultaneamente quilo que todo mundo sabe, isto , aos contedos de
pensamento do sujeito universal, suporte da identicao, e quilo que
todo mundo, em uma situao dada, pode ser e entender, sob a forma de
evidncias do contexto situacional (ibid., p. 171).
24
Idem, 1993, p. 314.
25
MALDIDIER, 1990, p. 84.
26
Memria, conforme indica MALDIDIER (1990), entendida como
marcas legveis que constituem um corpo sociohistrico de traos.
Segundo essa autora, memria remete noo de memria coletiva, usada
pelos historiadores das mentalidades. Nesse sentido, ela entende que os
trabalhos arqueolgicos de Foucault tm contribudo como quadro de
referncia para o tratamento do documento como monumento.
p g y p
i mpulso n 29 27
heterogeneidade discursiva.
27
Para o sujeito nomear,
produzir sentidos e ver, ele tem de ocupar uma po-
sio. Assim, segundo Pcheux, ele no transcen-
dental, emprico, individual; uma posio a ser pre-
enchida
28
e se identica a uma posio, valendo-se da
linguagem para produzir sentidos. O discurso , en-
to, efeito de sentidos produzidos pelo sujeito.
Com a expresso produzidos pelo sujeito, no
armo em nenhum momento que o sujeito fonte
de sentidos. Tal expresso deve ser lida levando em
conta um sujeito que produz sentido assujeitado
memria do dizer, ao interdiscurso, ou seja, hist-
ria; sentido que, para a anlise de discurso, manifes-
ta-se na materialidade discursiva, ou seja, no intra-
discurso. Para produzir um ou outro sentido, o su-
jeito se assume como tal tendo em vista posies,
passando pela lngua. Ele sempre est em contato
com diversas posies-sujeito, mas necessita assu-
mir uma delas. Como ele assume uma posio?
Como se manifesta essa escolha
29
de posies?
Manifestando sentidos vinculados a essas posies,
que so discursivas, porque no discurso que o su-
jeito evidencia a posio por ele preenchida. No
acontecimento da produo de sentidos, o sujeito
confronta sentidos de posies diversas, que ele re-
conhece, e desse confronto escolhida uma posi-
o, emerge um sentido. Porm, no consiste em
um sentido nico, puro, mas est sempre cons-
titudo na multiplicidade de posies.
Lembro ao leitor que na AD da segunda fase
de Pcheux, o sentido estava muito vinculado a po-
sies menos exveis, segundo propunha a meto-
dologia dialtica para a anlise dos sentidos. Essa
modalidade de anlise considerava a categoria con-
tradio, contrastando fundamentalmente duas po-
sies opostas com a nalidade de fazer emergir o
confronto de sentidos: um sentido armado e ou-
tro negado dialeticamente. Essa perspectiva aban-
donada na terceira fase de Pcheux, quando ele ana-
lisa a interpretao, destacando a pluralidade de sen-
tidos, a disperso de sentidos. O enunciado produz
sentido na lateralidade com outros enunciados, es-
tabelecendo dispositivos de aliana que trazem um
efeito de homogeneizao de sentidos. Iluso de
um sentido homogneo, eu diria, seguindo
Pcheux, iluso de um sujeito produtor de sentidos.
Heterogeneidade discursiva, memria, interdiscursos
so conceitos que desmancham essa iluso e abrem
espao para identicar deslocamentos de sentidos,
de posies-sujeito.
OS EFEITOS DE SENTIDO
A expresso efeitos de sentido apareceu no
campo da anlise de discurso no perodo entre 1960
e 1975, quando as certezas cientcas do positivis-
mo que estabelecia uma relao funcional entre o bio-
lgico e o social enfraqueciam sob o devir de uma
perspectiva terica crtica, que duvidava das evidn-
cias da ordem humana como ordem estritamente
biossocial.
30
No meu entender, a grande fora desse
conceito consiste no fato de que ele fortalece a pos-
sibilidade de pensar em um sujeito diferente daquele
aristotlico, que perdurou por muito tempo. Perce-
ber o sujeito como desprovido dos atributos que lhe
permitiam dar sentido ao mundo, ser fundador do
conhecimento, ctait porter un coup au narcissisme
(individuel et collectif) de la conscience humaine.
31
De onde vm os efeitos de sentido? Alm da con-
cepo do sujeito como uma posio a ser preenchi-
da, necessitamos tambm da presena da histria
para que a AD possa completar a relao entre sujei-
to e sentido. Como falar do discurso, dos efeitos de
sentido, sem falar do sujeito?
Trabalhar prximo a uma perspectiva do dis-
curso, como essa aqui indicada, signica no esque-
cer o sujeito, nem o enfoque histrico do estudo.
Nessa perspectiva, o sujeito se constitui em uma
disperso de enunciados da qual ele o elemento
unicador.
32
Histrico porque o sentido enten-
dido desde uma perspectiva enunciativa, em que a
27
O conceito de heterogeneidade discursiva amplamente trabalhado por
Authier-Revuz, particularmente na sua tese de doutorado Ces mots qui ne
vont pas de soi. Boucles reexives et non-concidences du dire, publicada pela
Editora Larousse, em 1995. Essa categoria terica desmonta a possibili-
dade de considerar o discurso como homogneo. Authier-Revuz desen-
volve suas pesquisas no mbito da enunciao, resgatando o conceito do
Outro, da psicanlise de Lacan. A teoria da heterogeneidade discursiva se
articula a uma concepo de sujeito descentrado.
28
PCHEUX, 1995.
29
Com o termo escolha, no estou evocando um sujeito fonte de sentidos.
30
PCHEUX, 1982.
31
Ibid., p. 11.
32
GUILHAUMOU & MALDIDIER, 1989, p. 66.
p g y p
28 i mpulso n 29
signicao histrica porque determinada pelas
condies sociais de sua existncia,
33
devendo o
sentido ser tratado como discursivo. Para faz-lo, e
denir o sentido partindo do acontecimento enun-
ciativo, Guimares abre um dilogo com a anlise de
discurso, considerando crucial o conceito de inter-
discurso. O interdiscurso a relao de um discur-
so com outros discursos,
34
o conjunto do que
possvel de ser enunciado em certas condies, um
j dito exterior lngua e ao sujeito.
No pargrafo supra, o interdiscurso pode ser
entendido como a memria do dizer (o dizvel, o
possvel de ser enunciado). Essa idia aponta que
podemos assumir a posio de que o sentido em
um acontecimento so efeitos da presena do inter-
discurso. Ou melhor, so efeitos do cruzamento de
discursos diferentes no acontecimento.
35
No en-
tanto, no devemos esquecer que necessitamos da
presena do sujeito como elemento unicador, e do
funcionamento da lngua para a produo de senti-
dos. Essa relao convoca a memria do dizer e o
presente do acontecimento, e nela que se produ-
zem os efeitos de sentido. O sujeito se depara com
a lngua, ela j est a, ela pr-construda ao sujeito.
Ele precisa dela como ferramenta para poder signi-
car. o real da lngua, ferramenta imperfeita, su-
jeita ao equvoco.
36
Por isso, no possvel pensar
em efeito de sentido nico, certo, unvoco, e sim em
efeitos de sentidos possveis, mltiplos, que se cons-
tituem segundo as posies de sujeito, no cruza-
mento de discursos no acontecimento da prtica
discursiva.
No campo da anlise de discurso, Pcheux
apresenta um exemplo de vizinhanas
37
na anlise
do jogo metafrico criado em torno do enunciado
on a gagn, quando Franois Mitterrand ganhou
as eleies para presidente da Repblica francesa.
Esse enunciado on a gagn, esse grito de vitria
compartilha com uma partida de futebol o signi-
cado de grito coletivo, de um time que ganha contra
outro. A vizinhana entre o enunciado poltico e
o esportivo sustenta-se fortemente pela interven-
o dos meios mediticos, particularmente a televi-
so, na apresentao dos resultados em um quadro
lgico: A equipe X, classicada na ensima diviso,
derrotou a equipe Y. A equipe X est, pois, quali-
cada para se confrontar com a equipe Z etc.. A vi-
zinhana evidencia esse veredicto sociopoltico: on
a gagn , ao mesmo tempo, transparente e opaco.
Com respeito a esse enunciado, Pcheux expressa:
sua materialidade lxico-sinttica (um pro-
nome indenido em posio de sujeito, a
marca temporal-aspectual de realizado, o le-
xema verbal gagner [ganhar], a ausncia de
complementos) imerge esse enunciado em
uma rede de relaes associativas implcitas
parfrases, implicaes, comentrios, alu-
ses etc. , isto , em uma srie heterognea
de enunciados, funcionando sob diferentes
registros discursivos, e com uma estabilida-
de lgica varivel.
38
Os conjuntos de enunciados e palavras
transparentes e opacos so possveis derivaes que
criam espaos interpretao: todo enunciado in-
trinsecamente suscetvel de se tornar outro, diferente
de si mesmo, se deslocar discursivamente de seu sen-
tido para derivar para um outro (a no ser que a proi-
bio da interpretao prpria ao logicamente estvel
se exera sobre ele explicitamente).
39
No so as pa-
lavras isoladas, as proposies, suas hierarquias que
criam sentidos, mas as lateralidades (as vizinhan-
as), os pontos de deriva possveis que criam relaes
com outros objetos, outros saberes.
A INTERPRETAO
Nessa instncia das escolhas tericas, convm
lembrar a maneira como entenderei a interpretao.
Compartilho a idia de Pcheux sobre a possibilida-
de, ou melhor, a prpria condio de um enunciado
se tornar outro. Esse outro constri uma represena
daquilo que interpretado, do que instaurado nas
instncias discursivas; o analista de discurso descre-
33
GUIMARES, 1995.
34
Ibid., p. 66.
35
Ibid., p. 67.
36
Na AD, a questo do equvoco tomada de Lacan. Trata-se do equvoco
como falha constitutiva da relao do sujeito com o simblico. Considero
esse esclarecimento necessrio, embora nesse estudo no me lie pers-
pectiva lacaniana.
37
PCHEUX, 1990.
38
Ibid., p. 23.
39
Ibid., p. 53.
p g y p
i mpulso n 29 29
ve (dmultiplie) as relaes entre o que dito em
um lugar particular com aquilo que falado em ou-
tro espao e de outra maneira. Mas sempre se trata
de uma interpretao, de uma nova presena daquele
fato analisado, tout est dj une interprtation,
como diz Maldidier,
40
tomando as palavras de Ni-
etzche. Nessa perspectiva, o analista se afasta da
busca de discursos verdadeiros para car sensvel
s coisas ditas que criam efeitos de sentido diver-
sos: de verdade, de real, de certeza, de invarivel, de
errado...
Como pesquisadora, sou uma leitora que in-
terpreto segundo posies que vou preenchendo,
segundo a minha histria de leitura, o meu gesto de
leitura. Mesmo assim, o meu gesto de fazer emergir
efeitos de sentido no nico, completo, certo ou
errado. um gesto que faz emergir certos enun-
ciados que podem virar outros quando lidos de ou-
tra posio-sujeito, segundo outros gestos de leitu-
ra. Pcheux, ao falar de interpretao, situando o seu
pensamento na terceira poca da AD,
41
destaca que
o estruturalismo dos anos 60, na Frana, considera-
va o real em uma tentativa antipositivista, como se
constituindo no entrecruzamento da linguagem e
da histria. Dessa concepo surgiram novas prti-
cas de leitura, orientadas a multiplicar as relaes en-
tre o que dito em um lugar e o que falado em ou-
tro, de outra maneira, visando a entender
42
os
no-ditos no interior do que dito. Entretanto, esse
lsofo considera que as abordagens estruturalistas
davam ateno aos arranjos textuais discursivos na
sua intrincao material, sem levar em conta a pro-
duo de interpretao pelos sujeitos. Entre 1960 e
1975, acontece na Frana uma reestruturao global
na rede de disciplinas ans lingstica.
43
O surgi-
mento da antropologia estrutural, a renovao na
epistemologia e na histria das cincias, e a releitura
das teorias marxistas, por exemplo, se traduziram
em uma virada no sistema de alianas entrelaadas
em torno da lingstica.
Conceitos como metfora, metonmia e efeitos
de sentido questionavam as evidncias do positivis-
mo biopsicossocial, conforme indiquei acima, en-
fraqueciam o bloco que articulava o biolgico com
o social e colocavam sob suspeita o sujeito psicol-
gico: ctait porter un coup au narcissisme (individu-
el et collectif) de la conscience humaine.
44
Em uma
palavra: a revoluo cultural estruturalista no dei-
xou de fazer pesar uma suspeita absolutamente ex-
plcita sobre o registro do psicolgico.
45
No incio
dos anos 80, esse desmoronamento de certezas que
colocaram o estruturalismo como cincia rgia,
46
que negaram a interpretao, coincidiu com um
crescimento da recepo dos trabalhos de Lacan,
Derrida, Foucault e Barthes em pases como a In-
glaterra, a Alemanha e os EUA. Paradoxalmente, en-
quanto a Amrica descobria o estruturalismo, os in-
telectuais franceses viravam a pgina, colocando-se
em posio de rejeitar as teorias que tinham a pre-
tenso de falar em nome das massas, produzindo
uma longa srie de gestos simblicos inecazes e
performativos polticos infelizes.
47
A reviso crtica
do estruturalismo tirou impiedosamente o sujeito
da lingstica do centro da cena de produo de sen-
tidos, abrindo espaos que solicitaram tomar distn-
cia de qualquer cincia rgia presente ou futura
(que trate de positivismos ou de ontologias marxis-
tas).
48
Assim, essa viso de sujeito descentrado, que
j no mais gerencia os sentidos, harmoniza com a
preocupao de Pcheux sobre como ele entende a
interpretao, que, alis, ele mesmo confessa, no se
trata de uma posio pessoal, mas de uma perspec-
tiva de trabalho desenvolvida na Frana.
49
Esse tra-
balho d o primado aos gestos de descrio das
materialidades discursivas,
50
descrio que supe
o reconhecimento de um real especco sobre o
qual ela se instala: o real da lngua.
51
Lngua que
sujeita incompletude, lngua fadada a no dar con-
ta das coisas. Nesse sentido, Pcheux aponta a pos-
40
MALDIDIER, 1990, p. 314.
41
PCHEUX, 1990.
42
As aspas so de Pcheux.
43
PCHEUX, 1982.
44
Ibid., p. 11.
45
Idem, 1990, p. 46.
46
Expresso que no prprio texto de Pcheux aparece entre aspas. Cf.
PCHEUX, 1990.
47
Ibid., p. 48.
48
Ibid., p. 49.
49
Ibid. Esse texto uma traduo do original editado em 1988.
50
Ibid., p. 50.
51
Ibid.
p g y p
30 i mpulso n 29
sibilidade de um enunciado se tornar outro, pois a
descrio desse real est exposta ao equvoco da ln-
gua. Descrio e interpretao se convocam; no
so a mesma coisa, mas constituem o gesto neces-
srio que abre
52
a lngua produo de sentidos
diversos: todo enunciado, toda seqncia de enun-
ciados, pois lingisticamente descritvel como
uma srie (lxico-sintaticamente determinada) de
pontos de deriva possveis, oferecendo lugar inter-
pretao. nesse espao que pretende trabalhar a
anlise de discurso.
53
Nesse gesto o da interpretao, segundo
Pcheux h o outro nas sociedades e na histria, e
possvel a transferncia, a ligao com o discurso-
outro, com as redes de memria, dando lugar a lia-
es identicadoras em que o sujeito assume posi-
es. Tomada uma posio, o sujeito tem a iluso de
saber do que fala, do que se fala, iluso que nega o ato
de interpretao no momento exato em que ele apa-
rece. Desse ponto de vista, entendo que o sujeito que
interpreta ocupa ento uma posio provisria, que,
como tal, no completa, unvoca e estvel; pelo con-
trrio, varivel, transitria, plural e relacional.
Seguidora do pensamento de Pcheux, Eni
Orlandi detm-se na anlise da interpretao.
54
A
matria signicante, como Orlandi nomeia a pala-
vra, afeta o gesto de interpretao, porque essa ma-
tria exvel, opaca, plural, aberta para a disperso.
A matria signicante um ponto de possveis fu-
gas de sentido segundo o gesto de interpretao,
isto , segundo uma tomada de posio pelo sujeito.
Nesse gesto intervm as relaes entre a lngua e o
interdiscurso (a memria do dizer) e entre estrutura
e acontecimento. Tais relaes fogem ao controle
do sujeito e mostram que os sentidos no emanam
das palavras, mas se manifestam no uso que delas
faz o sujeito.
O analista, segundo Achard, toma a enuncia-
o no como advinda de um sujeito, mas como
operaes que regulam a retomada e a circulao do
discurso.
55
O analista trabalha partindo de uma po-
sio enunciativa que tambm aquela de um sujei-
to histrico que tenta dar conta de que a memria
suposta pelo discurso sempre reconstruda na
enunciao. Desse modo, possvel retomar a idia
da interpretao do analista como um gesto incom-
pleto, equvoco, desautomatizado e provisrio, que
se sustenta em um dispositivo terico para trabalhar
a opacidade da linguagem, para produzir efeitos de
sentido. Sentidos que tambm so mveis, singula-
res e provisrios.
CONCLUSO
Para encerrar, apresento sucintamente algu-
mas questes cruciais para pensar a anlise de dis-
curso como uma possibilidade de reetir sobre a
produo de sentidos, no segundo uma perspecti-
va puramente lingstica, mas como uma proposta
terica que supera o mbito especco dos lingis-
tas, tornando-se um outro referencial, com base no
qual possvel criar novos signicados. Os concei-
tos apontados anteriormente levam, necessariamen-
te, apresentao desse campo de saber como uma
alternativa para produzir conhecimentos. Falar da
tenso entre lngua, sujeito e histria diferencia (sin-
gulariza) essa forma de conhecimento das anlises de
contedo, das anlises hermenuticas. Na AD, na
materialidade discursiva, no h um sentido oculto
necessrio de desvelar, no h uma busca de verdade,
nem um contedo escondido por trs das palavras.
Pensar na materialidade discursiva, conforme
j foi apontada, como manifestao de sentidos, de
posies-sujeito, coloca a AD longe de uma viso
clssica da linguagem, distante de uma representa-
o transparente da linguagem, e prxima de uma
posio que agua as possibilidades de dar existncia
aos sentidos silenciados, s singularidades. Nesse
sentido, a anlise de discurso, vista como forma de
conhecimento, foge do domnio dos experts, inverte
a ordem, a relao entre sujeito e discurso. Assim, o
discurso constituinte e constituidor do sujeito,
prtica social de produo de sentidos que d exis-
tncia aos objetos, que cria condies e possibilida-
des para que as coisas do mundo signiquem, para
que a posio-sujeito seja preenchida.
O desao do analista consiste em trabalhar a
tripla tenso entre lngua, sujeito e histria, esta l-
52
Com o termo abre, no estou apontando a idia de lngua como reserva
de sentidos.
53
Ibid., p. 53.
54
ORLANDI, 1996.
55
ACHARD, 1999.
p g y p
i mpulso n 29 31
tima no universalizante, e sim singularizante, que
se desloca para o acontecimento. preciso, ento,
empreender uma caminhada que se afaste da busca
de verdades totalizantes, de certezas permanentes,
de sujeitos de inteno e fonte de sentidos, de
modo a praticar um gesto de leitura em que o olhar
v o que dito en passant, sussurrado. Ser a
anlise de discurso o caminho perfeito para fazer
emergir sentidos silenciados, calados, sussurrados?
No dessa maneira que a AD deve ser vista; caso
contrrio, ela se tornaria em uma metanarrativa. O
ponto forte desse campo de saber constitudo
pela incompletude desse campo, pela possibilidade
de trabalhar a disperso de sentidos, a disperso
das posies-sujeito, o provisrio do aconteci-
mento.
Referncias Bibliogrcas
ACHARD, P. Memria e produo discursiva do sentido. In: ACHARD, P. et al. Papel da Memria. Campinas: Pontes, 1999.
BRANCA-ROSOFF, S. et al. Questions dhistoire et de sens. Langages, les analyses du discours en France, Paris, (117): 54-66,
1995.
BRANDO, H. Introduo Anlise do Discurso. Campinas: Editora da Unicamp, 1995.
COURTINE, J.J. Le discours introuvable: marxisme et linguistique (1965-1985). Thorie et Donns. Paris, 7: 153-171, 1991.
GADET, F. et al. Apresentao da conjuntura em lingstica, em psicanlise e em informtica aplicada ao estudo dos tex-
tos na Frana, 1969. In: GADET, F. & HAK, T. (orgs.). Por uma Anlise Automtica do Discurso: uma introduo obra
de Michel Pcheux. Campinas: Editora da Unicamp, 1993.
GUILHAUMOU, J. & MALDIDIER, D. Da enunciao ao acontecimento discursivo em anlise do discurso. In: GUIMARES,
E. (org.). Histria e Sentido na Linguagem. Campinas: Pontes, 1989.
GUIMARES, E. Os Limites do Sentido: um estudo histrico e enunciativo da linguagem. Campinas: Pontes, 1995.
HENRY, P. Os fundamentos tericos da anlise automtica do discurso. In: GADET, F. & HAK, T. (orgs.). Por uma Anlise
Automtica do Discurso: uma introduo obra de Michel Pcheux. Campinas: Editora da Unicamp, 1993.
MAINGUENEAU, D. Lanalyse du discours en France aujourdhui.Le Franais dans le Monde, Paris, (numro spcial): 9-15,
1996.
__________. Novas Tendncias em Anlise do Discurso. Campinas: Pontes, 1993.
MALDIDIER, D. LInquitude du Discours. Paris: ditions des Cendres, 1990.
ORLANDI, E. Interpretao,Autoria,Leitura e Efeitos do Trabalho Simblico. Petrpolis: Vozes, 1996.
PCHEUX, M. Semntica e Discurso:uma crtica armao do bvio. Campinas: Editora da Unicamp, 1995.
__________. A anlise de discurso: trs pocas (1983). In: GADET, F. & HAK, T. (orgs.). Por uma Anlise Automtica do Dis-
curso: uma introduo obra de Michel Pcheux. Campinas: Editora da Unicamp, 1993.
__________. Discurso: estrutura ou acontecimento. Campinas: Pontes, 1990.
__________. Sur la (d-)construction des thories lingistiques. DRLAV, (27): 1-24, 1982.
PCHEUX, M. & FUCHS, C. A propsito da anlise automtica do discurso: atualizao e perspectivas (1975). In: GADET, F.
& HAK, T. (orgs.). Por uma Anlise Automtica do Discurso: uma introduo obra de Michel Pcheux. Campinas: Edi-
tora da Unicamp, 1993.
p g y p
32 i mpulso n 29
p g y p
i mpulso n 29 33
INTERAO E
LEGITIMAO
LINGISTICAMENTE
MEDIADAS:
CONSENSO OU
DISSENSO?
*
1
Linguistically Mediated Interaction
and Legitimation: consensus or dissent?
Resumo Neste, artigo, discuto a teoria de Habermas sobre o consenso como meio
de legitimao da ao, em contraste com a teoria da dissenso proposta por Lyotard.
Defendo a nfase habermasiana tanto dos modos argumentativos e paccos no pro-
cesso de tomada de decises quanto da busca da validade, em oposio aos exageros
de uma agonstica como a proposta por Lyotard. Para isso, me volto para esta ltima
e examino as questes lingsticas nela implcitas. neste processo que encontro a
fonte de algumas das implicaes negativas da recriminao completa do consenso
proposta por Lyotard, bem como a origem de sua promoo da idia de dissenso.
Num segundo momento exponho as contradies internas, bem como os limites que
se apresentam desde o incio na sua proposta. Sem perder de vista as convergncias
entre Habermas e Lyotard, argumento que o primeiro mais cauteloso do que o se-
gundo no que diz respeito s pressuposies lingsticas de sua teoria, e trao a ori-
gem de tal divergncia na diferena de valor que ambos pensadores agregam ontolo-
gicamente linguagem enquanto interao mediada lingisticamente.
Palavras-chave LYOTARD HABERMAS JOGOS DE LINGUAGEM AGONSTICA
PRAGMATISMO RELATIVISMO.
Abstract In this article I discuss Habermass theory of consensus and Lyotards ac-
count of dissent as means of action legitimation in critical contrast. To defend the Ha-
bermasian emphasis on peaceful argumentative modes of decision-making and vali-
dity search against the exaggeration of agonistics, I turn to the latter in its Lyotar-
dian formulation and examine its implicit linguistic assumptions. There I nd the
source of some of the negative implications of Lyotards wholesale incrimination of
consensus and his promotion of the idea of dissent. In a next move, I expose its in-
ternal contradictions as well as its limits from the outset. Without losing sight of the
convergences between Habermas and Lyotard, I argue that the former is more cau-
tious than the latter with regard to the linguistic presuppositions of his theory and
trace the origin of such divergence in the difference of value both thinkers attach on-
tologically on language as linguistically mediated interaction.
Keywords LYOTARD HABERMAS LANGUAGE GAMES AGONISTICS PRAGMA-
TICS RELATIVISM.
1
Traduo do ingls: Cristina Paixo Lopes.
MARIANNA PAPASTEPHANOU
University of Cyprus.
Estudou e lecionou no Pas de
Gales e desenvolveu pesquisas
na Alemanha. Organizadora do
livro From a Transcendental-Prag-
matic Point of View, tem escrito
sobre feminismo, tica e losoa
lingstica e participado de vrios
eventos internacionais
edmari@ucy.ac.cy
*
p g y p
34 i mpulso n 29
O monstruoso [Auschwitz] ocorreu sem interromper o sopro suave da vida
cotidiana. Desde ento, j no mais possvel uma vida consciente sem
uma desconana das continuidades que se armam sem qualquer dvida
e tambm retiram sua validade da sua inquestionabilidade.
J. HABERMAS
On the Logic of the Social Sciences, p. 208
INTRODUO
uitos debates no recente discurso losco giram
em torno, ou so expressos em termos, da contro-
vrsia do modernismo versus ps-modernismo. O
rtulo ps-moderno se aplica a diversos movimentos
ou perspectivas de pensamento, tornando a deni-
o do termo cada vez mais difcil e incerta. Mas po-
deria-se arriscar dizendo que, de acordo com o
auto-entendimento da ps-modernidade, o que di-
ferencia o ps-moderno do moderno a ligao desse ltimo a noes como
razo, emancipao, verdade e justia, ao passo que o primeiro se esfora para
mostrar a falncia dessas noes e seu carter obsoleto.
2
Os defensores do ilu-
minismo enquanto projeto inacabado detectam um potencial contrafactual e
redentor no modernismo, digno de ser articulado e perseguido. Os detratores
do pensamento modernista vem essa defesa como mais uma talvez a ltima
grandiosa narrativa de metafsica antiquada.
Sendo o consenso um dos lemas da modernidade, ele tem de se sujeitar
a semelhante questionamento radical. Lyotard cr que o consenso uma ob-
soleta construo terica moderna e de modo algum deve se constituir no
m de um discurso. Ele tem um poder totalizador que impede que novas
idias e prticas desconhecidas surjam. A dissenso, ao contrrio, e a agons-
tica parecem ter um status privilegiado na teoria de Lyotard. Numa veia di-
ferente, Habermas promove uma teoria do agir comunicativo dentro da qual
o consenso tem uma posio proeminente. Devido a essa reteno e nfase
no consenso, as idias de Habermas foram alvo do conhecido ataque de Lyo-
tard, em seu livro Postmodern Condition (A Condio Ps-Moderna). Eu ar-
mo que essas animadas crticas so injusticadas. Apesar de serem importan-
tes, por nos tornar vigilantes com relao a algumas das perigosas implicaes
do consenso e da contratualidade, elas no fazem justia reformulao so-
frida pela idia de concordncia racional dentro da estrutura da teoria do agir
comunicativo. Sustento, tambm, que o exame das suposies implcitas que
fundamentam os entendimentos em debate prova que os problemas e as im-
plicaes de uma teoria da agonstica no so menos perigosos que os da ir-
nica.
2
Para uma anlise da crtica ps-moderna do consenso e uma crtica de J.F. Lyotard, cf. NORRIS, 1985.
MM
M M
p g y p
i mpulso n 29 35
Vrios tericos j chamaram ateno para as
inevitveis implicaes do ultranominalismo e ceti-
cismo de Lyotard, quando questes morais e pol-
ticas esto em jogo, e tm discutido o seu uso de
idias kantianas.
3
Endosso tal crtica a Lyotard, mas
a deixarei aqui de lado como pressuposto, por ra-
zes de espao. Passarei a uma crtica teoria de
Lyotard, em primeiro lugar, colocando entre parn-
teses meus pressupostos em relao obra de Ha-
bermas sobre a linguagem (pragmtica universal) e,
em segundo, atribuindo pragmtica universal uma
efetividade no trato da linguagem que falta teoria
de Lyotard. Ao tratar esse primeiro aspecto, preten-
do evitar a reiterao de uma crtica a Lyotard do
princpio, isto , de um ponto de vista que no o
seu, j que inclui um apelo razo, verdade ou -
delidade e outros pressupostos da pragmtica uni-
versal que ele talvez no aceitasse. No entanto, exis-
tem questes lingsticas ou aporias sobre as quais
Lyotard no parece ter uma posio convincente.
Nesse caso, considerar o segundo aspecto comen-
tado acima, isto , oferecer uma crtica do princpio
se faz necessrio.
A primeira maneira de abordar a questo
deve-se ao meu entendimento de que a teoria de
Lyotard inconsistente com os princpios de seus
prprios jogos de linguagem. A tese da incomensu-
rabilidade tem diversas pressuposies mais profun-
das que, se explicitadas, revelam muito daquele lado
da losoa ps-moderna que se distancia dos prin-
cpios do iluminismo. Em resumo, o ceticismo de
Lyotard tem tal natureza que seria melhor refutado
de dentro, mostrando-se as confuses lingsticas e
contradies performativas na prpria teoria. Feito
isso, talvez seja ecaz discutir tambm, do ponto de
vista habermasiano, a metafsica e ideologia implci-
tas que fundamentam a teoria de Lyotard.
O ATAQUE DE LYOTARD AO CONSENSO
E SUA NOO DE Dissenso
Algumas observaes preliminares: parte de
certas semelhanas entre suas respectivas crticas ao
conhecimento, bem como a idia de emancipao
pressuposta pelos dois pensadores,
4
ambos discor-
dam em vrios pontos. De importncia decisiva
para tal discordncia o fato de eles terem pressu-
postos tcitos radicalmente diferentes sobre a lin-
guagem. Lyotard pergunta: Ser possvel encontrar
legitimidade no consenso obtido atravs da argu-
mentao, como Habermas pensa? Tal consenso in-
ige violncia heterogeneidade dos jogos de lin-
guagem. E a inveno sempre nasce da dissenso.
5
Na minha opinio, a pragmtica universal oferece
uma considerao mais plausvel da linguagem, e
tentarei mostrar que a juno da noo de consenso
com a pragmtica universal sucientemente bem
sucedida para que a primeira seja imune a algumas
crticas ps-modernas. So as suposies tcitas ou
manifestas de Lyotard sobre a linguagem que o im-
pedem de ver que a heterogeneidade e a inveno
no esto perdidas no consenso como compreendi-
do nos termos de Apel ou de Habermas, porque tal
consenso uma idia reguladora. Como tal, qual-
quer consenso e ser sujeito ao princpio da falibi-
lidade.
Um consenso que no considerado conclu-
sivo de uma vez por todas no necessariamente es-
tabiliza hierarquias. De modo inverso, o que Lyotard
parece ignorar que a realizao de qualquer inven-
o ou que a inovao no permanecer uma expe-
rincia particular ou um evento mental monolgico;
ter de passar por algum tipo de consenso, pragm-
tico, normativo ou racional. J a dissenso, por si s,
no garante qualquer aceitao social ou aplicao de
idias, princpios e normas. Uma pessoa estar certa
em rejeitar a dissenso como fonte de idias novas e
recentes, desde que no perca de vista a temporali-
dade que caracteriza tais idias. Essa temporalidade
demonstrada pelo fato de que o uxo de idias pode
ser representado, gurativamente, como formando
um crculo. Quando as novas idias so publicamente
expressas, elas se originam de um rompimento com o
passado (dissenso). No entanto, para se realizar, se
rmar, tornam-se presente (consenso) e, quando se
tornam tradio, so desaadas (falibilidade) por
idias recentemente formuladas (outra dissenso),
3
Cf., por exemplo, NORRIS, 1993, pp. 14-24, e 1994, pp. 11-15, 25-27,
49, 54, 107-108.
4
Cf. STEUERMANN, 1992.
5
Cf. LYOTARD, 1984, p. XXV.
p g y p
36 i mpulso n 29
sobrevivendo (sendo transmitidas culturalmente a
novas geraes) ou se desvanecendo.
Portanto, Lyotard no pode dispensar o con-
senso se no quiser que idias novas permaneam
invenes da imaginao. Dado o fato de A Condi-
o Ps-moderna apontar para a emancipao, tomo
as concepes de Lyotard sobre o inconnu e o nou-
veau como uma exigncia, e no como uma letra va-
zia. Alm do mais, admito que Lyotard na realidade
pressupe um consenso, mas o entendo como um
consenso pragmtico que tem um papel secundrio
em sua teoria. O que est implcito uma oposio
binria entre a dissenso e o consenso, em que a pri-
meira ganha prioridade sobre o segundo. E somente
com esse entendimento sua colocao de que o
que necessrio (...) no apenas uma teoria da co-
municao, mas uma teoria de jogos que aceita a
agonstica como princpio fundamental
6
pode fa-
zer sentido.
Se o agir comunicativo no for colocado de
lado e, conseqentemente, o consenso ganhar um
papel secundrio, vrios problemas surgem no ape-
nas no domnio losco da pesquisa, mas tambm
na sociologia. Talvez a fraqueza mais sria na viso de
Lyotard citada acima acabe, do ponto de vista socio-
lgico, por se tornar bastante elucidativa quanto s
suas vises romperem ou no com a metafsica oci-
dental. A fraqueza, na minha opinio, que, ao minar
a ao orientada ao entendimento, no se pode expli-
car a coordenao da ao social que impede a desin-
tegrao de uma sociedade, sem recurso a uma res-
posta moderna, isto , uma resposta dentro dos li-
mites do liberalismo ocidental. Pois se concebemos a
sociedade como uma arena de jogos em que o prin-
cpio fundamental a agonstica, camos com duas
alternativas. Ou um dos jogadores ganha o jogo e,
como resultado, seu movimento funciona como um
aglutinante para preservar aquela formao social es-
pecca impedindo o desmoronamento de uma si-
tuao como a de Babel e interrompe o movimento
dos oponentes, ou no h um ganhador, porque nin-
gum est jogando para ganhar.
7
A primeira alternativa traz o consenso de vol-
ta ao jogo pela porta dos fundos, mas desta vez sem
qualquer critrio pelo qual se possa distingui-lo de
um consenso de terror (a menos que existam cri-
trios, embora apenas particularistas e contingentes,
isto , pragmticos no sentido de Rorty. Isso, no en-
tanto, ainda nos deixa sem sada, j que ainda no
poderamos distinguir o terror do no-terror, como
demonstrado pelas diculdades que as distines de
Rorty entre a persuaso e a fora confrontam).
8
No
mximo, sob a condio de haver algum tipo de uni-
versalismo envolvido, teramos uma idia de con-
senso complementar de Habermas. A segunda al-
ternativa leva a uma situao paradoxal: se os joga-
dores seguem as regras, mas sem o objetivo de ga-
nhar, ento, por que as seguem? Para se comunicar
uns com os outros? Um jogo que ningum quer ga-
nhar mesmo um jogo? Se a linguagem algo
como um jogo de xadrez, os participantes jogam
para ganhar. E se eles jogam para ganhar, ento, con-
tinuam jogando para defender algum tipo de inte-
resse (incluindo o de ganhar). Desse modo, o que
os mantm jogando (em termos sociolgicos, o que
impede a sociedade de se desintegrar, o que preserva
a ordem social) um interesse particular, privado,
ou um interesse coletivo, mas extralingstico, isto
, metafsico. Ele nos leva de volta s sociologias mo-
dernas que enxergam os interesses privados (Spen-
cer) ou uma conscincia coletiva (Durkheim) como
o cimento que mantm a sociedade unida.
Concluindo esse raciocnio, se os jogos de lin-
guagem so puramente convencionais, existe algo
que mantm os participantes apegados conveno
e isso pode ou no ser inerente linguagem. Por ou-
tro lado, pode haver uma teoria da racionalidade co-
municativa (mesmo que no de uma variedade ha-
bermasiana ou apeliana, mas pelo menos baseada
em algum tipo de teoria do agir comunicativo) que
rompe com a soberania da concepo ocidental da
subjetividade e suas concluses. Deve ser uma teo-
ria que prescinde das consideraes ocidentais sobre
os interesses privados versus interesses pblicos,
uma natureza humana egocntrica ou instinto, e
uma explicao da emergncia de estruturas, nor-
6
Ibid., p. 16.
7
Para entender as razes pelas quais falar no igual a um jogo de xadrez,
cf. DAVIDSON, 1984. Embora eu no concorde com as concluses de
Davidson, considero suas colocaes sobre a linguagem e o jogo de xadrez
compatveis com a armao da pragmtica universal de que a linguagem
no pode ser explicada adequadamente em termos de ao estratgica.
8
Cf. PAPASTEPHANOU, 2000.
p g y p
i mpulso n 29 37
mas e instituies sociais via psicanlise freudiana.
Agora, se os participantes no jogam para ganhar,
mas simplesmente por jogar, eles no participam do
jogo. Logo, toda a premissa dos jogos de linguagem
cai por terra, forando-nos a ver os atos de fala no
como parte da agonstica (agon, em grego, signica
debate, conito, batalha legal, mas tambm jogos e
competio). Ou ento eles participam, sim, do jo-
go, mas um jogo de natureza muito peculiar, no
qual uma das regras exige que os participantes no
desejem ganhar. Nesse caso, a agonstica como prin-
cpio fundamental redundante, porque a situao,
isto , os jogos de linguagem, no pode acomod-la.
Lyotard cria situaes paradoxais por no ser
sucientemente claro sobre a relao de um jogo de
linguagem com a forma de vida que o rodeia. Do
modo como interpreto suas palavras, ele acredita
que alguns movimentos prevalecem sobre outros e
que os jogos de linguagem so a condio para a ma-
nuteno da sociedade: os jogos de linguagem so
a relao mnima para que a sociedade exista.
9
O
que tenho tentado demonstrar que, se o princpio
fundamental dos jogos de linguagem a agonstica,
teremos de resolver um paradoxo sobre o modo
como esses jogos poderiam permanecer uma rela-
o necessria para que a sociedade exista. Uma es-
tabilidade social que, na estrutura de um universa-
lismo infalvel, pode gerar uma sociedade imvel e
morta, na estrutura de um relativismo anrquico,
pode gerar uma sociedade de seres materializados,
alienados, egocntricos e irresponsveis. Uma re-
nncia metafsica da presena e economia da
frase no requer infelizmente o abandono necess-
rio da metafsica do liberalismo individualista oci-
dental. E sem uma transgresso de ambos, no creio
que uma transio da modernidade ps-moderni-
dade possa se completar. luz dessas colocaes,
eu sustentaria que, embora Lyotard esteja certo em
renunciar ao velho paradigma, como muitos outros
ps-modernistas, via uma nfase na linguagem, ele
se apressa em rejeitar qualquer universalismo, dei-
xando, conseqentemente, de se afastar do velho
paradigma que critica. Os pressupostos implcitos
que impedem Lyotard de questionar mais radical-
mente a modernidade (um questionamento no
menos extremo, porm mais equilibrado e comple-
to) so, na minha viso, os seguintes: uma teoria da
linguagem que superestima o papel das regras e dos
nomes (esquema), uma teoria de signicado que eli-
mina o sentido literal em favor do signicado da ex-
presso, e uma prioridade vinculada estratgia so-
bre o agir comunicativo.
LYOTARD VERSUS HABERMAS:
UMA VISO GERAL DO DEBATE
Antes de tratar desses pontos, gostaria de en-
focar o que considero ser um aspecto mais profun-
do da disparidade que separa os tericos da pragm-
tica universal e Lyotard, ou seja, seus ataques ao po-
sitivismo. Todos eles lutaram contra o cientismo e o
positivismo e isso prova que eles tm mais em co-
mum do que as suas polmicas levaram a sugerir. Na
minha opinio, no entanto, os lsofos pragmti-
cos da linguagem, como Habermas e Apel, perce-
bem muito cedo que a melhor maneira de atacar o
positivismo no brigar dentro do seu prprio pa-
radigma, mas tentar uma total transio para a lo-
soa da linguagem.
10
Enquanto Apel e Habermas
entendem a virada lingstica como uma mudana
de paradigma na estrutura losca de uma lgica
formal ou razo pura para a linguagem e comunica-
o, Lyotard parece ter um sentido mais amplo do
termo virada lingstica. Em suas prprias pala-
vras, a virada lingstica da losoa ocidental
representada pelas obras posteriores de Heidegger,
a penetrao de losoas anglo-americanas no pen-
samento europeu, o desenvolvimento de tecnologias
de linguagem.
11
Ele inclui, assim, prticas ou pa-
dres (isto , tecnologias de linguagem) da era ps-
industrial que de modo algum seriam considerados
por Apel ou Habermas como um distanciamento
da losoa da conscincia.
Ao invs de desistir da linguagem como uma
totalidade, os pensadores da Escola de Frankfurt
partiram para investigar e reconstruir criticamente o
carter da linguagem. Dentro da estrutura lingsti-
9
LYOTARD, 1984, p. 15.
10
Para o desenvolvimento desse ponto, cf. PAPASTEPHANOU, M.
Language Acquisition and Meaning, in HABERMAS & CHOMSKY,
Objectivity [no prelo].
11
LYOTARD, 1988, p. XIII.
p g y p
38 i mpulso n 29
ca, eles apontam para uma reavaliao do conheci-
mento mediante a recuperao de aspectos da vali-
dade negligenciados por uma metafsica obcecada
com a verdade-como-existncia-espao-temporal, e
de esferas da realidade, o social, o privado, que so
diferentes do cognitivo. Portanto, no enfrentam o
dilema de falar com um mundo real cognitivamente
concebvel ou com uma anrquica multiplicidade de
material lingstico. Lyotard permanece preso nesse
dilema, em que se pode escolher apenas entre extre-
mos. Contra o tipo de positivismo que absolutiza a
facticidade, ele promove um nominalismo e um
anti-racionalismo que sucumbem ao ceticismo.
Albrecht Wellmer aponta um elemento com-
portamental nos primeiros trabalhos de Lyotard.
Uma vez que para Lyotard o lugar do
comportamento regulado pela construo
e pela articialidade da representao
conduzido pela razo, no sentido de dese-
jar o que possvel, o ps-modernismo en-
quanto dissoluo da semitica em energ-
tica torna-se indistinguvel do comporta-
mentalismo: no um comportamentalismo
para engenheiros sociais, como Skinner,
mas o fornecimento de um sistema social
comportamentalista.
12
Creio que no apenas na Economia Libidinal
existam alguns elementos que poderiam ser compa-
tveis com o positivismo; nas idias mais recentes de
Lyotard sobre a linguagem pode-se perceber uma
compreenso cripto-positivista do mundo. Richard
Rorty encontra elementos positivistas em ambos os
lados (Habermas e Lyotard). Sobre Habermas ele
escreve: [Habermas e M. Hesse] compartilham
[junto com seus inimigos positivistas] do pressu-
posto kantiano de que existe algum tipo de ruptura
metafsica inviolvel entre o formal e o material, o
lgico e o psicolgico, o no-natural e o natural
em resumo, entre o que Davidson chama de esque-
ma e contedo.
13
No que concerne a Lyotard,
Rorty comenta: Lyotard v as linguagens como di-
vididas umas das outras por sistemas incompatveis
de regras lingsticas, e, portanto, est comprome-
tido com o que Davidson chamou de o terceiro, e
talvez o ltimo, dogma do empirismo: a distino
entre esquema e contedo.
14
Explicar o ataque de Rorty a Habermas exi-
giria uma anlise mais profunda das suas interpreta-
es e suposies, que no so relevantes presente
questo. Aqui eu mencionaria que a mudana de
Habermas para um paradigma diferente e o conse-
qente equilbrio das esferas do mundo da vida imu-
nizam sua teoria contra os dualismos kantianos
(nmeno-fenmeno, privado-pblico, indivduo-
sociedade), que tambm podem ser encontrados no
positivismo. No entanto, isso no se aplica abor-
dagem wittgensteiniana de Lyotard sobre os jogos
de linguagem. Sua teoria da linguagem torna suas
idias vulnerveis a uma desconstruo de seus dua-
lismos. luz das colocaes de Rorty, pode-se apli-
car s idias de Lyotard uma crtica que Habermas
faz a Wittgenstein. Desse modo, assim como para
Wittgenstein as regras ensinam as condies de
conformidade ou desvio de uma expresso, sem es-
pecicar a condio da possvel interpretao das
prprias regras,
15
e, conseqentemente, o carter
auto-reexivo da linguagem se perde, para Lyotard,
de maneira semelhante, nada transcende as regras.
De fato, Wittgenstein viu que um nvel simblico
no esgota a aplicao de regras gramaticais e que h
necessidade de uma ligao entre a linguagem e a
prtica, mas ele permaneceu sucientemente positi-
vista para pensar nesse processo de treinamento
como a reproduo de um padro xo, como se os
indivduos socializados fossem inteiramente classi-
cados por sua linguagem e atividades.
16
QUESTES SOBRE LINGUAGEM
Uma anlise das idias de Lyotard sobre os jo-
gos de linguagem revela dois aspectos importantes
no mbito terico e metaterico, respectivamente:
primeiro, as regras pragmticas so para Lyotard a
quintessncia da linguagem; segundo, no h como
escapar das metanarrativas. Para lidar com as idias
de Lyotard acerca da linguagem e analisar o papel
12
WELLMER, 1984/1985, p. 340.
13
RORTY, 1991, pp. 168-169.
14
Ibid., p. 216.
15
Cf. HABERMAS, 1990b, p. 148.
16
Ibid., p. 149 (nfases acrescentadas).
p g y p
i mpulso n 29 39
das regras e convenes nela inseridas, do ponto de
vista habermasiano-apeliano, preciso primeiro es-
clarecer um aspecto crucial em que as duas posies
sobre a linguagem divergem drasticamente, ou seja,
referncia e nomeao. Dado o sentido de signica-
o mais amplo com o qual a pragmtica universal
nos prov, a relao entre referncia e nomeao
no pode ter a pretenso de esgotar todo o proble-
ma da signicao. Ele pertence a um paradigma su-
jeito-objeto (do qual nem mesmo a losoa analtica
de Frege, Russel ou Kripke se afastou apropriada-
mente) que, por sua vez, est restrito a apenas uma
parte, e no toda a estrutura, dentro da qual se pode
elaborar uma teoria do signicado. O modelo sujei-
to-objeto de losofar favorece o entendimento de
signicao como literal. Ignora a possibilidade de
conceber o sentido como uso e tambm como in-
teno, porque privilegia a esfera cognitiva da rea-
lidade que corresponde, especialmente, ao sentido
literal.
Se o sentido no apenas literal, e a questo re-
levante no s o que queremos dizer por x, mas tam-
bm o que entendemos por x, ento, o que precisamos
no (como Lyotard parece sustentar) um recurso a
um designador rgido, no sentido de Kripke, para sair
do crculo de prioridade entre signicao ou designa-
o.
17
Antes, necessria uma distino entre as con-
dies pragmticas e os critrios que usamos ao desig-
nar ou entender os nomes. O signicado do nome no
depende apenas de um batismo ditico ou convencio-
nal. Designar no o ato de um pensamento abstrato:
um sujeito no designa meramente um objeto, mas,
mais do que isso, uma comunidade compartilha lin-
gisticamente de categorias (de modo algum elemen-
taristas e apriorsticas, como em algumas verses
chomskianas de universalismo) que formam a realiza-
o pragmtico-contingente do prprio ato de desig-
nar. Em outras palavras, uma teoria que aspira resolver
o problema da relao da linguagem com a realidade
tem de, primeiro, reavaliar a realidade como algo mais
do que a existncia de objetos. Conseqentemente, ela
deve ir alm dos ou/ous do paradigma anterior (sujeito-
objeto), de modo a perceber dimenses mais profun-
das do fato de que nos comunicamos com palavras.
Vamos dar um exemplo de como a designa-
o e a referncia funcionam na teoria de Habermas
quando se trata de nomes prprios. Habermas diz
que as pessoas no podem ser identicadas sob as
mesmas condies de objetos observveis; para elas,
a identicao espao-temporal no suciente. As
condies adicionais dependem de como uma pes-
soa pode ser identicada genericamente, isto , uma
pessoa em geral.
18
A expresso eu tem no apenas
o sentido ditico de uma referncia a um objeto; ela
indica tambm a atitude pragmtica ou a perspectiva
na qual ou da qual a pessoa se expressa. E o eu usado
numa frase na primeira pessoa signica que o ora-
dor est se apresentando no modo expressivo.
19
Em contraste, para Lyotard, a marca pronominal
atua como um ditico. O eu oferece as mesmas pro-
priedades que aquilo, nem mais nem menos.
20
Para
Habermas, no a descrio das propriedades ou
caractersticas de uma pessoa, nem o mero batismo
como tal, que nos permite atribuir a ela um nome
prprio.
21
Nas palavras de Habermas, uma espcie
de familiaridade primria alcanada pelas interaes
comuns em ltima anlise, a partir das interaes
socializantes que nos permite dispor uma pessoa
espacial-temporalmente num contexto de vida
cujos espaos sociais e tempos histricos so sim-
bolicamente estruturados.
22
Assim, sem endossar a
teoria das descries denitivas de Russel, Haber-
mas oferece uma alternativa teoria da cadeia de
Kripke e ao uso que dela faz Lyotard.
23
Essa diferena entre a pragmtica universal e o
entendimento de Lyotard sobre a linguagem tam-
bm decisiva ao se partir de uma discusso dos
problemas da referncia para questes de conven-
o e regras, isto , quando se parte para se referir
17
LYOTARD, 1988, p. 37.
18
HABERMAS, 1989, p. 104.
19
Ibid., p. 104.
20
LYOTARD, 1988, p. 46.
21
Quando uma pessoa desconhecida responde ao telefone pergunta
Quem est falando? com um Eu, ela se faz conhecer como uma pessoa
identicvel, isto , como uma entidade que preenche as condies de
identidade para uma pessoa, que no pode ser identicada, meramente,
pela observao (HABERMAS, 1989, p. 104).
22
Ibid., p. 105.
23
Como Lyotard escreve explicando Kripke, O nome prprio um
designador da realidade, como um ditico; ele no tem um signicado no
mais que um ditico, ele no no mais que um ditico, o equivalente con-
densado de uma descrio precisa ou de um monte de descries (LYO-
TARD, 1988, p. 39).
p g y p
40 i mpulso n 29
comunicao. Partindo dessa perspectiva, o endosso
de Lyotard da teoria da nomeao de Kripke (at o
ponto em que ele a adota) adquire um signicado
particular. Ao defender a idia de Wittgenstein da
heterogeneidade dos jogos de linguagem e suas im-
plicaes, Lyotard ca numa situao difcil. Ele
tem de explicar como ns nos comunicamos uns
com os outros dentro no espao e no tempo, mas
sem se valer de uma metanarrativa, sem oferecer um
entendimento positivo da linguagem como uma es-
trutura singular e fechada (langue) ou como uma
ordem simblica correspondente a uma realidade
objetiva fora dos jogos de linguagem.
A teoria da nomeao de Kripke lhe oferece
aquela dimenso da linguagem que vazia de qual-
quer realidade em uma palavra, nominativa. Re-
des de quase-diticos formadas por nomes de ob-
jetos e relaes designadas dados e as relaes
existentes entre tais dados, o que signica dizer um
mundo. Chamo-o de mundo porque cada um des-
ses nomes, sendo rgidos, refere-se a algo, mesmo
quando esse algo no est presente.
24
O que cons-
titui o mundo o universo da frase , em que as li-
gaes entre os jogos de linguagem ocorrem, uma
quantidade de palavras vazias. Mas isso signica que
Lyotard repete o tradicional engano losco ana-
ltico e estruturalista de tratar as palavras como me-
ros sinais, privadas de qualquer contedo ideolgi-
co-social (Derrida tomou uma linha bastante dife-
rente, como revelam as suas noes de trace e diff-
rance). Se o nome pode agir como uma chave entre
uma frase ostensiva com seus diticos e qualquer
sentena com seu sentido ou sentidos porque ele
independe do modo como aparece e privado de
signicao, embora tenha a dupla capacidade de de-
signar e de ser signicado.
25
Ele permanece preso
na anlise semitica da linguagem fraqueza carac-
terstica entre as losoas ps-modernas ans.
Na tica de Levinas, por exemplo, tambm
percebemos que o pressuposto entendimento da
linguagem problemtico. Tanto Levinas como
Lyotard menosprezam o aspecto semntico da lin-
guagem. No caso de Levinas, a frase recebe o
mesmo papel totalitrio que recebeu em Lyotard. E
o conceito um mecanismo da ontologia exer-
cendo seu poder sobre a diversidade, de modo a
agarr-la, homogeneiz-la e disciplin-la, cancelan-
do, assim, qualquer gesto pr-ontolgico/pr-lin-
gstico no sentido da alteridade. Ao lidar apenas
com o sinal, Levinas e Lyotard facilitam a rejeio ao
terror do sinal (Lyotard) ou ao terror do concei-
to (Levinas).
Na verdade, quando se esvazia as palavras de
seu contedo semntico, no h necessidade de se
referir a uma legitimao extralingstica dos jogos
de linguagem, mediante o apelo razo ou verdade.
Mas tendo privado a prpria linguagem de qualquer
qualidade semntica (nesse sentido) de uma legiti-
madora auto-reexo, no se pode invocar qualquer
legitimao intralingstica dos jogos de linguagem.
Isso traz de volta legitimaes extralingsticas que
no pertencem tradio iluminista, pois evitam o
dogmatismo da razo, mas se referem a um tipo de
inao e absolutizao dogmtica pr-iluminista de
um determinado sistema de idias ou teorias. Quan-
do Lyotard rejeita todos os apelos razo como
grande metanarrativas, ele ca com uma questo
embaraosa; nas palavras de Wellmer, o problema
da justia sem consenso ca aberto para Lyotard: a
quem se aplica a regra joguemos em paz e quem a
cumprir?.
26
Enquanto Lyotard no parece muito
ansioso em dar uma resposta, Levinas, em sua tenta-
tiva de se esquivar a uma tica particularista-mono-
lgica, lana mo de uma noo no menos proble-
mtica de vocao que atribui um carter querigm-
tico linguagem.
27
O endosso de Lyotard teoria de Wittgens-
tein dos atos de fala como movimentos em um jogo
lhe do uma noo de linguagem que deixa pouco
espao para o agir comunicativo, como ao orien-
tada para o entendimento e a mutualidade. Lyotard
se ope denio da linguagem enquanto ferra-
menta para alcanar objetivos; ele se recusa a v-la
como um veculo do pensamento, e assim ele se re-
24
Ibid., p. 40.
25
Ibid., p. 43 (destaque acrescentado). A semelhana entre a funo do
nome (p. 44) e a do esquema, nos termos de Kant, justica, de certo
modo, a crtica de Rorty sobre o terceiro dogma do empirismo (ver
acima).
26
WELLMER, 1984/1985, p. 358.
27
CIARAMELLI, 1991, pp. 85-95.
p g y p
i mpulso n 29 41
fugia em uma total negao da linguagem (langue)
como um conceito geral. Deixa claro que quer re-
futar o preconceito ancorado no leitor por sculos
de humanismo e de cincias humanas de que h o
homem, de que h a linguagem, e que o primeiro
faz uso da segunda para alcanar seus prprios
ns.
28
Logo, no h linguagem como tal, mas jogos
de linguagem como pequenas ilhas ligadas umas s
outras por regras.
A inteno de Lyotard de atacar as teorias -
loscas que tratam a linguagem como um concei-
to geral objetivo (universalium) e as tendncias -
loscas que atribuem a ela um papel secundrio,
priorizando, assim, o pensamento ou o conheci-
mento e formalizando-a por meio de vrias meta-
linguagens , at certo ponto, justicada. Mas o
fato de ele reduzir a linguagem a pequenos jogos de
linguagem isolados, particularistas, enfraquece a sua
prpria tentativa de criticar um uso intencional da
linguagem. Os estilos de discurso fornecem regras
para ligar frases heterogneas, regras prprias para
atingir certos objetivos: saber, ensinar, ser justo, se-
duzir, justicar, avaliar, provocar emoes, negli-
genciar No h linguagem em geral, exceto
como objeto de uma idia.
29
Ele prescinde de uma
compreenso universalista da linguagem, de modo a
escapar da relao sujeito (homem/mulher) obje-
to (linguagem); porm, traz essa relao de volta,
em termos particularistas, j que as regras so apro-
priadas para atingir objetivos. No devemos nos es-
quecer que a ao voltada para um objetivo estra-
tgica, e o agir estratgico est baseado numa racio-
nalidade centrada no sujeito.
A teoria do agir comunicativo, com seu en-
tendimento compreensivo da linguagem e suas pre-
missas universalistas, parece mais radical do que o
ps-modernismo de Lyotard, em sua abordagem
do problema do uso intencional da linguagem, j
que ela v a linguagem no como uma ferramenta,
mas como uma teia na qual as pessoas se pendu-
ram e se socializam. Habermas e Apel esto muito
conscientes dos problemas que uma teoria da lin-
guagem acarretaria, quer como instrumento de co-
municao quer como instrumento da agonstica.
Em ambos os casos, a linguagem seria reduzida a
um instrumento do pensamento, produzindo, mais
uma vez, as decincias da losoa da conscincia,
por exemplo, externo versus interno e mente versus
corpo (oposies binrias). O embutir a razo na
linguagem garante o afastamento da estrutura que
impediu a Teoria Crtica primitiva de oferecer um
entendimento convincente do que a no-estrategi-
calidade poderia ser.
As regras que ligam diferentes jogos de lin-
guagem no so preestabelecidas, mas pragmticas.
Conseqentemente, nenhum julgamento espec-
co pode ser feito aplicando-se categorias familiares
ao texto ou ao trabalho.
30
Mas se for esse o caso,
ento, camos sem respostas adequadas pergunta
como compreendemos um ao outro em nosso
contato e comunicao uns com os outros, se nos
falta qualquer tipo de julgamento especco? ou
como nos comunicamos com geraes mais velhas
ou com mundos da vida exteriores?. Pelo fato de
Lyotard compartilhar com Wittgenstein de um en-
tendimento particularista dos jogos de linguagem, a
crtica de Apel e Habermas a Wittgenstein tambm
se aplica a Lyotard. Pois a nica resposta que se po-
deria extrair da abordagem da linguagem de Lyotard
para as perguntas acima exigiria recurso a uma ana-
mnese platnica ou linguagem privada que Apel,
seguindo os passos do prprio Wittgenstein, criti-
cou.
31
Como j vimos, a resposta indireta de Lyo-
tard a esse dilema vaga: ele confronta a questo de
como as frases de diferentes gneros encontram
uma a outra, mas decide que o encontro no envol-
ver uma avaliao conclusiva, j que no h um
ponto comum de referncia para elas.
Para arm-lo, Lyotard tem de, primeiro, es-
vaziar completamente o universo de qualquer con-
tedo emprico. A condio do encontro no esse
universo, mas a frase na qual voc o apresenta. uma
condio transcendental, e no emprica.
32
Embora
tal nominalismo radical rompa de fato com o cien-
tismo e o atomismo lgico russeliano, ele no ofere-
ce uma resposta satisfatria para a questo da natu-
reza desse contexto lingstico, que permite encon-
28
LYOTARD, 1988, p. XIII.
29
Ibid., p. XII (destaque acrescentado).
30
Idem, 1984, p. 81.
31
Cf. APEL, 1967.
32
LYOTARD, 1988, p. 28.
p g y p
42 i mpulso n 29
tros culturais cruzados, e a forma como a comuni-
cao realmente acontece, independentemente de
quantos differends possam surgir. Lyotard no tem
uma resposta satisfatria para esse ponto, pois parece
limitar a auto-referencialidade na linguagem exclusi-
vamente aos diticos.
33
Uma alternativa para os insi-
ghts de Lyotard seria a idia de um princpio genera-
lizado de auto-reexo que acomode traduo e tra-
dio, alm de explicar como a prpria linguagem
est infundida de elementos metalingsticos sem
criar a necessidade de uma metalinguagem formal,
nem a de rejeio do conceito de metalinguagem.
A histria Cashinahua, referida por Lyotard,
pretende mostrar como as narrativas pragmticas
fornecem legitimao imediata, em contraste com a
legitimao fornecida pela argumentao. O fato de
que a perda de signicao, como conseqncia da
renncia a grandes metanarrativas, questiona os
modos ocidentais de legitimao no vincula uma
atitude de vale-tudo. Uma outra forma de legiti-
mao governa as narrativas tradicionais, pragmti-
cas. Nas palavras de Lyotard: As narrativas, como
vimos, determinam os critrios de competncia e/
ou ilustram como devem ser aplicados. Assim, elas
denem o que tem o direito de ser dito na cultura
em questo, e sendo elas mesmas parte dessa cultu-
ra, so legitimadas pelo simples fato de que elas fa-
zem o que fazem.
34
Lyotard no menciona at
onde conheo nada sobre o terror de uma nar-
rativa que dene o que tem o direito de ser dito ou
no, nem tenta defender historicamente a tese de
que as narrativas tradicionais impem menos terror
do que o que ele chama de grandes metanarrativas.
35
UM PONTO DE VISTA CRTICO:
A AUTOCONTRADIO PERFORMATIVA
DE LYOTARD
No vamos levantar nem tentar discutir o
quo prximo chega Lyotard do pragmatismo de
Rorty, porque poderia ser mais relevante ao objetivo
desse texto revelar uma contradio performativa
nas hipteses de Lyotard. Manfred Frank aponta
para uma metfora-padro de ps-estruturalismo
tambm usada por Lyotard, isto , olhar de fora. A
teoria ps-moderna olha para a casa fechada (ou
supostamente fechada) da metafsica como se esti-
vesse de fora, como se ainda no fosse um mora-
dor.
36
A observao de Frank aplica-se no apenas
autocompreenso do ps-estruturalismo como
no-metafsico, mas tambm crena do ctico de
que ser ctico signica no discutir. Ceticismo debate
e, como tal, est sujeito s regras do debate, tanto quan-
to qualquer outra forma de pensamento. crdito de
Apel ter demonstrado isso. Como o ps-estruturalista
que acredita perceber a metafsica sem fazer metafsica,
Lyotard, de modo semelhante, rejeita as metanarrativas
como se estivesse de fora. Desse ponto de vista, um
proponente de uma religio, mito ou ritual, ou um dis-
cpulo de um profeta seria mais consistente que Lyo-
tard no ataque s metanarrativas, porque apelaria s
narrativas cujos argumentos no dependem direta-
mente da razo como critrio de legitimao e valida-
o (sem que isso signique que sejam necessariamen-
te irracionais). De onde Lyotard obtm a legitimao
de suas vises? Especialmente de Kant, Wittgenstein,
Kripke e da comunidade losca do passado e do
presente, que legaram sua teoria argumentos cuja
validade pode ser medida discursivamente. Lyotard
apela aparentemente s metanarrativas, enquanto
defende a rejeio das metanarrativas, cometendo,
assim, uma autocontradio performativa.
Isso faz lembrar a contradio similar de
Nietzsche e os diligentes esforos de diversos pen-
sadores ps-modernos para justic-la. Derrida, em
Supplement of Copula e em Spurs, parece consi-
derar a contradio de Nietzsche um movimento
legtimo. Mas pensar que possvel argumentar
contra a razo como uma forma de validao, sem
evitar argumentar com a razo, fora o pensador a
concesses e compromissos que, de outro modo,
ele dispensaria. Uma concesso muito clara seria a
admisso de que a razo no pode ser totalmente in-
criminada, pelo menos at o ponto em que ela ofe-
33
Ibid., p. 41.
34
Idem, 1984, p. 23.
35
Com essa observao, no estou sugerindo que a cultura ocidental se
justicaria por reivindicar superioridade, de modo geral, sobre as culturas
primitivas. Pode-se tomar a srio o argumento de Claude-Levi Strauss
contra tal reivindicao, em Races and History (Paris: Unesco, 1952),
embora ainda aceitando o valor da razo processual como argumento con-
tra a idia romntica de uma sociedade livre e contente. O que estou suge-
rindo que pode haver uma relao de complementaridade, ao invs de
incomensurabilidade, entre diferentes tradies.
36
FRANK, 1989, p. 78.
p g y p
i mpulso n 29 43
rece material conceitual para a sua prpria crtica. E
um compromisso concomitante seria incluir e re-
clamar losca e precisamente os modos autocrti-
cos de racionalidade. Assim, uma fraqueza da teoria
Lyotard o fato de no conseguir convencer sem re-
correr a uma argumentao racional, meticulosa e
cuidadosa, no apenas porque torna seu trabalho in-
consistente e incoerente, mas, antes de tudo, por
abrir uma direo que ele no parece, de modo al-
gum, disposto a buscar.
37
A crtica totalizadora da
razo, de Lyotard, mostra, involuntariamente,
como a linguagem , impedindo qualquer tentativa
de ir alm do conceito sem cometer confuses e
autocontradies performativas. Isso acontece em
razo do carter da linguagem, do fato de a lingua-
gem levantar, automaticamente, pretenses de vali-
dade, independentemente de aceitarmos ou no a
validao. No que concerne, particularmente, ao par
pensamento versus linguagem, o Derrida de Sup-
plement of Copula est muito prximo de Haber-
mas e Apel dos anos 80.
Lyotard se contradiz, quando passa da onto-
logia e epistemologia teoria social, ao tentar minar
a metafsica ocidental. Ele parece no levar em conta
que, mesmo que os nossos consensos sejam iluses
e ainda que, do ponto de vista do observador, no
exista tal realidade xa, o importante para a comu-
nicao, e, portanto, para a tica, a poltica e a ao
social, no a existncia objetiva da justia ou da
sinceridade, mas seu papel como pretenso de vali-
dade. Negar justia, verdade ou sinceridade
uma existncia ontolgica uma falcia descritiva (e
positivista) tanto quanto deni-las como realidade
mxima em um sentido platnico. Temos de traba-
lhar com os dois lados da mesma moeda. Uma no-
existncia ontolgica ou uma incapacidade de de-
fender uma existncia independente da frase de
modo algum diz algo sobre a verdade ou a justia
como pretenses de validade, ou sobre a linguagem
enquanto meio de comunicao e do prprio car-
ter da comunicao. Colocando de modo mais cla-
ro: no se pode refutar uma idia prescritiva com
outra cognitiva.
A existncia ou no da verdade, na sua deni-
o absoluta e compreensiva como essncia ou alm
da essncia, irrelevante para o papel assumido por
esse conceito quando um cientista desenvolve uma
equao qumica ou um Cashinahua decide que as
mangas esto sucientemente maduras para serem
comidas e deixa os outros saberem disso. Lyotard
parece desejar estender suas descobertas ontolgi-
co-epistemolgicas a um campo diferente, isto ,
interao simbolicamente mediada, para mudar da
perspectiva do observador de um participante, ti-
rando concluses que levam ao relativismo ou a um
pragmatismo bruto. Isso sujeita suas idias ao mes-
mo erro por ele condenado: ele j deixou claro que
uma metalinguagem cognitiva no pode validar, di-
gamos, uma ordem ou avaliao.
38
Armar fazer do
real um mero construto terico uma incoern-
cia de sua parte e responder por uma estrutura des-
totalizada de prtica localizada
39
representa a ridi-
cularizao do carter aparentemente pseudo-uni-
versalista das assim chamadas grandiosas idias do
iluminismo, como autonomia, liberdade, solidarie-
dade, verdade e justia.
No se pode tratar a questo da existncia de
uma idia universalista de validade como se questio-
nssemos se um anel de diamante ou se essa a
equao que produz sal ou no.
40
A observao de
Christopher Norris a esse respeito bastante escla-
recedora: H um sentido no qual Lyotard est certo
em invocar Kant pela contestao de qualquer teoria
simples de correspondncia da histria, poltica e in-
teresses de classes. Assim, ele pode citar vrias pas-
sagens na terceira Crtica que de fato oferecem o su-
blime como um smbolo do abismo entre regimes
de frases cognitivos e avaliativos. No entanto,
como Norris mesmo argumenta pode-se muito
bem chegar a essa concluso sem usar dos repetidos
37
Essa responsabilidade poderia ser atribuda a Derrida, no sentido de que
sua obra interpretada de tal modo que qualquer desmantelamento da
oposio razo versus outro da razo, transcrito como totalitarismo versus
liberdade, torna-se dbio. No entanto, Derrida deixa espao para um
outro da razo dentro da razo e, nesse sentido, uma reconstruo e reabi-
litao da racionalidade comunicativa seria compatvel com a desconstru-
o, independentemente do fato de que Derrida no parece favorecer essa
direo. Para mais detalhes sobre a razo e Derrida, cf. DERRIDA, 1983.
38
LYOTARD, 1988, p. 31.
39
WATSON, 1984, p. 15.
40
Para uma defesa dessa idia no entendimento de Habermas ou Apel, ver
a argumentao de Habermas sobre a competncia comunicativa, em
HABERMAS, 1970.
p g y p
44 i mpulso n 29
e contnuos desvios de Lyotard segundo as idias de
Kant sobre o sublime.
41
Realmente, pode-se che-
gar a uma distino entre o cognitivo e o prescritivo
sem repetir a inconsistncia de Lyotard. Pois uma
inconsistncia projetar um julgamento cognitivo
(no h realidade extralingstica compreensvel
que sustente idias ou crenas tico-polticas) em
uma totalidade de expresses normativas (portan-
to, nada podemos dizer sobre o que justo, verda-
deiro, direito humano, liberdade, autonomia, auto-
determinao ou heteronomia da dependncia).
A diferenciao de Apel e Habermas entre os
mundos objetivo, subjetivo e social corresponde a
uma diferenciao concomitante entre signicado
literal, verbal e intencional. O status analgico dos
elementos de cada distino garantido pela unida-
de da razo como uma propriedade profunda da lin-
guagem. Ele pode servir de exemplo da possibilida-
de de reconhecer as diferentes pretenses de valida-
de (conseqentemente, sem sucumbir a uma crua
falcia descritiva), ao mesmo tempo que evita a au-
tocontradio de fazer realmente o que foi rejeitado
como invlido. Um exame mais profundo dos ar-
gumentos de Lyotard mostra que, apesar de suas
exortaes para denunciar a razo, o seu apego
lgica formal que,
42
disfarado de defesa da inco-
mensurabilidade dos jogos de linguagem, e impon-
do uma rejeio argumentao racional entre
membros de diferentes formas de vida, tenta redi-
mir o ser humano do totalitarismo da razo e do
consenso. O desejo de absoluta transparncia exigi-
do pela lgica formal que instiga Lyotard a descar-
tar at as moderadas e modestas pretenses de vali-
dade e racionalidade. Um consenso fossilizado , de
fato, terror. Mas no parece concebvel uma crti-
ca dos aspectos totalitrios da razo e do sensus com-
munis sem um discurso metdico e racional basea-
do na crena em uma signicao lingstica su-
cientemente identicvel, compartilhada e aspirante
a desmascarar ideologias. E Lyotard parece fazer
muito pouco para especicar que tipo de crtica seria
essa. A dependncia da arte ou do sublime de pou-
ca ajuda, como demonstra a inadequao da dialtica
negativa adorniana. Eu gostaria de demonstrar um
pouco mais como uma teoria da crtica ideolgica
promove uma autocrtica do sujeito ocidental e sua
racionalidade, e quo mais compatvel com uma
epistemologia ps-positivista ela do que o ceticis-
mo de Lyotard.
Vamos assumir que Lyotard esteja certo em
suas suposies ultranominalistas implcitas sobre a
referncia e na sua defesa de uma incomensurabili-
dade de jogos de linguagem, isto , que no pode
haver traduo entre os componentes cognitivos e
normativos de um mundo da vida. Isso nos faria
perder de vista o fato de um julgamento cognitivo
ter sempre uma dimenso no-cognitiva e um jul-
gamento subjetivo ou normativo poder ter tambm
uma dimenso cognitiva. Esse exatamente o pon-
to que Lyotard deixa escapar quando escreve que
por exemplo, em a porta est aberta, o sentido em
relao ao qual o referente se situa est sob o regime
de descritivos.
43
Um julgamento cognitivo no
apenas uma declarao factual que estabelece uma
relao descritiva com um mundo um universo
ou uma frase (como preferiria Lyotard); ele expres-
sa tambm uma certa compreenso do mundo, um
certo ponto de vista metafsico ou uma certa discri-
minao sociopoltica. Assim (e aqui um proponen-
te das idias de Lyotard discordaria fortemente), um
julgamento cognitivo pode levantar abertamente
uma pretenso de validade, a saber, a da verdade
proposicional. Mas tambm levantaria, ao mesmo
tempo, algumas outras pretenses relacionadas a vi-
ses, ideologias pessoais, normas sociais, crenas
predominantes e da para a frente.
No entendimento de Habermas, seguindo
Dummett, h bem poucas declaraes cuja validade
se esgota na ostenso. O benefcio da abordagem de
Habermas pode ser demonstrado por um exemplo.
A armao os fenmenos fsicos se conformam a
leis num continuum no aponta meramente para
uma teoria sobre um mundo objetivo, que ele tenta
explicar por meios cognitivos e descritivos. Ela re-
41
NORRIS, 1993, p. 22.
42
Uma leitura atenta de The Differend, de Lyotard, mostra que ele argu-
menta dentro da lgica formal, do modo como emprega a teoria de Wit-
tgenstein e Kripke. Seus pontos quando discute Faurisson, todos os seus
passos em sua refutao da razo, tudo, numa anlise nal, constitui argu-
mentos e teses. Considero isso uma contradio performativa, de acordo
com a denio de Apel.
43
LYOTARD, 1988, p. 42.
p g y p
i mpulso n 29 45
vela, tambm, uma viso metafsica de que todos os
fenmenos obedecem a relaes e regras lineares
matemticas, de que o chamado mundo fsico algo
como uma mquina bem ajustada na qual no h fa-
lhas, rupturas ou descontinuidades, e quanto mais
acumularmos dados iniciais, mais seremos capazes
de prever qualquer coisa relacionada casualmente ao
input. Em segundo plano, est a viso de mundo de
que tudo previsvel e mensurvel.
44
H toda uma
ideologia escondida por trs de proposies que,
por sua vez, do origem a muitas mais. Desmascarar
uma ideologia no apenas revelar o suposto carter
no-cientco da questo em jogo (como os mar-
xistas ortodoxos poderiam sustentar). Mais impor-
tante tornar conhecidos os ocultos motivos, en-
tendimentos e crenas que poderiam ter um impac-
to deturpador sobre uma comunicao que deveria
ser (pelo menos em princpio) no reprimida.
Justamente por isso, algum envolvido em
um debate com Faurisson, cujo histrico entendi-
mento de Auschwitz discutido por Lyotard em
The Differend, pode trazer luz ideologias determi-
nantes do seu ponto de partida. Em particular no
caso de Faurisson, um primeiro passo seria demons-
trar-lhe o quanto ele est preso em uma metafsica
que sempre busca uma testemunha ocular
45
e, con-
seqentemente, um segundo passo seria desvendar
as vrias vises polticas, sociais e etnocntricas im-
plicadas. Parece-me uma contradio que, embora
Lyotard esteja to disposto a desmascarar a cincia,
a razo e o iluminismo, em a Condio Ps-moder-
na, Faurisson parea relutar em fazer o mesmo, pre-
ferindo, ao contrrio, pr esse caso em jogo como
um exemplo do differend e da incomensurabilidade
dos jogos de linguagem, consentindo tanto no ceti-
cismo. Lyotard se contradiz quando parte para ridi-
cularizar o carter totalitrio tirnico da metafsica
da presena, mas parece ctico sobre a possibilidade
de debater efetivamente com Faurisson, ridiculari-
zando sua ideologia. Consistente com suas idias ou
no, Lyotard insiste que o regime de frase cognitivo
no tem qualquer conexo interna com o avaliativo.
Ao endossar a distino kantiana entre o belo
e o sublime, ainda que renunciando a idia kantiana
da unidade da razo, ele parece se afastar da moder-
na absolutizao da racionalidade. Sem pretender
subestimar a contribuio de Lyotard a uma justi-
cada crtica da modernidade, vale a pena notar que
essa idia particularmente tendenciosa da moderni-
dade como responsvel por uma absolutizao da
racionalidade altamente contenciosa. Mas o dua-
lismo belo versus sublime de Lyotard, sem algo que
permita uma passagem ou traduo de um para o
outro, o leva implicitamente a uma concepo de
uma realidade fragmentada. uma concepo que,
embora invertida (simplesmente virada de cabea
para baixo, como que vista atravs de uma cmara
obscura), assemelha-se, em suas pressuposies,
moderna compreenso da realidade. Nessa concep-
o moderna, a parte prevalecente
46
da bipolaridade
razo (como lgica formal) versus no-razo ou es-
prito versus matria era razo e matria, respectiva-
mente. Em outras palavras, existe um mundo mate-
rial que pode ser totalmente decifrado e conhecido
por meios racionais. Na concepo subjacente de
realidade de Lyotard (e de muitos pensadores ps-
modernos), a parte prevalecente da bipolaridade
torna-se no-razo e frase (ou seja, esprito disfara-
do de linguagem), mas a bipolaridade em si ainda
est l.
A transcendncia do modelo de uma losoa
da conscincia no acarreta a refutao de um obje-
tivo em favor de uma realidade lingstica. O que
impe, no entanto, a recuperao de diferentes di-
menses da realidade deixadas de fora dos entendi-
mentos tradicionais. Ela concede um status analgi-
co a todos os componentes do nosso mundo da
44
Existe uma imensa bibliograa sobre o problema da metafsica oculta na
cincia, em particular segundo a epistemologia de Kuhn e Feyerabend.
Minha fonte, aqui, CASTORIADIS, 1993, p. 96.
45
Seria muito apropriado argumentar, contra Faurisson, que a existncia
de um conceito no vincula a existncia espao-temporal de um objeto
(Frege). Tambm a ocorrncia de um fato ou a existncia de um estado de
coisas no tm, necessariamente, uma ligao estreita com a presena. Ela
pode, muito bem, ser explicada dentro das condies da ausncia de teste-
munhas, que Faurisson considera to decisivamente proibitivas (o texto de
Derrida Supplement of Copula nos forneceria semelhanas bastante
incisivas. In: DERRIDA, 1982).
46
Como Norris a coloca, ao discutir Lyotard quanto ao sublime: o car-
ter [do sublime kantiano] como bloquear todos os apelos a critrios cog-
nitivos ou epistmicos (NORRIS, 1994, p. 49). Na minha opinio, isso
acontece porque Lyotard no reconhece uma dimenso auto-reexiva da
linguagem. Assim, quando se trata da tica, ele tem recurso a uma forma
extralingstica de legitimao, o sublime, um movimento fortemente
reminiscente de Levinas e sua maneira de priorizar a tica ontologia.
p g y p
46 i mpulso n 29
vida e medita sobre a frgil e sempre desordenada
unidade dos nossos modos de perceber e pensar
que garantido na linguagem, e no na conscincia.
Nem a desconstruo da terceira pessoa do presen-
te do indicativo
47
nem a delimitao da ontologia de
Quine conseguem reclamar todos esses modos de
ser neutralizados pelo positivismo em razo de sua
delidade facticidade. Quanto ao problema do
cognitivo relacionado aos julgamentos normativos
que aqui nos ocupam, citemos mais uma vez Apel:
Podemos e devemos no apenas assumir, em
relao epistemologia (Erkenntnistheorie),
que um conhecimento (verdade) intersub-
jetivamente vlido possvel; podemos e
devemos tambm assumir, em relao ti-
ca transcendental, que uma lei costumria
intersubjetivamente vlida. Em ambos os
casos, podemos pensar no pensamento como
argumentao; e aqui est a unidade pela qual
Kant procurava, a unidade da razo terica e
prtica, e, mais importante, no no sentido de
um fato emprico ou metafsico, do qual ne-
nhuma norma pode derivar, mas no de uma
norma bsica necessariamente reconheci-
da.
48
Como Detlef Horster coloca: onde Kant
costumava buscar uma unidade transcendental da
conscincia, Apel v um a priori de uma comunida-
de que se comunica.
49
Como Habermas tambm tentou garantir
essa unidade da razo e localiz-la na linguagem,
fcil ver que a interpretao de Lyotard do papel da
arte no projeto de Habermas enganosa. Lyotard
escreve: O que Habermas requer das artes e das
experincias que elas provem , em resumo, vencer
a lacuna entre os discursos cognitivo, tico e polti-
co, abrindo, assim, um caminho para uma unidade
da experincia.
50
No entanto, escapa ateno de
Lyotard que Kant buscava subordinar os diferentes
domnios da racionalidade noo de uma unidade
transcendental da apercepo, e essa omisso da par-
te de Lyotard leva a uma confuso que resulta numa
inao da noo do sublime.
51
A ESTRATEGICALIDADE E A
PERSPECTIVA DA CRTICA
Emilia Steuermann argumenta que a diferen-
a bsica entre Habermas e Lyotard, no que concer-
ne linguagem, que o primeiro enfatiza a impor-
tncia do agir comunicativo, ao passo que o segun-
do destaca o agir estratgico e a agonstica. Embora
isso seja plausvel e abra uma importante questo
que agora discutirei, penso que essa diferena ba-
seia-se num conjunto mais profundo e complexo de
pressuposies feitas pelos dois lados. Mas essa
questo car clara aps um breve desvio, que es-
clarecer a observao de Steuermann. Esse desvio
pretende discutir as ms interpretaes do agir co-
municativo de alguns outros pensadores que ques-
tionam a prioridade da racionalidade comunicativa
sobre a racionalidade estratgica.
A leitura feita por Michael J. Shapiro da teoria
crtica de Habermas equivocada e inconsistente.
Diz Shapiro: A verso original da teoria crtica de
Habermas baseada na sua inveno de um espao
de conversao desvinculado das conversas polticas
da vida diria, de modo a transcender as ideologias
imanentes em diferentes formas de posies parti-
drias ou movidas pelo interesse.
52
Mas os pontos
restantes levantados por ele (e no posso discuti-los
individualmente aqui, por questes de espao) con-
tra a pragmtica universal e a interpretao de Be-
nhabib sobre Austin pressupem, em grande medi-
da, a teoria de Wittgenstein sobre o signicado da
47
Cf. o conceito S is P em DERRIDA, 1988.
48
Citado por HORSTER, 1982 (destaque acrescentado).
49
Ibidem.
50
LYOTARD, 1984, p. 72. Quando viso de Habermas sobre a arte, eu
diria, muito brevemente, que o que caracteriza essencialmente as artes no
o seu papel supostamente legitimador. Isto , as artes no garantem a
unidade, o fechamento, mas antes uma revelao; elas tm uma fora de
revelao do mundo. A arte tem um papel inovador. Nas palavras de
Habermas, uma obra moderna torna-se clssica porque uma vez foi
autenticamente moderna (HABERMAS, 1981, p. 4).
51
Esse um argumento que as crticas de Lyotard j desenvolveram
convincentemente, creio eu (cf., por exemplo, a introduo de Peter Dews
obra de Habermas: Autonomy and Solidarity. London: Verso, 1992, pp.
21-23). No entanto, os seguidores de Lyotard parecem t-lo ignorado ou
deixado-o de lado (cf., por exemplo, Cecile Lindsay: Kant e Wittgenstein
nos permitem conceber nessa disperso que, para Lyotard, molda nosso
contexto ps-moderno: o primeiro com sua separao e conito das facul-
dades, e o segundo com sua formulao de distintos jogos de linguagem
LINDSAY, 1992, p. 398).
52
Cf. essa e outras crticas teoria de Habermas, em SHAPIRO, 1992, p.
8 (destaque acrescentado) e pp. 3, 8-9, 25, 47-48, 138. Quanto tica do
discurso estar preocupada com as verdadeiras conversas polticas da vida
diria, cf. WARNKE, 1990.
p g y p
i mpulso n 29 47
expresso, bem como uma radicalizao de seu rela-
tivismo cultural via Lyotard. A pragmtica universal
emprega a idia reguladora de uma situao ideal de
fala, mas no de um modo prescritivo. A situao
ideal de fala no uma criao de um lsofo, mas
uma situao discursiva implcita na linguagem e
traada em qualquer contexto e em qualquer mun-
do da vida em que algum tipo de interao simblica
acontea. Mesmo em aes estratgicas em que o
objetivo do locutor alcanar um objetivo sem a
fora do melhor argumento e, ao invs de conven-
cer (berzeugen), engana o ouvinte, ainda a dimen-
so ilocucionria da expresso que deve ser conside-
rada se for para atingir o efeito perlocucionrio. O
agir estratgico, na maioria dos casos, s pode passar
como uma ao genuinamente comunicativa para
que uma distoro da comunicao (enganar, por
exemplo) possa ter xito. Logo, a situao ideal de
fala no uma inveno de lsofos pragmticos,
mas um termo descritivo de um atributo bsico de
interao simbolicamente mediada (como tambm
o a bvia dependncia da estratgia no agir comu-
nicativo).
53
O que parece bastante controverso sobre o
potencial legitimador da argumentao racional a
ligao da razo com o agir comunicativo. Mas e o
agir estratgico? Tanto J. Culler quando D. Ras-
mussen questionam o carter cientco da priorida-
de do agir comunicativo sobre o estratgico.
54
No
entanto, parece haver uma confuso terminolgica
no artigo de Culler sobre o agir comunicativo. Apa-
rentemente, Culler identica intencionalidade com
ao estratgica. Talvez ele tenha em mente um en-
tendimento griceano de intencionalidade. Nem a
denio fenomenolgica nem a habermasiana das
intenes do locutor se igualam a essa combinao
de inteno e estrategicalidade. A pressuposio de
que Culler interpreta erroneamente a concepo de
intencionalidade de Habermas parece conrmada
pelo fato de as teorias da intencionalidade como a
de Grice e a de Davidson, que operam com um su-
jeito emprico serem mais reconciliveis com as as-
piraes tericas ps-modernas de Culler do que
outros tipos de intencionalidade, isto , a husserlia-
na, que pressupe um eu transcendental. Conse-
qentemente, o ps-estruturalismo de Culler pode
juntar inteno e estrategicalidade mais facilmente
dentro de uma teoria griceana da signicao do
que em uma husserliana ou outra.
Se, contudo, for esse o caso, apesar de seus
manifestos e antemas contra o cartesianismo, o
ps-estruturalismo oscila entre o transcendencialis-
mo kantiano e o psicologismo lockeano (sujeito
emprico, mas solipsstico). Uma acusao estereo-
tpica contra Habermas ele supostamente defen-
der a intencionalidade associada a um sujeito a-his-
trico no situado e a uma pretendida signicao
lingstica. Essa acusao surpreendentemente co-
mum em tericos que rejeitam a conformidade, o
consenso, a violncia de crticas arbitrrias e gerais, a
marginalizao. Parece que mesmo que o consenso
seja, no entender deles, indesejvel, inevitvel con-
cordar quando eles lem a gramtica de Habermas
como inexivelmente subjetivista, argumentam
que o sujeito de Habermas no tem histria e des-
cobrem concepes subjetivas supostas por Ha-
bermas em sua abordagem da comunicao.
55
verdade que a pragmtica universal deixa es-
pao para a intencionalidade e a correspondente
pretenso de validade na sua reconstruo de com-
petncias lingsticas e comunicativas. Mas o faz
sem declar-lo um ponto de vista absoluto. Com-
preender uma inteno do locutor e, conseqen-
53
Sobre a relao dos efeitos perlocucionrio e ilocucionrio na pragmtica
universal, alm da bibliograa bsica, cf. tambm WARNKE, 1995, p. 121.
Quanto ao fato de que as pressuposies da argumentao no so c-
es criadas pelo terico em um esforo para ilustrar nossos signicados
sociais partilhados, cf. idem, 1992, p. 94.
54
Eles tambm contestam a correspondncia entre o efeito ilocucionrio
e o agir comunicativo e entre o efeito perlocucionrio e o agir estratgico.
No que diz respeito a isso, eles negligenciam o fato de o Habermas poste-
rior (em Postmetaphysical Thinking. Cambridge: Polity Press, 1992) distin-
guir entre trs tipos de efeito perlocucionrio, dos quais somente o ltimo
corresponde ao estratgica. Para um parecer sobre a posterior distino
de Habermas entre os efeitos ilocucionrios e perlocucionrios e as aes
comunicativa e estratgica, cf. ibid., p. 63, e G. WARNKE, Communica-
tive Rationality and Cultural Values. In: WHITE, 1995, p. 121.
55
As trs crticas vm, respectivamente, do livro de SHAPIRO (1992, p.
47), no qual ele ataca Habermas por admitir sujeitos que intencional-
mente produzem signicados; de YOUNG, 1990; e de AGACINSKI,
1991. Agacinski escreve: a abordagem [que Habermas faz] da comunica-
o ainda admite concepes subjetivas iniciais e, portanto, uma atomiza-
o original de sujeitos ainda isolados ou capazes de estar isolados (isso
signicaria todo sujeito por si mesmo, no compartilhado e no dividido:
signicaria indivduos). Teria-se, portanto, que atribuir essas concepes
subjetivas iniciais a sujeitos que ainda no teriam se comunicado e mesmo
que ainda no teriam falado (p. 13).
p g y p
48 i mpulso n 29
temente, uma ao chamada comunicativa uma
ao que objetiva o entendimento mtuo sem
dvida intencional, sem ser estratgica. A intencio-
nalidade no , por denio, um sinnimo de es-
trategicalidade. O agir estratgico signica, agora,
uma ao em que as intenes do locutor so outras
que no o entendimento e a comunicao com o in-
terlocutor. O objetivo do locutor pode ser alcana-
do independentemente de uma concordncia no-
coagida do ouvinte, de o ouvinte compreender a
verdadeira inteno do locutor ou mesmo de o lo-
cutor estar plenamente consciente de suas inten-
es. Normalmente, quanto mais bem sucedido for
o objetivo estratgico, menos conscincia da verda-
deira inteno ter o interlocutor. Levando isso em
considerao, ca claro que, quando Culler critica
Habermas por priorizar o agir comunicativo ao es-
tratgico, ele identica ao proposital com intencio-
nalidade. O texto a seguir demonstra exatamente
como essa identicao acontece. Culler comenta:
Habermas arma que entender a fala vem antes e
independe de entender a ao proposital.
56
Em lu-
gar dessa armao, Culler sugere que
entender sentenas entender como elas
podem funcionar na ao proposital. Enten-
der Voc poderia fechar a janela perceber
que a frase poderia ser usada para conseguir
que algum feche a janela, bem como ques-
tionar sua capacidade. Habermas nada con-
segue com a teoria do ato da fala e, com efei-
to, deve simplesmente pressupor o que pre-
cisa demonstrar: h algo chamado entender
uma fala, que pode ser descrito sem refern-
cia a qualquer ao proposital.
57
Com relao prioridade em si do agir comu-
nicativo sobre o estratgico, Culler no percebe que
essa prioridade tem uma base slida, ou seja, a da ra-
cionalidade comunicativa estratgica como garan-
tida por uma expanso da argumentao de Apel
sobre a contradio performativa. Ele escreve que
essa prioridade s depende de nossa preferncia
das normas de ao comunicativa, nosso sentimen-
to de que so melhores,
58
e enxerga aqui uma cir-
cularidade, isto , exatamente o que tem de ser pro-
vado. As colocaes de Culler so suscetveis s cr-
ticas que James L. Marsh dirige a David Rasmussen
na reviso precedente da mais recente obra Reading
Habermas. Marsh escreve:
Ao discutir os problemas do estabelecimen-
to da prioridade do agir comunicativo sobre
o estratgico, Rasmussen ignora uma arma
no arsenal de Habermas e Apel, a saber, o
argumento da contradio performativa. Se
eu quero argumentar que o agir comunica-
tivo no fundamental, fao-o comunicati-
vamente ou no. Se o fao comunicativa-
mente, sugiro ento que pelo menos nessa
conversa o agir comunicativo fundamen-
tal. Se argumento estrategicamente, o que
arbitrariamente armado pode ser racional-
mente questionado ou negado. A tese sobre
a prioridade do agir estratgico no pode ser
armada nem defendida sem a contradio
performativa.
59
Mas existem duas outras maneiras, creio eu,
de defender a prioridade do agir comunicativo sobre
o estratgico (contrrias ao que Culler acredita).
Uma voltar obra inicial de Habermas e recons-
truir as perspectivas antropolgicas implcitas sub-
jacentes aos chamados interesses constitutivos do
conhecimento via a crtica hegeliana de Kant e um
Fichte lingisticamente reformulado. A outra ma-
neira demonstrar quo inadequada a noo de
ao estratgica quando se trata de explicar a manu-
teno da integridade social, e como a noo de ao
comunicativa pode dar tal explicao.
Considero o argumento de Habermas sobre
a ordem social muito convincente e inovador.
O que sustenta apenas o agir comunicativo
que as restries estruturais de uma lin-
guagem partilhada intersubjetivamente in-
duzem os atores no sentido de uma fraca
necessidade transcendental a abandonar a
egocentricidade de uma orientao racional
proposital para o prprio sucesso e enfren-
tar os critrios pblicos da racionalidade co-
municativa (...) [ao passo que] o conceito
56
CULLER, 1985, p. 136.
57
Ibid., p. 137.
58
Ibid.
59
MARSH, 1993, p. 481.
p g y p
i mpulso n 29 49
atomstico de ao estratgica no nos ofe-
rece resposta equivalente [isto , como uma
ordem social possvel].
60
O agir estratgico difere do comunicativo em
termos de racionalidade. Ele assume a razo de um
observador, e no a de um participante em um ato
de fala. Isso no quer dizer que no ocorra comu-
nicao de uma maneira estratgica. Signica que o
raciocnio de um sujeito (observador) monolgi-
co, ou seja, no suscita qualquer pretenso de vali-
dade ou provoca algumas enganosas. O fato de o
agir estratgico ocorrer mais freqentemente do
que o comunicativo em nossos mundos no nos
deve levar a confundir o com um deveria. O
uso excessivo de meios estratgicos pode ser visto
como sintoma de uma sociedade disfuncional. Nas
aes manifestamente estratgicas, o locutor no
cona na fora do seu argumento.
61
Em aes la-
tentemente estratgicas, o locutor emprega imper-
ceptivelmente resultados ilocucionrios para prop-
sitos perlocucionrios.
62
Esses so casos em que as
armaes so propositalmente enganosas, isto ,
em que pelo menos um dos participantes tem ra-
zes ideolgicas ou de outro tipo para manipular
uma comunicao distorcida. Em alguns casos,
pode haver uma necessidade totalmente justicada
de ao estratgica, mas isso no macula a distino
entre as aes que objetivam alcanar o entendi-
mento e as que perseguem apenas objetivos subje-
tivos ou sistmicos (essas ltimas ocorrem notada-
mente quando imperativos de sistemas, como ad-
ministrao ou economia, so impostos sobre as es-
truturas informais do mundo da vida).
No temos aqui de lidar com duas noes
usadas separadamente para servir a diferentes pro-
psitos metodolgicos de maneira analtica. A dis-
tino entre aes estratgicas e comunicativas pres-
supe que aes concretas podem ser identicadas
como comunicativas ou estratgicas.
63
Por outro la-
do, no devemos concluir como Culler parece fa-
zer que dentro dessas aes aparecem modos de
fala totalmente ntidos e separados. No entender de
Habermas, devemos levar em considerao que
no apenas as ilocues aparecem em contextos de
ao estratgica, mas as perlocues tambm, em
contextos de ao comunicativa.
64
CONCLUSO
O fato de que os tericos do agir comunica-
tivo evitam consistentemente interpretar a ordem
social segundo o agir estratgico mais uma razo
para os considerarmos ps-modernos: eles questio-
nam o velho paradigma do pensamento, cujo desejo
de que os seres humanos sejam egostas e orien-
tados fora pela natureza. Podemos concluir que
Culler est preso no tradicional paradigma do pen-
samento que pressupe implicitamente a intencio-
nalidade como identicada com o agir estratgico,
isto , que o sujeito egocntrico e egosta. Nesse
ponto, ele est no mesmo nvel de outros tericos
ps-modernos que consideram a manuteno da
ordem social como o resultado da linguagem e de con-
venes intersubjetivamente ligadas, mas atribuem
linguagem um carter negativo (estratgico). De
modo inverso, dentro do paradigma comunicativo,
a prioridade do elemento comunicativo sobre o ma-
nifestamente estratgico na linguagem (a idia de
que o uso da linguagem manifestamente estratgi-
ca tem um status derivativo)
65
destrona a concep-
o do ser humano pressuposta pelo liberalismo
ocidental. Conseqentemente, parece muito pro-
missora para lidar com o problema dos interesses
privados versus interesses gerais.
Agora nos voltemos para a nfase ps-mo-
derna no carter ilusrio (Derrida), autoritariamen-
te normativista (Lacan), e nalmente estratgico
(Lyotard) e no-tico (Levinas) da linguagem. A
armao de que a renncia ao modelo sujeito-obje-
to (hypokeimenon-antikeimenon) de pensamento
60
HABERMAS,1994, pp. 62-63, v. 1.
61
Habermas oferece um exemplo que deixa as coisas bem mais claras. A
expresso mos para o alto, dita por um ladro armado, no tem por obje-
tivo o entendimento e, portanto, no pressupe uma aceitao das preten-
ses de validade levantadas. Claro que h algumas pretenses de validade
implcitas, por exemplo, o ladro sincero na sua ameaa e no carrega um
revlver dgua. Alm disso, a ameaa expressa em uma linguagem com-
preensvel s pessoas envolvidas, mas isso no muda o fato de as pessoas
no serem convidadas a tomar uma deciso de sim/no. Cf. idem, 1992,
pp. 82-84.
62
Idem, 1991, p. 305.
63
Ibid., p. 286.
64
Ibid., p. 331.
65
Idem, 1992, p. 82.
p g y p
50 i mpulso n 29
desvenda a inescapabilidade do texto (keimenon)
no , em si, reveladora do carter atribudo lin-
guagem, a despeito de sua priorizao como locus da
meditao losca. Pois uma resposta pergunta
Ser a linguagem negativa ou positiva? envolve
outras pressuposies implcitas, bem como respos-
tas a questes profundas e bsicas sobre socialidade
e socializao humanas, desejo humano, identidade
e diversidade, e assim por diante. Discordando de
Habermas, Derrida parece dar nfase ao aspecto ne-
gativo da linguagem, sua enganosa propenso pre-
sena, certeza e ordem, e s perspectivas descons-
trutivas de contestar essa propenso. Como Tho-
mas McCarthy argumenta, o debate de Derrida e
Habermas poderia continuar proveitosamente em
torno da questo: as idealizaes so construdas na
linguagem mais adequadamente concebida como
pressuposies pragmticas de interao comunica-
tiva ou como um tipo de chamariz estrutural que deve
ser ininterruptamente repelido? (Ou talvez os
dois?).
66
Considerando que Lacan partiu, inicialmente,
para despojar a psicanlise de suas acrees pseudo-
cientcas e biologistas, seu tratamento da lingua-
gem como restrio do desejo e normativizao da
vida dentro da sociedade pode ser visto com tendo
introduzido certos elementos do biologismo freu-
diano pela porta dos fundos. No Freud posterior, as
instituies e normas so impostas sobre a natureza,
gerando e preservando a vida social;
67
em Lacan, a
linguagem serve a esse propsito. Lacan substitui as
normas sociais pela linguagem como aquilo que
marca o aparecimento de uma realidade humana or-
denada. Ele escreve:
a Lei Primordial , portanto, aquilo que, ao
regular os laos do casamento, sobrepe o
reino da cultura sobre o reino da natureza
abandonada lei conjugal. A proibio do
incesto meramente seu piv subjetivo, re-
velado pela tendncia moderna a reduzir
me e irm os objetos proibidos ao sujeito,
embora a licena total fora deles tambm
no est inteiramente aberta. Essa lei, por-
tanto, revelada claramente como idntica a
uma ordem de linguagem.
68
A linguagem a causa do afastamento de uma
unidade indiferenciada, bem como do adiamento
do desejo e da auto-realizao, que sempre foram
inevitavelmente enganosos.
Habermas considera o agir estratgico deriva-
tivo, e vimos por que tal viso concludente, logi-
camente consistente e benca. Em contraste, Lyo-
tard enfatiza o papel do agir estratgico: aqui [nas
cincias humanas] o tipo de chance com a qual o cien-
tista confrontado no baseado no objeto ou in-
diferente, mas comportamental ou estratgico
em outras palavras, agonstico.
69
Poderia-se con-
testar essa viso demonstrando como a concepo
de Lyotard sobre o estratgico neutraliza moral-
mente a estrategicalidade, reduzindo-a a um mero
movimento em um jogo de xadrez e enfraquecen-
do, assim, a fora crtica de seus prprios argumen-
tos contra as pretenses inadas da cincia. Consi-
derando-se o fato de que o agir estratgico, do pon-
to de vista habermasiano, governa os imperativos
dos sistemas relacionados com a economia e a ad-
ministrao, neutralizar a ao moralmente estrat-
gica equivale a declarar o sistema inocente e a culpar
a cultura por todos os erros de nossas sociedades.
Mas isso igual ao que os neoconservadores dizem
em seu diagnstico das patologias sociais (no obs-
tante o fato de que, contrariamente a Lyotard, eles
defendem mais cultura tradicional). Como os neo-
conservadores, entre eles, Daniel Bell, parecem con-
fundir causa e efeito,
70
Lyotard igualmente parece
culpar todas as metanarrativas, como tais, por tota-
litarismo.
Por meio disso, a crtica de Habermas ao neo-
conservadorismo pode ser aplicada tambm s idias
66
McCARTHY, 1990, p. 165, nota de rodap 34 (destaque acrescentado).
67
Para uma discusso sobre esse assunto, com referncia abordagem
ps-lacaniana de Kristeva, cf. PAPASTEPHANOU, 1998.
68
LACAN, 1960, p. 66 (destaque acrescentado). Essa concepo de uma
condio natural (no-normativa) como sendo original, a qual tem uma
prioridade temporal e na qual o desejo tem uma genuinidade perdida na
vida cultivada, desmascarada, na sua verso freudiana, por Castoriadis
como sendo circular. Uma implicao da atribuio de um carter um
tanto negativo para o que, segundo Lacan, a causa da diferenciao e dis-
tncia da unidade original o privilegiar a unidade sobre a pluralidade. Isso
oferece mais provas de que Lacan permaneceu hegeliano com relao s
pluralidades (sujeitos imaginrios) como produtos alienados do Uno ori-
ginal.
69
LYOTARD, 1984, p. 57.
70
BERNSTEIN, 1985.
p g y p
i mpulso n 29 51
lyotardianas, pelo menos no que concerne estra-
tegicalidade neutra que ele parece favorecer em sua
adoo da teoria do jogo da linguagem. A resposta
de Lyotard acusao de Habermas no muito
convincente. Em What is Postmodernism (na
edio inglesa de Postmodern Condition), ele inter-
preta Habermas erroneamente. O objetivo do
projeto de modernidade [] a constituio da uni-
dade sociocultural dentro da qual todos os elemen-
tos da vida diria e do pensamento teriam seus lu-
gares, como num todo orgnico.
70
Peter Dews
oferece um til esclarecimento da m-interpretao
de Lyotard: Lyotard no capaz de distinguir entre
uma preocupao com o restabelecimento de cone-
xes entre culturas especialistas separadas e um
mundo da vida irreversivelmente modernizado, e
um anseio pela totalidade perdida da cultura pr-
moderna.
71
A razo pela qual Lyotard interpreta
mal a Habermas a profunda desconana que ele
tem da linguagem como coordenao de ao e base
para entendimento mtuo. Pois Lyotard toma
como verdade axiomtica ou patente que a lingua-
gem uma fonte de violncia e que a economia da
frase um gesto primordial e arquetpico de tirania
e terror. Com relao argumentao, esse enten-
dimento da linguagem , por denio, inadequado
para propor uma teoria de uma situao de fala no
violenta ou de um consenso falvel, mas factvel, en-
tre os participantes. Quanto tica, como nos casos
da teoria vaga e arbitrria de Lyotard sobre a justia
e a revelao da tica face-a-face de Levinas, a incri-
minao absolutista da linguagem e da reexo dei-
xa de oferecer uma substancial contribuio ao dis-
curso prtico. Esse resumo comparativo das idias
de Habermas e Lyotard mostrou, espero, que os de-
bates sobre a linguagem, a comunicao e a legiti-
mao no so, de modo algum, simples e conclu-
sivos como a polmica tendncia ps-estruturalista
demonstra.
Referncias Bibliogrcas
71
72
AGACINSKI, S. Another Experience of the Question, or Experiencing the Question Other-Wise. In: NANCY, J.L. et al. (eds.).
Who Comes After the Subject? New York/London: Routledge, 1991.
APEL, K.O. Analytic Philosophy and the Geisteswissenschaften. Dordrecht: D. Reidel, 1967.
BERNSTEIN, R. Habermas and Modernity.Cambridge, MIT Press, 1985.
CASTORIADIS, C. Pseudo-chaos, Chaos kai Kosmos, in Anthropologia,Politiki,Philosophia. Athens: Ypsilon, 1993.
CIARAMELLI, Fabio. Levinas's Ethical Discourse Between Individuation and Universality. In: BERNASCONI, R. & CRITCHLEY,
S. (eds.). Re-reading Levinas. London: Athlone Press, 1991.
CULLER, J. Communicative Competence and Normative Force. New German Critique,35: 133-144, 1985.
DAVIDSON, D. Communication and Convention, Synthese, 59: 3-17, 1984.
DERRIDA, J. Letter to a Japanese friend. In: BERNASCONI, R. & WOOD, D. (eds.). Derrida and Diffrance. Evanston: Nor-
thwestern, 1988.
___________. The Principle of Reason: the university in the eyes of its pupils. Diacritics, 19: 3-20, 1983.
___________. Margins of Philosophy.London: Harvester Wheatsheaf, 1982.
FRANK, M. What is Neostructuralism? Minneapolis: University of Minnesota Press, 1989.
HABERMAS, J. Actions, Speech Acts, Linguistically Mediated Interactions and the Lifeworld. In: FLOISTAD, G. (ed.). Philoso-
phical Problems Today.Netherlands: Kluwer, 1994, pp. 62-63, v. 1.
___________. Postmetaphysical Thinking. Cambridge: Polity Press, 1992.
___________. The Theory of Communicative Action.Cambridge: Polity Press, 1991, v. 1.
71
LYOTARD, 1984, p. 72.
72
DEWS, em sua introduo a HABERMAS, J. Autonomy and Solidarity. London: Verso, 1992, p. 23.
p g y p
52 i mpulso n 29
___________. On the Logic of the Social Sciences. Cambridge: Polity Press, 1990.
___________. The Theory of Communicative Action 2. Cambridge: Polity Press, 1989.
___________. Modernity versus Postmodernity. New German Critique,22: 3-14, 1981.
___________. Towards a Theory of Communicative Competence. Inquiry, 13: 360-375, 1970.
HORSTER, D. Der Kantische Methodische Solipsismus und die Theorien von Apel und Habermas, Kant Studien. 73: 463-
471, 1982.
LACAN, J. Ecrits: A Selection.London: Routledge, 1960.
LINDSAY, C. Corporality, Ethics, Experimentation. Philosophy Today.36: 389-401, 1992.
LYOTARD, J.F. The Differend: phrases in dispute. Manchester: Manchester University Press, 1988.
___________. The Postmodern Condition: a report on knowledge. Manchester: Manchester University Press, 1984.
MARSH, J.L. Reviso de livro em International Philosophical Quarterly,33: 480-482, 1993.
McCARTHY, T.A. The Politics of the Ineffable: Derridas deconstructionism. In: KELLY, M. (ed.). Hermeneutics and Critical The-
ory in Ethics and Politics.Cambridge: MIT Press, 1990.
NORRIS, C. Truth and Ethics of Criticism. Manchester: Manchester University Press, 1994.
___________. The Truth about Postmodernism.Oxford: Blackwell, 1993.
___________. The Contest of Faculties: philosophy and theory after deconstruction. London/Nova York: Methuen,1985.
PAPASTEPHANOU, M. The Idea of Emancipation from a Cosmopolitan Point of View. Continental Philosophy Review, 33:
395-415, 2000.
___________. Subjectivity in Process: Kristeva, Discourse Theory, and the Trials of Psychoanalysis. In: NASCIMENTO, A.
(ed.). A Matter of Discourse.Brookeld: Ashgate, 1998.
RASMUSSEN, D. (ed.). Universalism versus Communitarianism: contemporary debates. Cambridge: MIT Press, 1990a.
RORTY, R. Objectivity,Relativism and Truth. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
SHAPIRO, Michael J. Reading the Postmodern Polity: Political Theory as Textual Practice. Minneapolis: University of Minne-
sota Press, 1992.
STEUERMANN, E. Habermas versus Lyotard. In: BENJAMIN, A. (ed.).Judging Lyotard.London/N. York: Routledge, 1992.
WARNKE, G. Justice and Interpretation.Cambridge: Polity Press, 1992, p. 94.
___________. Rawls, Habermas and Real Talk: A Reply to Walzer. Philosophical Forum, 21: 197-203, 1990.
WATSON, S. Habermas and Lyotard: postmodernism and the crisis of rationality. Philosophy & Social Criticism, 10: 1-24,
1984.
WELLMER, A. On the Dialectic of Modernism and Postmodernism. Praxis International, 4: 337-362, 1984/1985.
WHITE, S. (ed.). The Cambridge Companion to Habermas.Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
YOUNG, R. White Mythologies: writing History and the West.London: Routledge, 1990.
p g y p
i mpulso n 29 53
PS-MODERNIDADE vs.
MODERNIDADE
A QUESTO DA
RACIONALIDADE
Postmodernity vs. Modernity
the issue of rationality
Resumo A ps-modernidade no pode ser compreendida como a nova forma do au-
tismo na losoa. Depois do monlogo do sujeito moderno, parece que hoje em dia
temos o monlogo do indivduo ps-moderno. Porm, armando a diferena, a ps-
modernidade ajuda a pensar algo novo na losoa. Ajuda a sair do deserto do pen-
samento metafsico, no qual no aparecem coisas novas, mas se repetem as estruturas
dominantes.
Palavras-chave RACIONALIDADE MODERNIDADE PS-MODERNIDADE.
Abstract Postmodernity cannot be understood as the new form of autism in Philo-
sophy. After the monologue of the modern subject, it seems that today we have a new
monologue of the postmodern individual. But, asserting the difference, postmoder-
nity helps to think something new in Philosophy. It helps to escape the desert of the
metaphysical thought, where new things do not appear, but the dominant structures
are repeated.
Keywords RATIONALITY MODERNITY POSTMODERNITY.
MIROSLAV MILOVIC
Doutor pela Universidade de
Frankfurt, orientando de Karl Otto
Apel e Jrgen Habermas, e pela
Universidade Sorbonne, Paris IV,
com a prof
a
. Janine Chanteur.
Foi professor de losoa na
Iugoslvia, Turquia, Espanha,
Japo e, agora, no Brasil, onde
leciona na UnB
milovic@unb.br
p g y p
54 i mpulso n 29
o comeo da Metafsica, Aristteles diz: todos os ho-
mens tm, por natureza, desejo de conhecer. O conhe-
cimento no se limita ao conhecimento da cincia, da f-
sica, por exemplo, mas procura os seus fundamentos.
Desse modo, o conhecimento refere-se metafsica.
Uma parte do logos so os fundamentos objetivos, a ou-
tra est, por exemplo, na nossa linguagem, na nossa ca-
pacidade de representar tais fundamentos. No pensa-
mento grego, domina a primeira dimenso do conhecimento e, devido a isso,
novos panoramas na losoa se abrem quando se tematiza a outra perspec-
tiva, ou seja, a nossa prpria capacidade de conhecer. Antes de conhecer, te-
mos de saber se somos capazes de faz-lo. Assim comea a modernidade -
losca, articulada no cogito cartesiano. Todo conhecimento tem uma refe-
rncia ao sujeito do conhecimento. Os novos fundamentos esto dentro do
sujeito e a perspectiva moderna pode ser chamada de a metafsica da subjeti-
vidade. A realidade corresponde s idias claras e distintas que o sujeito arti-
cula. A matemtica e a cincia so dois grandes livros do mundo; a natureza
fala usando a linguagem delas. Pascal sente medo desse mundo mecnico sem
os ns, desse eterno silncio dos espaos innitos,
1
mas a losoa continua
armando os novos critrios do sentido.
Assim fala Hume. Podemos reconstruir o argumento dele, usando o
vocabulrio kantiano e preparando desse modo a discusso sobre a raciona-
lidade moderna. Lgica e matemtica so para Hume dois tipos do conheci-
mento demonstrativo. Para vericar as proposies lgicas e matemticas,
no temos de sair para o mundo, procurando as evidncias adequadas; para
vericar os juzos da lgica e da matemtica no precisamos da experincia.
Os juzos desse tipo so analticos, porque a vericao deles no depende de
critrios exteriores, e, ao mesmo tempo, a priori, pois no precisam da expe-
rincia. Outros tipos de juzos, que no oferecem o conhecimento demons-
trativo, mas articulam a possibilidade de falar sobre a verdade, so os juzos
da cincia natural. Neles, h a relao entre o sujeito e o mundo natural fora
dele. Estamos, ento, falando sobre uma especca sntese no conhecimento,
e, por isso, os juzos podem ser chamados sintticos. A possibilidade de veri-
c-los determinada pela natureza. Mas a natureza est sempre aberta e no-
vos casos contraditrios podem aparecer. Esse o nico caminho que temos,
o caminho pouco seguro da induo. Em razo dessa necessidade de conr-
mar os juzos da cincia natural seguindo o caminho da experincia, os juzos
podem ser chamados no s sintticos, mas tambm a posteriori. Ento, os
juzos analticos a priori da matemtica e da lgica e os juzos sintticos a pos-
teriori da cincia natural so a nossa nica orientao adequada no mundo.
Com essa estratgia de puricar o pensamento, Hume certamente
um lsofo moderno. Os critrios dele podem excluir vrios tipos de meta-
fsica tradicional. No entanto, acredito que, no sentido mais profundo, ele se
insere no pensamento tradicional. A relao entre sujeito e objeto do conhe-
1
PASCAL, Penses. Paris: Seuil, 1963, p. 206.
NN
N N
1.
p g y p
i mpulso n 29 55
cimento determinada pela natureza, quer dizer,
pelos objetos. Isso quase uma postura grega. Eu
diria que Hume ainda um pensador tradicional,
mas antimetafsico. O esprito moderno ainda no
entra na losoa dele. o ponto em que Kant se
confronta com Hume. Se os nicos tipos de juzo
que tm sentido para ns so os juzos analticos a
priori e os juzos sintticos a posteriori, a nica per-
gunta que, segundo Kant, cou sem resposta, se
podemos pensar uma terceira alternativa nesse ca-
so, se os juzos sintticos a priori so tambm pos-
sveis. Com essa interrogao comea a losoa
kantiana e, nesse contexto epistemolgico, ela pare-
ce ser a nica que cou em aberto. Os juzos sint-
ticos a priori se referem relao entre sujeito e ob-
jeto, entre o cientista e o mundo por essa razo,
so juzos sintticos. Mas agora a pergunta para Kant
se o sujeito mesmo pode determinar o conheci-
mento sem a ajuda da natureza por isso, os juzos
so a priori. Portanto, Kant arma o especco es-
prito moderno, a possibilidade, tambm epistemo-
lgica, do sujeito constitutivo. Ele acha que pode-
mos nos confrontar com as conseqncias cpticas
do empirismo de Hume e abrir espao para discutir
tambm a moralidade que cou quase excluda dos
critrios do lsofo do ceticismo. A pergunta para
a losoa prtica de Kant ser tambm a pergunta
sobre os juzos sintticos a priori, sobre a possibili-
dade de a nossa vontade determinar as leis prticas.
Uma questo decisiva, pois Kant acha que s assim,
pensando sobre a autonomia da vontade constituti-
va, podemos nos confrontar com as conseqncias
da heteronomia deixadas pelo utilitarismo moderno.
Tanto a pergunta terica (sobre a constituio
da natureza) como a prtica (sobre a constituio
do mundo social) referem-se ao sujeito constituti-
vo. Essa tentativa moderna se articula explicitamen-
te dentro da losoa kantiana. No contexto teri-
co, Kant acha que a cincia moderna nos seus la-
boratrios, nos novos lugares do sujeito j conr-
mou essa perspectiva. A metafsica s tem de seguir
esse caminho. Porm, j dentro da primeira Crtica,
Kant, ao armar a cincia, fala tambm sobre os li-
mites dela. Quase nas ltimas pginas da primeira
Crtica coloca-se a pergunta sobre a liberdade.
possvel a liberdade humana? possvel falar, no
sentido terico, sobre ela? Na primeira Crtica, a
questo sobre a liberdade ca sem resposta. Fica
com as antinomias, com as dvidas da nossa razo.
A pergunta sobre a liberdade de ordem prtica:
trata da dimenso mais importante da nossa vida, na
qual se fala sobre a liberdade. Essa conexo entre a
liberdade e o prtico, essa armao do prtico, de-
pois de tantos anos do primado do terico, ser
uma das grandes inspiraes para Hegel e para
Marx. por essa razo que Hegel j no demonstra
nenhum interesse pela cincia.
O novo sujeito hegeliano a causa do desen-
volvimento do esprito. Assim, o mundo tem uma
estrutura contraditria, dialtica. O mundo tem de
superar as suas faltas e as suas particularidades, e de-
senvolver a prpria possibilidade espiritual. O posi-
tivismo do mundo se supera com o trabalho nega-
tivo do esprito. Ento, a cincia, que trabalha com
os pressupostos da lgica da no-contradio, no
pode explicar a estrutura contraditria do mundo.
Mais ainda: a palavra eu, como articulao da nossa
autoconscincia, no pode aparecer, por exemplo,
na fsica que est investigando s os objetos. Ao fa-
zer isso, a cincia os esquece, esquece o ser, como
Heidegger dir depois. A cincia ca nesse mundo
positivo e assim se torna ideologia, como a tradi-
o marxista armar mais tarde. Identicando os
limites do conhecimento com os limites do conhe-
cimento objetivo, a cincia torna-se ideologia, ar-
ma Habermas, na Teoria da Ao Comunicativa.
Dessa maneira, a cincia torna-se cmplice das ten-
dncias gerais do capitalismo. A cincia nunca to
neutra como parece. O positivismo da cincia a ar-
ticulao das tendncias sociais da reicao, que
Marx denomina com a palavra fetichismo. A cincia
celebrada no comeo da modernidade como a for-
ma de representar a estrutura do mundo termina as-
sim como a forma do fetichismo, da reicao do
pensamento. Talvez essa tendncia esteja j implcita
no pensamento cartesiano, visto que Descartes cha-
ma a conscincia de res cogitans. Conscincia uma
das coisas. Armando a modernidade losca,
Descartes tambm arma o seu fetichismo, ou me-
lhor, arma as estratgias modernas de reicar o
pensamento.
p g y p
56 i mpulso n 29
Parece que Kant e Hegel se confrontam com
esse tipo de modernidade. Kant coloca os limites da
cincia e Hegel mostra-se um forte crtico do posi-
tivismo. Diante disso, perguntamos: possvel
mostrar tambm as formas do pensamento reica-
do desses dois lsofos? Para demonstrar isso, uti-
lizarei um exemplo simples: a estrutura do juzo,
com a qual, como vimos, Kant desperta do sonho
dogmtico e abre caminho para uma especca
compreenso moderna. A estrutura simples no ju-
zo a relao entre o sujeito gramatical e o predica-
do. O sujeito gramatical, nessa abordagem simpli-
cada, se refere s coisas particulares no mundo. En-
tretanto, para falar sobre o mundo, precisamos, se-
gundo Kant, do aparelho categorial do sujeito. Ele
determina as condies da predicao, determina
tudo o que, no sentido universal, podemos dizer so-
bre as coisas no mundo. Em outras palavras, o su-
jeito kantiano ocupa, ou melhor, determina o lugar
do predicado. O lugar do sujeito gramatical tam-
bm denido pelas formas da nossa sensibilidade.
Mas a dimenso importante aqui o lugar do pre-
dicado.
A imagem muda com a losoa hegeliana.
Nela, o sujeito histrico, o esprito, ocupa, pode-
mos dizer, o lugar do sujeito gramatical. A histria
a cena teatral em que se supera o particularismo do
sujeito gramatical e se realizam as condies da sua
prpria generalidade. Elas so articuladas no predi-
cado. A histria esse processo de superar o parti-
cularismo e realizar a generalidade do esprito. Ao -
nal da histria, temos a identidade entre o sujeito
gramatical e o predicado. Ao nal da histria, ar-
mar por exemplo que A Frana um Estado no
signicaria confrontar um Estado particular com a
idia de Estado, mas dizer que a Frana realizou,
com a Revoluo Francesa, a idia do Estado. Dizer
A Frana um Estado signicaria, nesse sentido,
identicar o particular e o universal. Assim, em um
sentido simples, podemos pensar a losoa de He-
gel e dizer que o sujeito ocupa o lugar do sujeito
gramatical e determina o desenvolvimento histri-
co, at realizar o esprito no mundo.
A diferena entre o sujeito transcendental de
Kant e o sujeito especulativo de Hegel pode ser as-
sim compreendida: o sujeito kantiano determina as
condies da predicao e o sujeito hegeliano dene
o desenvolvimento do sujeito gramatical no juzo.
Por um lado, a diferena grande. Ela estabelece a
losoa transcendental e, tambm, a losoa espe-
culativa. Mas, ao que parece, e por isso escolhi esse
tipo de exemplo, a diferena no to grande. Por
qu? Dentro do juzo, da estrutura proposicional,
vem-se as diferenas entre Hegel e Kant. Mas tan-
to Hegel como Kant cam, de certa forma, dentro
da estrutura proposicional, no investigando os
pressupostos da proposio. Kant no fala sobre o
sujeito, a estrutura dele um factum. O sujeito kan-
tiano, no ltimo momento, no justica o prprio
papel constitutivo. Hegel critica Kant nesse ponto.
Ele se pergunta como um lsofo que quer ser um
pensador crtico pode aceitar os fatos na losoa. A
losoa tem de explicar e justicar tudo, e no se
satisfazer com os fatos. Com isso, pode-se dizer
que a losoa se tornaria s ideologia, e no a forma
do pensamento crtico. A losoa tem de explicar
todos os pressupostos e por essa razo que Hegel
elabora a sua famosa discusso sobre o comeo da
lgica. Como comear na losoa, como justicar
seus passos? uma pergunta importante, que mes-
mo Hegel parece no respeitar at as ltimas con-
seqncias. A necessidade do desenvolvimento do
esprito ca sem explicao. Desse modo, tanto
Kant como Hegel se confrontam com a cincia,
mas no com a idia da racionalidade, que, no lti-
mo momento, ca sem uma tematizao posterior.
Isso pode nos servir, nas discusses seguintes, como
uma imagem orientadora sobre a modernidade.
Portanto, dentro das discusses sobre a losoa
prtica, v-se que a modernidade no tematiza os
prprios pressupostos normativos e vrias discus-
ses de Weber o demonstram. Aqui se v que a mo-
dernidade ca sem a tematizao da prpria racio-
nalidade.
Ento, Kant e Hegel, com todas as suas dife-
renas, cam dentro da estrutura proposicional dos
juzos, no se perguntando sobre os pressupostos.
Mas necessria essa pergunta? De onde vem a sua
fora dramtica? A cincia usa proposies, fala, diz
algo sobre o mundo. A losoa faz a mesma coisa.
Ns, na nossa vida cotidiana, estamos fazendo a
mesma coisa. Falar, ento, sobre as proposies sig-
p g y p
i mpulso n 29 57
nicaria falar sobre a cincia, sobre a losoa, sobre
a nossa vida cotidiana, signicaria estabelecer a dis-
tncia, pensar criticamente sobre todos esses tipos
nossos de discurso. Essa possibilidade denotaria
uma confrontao com o positivismo, o fetichismo,
a reicao do pensamento. Seria talvez a abertura
das condies de uma vida autntica. Com ela se ar-
ticulam tambm os caminhos de uma confrontao
com a modernidade. Mas a primeira pergunta se
essa confrontao constitui necessariamente o ca-
minho para a ps-modernidade.
2. Para Husserl, a modernidade articulada no
pensamento cartesiano cou no meio do caminho.
Descartes, segundo Husserl, usa o ego cogito no sen-
tido de um axioma geomtrico, que serve para de-
duzir conseqncias. Husserl sabe que, nas respos-
tas s objees sobre as Meditaes, Descartes se
confrontar com essa interpretao do seu argu-
mento e dir: quando percebemos que somos coi-
sas pensantes, trata-se de uma primeira noo que
no extrada de nenhum silogismo; e quando al-
gum diz: Penso, logo sou, ou existo, ele no conclui a
existncia de seu pensamento pela fora de algum si-
logismo, mas como uma coisa conhecida por si; ele a
v pela simples inspeo do esprito.
2
Com a sua cr-
tica, Husserl d a parecer que quer questionar uma
especca substancializao do sujeito cartesiano.
Tomando as palavras do exemplo usado por
mim para discutir a posio de Kant e Hegel, Des-
cartes, segundo Husserl, tambm cou no contexto
da estrutura proposicional do juzo. O que a loso-
a tem a fazer investigar os pressupostos, que
Husserl elabora com a pergunta sobre a intenciona-
lidade. Em lugar de se interrogar sobre como dedu-
zir partindo da primeira certeza sobre o cogito, Hus-
serl se pergunta sobre o que compe a discusso a
respeito da subjetividade. Abre-se aqui o caminho
para elaborar a estrutura da subjetividade transcen-
dental e constitutiva, algo que no acontece, segun-
do Husserl, na losoa cartesiana. Mas o que acon-
tece nesse novo caminho da losoa? O termo fe-
nomenologia, usado por Husserl para determinar a
sua posio, nos ajuda a compreend-lo. A fenome-
nologia teria de ser a cincia sobre os fenmenos, mas
do modo como aparecem para a conscincia. Isso si-
ginica que os fenmenos no so separados do tra-
balho da conscincia, no esto fora dela, no sentido
da tradicional relao entre o sujeito e o objeto.
Em suas vrias discusses sobre poltica,
Hannah Arendt se refere a essa dimenso da discus-
so fenomenolgica, nos ajudando a compreender a
importncia histrica dessa radicalizao do cartesia-
nismo dentro da fenomenologia husserliana. Han-
nah Arendt acredita que a separao platnica entre
o ser e a aparncia marca um passo histrico no s
para a vida dos gregos, mas para todo o caminho
posterior da civilizao. A desvalorizao da aparn-
cia e a armao do ser so os aspectos da reviravol-
ta na vida dos gregos e do Ocidente europeu. Com
isso, tem incio uma especca tirania da razo e dos
padres na nossa vida. Isso o que Nietzsche ela-
bora como o comeo do niilismo na Europa. A es-
trutura j determinada, esttica, entre o ser e a apa-
rncia, tem conseqncias catastrcas para o pr-
prio pensamento. Ele se torna a mera subsuno das
aparncias s formas superiores do ser. Nesse mun-
do to ordenado, quase no temos mais que pensar.
O pensamento no muda a estrutura dominante do
ser. Essa inabilidade do pensamento termina, no l-
timo momento, nas catstrofes polticas do nosso
sculo. Tantos crimes, mas quase sem culpados. O
indivduo que no pensa e se torna cmplice dos cri-
mes: essa a banalidade do mal diagnosticada por
Hannah Arendt como a conseqncia dessa tradio
losca que quase mumicou a estrutura do ser e
nos marginalizou. Com essa mumicao, Plato
parece mais um lsofo egpcio do que grego.
possvel mudar a relao entre o ser e a apa-
rncia? possvel superar a hierarquia nessa relao?
Essas so as grandes perguntas da fenomenologia de
Husserl. Parece que s a fenomenologia seria uma
resposta adequada, pois ela tenta superar essa dife-
rena entre a essncia e a existncia, entre o ser e a
aparncia. O ser s aparece, e no h outros lugares
privilegiados para coloc-lo. O pensamento sem
as essncias esse o grande recado da fenomeno-
logia. A conscincia no existe antes do objeto, o
que seria uma postura tradicional. Ela conscincia
sobre o objeto, a intencionalidade. Conscincia
2
DESCARTES, 1973, p. 158.
p g y p
58 i mpulso n 29
o ato, e no a coisa, no sentido cartesiano. Esse ato
o nico lugar em que ela se encontra. Tal lugar,
doador do sentido, no pode ser objetivado pers-
pectivas cientcas. Esse contexto da discusso so-
bre o mundo vital se renova posteriormente nos ar-
gumentos de Habermas. Portanto, o cogito cogita-
tum, no s o cogito, o centro da transformao
husserliana da losoa cartesiana. A intencionalida-
de da conscincia se articula nessa superao das
formas dominantes do ser, abrindo caminho para
pensar a possibilidade da liberdade. A intencionali-
dade somente a realizao da liberdade, conforme
arma Levinas, a respeito de Husserl.
3
No entanto,
Husserl compreende ainda o prprio projeto den-
tro da espiritualidade moderna. A losoa dele s
a radicalizao dos pressupostos modernos, cartesia-
nos. o cartesianismo do nosso sculo, a oportuni-
dade de confrontar as tendncias reicadoras da ci-
ncia e, tambm, vrias das tendncias do anti-ilu-
minismo. Por que Husserl no radicalizou, ou me-
lhor, no seguiu as conseqncias do seu projeto?
Essa questo ca aberta e nos ajuda a compreender
onde e como comea a ps-modernidade.
A prova dessa rearmao do sujeito moder-
no e constitutivo se encontra tambm na discusso
husserliana sobre a intersubjetividade. Sem os ou-
tros, no sentido da garantia do nosso conhecimen-
to, acabaramos no solipsismo. Com os outros,
mostrar-se-iam as dvidas sobre a subjetividade
constitutiva, mas essas dvidas permanecem. Hus-
serl mesmo fala sobre os outros s no sentido das
analogias com a prpria experincia. Nesse momen-
to, Habermas se confronta com Husserl e com a
modernidade, questionando a respeito de onde e
como superar a subjetividade moderna, onde e
como pensar a possibilidade da intersubjetividade.
Para responder a essas perguntas, ele toma o cami-
nho da linguagem, que nem para Husserl nem para
Descartes possui um carter constitutivo. Em todas
as proposies, segundo Habermas, ns temos de
pressupor a parte pragmtica dos atos da fala, que
inclui a idia da comunidade da comunicao. Essa
dimenso no pode ser superada pelos cpticos,
porque eles mesmos devem pressupor os argumen-
tos para articular qualquer crtica. A argumentao e
a comunicao no podem ser superadas. A certeza
que a modernidade procura no a certeza semn-
tica, mas a certeza pragmtica. A dimenso pragm-
tica da linguagem abre o caminho da racionalidade
comunicativa e as possibilidades de confrontar a
ideologia do pensamento. Assim Habermas quer
continuar o projeto anunciado no livro Conheci-
mento e Interesse.
A pergunta sobre a emancipao, a libertao
do ser humano dos prprios pressupostos moder-
nos sobre os quais Adorno e Horkheimer ainda
tm as suas dvidas,
4
agora relacionada s possibi-
lidades da racionalidade comunicativa. Emancipao
um processo da racionalizao. A racionalidade
moderna no s negativa e ainda possui o poten-
cial para elaborar a idia da emancipao. A raciona-
lidade uma das exigncias mais importantes da -
losoa. Ela , para Habermas, ainda um projeto a ser
realizado. Mas, dessa forma, Habermas tambm s
quer radicalizar a modernidade. A questo sobre os
fundamentos, sobre a racionalidade, ainda permane-
ce atual. O que se supera so s os vrios aspectos
da metafsica que discutimos usando os exemplos
da losoa kantiana, hegeliana e husserliana , a
modernidade sem a metafsica, isto , o projeto da
racionalidade comunicativa de Habermas. Existe
ainda a possibilidade de pensar a ps-modernidade?
Seria a ps-modernidade, nesse sentido, um espec-
co retorno ao irracionalismo?
3. possvel falar sobre o comeo da ps-mo-
dernidade? Alguns autores se referem a Spinoza e
sua idia de conatus; outros, a Nietzsche e aos as-
pectos da sua crtica do niilismo; alguns colocam os
textos de Kierkegaard sobre a existncia como o
ponto referencial. Quando se fala sobre a relao
entre a ps-modernidade e a racionalidade, utili-
zam-se os textos de Foucault, e a discusso lanada
por ele sobre a relao entre epistemologia e poder
moderno,
5
ou os textos de Rorty referentes rela-
o entre a epistemologia e a hermenutica.
6
Um
dos autores para a discusso poderia ser tambm J.
3
Cf. LEVINAS, 1974, p. 40.
4
Cf. ADORNO & HORKHEIMER, 1969.
5
Cf. FOUCAULT, 1961, 1963, 1966 e 1969.
6
Cf. RORTY, 1979.
p g y p
i mpulso n 29 59
F. Lyotard, que parece ser o nico a usar o termo
ps-moderno no sentido explcito.
7
Alguns autores,
como J. Baudrillard, pensam que a ps-modernida-
de s uma das ltimas formas da modernidade.
8
Pode-se seguir outro caminho, j articulado aqui, o
qual consiste em reetir sobre os pressupostos da
modernidade, e propor para a discusso outros dois
aspectos decisivos para pensar a ps-modernidade,
para pensar as formas da resistncia losca contra
a modernidade. Um aspecto consiste na idia da
destruio da metafsica, anunciada por Heidegger;
o outro o da desconstruo, projetada por J. Der-
rida para questionar tanto a metafsica quanto a po-
sio de Heidegger.
A ps-modernidade comea, podemos dizer,
com Heidegger e sua confrontao com a metafsi-
ca europia. Ele se pergunta primeiro se a moderni-
dade realizou a dimenso radical do seu prprio
projeto sobre os fundamentos. Descartes comea a
modernidade com o cogito sum, mas no investiga o
sentido do sum. Utilizando-se das palavras de Kant,
Heidegger acredita que, antes de investigar o cogito,
Descartes precisaria de uma especca analtica on-
tolgica sobre a subjetividade do sujeito.
9
O pensa-
mento moderno no reete sobre seus prprios
pressupostos. Heidegger usa aqui a losoa kantia-
na como referncia crtica. Em vrios momentos,
entre eles, no livro Kant e o Problema da Metafsica,
Heidegger articula algumas semelhanas entre o
prprio pensamento e o pensamento kantiano.
Contudo, ao nal do Ser e Tempo, articular tam-
bm crticas decisivas contra Kant. Positivas no pen-
samento kantiano so as idias da impossibilidade
de uma reduo ntica do eu a uma substncia e
da manuteno do eu como eu penso.
10
Mas,
no ltimo momento, o eu pensado no sentido
de sujeito, o que, para Heidegger, implica um senti-
do ontolgico inadequado.
11
Determinar, no senti-
do ontolgico, o eu como sujeito signicaria uma
nova forma de substancializao, de reicao do
pensamento. E Heidegger coloca a pergunta decisi-
va: por que Kant no pode usar o valor dos aspectos
fenomenolgicos do cogito no sentido mais radical
e, por isso, tem de voltar ao sujeito, ao substancial?
12
Por que Kant, ento, no pode superar a idia
da subjetividade, base da racionalidade moderna? Por
que Kant no pode superar a modernidade? Pode-
mos voltar crtica contra Descartes, que Heidegger
articula usando o vocabulrio kantiano e a idia da ne-
cessidade de elaborar uma analtica ontolgica ante-
rior subjetividade do sujeito. Mas esse vocabulrio
j pode provocar dvidas. Kant mesmo no fala so-
bre a analtica ontolgica da subjetividade; ao con-
trrio, na parte introdutria da Crtica da Razo Pu-
ra, ele diz que o nome pretensioso de uma ontologia
losca deve ser superado por uma investigao
mais modesta da analtica da razo pura. Para inves-
tigar a subjetividade, no precisamos de nenhuma
ontologia esse o recado da losoa de Kant.
claro que Heidegger sabe disso, pois as ltimas p-
ginas de Ser e Tempo, j mencionadas, se referem ao
sentido ontolgico incorreto, com o qual Kant, no
ltimo momento, pensa o eu s como sujeito. De
onde vem a necessidade de Heidegger de renovar as
perguntas ontolgicas? Essa ser uma das questes
mais importantes para possibilitar a armao do
tipo de pensamento chamado ps-moderno.
Como compreender a postura de Kant?
Como ele, por um lado, deixa a oportunidade para
uma interpretao ontolgica da sua analtica, mes-
mo criticando a ontologia, e, por outro, no com-
preende a verdadeira dimenso ontolgica do pro-
blema? Como se sabe, ele radicaliza a perspectiva
moderna, falando sobre o sujeito constitutivo tanto
no sentido terico como no prtico. No nvel te-
rico, a estrutura do sujeito que constitui o conhe-
cimento universal. Com isso, Kant quer dizer que a
pergunta relativa aos objetos deve ser mediada pela
questo sobre a objetividade, sobre as condies
para determinar o conhecimento objetivo. Essa di-
ferena entre os objetos e a objetividade poderia ser,
ao que parece, o caminho para uma articulao on-
tolgica do problema. Mas tal caminho ca domi-
nado pelo sujeito e, desse modo, Kant no chega at
as ltimas conseqncias do seu questionamento.
7
Cf. LYOTARD, 1979.
8
Cf. BAUDRILLARD, 1983.
9
HEIDEGGER, 1976, p. 32.
10
Ibid., p. 423.
11
Ibid.
12
Ibid., p. 425.
p g y p
60 i mpulso n 29
Onde estariam essas ltimas conseqncias? Onde
estaria a dimenso ontolgica da pergunta? Aqui
chegamos idia da diferena ontolgica, conceito-
chave para a losoa de Heidegger. Parece que Kant
ainda no compreende essa diferena. Quase toda a
tradio losca no a compreendeu, ou melhor, a
esqueceu. O que seria a diferena ontolgica e por
que a articulao dela pode ser compreendida como
um dos mais importantes caminhos da ps-moder-
nidade?
Ao discutir a losoa de Kant e de Hegel, foi
colocada a dvida sobre uma especca falta da re-
exividade dentro da prpria modernidade, o que
pode tambm servir para compreender as intenes
de Heidegger. No s a modernidade, mas quase
toda a tradio da losoa, comeando com Plato,
se insere nesse especco ambiente fechado da lo-
soa. Elaborando vrias formas de como pensar o
mundo, o pensamento ca fechado no contexto
que Heidegger chamaria ntico. Esse contexto nti-
co determinado pelas vrias formas da metafsica. A
nica coisa que acontece no mundo ntico a reali-
zao dessas estruturas. Mas tudo o que ocorre no
mundo ntico a repetio dessas formas domi-
nantes da metafsica. Nesse sentido, no h nada de
novo na metafsica. Ela a repetio do mesmo. Em
outras palavras, esse tipo de pensamento pode ser cha-
mado de a metafsica da presena. Logo, Heidegger, as-
sim como Nietzsche, no faria muita diferena en-
tre a metafsica tradicional e a metafsica moderna.
As duas so as formas da metafsica da presena. As
duas articulam apenas as formas dominantes, essen-
ciais do mundo.
Mas se com a metafsica no h nada de novo
no mundo, como abrir possibilidades, de que ma-
neira pensar algo novo? Para Heidegger isso signi-
ca, simplesmente, deixar o mundo ntico e abrir
caminho para o mundo ontolgico, para as novas
formas do ser, esquecidas pela metafsica. Ao mes-
mo tempo, isso quer dizer superar a estrutura da
presena e, talvez, ter perspectiva de novos projetos,
do futuro, do tempo. Da a razo do ttulo do livro
de Heidegger: Ser e Tempo. Ser no presena; o ser
se abre no tempo. A abertura depende de ns,
uma postura existencial. A possibilidade ontolgica
do ser a possibilidade do tempo. Essa abertura
confronta o essencialismo da tradio metafsica,
elaborando-se, assim, o existencialismo na losoa
de Heidegger. Ele faz isso seguindo o caminho da
fenomenologia de Husserl, em que a diferena entre
o ser e as aparncias superada. Aqui Heidegger su-
pera tambm a presena da subjetividade moderna
dentro da fenomenologia de Husserl. Ao invs de
falar sobre o sujeito, Heidegger se refere ao ser-a,
com sua estrutura fundamental de compreender o
mundo. Esse projeto hermenutico cou quase
anunciado na losoa do prprio Husserl. O obje-
to pensado quase sempre interpretado pela cons-
cincia. Conseqentemente, para Heidegger, a des-
truio da metafsica tradicional comea com a ar-
mao dessas novas estruturas hermenuticas do
ser-a.
Em lugar de conhecer, temos agora que com-
preender. Para conhecer, para estabelecer a relao
cognitiva entre o sujeito e o objeto, algo deve acon-
tecer. O mundo precisa ser aberto para ser conhe-
cido. Para ver os objetos necessitamos da luz e ela
vem dos pressupostos hermenuticos. Para a cincia,
o mundo ca fechado. A cincia no pensa, diz Hei-
degger no texto O que signica Pensar. A cincia
situa-se no mundo ntico e guarda a ordem desse
mundo. A dimenso ontolgica, existencial, no se
abre para a cincia. No existe nenhuma cincia so-
bre o particular. A experincia do particular s pode
ser hermenutica. A cincia esquece essa dimenso
ontolgica, esquece o ser. O moderno esquecimen-
to do ser feito pela subjetividade. Mas aqui temos
algo muito mais dramtico. A tcnica e a tecnologia
modernas so duas formas da racionalidade da sub-
jetividade moderna, com as quais essa nacionalidade
quer dominar o mundo. O mundo global, tcnico e
tecnolgico , hoje em dia, apenas a imagem dessa
racionalidade dominadora. Heidegger sentiu a pro-
funda dramaticidade desse esquecimento do ser e
aqui podemos, acho eu, procurar tambm os argu-
mentos para o seu profundo conservadorismo e co-
vardia poltica. O mundo , para ele, dominado pe-
las duas estruturas modernas EUA e a ento Unio
Sovitica. Os EUA representam o avanado liberalis-
mo moderno; j a Unio Sovitica, o modelo pol-
tico para a classe operria, para os reprimidos da
modernidade. Os dois sistemas so uma conseqn-
p g y p
i mpulso n 29 61
cia especca da modernidade, e, no ltimo momen-
to, uma conseqncia especca da dominao tc-
nica. Como abrir alternativas nesse mundo ntico?
Como pensar a autenticidade na vida poltica na
modernidade? Como abrir a ontologia poltica na
modernidade? Heidegger, nesse ponto, espera da
Alemanha a tarefa histrica de responder a essa per-
gunta. Creio que com isso pode-se compreender,
mas evidentemente no justicar, o engajamento de
Heidegger no nacional-socialismo.
Assim, cam claros os pontos do caminho de
Heidegger. Pensar ontologicamente signica supe-
rar as formas dominantes do pensamento e abrir as
portas para a apario do particular na losoa. A
ontologia, por outro lado, pode ser tematizada s
com a herana fenomenolgica que supera a dife-
rena entre o ser e as aparncias. Essa tematizao
precisa da hermenutica, que cou de fora do inte-
resse de Husserl. Abrindo a discusso ontolgica,
confrontando-se com a racionalidade cientca e -
losca, Heidegger articula a relao possvel entre
a ps-modernidade e a questo da racionalidade. Vi-
mos que a modernidade losca elabora argumen-
tos diferentes sobre a cincia. Coloquei essas dvi-
das com os exemplos da losoa de Kant e Hegel.
As dvidas sobre a cincia no provocam as dvidas
sobre a racionalidade. A modernidade pode ser
compreendida como o projeto que ainda cr nessa
noo da racionalidade, e vimos que essa esperana
ainda se encontra nos trabalhos de Habermas. Hei-
degger, pelo contrrio, coloca em questo esse pro-
jeto bsico da racionalidade. Pensando assim, pro-
curando os novos fundamentos da racionalidade, a
losoa esquece o ser, esquece a dimenso mais n-
tima da nossa vida. O esquecimento do ser tem al-
gumas semelhanas com o diagnstico nietzschea-
no sobre o niilismo e sobre a decadncia da vida
moderna.
4. Se o projeto da destruio da metafsica
pode ser acompanhado da armao da hermenu-
tica, o da desconstruo de J. Derrida pode tambm
ser compreendido como a desconstruo da herme-
nutica. Primeiro, Derrida se interroga sobre as
condies da sntese da conscincia transcendental.
pergunta para pensar no s a losoa kantiana,
mas tambm a losoa de Husserl. Tanto para Kant
quanto para Husserl, essa sntese feita sem a lin-
guagem. Husserl precisa da linguagem apenas para
comunicar as formas geomtricas, para que o senti-
do (Sinn) pudesse obter a signicao (Bedeutung).
O projeto iniciado por Derrida nos anos 70 em
seu livro La Voix et Le Phnomne, por exemplo
consiste em mostrar que a linguagem no algo adi-
cional e se encontra no centro da estrutura trans-
cendental. o lugar em que Derrida coloca a idia
sobre a impossibilidade do transcendental sem a lin-
guagem.
13
O poder dos signos est na idealidade, na
sua especca estrutura eidtica. Os signos funcio-
nam quando os objetos no esto presentes. A
conscincia precisa da sntese, e a sntese precisa dos
signos, precisa, podemos dizer, de algo que ocupe o
lugar das coisas ausentes. Desse modo, a linguagem
a condio de sntese e nada ca de adicional para
a conscincia. A conscincia sempre a relao com
outro, com os signos. Desde o comeo da sua lo-
soa, Derrida procura essa idia da diferena. A
conscincia tecida com o outro, com os signos,
com a diferena. No se pode falar sobre a subjeti-
vidade constitutiva.
14
Pelo contrrio, ela mesma
condicionada pela diferena.
No existe a origem pura da losoa, seno
os signos, pegadas, grama. Assim, nos anos 70, tem
incio o projeto de Derrida sobre a gramatologia. A
subjetividade, lugar central da losoa moderna,
tem de ser desconstruda. A metafsica da presena
deve ser superada pela idia da diferena. Essa espe-
cca armao, liberao ou emancipao dos sig-
nos
15
no signica, ao mesmo tempo, a armao
da hermenutica. A hermenutica, incluindo Hei-
degger, est todavia armando os lugares privilegia-
dos da interpretao. Conseqentemente, ela ainda
ca dentro da modernidade.
16
No caso de Heide-
gger e depois de Gadamer, a hermenutica guarda
ainda a estrutura especulativa da compreenso. A
compreenso sempre a autocompreenso; em to-
dos os atos da compreenso se reconhece a existn-
cia. Da Heidegger falar sobre o crculo hermenu-
13
At esse ponto Apel e Habermas poderiam acompanhar o projeto de
Derrida.
14
Cf. DERRIDA, 1967, p. 94.
15
Cf. CAPUTO, 1987, p. 140.
16
O prprio Heidegger tem dvidas sobre o seu projeto de Ser e Tempo;
com isso, pode-se compreender a reviravolta no pensamento dele.
p g y p
62 i mpulso n 29
tico
17
e, segundo Derrida, no poder realizar o pr-
prio projeto da destruio da metafsica. Heidegger,
portanto, no consegue elaborar o projeto original
da ps-modernidade, o qual seria a armao da di-
ferena. Por esse motivo, o projeto da destruio da
metafsica tem de ser superado por um novo, da
desconstruo.
Essa especca armao da linguagem na -
losoa ps-moderna no signica a possibilidade de
identicar a losoa com a literatura,
18
ou com uma
forma da escrita.
19
Habermas diz que as intenes
de Derrida so semiticas, e no lingstico-prag-
mticas, o que eu acredito ser uma opinio errada.
20
Confrontando-se com Husserl, e armando a idia
dos signos, como tambm com Heidegger, critican-
do a idia da hermenutica, Derrida no quer elabo-
rar nenhuma nova posio lingstica, pragmtica
ou semitica, nenhuma nova forma da identidade
na losoa. Nesse contexto, Derrida quer seguir os
recados nietzscheanos sobre linguagem, articulados
no Livro do Filsofo. O que temos na linguagem so
s as metforas, e no as coisas. Pensar a identidade
entre linguagem e as coisas seria uma nova forma de
fetichismo. A linguagem no tem a cor das coisas
que mostra. A linguagem sem cor. a mitologia
branca do pensamento europeu.
21
Mas isso no
quer dizer que toda a losoa seja somente roman-
ce. No existe nada fora do texto; essas palavras de
Derrida so erroneamente compreendidas como
uma especca falta de referncia.
22
Derrida no
nega a referncia, apenas quer destruir a semntica
determinada dentro da metafsica tradicional da pre-
sena. A losoa ps-moderna, losoa da des-
construo, no est como a poesia, sem uma refe-
rncia. Ela o pensamento da diferena. Em uma
forte polmica com John Searle, Derrida arma no-
vamente no querer dizer que tudo as leis, as cons-
tituies, a declarao dos direitos humanos, por
exemplo sejam s romances. Ele somente quer re-
armar que isso tudo no so realidades naturais e
dependentes do mesmo poder estrutural que tam-
bm elabora as ces nos romances.
23
Espero que essa armao da diferena signi-
que que a ps-modernidade no possa ser com-
preendida como a nova forma do autismo na lo-
soa. Depois do monlogo do sujeito moderno,
parece que temos nos dias de hoje o monlogo do
indivduo ps-moderno. Armando a diferena, a
ps-modernidade ajuda a pensar algo novo na lo-
soa. Ajuda a sair do deserto do pensamento meta-
fsico, onde no aparecem coisas novas, mas se re-
petem as estruturas dominantes. Nada h de novo
na histria, conforme nos fazem lembrar as palavras
hegelianas. S que, nessa confrontao com a meta-
fsica, o heri derridiano no ser Zaratustra ou al-
guma forma de resistncia esttica que Foucault
24
e Baudrillard
25
ainda procuram e sim Abrao e a
tradio judaica.
26
Os judeus so como os outros,
que o cristianismo no aceita, e o judaismo continua
mais como uma especca mediao com o pensa-
mento grego. Assim, o anti-semitismo comea den-
tro do cristianismo. Nessa linha de pensamento,
Hegel dir que os judeus no tm nada de espiritual
e no reconhecem o innito. No sabem nada sobre
essa estrutura especulativa do pensamento, sobre
essa histria em que o pai se transforma no lho e
se guarda a espiritualidade anterior. A moralidade
objetiva da losoa do direito comea com a idia
do amor da famlia crist. Em nome do amor, Hegel
mostra tamanho dio para com os judeus. A solu-
o nal de Hitler j est preparada dentro da tradi-
o europia.
Pensar os judeus novamente signica pensar a
possibilidade da diferena. Signica pensar as alter-
nativas nessa comunidade europia, crist e hegelia-
na. Por essa razo, a ps-modernidade, confrontada
com a idia da racionalidade tradicional e moderna,
no algo irracional. Ela s quer guardar as razes
do iluminismo, que articulam o protesto contra as
formas da autoridade. A ps-modernidade aparece,
assim, como o ltimo ponto de apoio do iluminis-
mo.
17
Cf. HEIDEGGER, 1976, p. 202.
18
Cf. HABERMAS, 1988, parte 7.
19
Cf. RORTY, 1982, pp. 90-110.
20
HABERMAS, 1988, p. 205.
21
DERRIDA, 1972, pp. 247-325.
22
Cf. CAPUTO, 1997, p. 16.
23
DERRIDA, 1990, p. 243.
24
Cf. FOUCAULT, 1984.
25
Cf. BAUDRILLARD, 1976.
26
Cf., por exemplo, DERRIDA, 1992, pp. 11-109.
p g y p
i mpulso n 29 63
Referncias Bibliogrcas
BAUDRILLARD, J. Simulations. New York: Semiotext(e), 1983.
__________. Lchange Symbolique et la Mort. Paris: Gallimard, 1976.
CAPUTO, J. The Prayers and Tears of Jacques Derrida. Bloomington: Indiana University Press, 1997.
__________. Radical Hermeneutics. Bloominghton: Indiana University Press, 1987.
DERRIDA, J. Donner la mort, em: RABAT, J.M. & WETZEL, M. Lthique du Don, Paris: Transition,1992
__________. Limited Inc. Paris: Galile,1990.
__________. Marges de la Philosophie. Paris: Les Editions de Minuit,1972.
__________. La Voix et Le Phnomne. Paris: PUF, 1967.
DESCARTES, R. Objees e Respostas. Os Pensadores. So Paulo: Abril, 1973.
FOUCAULT, M. Le Souci de Soi. Paris: Gallimard, 1984.
__________. LArcheologie du Savoir. Paris, Gallimard, 1969.
__________. Les Mots et les Choses. Paris: Gallimard, 1966.
__________. Naissance de la Clinique. Paris: PUF, 1963.
__________. Folie et Draison. Paris: Plon, 1961.
HABERMAS, J. Der Philosophische Diskurs der Moderne. Frankfurt: Suhrkapm, 1988.
HEIDEGGER, M. Sein und Zeit.Tbingen: Vittorio Klosterman, 1976.
HUSSERL, E. Cartesianisch Meditationen Krisis. Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1992.
LEVINAS, E. En Dcouvrant LExistence avec Husserl et Heidegger. Paris: PUF, 1974.
LYOTARD, J.F. La Condition Postmoderne. Paris: Minuit, 1979.
RORTY, R. Philosophy and the Mirror of Nature. New York: Cambridge University Press, 1979.
p g y p
64 i mpulso n 29
p g y p
i mpulso n 29 65
EXCESSOS DO
CULTURALISMO:
PS-MODERNIDADE
OU AMERICANIZAO
DA ESQUERDA?
*
1
The Excesses of Culturalism: postmodernity or
the americanization of the Left?
Resumo Assim como o neoliberalismo, as teorias da ps-modernidade espalharam-
se por todo o mundo, em um processo que teve incio nos Estados Unidos. Os mo-
vimentos sociais, ao se tornarem culturalistas, incorporaram e desenvolveram o ps-
modernismo, abandonando o universalismo que sempre caracterizara as posies de
esquerda. Essa americanizao dos movimentos sociais permitiu estabelecer rme-
mente as questes de gnero, sexualidade e etnicidade na agenda poltica, mas tal
agenda se tornou to exclusivista que deixou de contemplar conquistas sociais mais
amplas. Tendo em conta a especicidade de cada situao, os movimentos sociais do
Brasil precisam saber avaliar melhor os modelos que pretendem seguir.
Palavras-chave MOVIMENTOS SOCIAIS IDENTIDADES CULTURALISMO RAA
GNERO PS-MODERNIDADE ESTADOS UNIDOS BRASIL.
Abstract Just like neoliberalism, postmodernity theories have spread out in the
world in a process that has started in the United States. On becoming culturalist, so-
cial movements have incorporated and developed postmodernism, setting aside the
universalism that has always characterized the Left. Such americanization of social
movements has rmly established questions of gender, sexuality and ethnicity on the
political agenda, but the agenda itself has become so exclusivist that it stopped addres-
sing further social advancements. Bearing in mind the specicity of each situation,
Brazilian social movements should better evaluate the models they intend to follow.
Keywords SOCIAL MOVEMENTS IDENTITIES CULTURALISM RACE GENDER
POSTMODERNITY UNITED STATES BRAZIL.
1
O presente texto contm opinies e interpretaes exclusivamente pessoais, que no reetem posies do
Itamaraty.
J.A. LINDGREN ALVES
Embaixador de carreira, atual
cnsul geral do Brasil em So
Francisco (EUA), ex-diretor geral
do Departamento de Direitos
Humanos e Temas Sociais do
Ministrio das Relaes
Exteriores (Braslia) e
ex-membro da Subcomisso das
Naes Unidas para a Preveno
da Discriminao e Proteo
das Minorias (Genebra)
lindgrenja@aol.com
*
p g y p
66 i mpulso n 29
Perhaps, however, this is not so new a story after all. One
remembers, indeed, Freuds delight at discovering an obscure
tribal culture, which alone among the multitudinous traditions
of dream-analysis on the earth had managed to hit on the notion
that all dreams had hidden sexual meanings except for sexual
dreams, which meant something else! So also it would seem in
the postmodernist debate, and the depoliticized bureaucratic
society to which it corresponds, where all seemingly cultural
positions turn out to be symbolic forms of political moralizing,
except for the single overtly political note, which suggests a sli-
ppage from politics back into culture again.
FREDRIC JAMESON
It is crucial to perceive how postmodern racism emerges as the
ultimate consequence of the postpolitical suspension of the politi-
cal, of the reduction of the state to a mere police agent servicing
the (consensually established) needs of market forces and multi-
culturalist, tolerant humanitarianism.
2
SLAVOJ ZIZEK
INTRODUO
o cenrio de desumanizao em que acaba de transcorrer
a passagem do sculo XX ao sculo XXI, os males de nosso
mundo canhestramente globalizado so quase sempre
atribudos, com justssimas razes, ao absolutismo do
mercado como nica verdade nos quatro cantos da Terra.
Raramente assumido pelos agentes que o propagam com
a designao doutrinria que o torna reconhecido, o neo-
liberalismo penetra e se consolida inclusive nas cidadelas
antes mais inexpugnveis ao imperialismo do capital. Menos perceptvel, por-
que muito mais sutil, e muito menos criticada, porque geralmente vista por
seu lado positivo, a mesma disseminao se d com as idias da ps-moder-
nidade e seu antiuniversalismo.
Originrias do Ocidente tanto quanto o iluminismo por elas denuncia-
do, as teorias ps-modernas so hoje em dia estudadas em quase todo o
planeta, na Europa como nas Amricas, na ndia como na Eslovnia, na Sr-
via como na Austrlia, nos centros de estudos de Berkeley como nas univer-
sidades de Pequim (ou Beijing, como se diz agora). Entend-las sempre
bom, em qualquer parte do mundo. Difcil evitar que sua manipulao no
acabe funcionando como alavanca e escusa aos males generalizados pelo ab-
solutismo do mercado.
Enquanto na esfera da economia, o neoliberalismo , como se alega, a
doutrina necessria daquilo que a traduo do idioma global rotula de ca-
pitalismo tardio (em ingls, late capitalism), a ps-modernidade ou ps-mo-
dernismo, no dizer de grandes crticos como Fredric Jameson e Terry Eagle-
ton a lgica cultural que o fundamenta e dele emana na esfera das artes,
da literatura, das cincias humanas e de prticas poltico-sociais correntes. Por
2
V. tradues das epgrafes p. 81.
NN
N N
p g y p
i mpulso n 29 67
menos que assim deseje o logos relativizante do ps-
modernismo epistmico (para falar com Fou-
cault), simultaneamente individualista e anti-subje-
tivista num desconstrutivismo innito (para falar
com Derrida), sua praxis da diferena exacerbada
concorre fatalmente para que o mercado se apresen-
te como o universal que sobrou. Mais do que pelo
m da Guerra Fria e do chamado socialismo real,
isso se tornou possvel porque em algum momento
do sculo XX, particularmente em torno de 1968, os
antigos atores das lutas universalistas passaram a en-
carar separadamente cultura e economia. E, como
quase tudo o que tem ocorrido na experincia hist-
rica do mundo desde o sculo XVIII, para o bem e
para o mal, essa separao metodolgica, intelectual-
mente engendrada no pensamento europeu, tradu-
ziu-se em prticas consistentes primeiro nos Esta-
dos Unidos. De l se espalhou por todos os conti-
nentes, num processo de americanizao muito
pouco analisado.
Quando se diz americanizao, pensa-se logo,
em geral, pelo lado positivo, no esprito empreen-
dedor que constri obras fabulosas, no pragmatis-
mo imediatista do pensamento e da ao, na paixo
pelo novo como sinnimo de progresso, na divul-
gao dos ideais e dos instrumentos de higiene e
conforto, no liberalismo poltico e nas instituies-
modelo das democracias modernas. Pelo lado nega-
tivo, costumam vir mente, ademais da imagem tra-
dicional do capitalista gordo (que antes fumava cha-
ruto e hoje antitabagista sobretudo para no pa-
gar contribuies sociais e indenizaes) a esmagar
o trabalhador, a propaganda ecaz comercial ou
no, os modismos de gosto duvidoso, as babosei-
ras hollywoodianas, os hambrgueres sabor-papel
engolidos com Coca ou Pepsi-Cola, o consumismo
irrefrevel como vcio e auto-armao, a domina-
o da realidade pelos media ou pela mdia,
como se diz no Brasil, com redao aportuguesada
e gnero e nmero invertidos de palavra latina pro-
nunciada em ingls.
H tambm, evidentemente, americanizaes
que so neutras, como a dos jeans e do rock, total-
mente universalizados. Mas existe, igualmente, ou-
tro tipo de americanizao cultural, mais sutil e am-
bivalente, a que pouca gente se refere, at porque
talvez dela no se d a devida conta: a americaniza-
o de movimentos sociais a partir de suas lideran-
as. Sua compreenso necessria ao nosso Brasil
dual, onde o arcaico e o ps-moderno convivem
num (des)equilbrio absurdo, a m de que a luta im-
prescindvel pela modernizao nacional no se ve-
nha a revelar ainda mais problemtica do muito que
j tem sido.
Para procurar entender essa americanizao
da esquerda preciso retroceder no tempo a uma
fase tambm tumultuada, mas num sentido distinto
de nosso tumulto atual.
OS GOOD OLD SIXTIES E A
CULTURALIZAO DA POLTICA
Os bons anos 60 so para qualquer um a
poca dos Beatles e da bossa nova, do LSD e dos
grandes festivais, de Kennedy e de Khrushev, do
Sputnik e da viagem Lua, de Che Guevara e de
Mao, da plula anticoncepcional e do sexo livre sem
aids. So igualmente anos de Guerra Fria e Guerra
do Vietn, de desobedincia civil e rebelio dos jo-
vens, de revoluo e contra-revoluo, da Primavera
de Praga e da Doutrina Brejnev. So tambm, em
vastas partes do mundo relativamente perifricas (o
Brasil, entre elas), anos de agitao e golpes milita-
res, de passeatas e represso, de idealismo utpico e
ditaduras crescentemente sombrias. Para a Organi-
zao das Naes Unidas (ONU), a dcada de 60
foi, sobretudo, a dcada da descolonizao. Foi nela
que se deu a independncia do maior nmero de Es-
tados afro-asiticos emersos do sistema colonial.
Foi nela que se estabeleceu o conceito positivo de
um Terceiro Mundo capaz de produzir progresso
com liberdade para toda a aldeia global, e ganhou
foros de possibilidade tangvel uma Nova Ordem
Econmica Internacional sepultada antes de nas-
cer. Foi, apesar de tudo, no cmputo geral do mun-
do, uma poca de otimismo, embalado por esperan-
as emancipatrias, com crena num futuro solid-
rio, diferente da poca presente.
Entre os acontecimentos de maior inuncia
local e internacional at agora, a dcada de 60 teste-
munhou os xitos do movimento negro norte-ame-
ricano pelos direitos civis, assim como o encerra-
mento de sua mobilizao nacional unitria e uni-
p g y p
68 i mpulso n 29
cadora. Testemunhou da mesma forma o fortaleci-
mento do movimento de mulheres como fora
social autnoma, assinalando o incio da revoluo
que causou. Ambos os movimentos e suas transfor-
maes tiveram e tm ainda reexos bastante pro-
fundos no cenrio brasileiro.
Os Avatares do Movimento
Norte-americano pelos Direitos Civis
ponto pacco entre historiadores da mat-
ria que o assassinato de Martin Luther King Jr., em
4 de abril de 1968, praticamente encerrou a fase do
movimento norte-americano pelos direitos civis,
que exigia do governo da Unio responsabilidade e
ao garantidora da no-discriminao racial. Encer-
rou-o no somente porque foi conseqncia imediata
dessa morte a aprovao pelo Congresso do Civil
Rights Act de 1968, que deveria culminar a reforma
legislativa em defesa da igualdade formal, proibindo
a discriminao habitacional e federalizando a obri-
gao de controlar ingerncias contra direitos da
pessoa. Encerrou-o sobretudo porque, depois dela,
as faces predominantes no movimento negro
que j existiam antes, mas no eram to expressivas
no mais compartilhariam o sonho de Martin
Luther King de uma cidadania de primeira classe,
numa sociedade irmanada, em que as pessoas no
fossem julgadas pela cor de sua pele, mas pelo con-
tedo de seu carter.
3
Visibilidade e impacto maior,
nos Estados Unidos e no resto do mundo, passaria
a ter a movimentao black power, cujo lder Stokely
Carmichael logo advertiu a Amrica Branca do
erro que ela teria cometido: o de matar o nico ho-
mem de nossa raa, na gerao mais velha do pas, a
quem os militantes, os revolucionrios e as massas
de pessoas negras ainda escutariam.
4
Na seqela do assassinato de Luther King, os
guetos urbanos negros entraram em convulso. Os
levantes civis de carter racial, em mais de uma cen-
tena de cidades, e a represso a eles tiveram um sal-
do negativo de 40 mortos, trs mil feridos e bilhes
de dlares perdidos em propriedades destrudas.
5
Pior e mais conseqente foi o fortalecimento, na-
quele perodo, da convico entre os jovens negros
de que a sociedade norte-americana seria, nas pala-
vras de Alan Brinkley, irredimivelmente racista, e
o liberalismo tolerante e inter-racial, inadequado
tarefa da libertao.
6
Para isso tambm contribuiu
o assassinato de Robert Kennedy, pr-candidato
presidncia da Repblica pelo Partido Democrata,
em 6 de junho de 1968, como que a reconrmar,
trgica e eloqentemente, a suposta incapacidade de
assimilao das aspiraes igualitaristas da popula-
o pobre, em geral, e das minorias tnicas, em par-
ticular, pelo liberalismo avanado, que ele simboli-
zara.
Reao ajustada a um sistema segregacionista,
que, conforme herana classicatria escravista do
antigo Imprio Britnico, denia a populao no-
branca pelo critrio de uma gota de sangue (este
permitira no passado a escravido de quem tivesse
algum ascendente negro e at hoje rejeita a mestia-
gem como espria), o radicalismo black power, que
se tornou predominante no movimento negro nor-
te-americano, ainda assim no era monoltico. Na
classicao de Manfred Berg, havia entre seus mi-
litantes diferentes faces, pluralistas e naciona-
listas. Os pluralistas postulavam o controle co-
munitrio do comrcio, das escolas e da polcia nas
reas de populao negra, alm de organizaes po-
lticas efetivamente independentes (em contraste
com a National Association for the Advancement of
Colored PeopleNAACP, maior agrupamento nacio-
nal, at agora existente, que sempre dialogou com o
governo, exerce presso no Congresso e repudia o
racismo s avessas). Mas eram reputados modera-
dos por aceitarem a idia de uma sociedade norte-
americana. Os nacionalistas, por sua vez, sub-
dividiam-se em separatistas territoriais, revolucio-
nrios anticapitalistas e culturalistas afrocntricos.
Todos utilizavam conceitos e terminologia marxista,
mas todos davam prioridade ou exclusividade ao
recorte racial sobre o recorte de classe.
7
A continuao dessa histria bastante co-
nhecida. Enquanto os programas sociais da guerra
3
Apud BERG, 1998, p. 417. O clebre discurso de King que insistia no I
have a dream foi feito no encerramento da Marcha sobre Washington, em
agosto de 1963.
4
Ibid., p. 398.
5
Segundo as contas de BRINKLEY, 1998, p. 224.
6
Ibid.
7
BERG, 1998, p. 408.
p g y p
i mpulso n 29 69
contra a pobreza de Lyndon Johnson sucumbiam
ante os gastos e derrotas da guerra do Vietn, e
a nova esquerda assumia um revolucionarismo
extremamente difuso, a exacerbao nacionalista
hoje em dia se diz culturalista do movimento ne-
gro alienou os brancos liberais que com ele se alia-
vam e votavam no Partido Democrata. O segrega-
cionismo branco voltou ao proscnio com a candi-
datura independente de George Wallace presidn-
cia da Repblica;
8
a classe mdia, normalmente
alienada, que simpatizara com os negros sofredores
do incio da dcada, passou a encarar o movimento
negro crescentemente assertivo como uma ameaa
Nao; Richard Nixon foi eleito presidente pelo
Partido Republicano no nal de 1968 (tendo sido
ele quem, anal, adotou o sistema de quotas nas
contrataes de servios pblicos, que complemen-
tariam a ao armativa da esfera da educao).
O movimento negro norte-americano, como
instrumento articulador de luta no cenrio poltico
nacional, praticamente deixou de existir. Manteve,
por outro lado, perl alto e militante no exterior. J
havendo inudo na Conveno Internacional so-
bre a Eliminao de Todas as Formas de Discrimi-
nao Racial, de 1965 (cujo artigo 4. preconiza o
sistema de preferncias da ao armativa), seu
consistente ativismo na campanha internacional
contra o apartheid sul-africano, at a abolio desse
regime, teve provavelmente maior repercusso em
governos estrangeiros do que nos governos de Wa-
shington. Serviu e serve ainda de modelo, em mui-
tos aspectos, s lutas dos negros brasileiros e de ou-
tros pases, por reconhecimento e melhores condi-
es sociais. Dentro do pas, porm, sua inuncia
se manifesta quase exclusivamente no campo cultu-
ral. Escritores negros, norte-americanos e de outras
nacionalidades, passaram a fazer parte do cnon
obrigatrio escolar; os livros didticos atuais procu-
ram valorizar o elemento negro na histria do pas;
as grandes universidades contam com departamen-
tos de estudos tnicos. At mesmo uma celebrao
alternativa ao Natal, a Kwanzaa, inventada em Los
Angeles, em 1996, por Ronald McKinley (rebatiza-
do Maulana Karenga) com denominao swahili e
inspirao africana, mas no existente na frica, foi
ocializada no calendrio cvico-escolar entre 26 e
31 de dezembro, para livrar os afro-americanos da
humilhao de comemorar um festejo europeu.
9
Sintomaticamente, numa populao negra
ainda majoritariamente crist e protestante, bastante
dividida hoje em dia pelo vis classista (inclusive no
que diz respeito s posies diante da ao arma-
tiva, ora em declnio no pas), o grupo politicamente
militante mais numeroso, herdeiro da tradio black
power nos dias atuais, parece ser a Nao do Isl, li-
derada por Louis Farrakhan, espcie de resposta
culturalista ao movimento branco da Identidade
Crist, protestante e profundamente racista.
10
Em 1968, pouco aps a morte de Martin Lu-
ther King, seu herdeiro e continuador poltico Ral-
ph Abernethy tentou reeditar a histrica Marcha
sobre Washington de 1963, decisiva no contexto da
luta pelos direitos civis, na qual King uma vez mais
expusera, com grande repercusso, o seu sonho
igualitarista.
11
A passeata de Abernethy, cinco anos
depois, tinha o objetivo de manter viva a mobiliza-
o integracionista, j ento voltada contra a pobre-
za e a discriminao econmica incidentes sobretu-
do nos negros, acorde com a viso de King (por ele
preconizada, mas nos dias de hoje quase totalmente
esquecida) de que os direitos civis, assim como os
culturais, no se realizam separadamente dos direi-
tos econmico-sociais. O evento de 1968 obteve
participao e repercusso diminutas. Em 1995, o l-
der muulmano Louis Farrakhan decidiu fazer o
mesmo de 1963, convocando uma Marcha de Um
Milho sobre Washington. Tendo ou no realmen-
8
O ex-governador do Alabama, candidato pelo Partido Independente,
no ganhou, mas obteve votao impressionante.
9
Nas escolas pblicas elementares de So Francisco, crianas de todas as
etnias, que no tm nenhuma idia do que seja o swahili, muito menos da
parte do mundo em que essa lngua falada, so foradas a decorar pala-
vras exticas, malpronunciadas em ingls, cujo signicado comporia os
conceitos-chave, muito idealizados, da kwanzaa, recentemente inven-
tada nos Estados Unidos. Menos mal quando se recorda que foi tambm
na Califrnia (regio de So Francisco), e na mesma poca, que a esquerda
cultural afro-americana tentou, sem xito, adotar o ingls malfalado dos
negros incultos como lngua ocial de ensino comunitrio, denominada
ebonics (de ebony, bano).
10
Como j descrevi alhures as caractersticas de ambas, permito-me reme-
ter a meu No peito e na raa a americanizao do Brasil e a brasilianiza-
o da Amrica (LINDGREN ALVES, 2000).
11
Cf. supra nota 2. Na verdade, a metfora do sonho fora usada antes por
Martin Luther King em diferentes sermes, mas foi na marcha de 1968
que o discurso se tornou nacional e internacionalmente conhecido.
p g y p
70 i mpulso n 29
te um milho de participantes, a convergncia de ne-
gros em 1995 sobre a capital da Repblica causou
impacto pela magnitude e trouxe Nao do Isl
grande notoriedade. Impressionou, da mesma for-
ma, num sentido radicalmente oposto, porque, ao
contrrio do carter abrangente e multirracial de sua
antecessora exitosa dos tempos de Luther King, a
marcha de Farrakhan excluiu no somente os bran-
cos, mas tambm as mulheres de qualquer raa ou
cor.
12
Ao alienar as mulheres dessa grande iniciativa
e, conseqentemente, da atividade poltica em geral,
em paralelo exibio de um fundamentalismo re-
trgrado que poucas naes islmicas africanas ou
asiticas ainda ousariam ostentar,
13
a Nao do Isl
norte-americana se auto-elimina a possibilidade de
receber apoio de outros movimentos sociais conse-
qentes, particularmente daquele que mais cresceu
desde a dcada de 60, nos Estados Unidos e inter-
nacionalmente: o movimento das mulheres.
O Movimento Internacional das
Mulheres: feminismo da igualdade
e feminismo da diferena
fato bastante documentado, pelo menos no
Ocidente, que a luta histrica das mulheres por seus
direitos humanos, gerais e a elas especcos, vem de
longa data. Todos conhecem a gura das sufragettes
norte-americanas e britnicas em suas manifesta-
es pelos direitos polticos da populao feminina,
por tanto tempo denegados ainda no sculo XX.
Muitas mulheres e homens, no necessariamente
militantes, so familiarizados com o extraordinrio
projeto de Declarao dos Direitos da Mulher, re-
digido por Olympe de Gouges no calor da Revolu-
o Francesa. Alguns mais corretamente, algumas
tero lido a obra de Mary Wollstonecraft A Vin-
dication of the Rights of Women, tambm do sculo
XVIII. Praticamente todas as sociedades, ocidentais e
orientais, atualmente cultivam com admirao as
personagens histricas respectivas que funcionaram
como precursoras do movimento feminista. Foi,
contudo, na dcada de 60, no contexto das lutas an-
tiautoritrias da chamada nova esquerda, com sua
viso abrangente das opresses disseminadas nas
sociedades capitalistas, assim como nos pases de
socialismo burocrtico, e com o clebre slogan de
que o pessoal poltico, que o movimento social
das mulheres, como atualmente entendido, come-
ou a rmar-se com autonomia e vigor. Emergiu
nos Estados Unidos em paralelo aos movimentos
contra a Guerra do Vietn e pelos direitos civis, re-
cebendo desse segundo inuncia notvel. Um de
seus marcos foi, por sinal, a fundao por Betty Frie-
dan, em 6 de outubro de 1966, da National Organi-
zation of Women (NOW), que, a exemplo do NAACP
dos negros, postulava a igualdade de direitos nesse
caso com os homens em todos os aspectos da vida
social, econmica e institucional.
14
Cronista engajado da rebelio dos anos 60,
Todd Gitlin descreve, com episdios ilustrativos,
como as estudantes e jovens norte-americanas mili-
tantes da nova esquerda foram-se distanciando gra-
dativamente de seus companheiros de campanhas
libertrias e igualitaristas, no curso de 68. Faziam-no
ao observar, na pele prpria e das outras, a distncia
gritante existente entre o antiautoritarismo por eles
propugnado e o conservadorismo opressivo que
mantinham nas relaes privadas.
15
A autonomia,
originalmente forjada em grupos de estudo que liam
Simone de Beauvoir e Betty Friedan, desenvolvia teo-
rias prprias, emancipatrias, a respaldar sua assero
poltica, e se organizava em redes, nacionais e trans-
nacionais, para a ao desejada. Germinaria primeiro
na forma do movimento womens lib, que iria incen-
tivar suas homlogas transcontinentais na Europa
Ocidental,
16
na Amrica Latina, no Japo e no Bra-
sil, ainda durante a efervescncia social de 1968.
12
BERG, 1998, p. 419. No entender de Manfred Berg, essa marcha deve
ser vista como uma manifestao importante de solidariedade e orgulho
racial de um vasto segmento da populao que ainda se considera vtima de
discriminaes. Mas a mensagem de auto-armao, capitalismo negro,
disciplina e combate s drogas da Nao do Isl, com seus vigilantes
muulmanos e seu racismo radical, antibranco e anti-semita, seria con-
servadora.
13
A revoluo iraniana contou com participao decisiva das mulheres.
Ainda que depois lhes tenham imposto o tchador, os aiatols nunca chega-
ram a exclu-las totalmente da poltica. Apenas a Arbia Saudita e alguns
poucos emirados rabes do Golfo, para no falar do desvario obsessivo dos
talibs afeges, seguem polticas de excluso total das mulheres em qual-
quer atividade pblica.
14
CASTELLS, 1997, p. 177.
15
GITLIN, 1987, sobretudo cap. 16: Women: revolution in the revolu-
tion, pp. 362-376.
16
Sobre a inuncia do movimento de mulheres norte-americanas na
Alemanha, cf. MALECK-LEWY & MALECK, 1998, pp. 373-395.
p g y p
i mpulso n 29 71
Ao contrrio do movimento negro norte-
americano, arrefecido no nal dos anos 60 em con-
traste com a radicalizao das faces culturalistas, o
movimento de mulheres ganhou fora decisiva a
partir dos anos 70. Isso se deu tanto em funo de
seu ativismo manifestado em diferentes pases,
como por sua penetrao no mbito da Organiza-
o das Naes Unidas (ONU) e sua incorporao
pelo Conselho Econmico e Social. A ONU procla-
mou 1975 como Ano Internacional da Mulher,
convocando na cidade do Mxico a I Conferncia
Mundial sobre a Mulher: Igualdade, Desenvolvi-
mento e Paz, a qual, por sua vez, ensejou a elabora-
o da Conveno sobre a Eliminao de Todas as
Formas de Discriminao contra a Mulher, adotada
pela Assemblia Geral em 1979 (internacionalmen-
te em vigor desde 1981, embora com muitas reser-
vas). A Conferncia do Mxico de 1975 iniciou a s-
rie de encontros mundiais sobre a situao da mu-
lher, o quarto dos quais at agora mas certamente
no o ltimo da srie foi a Conferncia de Beijing,
de 1995, maior encontro internacional de todos os
tempos.
17
No cabe aqui uma tentativa de anlise das di-
ferentes vertentes do movimento feminista, que va-
riavam desde posies igualitaristas, liberais e socialis-
tas (feminismo da igualdade), s posturas essencialis-
tas, antipatriarcais e separatistas, associadas ou no
ao lesbianismo prtico e ideolgico (feminismo da
diferena), muitas vezes em articulao com o mo-
vimento dos gays.
18
Cabe, sim, observar que, ade-
mais da entrada macia das mulheres no mercado de
trabalho em escala planetria, de sua crescente pre-
sena na vida pblica, poltica e econmica da maio-
ria dos pases, das conquistas representadas pelas cre-
ches e legislaes de apoio maternidade, pela ar-
mao de seus direitos reprodutivos e sexuais, o
movimento de mulheres praticamente modicou
em todo o mundo a maneira de pensar e, em muitas
partes, o comportamento de todos. Com raras ex-
cees deliberadas e ainda muitos deslizes de lingua-
gem geralmente inadvertidos (at mesmo entre as
mulheres), o homem j no se apresenta sozinho
como sinnimo da espcie; os direitos humanos,
em todas as suas categorias, passaram a abranger
tambm, necessariamente, todos os direitos da mu-
lher;
19
o discurso ocial dos governos e movimen-
tos sociais sem falar no da Academia passou a
atentar mais seriamente para as distores que o dis-
curso tradicional embutia, facilitando a perpetuao
de opresses; a mulher tornou-se anal reconhecida
universalmente como sujeito da Histria (exceto
provavelmente para ps-modernos empedernidos
que rejeitam as noes iluministas de histria e de
sujeito, de natureza humana e, sobretudo, de valores
universais).
De todos os conceitos oriundos do pensa-
mento feminista, o que se tem comprovado mais
permanente e conseqente o do gnero. Na ex-
pressiva colocao de Gerda Lerner, ele seria a de-
nio cultural de uma conduta como apropriada
aos sexos em uma sociedade dada em uma poca
dada. Gnero uma srie de papis culturais. um
disfarce, uma mscara, uma camisa de fora na qual
os homens e mulheres danam sua dana desi-
gual.
20
Interpretado a partir da linguagem dominan-
te, mas em oposio a um determinismo biolgico
atribudo ao sexo, o conceito feminista de gnero
desvendou as relaes de poder que subjaziam li-
mitao natural da mulher ao espao domstico,
revelando a posio de inferioridade que lhe era cul-
turalmente imposta. Foi, no dizer de Mara-Mila-
gros Rivero Garretas, uma categoria de anlise tre-
mendamente libertadora quando cunhada no incio
dos anos 70, embora com o passar do tempo ela se
tenha revelado menos revolucionria do que as de
patriarcado ou de poltica sexual.
21
Talvez precisa-
mente por isso, por ser menos revolucionria, a
conceituao feminista de gnero tenha obtido acei-
tao universal. Incorporada tambm pelos ho-
mens, ela hoje consagrada em diversos documen-
17
Sobre a Conferncia de Beijing, cf. LINDGREN ALVES, 1996.
18
Para uma anlise dessas vertentes, cf. CASTELLS, 1997, particular-
mente o captulo intitulado The end of patriarchalism. As expresses
feminismo da igualdade e feminismo da diferena, bastante difundidas, eu
retirei de RIVERO GARRETAS, 1994.
19
Para uma idia dos direitos especcos da mulher e sua incluso no rol
dos direitos humanos universais, cf. LINDGREN ALVES, 1996 e 1997,
pp. 86-97.
20
Apud RIVERO GARRETAS, 1994, p. 79 (minha traduo).
21
Ibid., p. 78.
p g y p
72 i mpulso n 29
tos normativos internacionais, em particular na Pla-
taforma de Ao da Conferncia de Beijing, de
1995. Esta assinala em seu terceiro pargrafo:
A Plataforma de Ao salienta que as mu-
lheres compartilham problemas comuns
que s podem ser resolvidos por seu traba-
lho conjunto e em parceria com os homens
para alcanar o objetivo da igualdade de g-
nero em todo o mundo. Ela respeita e valo-
riza a total diversidade de situaes e condi-
es das mulheres e reconhece que algumas
mulheres enfrentam barreiras especiais a sua
capacitao.
22
Ainda que o chamado feminismo da diferen-
a continue a produzir teorias revolucionrias com
algum alcance prtico entre grupos reduzidos, no
ele que se tem demonstrado til para os avanos das
mulheres em geral. Seja na Conferncia de Beijing,
seja na prtica social de quase todos os pases, o
feminismo da igualdade que tem conseguido vi-
trias, acrescidas ao longo dos anos (malgrado gra-
ves regresses, relativamente isoladas em determi-
nadas regies e culturas). Tais conquistas gradativas,
que representam, no conjunto, profunda ruptura
com uma tradio histrica de mais de 4 mil anos,
asseguram plenamente ao movimento de mulheres
nascido na dcada de 60 inquestionvel carter re-
volucionrio, no sendo exagerado armar ter ele
constitudo, no sculo XX, a nica revoluo que
deu certo apesar de obviamente inacabada.
OS IMPASSES DO
CULTURALISMO EXACERBADO
Se at o momento este texto se concentrou
nas experincias dos movimentos dos negros e das
mulheres, iniciados nos Estados Unidos e extrapo-
lados para o resto do mundo com as necessrias
adaptaes, porque ambos trazem em si, no que
tm de vitoriosos, a mensagem do universalismo,
sem a qual se dissolve a idia dos direitos humanos.
No entanto, para muitos intelectuais que se preten-
dem comunitariamente orgnicos numa linha gra-
msciana desvinculada de classe, essas faces de
maior xito em ambos os movimentos alegadamen-
te no representariam a esquerda. Esta residiria
apenas no essencialismo radical do culturalismo
aguerrido, praticado na Academia, dos Estados
Unidos e alhures.
No preciso recorrer ao chavo despiciente
do politicamente correto (PC), usado pela direita
para criticar os excessos do culturalismo. A um ob-
servador distanciado como o autor destas linhas im-
pressiona a freqncia com que se l e ouve nos Es-
tados Unidos a expresso culture wars (guerras de
culturas), signicando o radicalismo identitrio da
militncia cultural, o patrulhamento por ela dos es-
tudos e da linguagem acadmica, em detrimento da
participao efetiva em causas abrangentes de inte-
resse geral. Impressiona mais ainda a massa crtica
de estudos aprofundados por intelectuais que se au-
toconsideram de esquerda sejam da esquerda an-
tiga, progressista liberal ou socialista, sejam ex-in-
tegrantes da nova esquerda, agora j envelhecida,
sejam ainda pragmticos ps-modernos, de esquer-
da moderada preocupados com a fragmentao
poltica propiciada pelo multiculturalismo rgido ora
praticado na sociedade norte-americana.
23
Exagera-
da ou acurada, soa signicativa a imagem, j quase
clssica, de Todd Gitlin, em seu Crepsculo de So-
nhos Comuns (ttulo de livro que de per si um
grande achado), de que enquanto a esquerda mar-
chava sobre os departamentos de ingls nas univer-
sidades, a direita conquistava a Casa Branca.
24
Bastante citada pelos que compartilham tal
preocupao, a frase de Todd Gitlin resume acura-
damente as idias e inquietaes dele prprio e de
todos os demais. Porque foi a partir da opo pelo
direito diferena na militncia radical de esquerda
que o conservadorismo se rmou, de maneira quase
22
Report of the Fourth World Conference on Women (Beijing, 4-15 Septem-
ber 1995), documento das Naes Unidas A/CONF.177/20, p. 10 (minha
traduo). Antes da Conferncia, Abramovay j observava que o conceito
gnero era central e permeava todo o projeto da Plataforma de Ao, o
que implica trabalhar uma viso renovada das relaes sociais (ABRA-
MOVAY, 1995, p. 214).
23
Entre a massa de autores e ttulos que tratam do problema, posso citar
como exemplos o liberal Michael Lind, em The next American nation, o
ex-ativista da nova esquerda Todd Gitlin, no muito conhecido The twilight
of common dreams, o gozador Robert Hughes em seu quase best seller The
culture of complaint, e o lsofo pragmtico, antimetafsico e ps-
moderno heterodoxo Richard Rorty, em Achieving our nation.
24
GITLIN, 1995, cap. 5: Marching on the English Department While
the Right Took the White House, pp. 126-165.
p g y p
i mpulso n 29 73
absoluta, na poltica norte-americana. Firmou-se,
alis, antes e mais profundamente do que o prprio
neoliberalismo (este iniciado com Reagan) como
verdadeiro pensamento nico das elites dominan-
tes. Com seus aspectos morais e religiosos muito
estritos, suas vertentes nativistas e patriticas, seus
valores tradicionais de famlia e comunidade (ainda
que com acenos episdicos em favor de parentes
homossexuais desgarrados), mas nenhuma aten-
o situao de classe e explorao pelo poder, o
conservadorismo norte-americano cou to con-
sensual que tornou negligenciveis as diferenas
entre os dois grandes partidos. Quem tiver dvidas
sobre sua continuidade at os dias de hoje pode
consultar as eleies presidenciais de 2000, de resul-
tados to prximos quanto os programas dos dois
candidatos principais, sem desatentar para a perfor-
mance irrisria da alternativa oferecida por Ralph
Nader e o Partido Verde chamada corporate Ame-
rica. , alis, sob o rtulo ocial de conservadoris-
mo compassivo que o novo presidente da Repbli-
ca, George W. Bush, d incio, no sculo XXI, ao go-
verno da nica potncia mundial verdadeira.
verdade que as preocupaes dos autores
aqui aludidos voltam-se para a sociedade norte-
americana em sua especicidade, ecoando, com an-
lises e sugestes, dvidas levantadas em muitas reas
e muito exploradas pela direita se ainda existiria
de fato uma nao norte-americana. Mas a insistn-
cia dessas preocupaes deve valer pelo menos
como sinal de alerta tambm para outros povos em
que o multiculturalismo imperfeito tambm est
presente, com graus maiores ou menores de explo-
sividade latente.
Com ou sem nexo causal imediato, desde que
os grandes movimentos sociais, comeando pelos
Estados Unidos, passaram a atentar mais para obje-
tivos identitrios do que para a comunidade nacio-
nal e o universo de todos os seres humanos, o neo-
liberalismo implantou-se decisivamente em todo o
globo terrestre. As guerras culturais adquiriram,
no mundo, feies muito mais sangrentas do que na
Amrica (do Norte ou do Sul). Os conitos novos
da ex-Iugoslvia, da Chechnia, da sia Central ex-
sovitica, de Ruanda, do Burundi, do Congo, assim
como outros, antigos, recrudescidos por quase todo
o continente asitico, so casos de gravidade variada
em que minorias identitrias tnicas ou religiosas
explodem ou so esmagadas com violncia, na peri-
feria do mundo globalizado pelo neoliberalismo
multicultural. A mesma lgica se manifesta no cen-
tro europeu do sistema internacional, em incidentes
de agresso discriminatria, muitas vezes respaldada
por polticas nacionalistas, contra imigrantes, ciga-
nos e judeus. No se precisa, portanto, de especiali-
zao no tema das minorias para perceber, como o
professor Will Kymlicka, que desde o m da Guer-
ra Fria, os conitos etnoculturais tornaram-se a fon-
te mais comum de violncia poltica no mundo, e
eles no mostram qualquer sinal de arrefecimen-
to.
25
Nem de estranhar tampouco que o crtico
mais verstil e profundo da obsesso multiculturalis-
ta que ele chama de ps-moderna e ps-poltica,
associada ao livre mercado e ao humanitarismo
surgido nos anos 90 seja originrio de pas que antes
integrava a esfacelada Iugoslvia: o lsofo e psica-
nalista esloveno Slavoj Zizek, do Instituto de Cin-
cias Sociais da Universidade de Ljubljana.
26
No se quer aqui dizer que a insistncia no
cultural como elemento de autoconscientizao no
tenha representado papel emancipatrio importan-
te, ou que a abstrao da cultura do determinismo
econmico, impulsionada pelo ps-estruturalismo
francs e adotada com grande convico pela nova
esquerda dos anos 60 e 70, no tenha sido til, em
especial no Ocidente. Porque esclarecedora de mui-
tos aspectos at ento encobertos das realidades so-
ciais, a separao interpretativa desses dois condicio-
nantes cultura e economia conscientizou vastos
segmentos populacionais para mobilizaes neces-
srias. A compreenso das opresses disfaradas no
discurso universalista tradicional, da onipresena do
poder sobre os corpos dos indivduos explicitada
por Foucault e muito desenvolvida no pensamento
feminista e da instrumentalizao da razo ilumi-
25
KYMLICKA, 1995, Introduction, p. 1 (minha traduo).
26
Cf. segunda epgrafe no incio deste ensaio, retirada de ZIZEK (1998, p.
997). Com j onze livros muito densos e uma innidade de artigos publi-
cados no Reino Unido, Estados Unidos e outros pases do Ocidente
(inclusive agora no Brasil), Slavoj Zizek considerado, inter alia, por Terry
Eagleton o mais formidavelmente brilhante expoente da psicanlise, na
verdade da teoria da cultura em geral, que emergiu na Europa nas ltimas
dcadas (citado na contracapa de Did somebody say totalitarianism?).
p g y p
74 i mpulso n 29
nista para ns anti-humanistas analisada por
Horkheimer e Adorno, que no eram ps-moder-
nistas foi elemento imprescindvel aos poucos
avanos sociais efetivamente alcanados na segunda
metade do sculo passado. Mas vlido indagar at
que ponto a globalizao incontrolada teria dado
margem ao nvel atual de fragmentao e indiferen-
tismo planetrios, se as alas esclarecidas dos mo-
vimentos emancipatrios no tivessem adotado,
com o fervor que o zeram, um perspectivismo ra-
dical; se, com a obsesso identitria, no tivessem
acabado por reduzir suas metas a ns microcomu-
nitrios; se a noo do direito diferena no tivesse
sobrepujado a dos direitos humanos; se a esquerda
da esquerda sua suposta vanguarda no se tivesse
tambm americanizado.
Com preocupaes voltadas para seu pas, o
norte-americano Todd Gitlin observa:
Muitos expoentes da poltica de identidades
so fundamentalistas na linguagem da
Academia, essencialistas e a crena em
diferenas grupais essenciais facilmente
transita para a crena em uma superioridade.
(...) O cultivo da diferena no nada de
novo, mas a pura profuso de identidades
que reivindicam separao poltica nos dias
de hoje sem precedentes. E aqui est talvez
a novidade mais estranha da situao pre-
sente: que o conjunto de reconhecimentos
grupais tome tanta energia daquilo que se
apresenta como esquerda.
27
A observao de Gitlin, professor em Berke-
ley, motivada pelo cenrio que o circunda, com-
plementada tomando por base a Europa, com maior
abrangncia, por Terry Eagleton, professor em
Oxford, para quem:
O Ocidente est agora inchado de polticos
radicais cuja ignorncia das tradies socia-
listas, nem por isso menos suas, , entre ou-
tras coisas, decorrncia de amnsia ps-mo-
dernista. E ns nos estamos referindo aqui
ao maior movimento de reforma a que a
histria j assistiu. (...) Encontramo-nos
agora confrontados com a situao meio
farsante de uma esquerda cultural que man-
tm um silncio embaraado ou indiferente
sobre aquele poder que a cor invisvel da
prpria vida diria, que determina nossa
existncia s vezes literalmente em qual-
quer lugar, que decide em larga medida o
destino das naes e os conitos destrutivos
entre elas. como se quase todas as outras
formas de sistemas opressivos Estado,
media, patriarcado, racismo, neocolonialis-
mo pudessem ser debatidas sem proble-
ma, mas no aquele que to freqentemente
dene a agenda de longo prazo para todos
esses assuntos, ou pelo menos est implica-
do com eles at a raiz.
28
O poder a que se refere Terry Eagleton , evi-
dentemente, o poder do capital; o sistema, o do ca-
pitalismo em sua fase atual. Estes o ps-modernis-
mo no discute. Nem se preocupa em sugerir con-
trapesos ou alternativas plausveis, a no ser dentro
dos grupos de identidade restritos ou em esquemas
tericos to impraticveis quanto confusos
29
por
mais que os ps-estruturalistas, pelo menos nos
anos 60, tanto se rebelassem contra todas as opres-
ses. Da a radical armao de Slavoj Zizek, conhe-
cedor das feies mais sombrias do fundamentalis-
mo identitrio micronacionalista em sua prpria re-
gio, de que a maneira apropriada de se lutar contra
o dio tnico no com sua suposta contrapartida
natural, a tolerncia tnica, e sim com mais dio po-
ltico dirigido contra o inimigo comum.
30
Embora outros dios destrutivos abundem
no multiculturalismo atualmente hegemnico no
Ocidente, esse dio poltico criativo, de feies e
objetivos universalistas, propugnado pelo lsofo
de Ljubljana, no existe nos Estados Unidos. Nem
tem condies de existir de forma coordenada, por
razes muito especcas que veremos em seguida,
embora algum lampejo de articulao nessa linha
comece a aparecer na confusa movimentao de v-
27
GITLIN, 1995, pp. 164-165 (minha traduo).
28
EAGLETON, 1996, pp. 22-23.
29
Como as sugestes para uma justia efetiva, atenta s diferenas de valo-
res das minorias oprimidas, feitas por Lyotard, em Le Diffrend (1988), ou
por Derrida, em Force de loi: le fondement mystique de lautorit
(1990).
30
ZIZEK, 2000, p. 11.
p g y p
i mpulso n 29 75
rios grupos da sociedade civil organizados em rede
contra os emblemas da globalizao corrente.
ESPECIFICIDADES NORTE-AMERICANAS
INTRANSPONVEIS
Em decorrncia do afrocentrismo original-
mente black power, o negro norte-americano hoje
ocialmente designado African American (no Afro-
American, como seria gramaticalmente correto,
aparentemente porque, no entender dos radicais, a
expresso hifenizada implicaria a valorizao do ter-
mo americano sobre o prexo afro).
31
Por
emulao, os ndios, antigos peles vermelhas
que tambm comearam a atuar coordenadamente
em 1968
32
passaram a chamar-se Native Ameri-
cans. Para uma sociedade que sempre foi muito mais
um mosaico de peas justapostas do que o cadinho
misturador (melting pot) pelo qual a propaganda o-
cial a denia, o gentlico composto tornou-se um
grande achado. Os brancos minoritrios, inicial-
mente perseguidos ou ainda objeto de preconceitos,
tambm se autodenominaram americanos irlande-
ses (Irish Americans), americanos poloneses (Po-
lish Americans) e assim por diante, para valorizar as
respectivas culturas. Sempre desconsiderando a
mestiagem como categorizao vlida, por mais
que ela seja evidente e, no caso em questo, auten-
ticamente norte-americana, o servio de imigrao e
os censos ociais passaram a exigir que os indivduos
no-brancos se autoclassicassem como African
American, Native American, Asian ou Pacic Islan-
der, ademais do quase injurioso Hispanic (que se
aplica a todos os brasileiros no-negros, assim como
aos mapuches, aimaras e quchuas, ou descendentes
de incas, astecas e maias, mas no aos cidados es-
panhis),
33
ao passo que os brancos de origem eu-
ropia so simplesmente brancos, ainda que se con-
siderem predominantemente russos, irlandeses ou
italianos.
Nos Estados Unidos, com suas peculiarida-
des histricas, econmicas e organizacionais, essas
identicaes diferenciais persistentes e obsessivas
dos descendentes de escravos, de coolies e de imi-
grantes de toda e qualquer origem contrastantes
com o que ocorre com inegvel naturalidade no
Brasil (sem aqui pretender exumar o defunto mito
de nossa democracia racial)
34
tm suas razes de
ser, no apenas culturais. Uma delas, no-contem-
plada a priori, mas no-negligencivel a posteriori,
a prpria expanso capitalista do mercado domsti-
co de bens de consumo, com a oferta de produtos
e a propaganda ajustadas ao recorte identitrio das
minorias-alvo. Estas, com um total nacional de 77
milhes de pessoas e j representando mais da me-
tade da populao da Califrnia, levam as agncias
publicitrias a movimentar anualmente 2 bilhes de
dlares em campanhas adaptadas ao perl psicosso-
mtico e idiossincrtico de cada minoria.
35
Do ponto de vista histrico, praticamente
incontroverso entre os estudiosos da matria que a
nao norte-americana idealizada pelos founding fa-
thers (Pais Fundadores) era para ser exclusivamente
branca, protestante e anglo-sax ou, mais correta-
31
Todd Gitlin, que repudia o uso crtico da expresso politicamente cor-
reto, conta, no obstante, como um estudante negro, em atitude absurda,
manifestou-se ofendido com o fato de determinado livro didtico usar
inadvertidamente a expresso (correta) Afro-American, apontado isso
como uma clara evidncia de racismo do autor. Cf. GITLIN, 1995, p.
18.
32
Ocuparam a ilha de Alcatraz, na Baa de So Francisco, onde se localiza
o clebre presdio, j ento desativado, durante vrias semanas, com o
objetivo de chamar ateno para seus infortnios.
33
J tive a oportunidade de assinalar a pblico de So Francisco, que me
achou divertido, serem os brasileiros to hispnicos, no mximo, quanto
os norte-americanos anglo-saxes so gticos. Quanto a nossos irmos de
Amrica Latina nos Estados Unidos, eles aceitam, como ns, brasileiros,
sem nenhuma hesitao, a qualicao de latinos (dita em ingls com um o
no nal, para diferenciar de Latin, que quer dizer latino, derivado do Lcio
ou da lngua latina de Roma Antiga). Nunca ouvi, porm, um mexicano,
chileno, boliviano ou peruano qualicar-se voluntariamente como hisp-
nico. Anal, isso deve corresponder a um brasileiro autoclassicar-se
como lusitano.
34
Para no haver mal-entendidos sobre minha posio a respeito desse
mito, remeto novamente a LINDGREN ALVES, 2000.
35
Cf., sobre o assunto, o interessante artigo de HALTER (2000). A
autora, professora de histria na Universidade de Boston, chama ateno
inter alia para o fato de que a prpria Kwanzaa, celebrada a partir de 26 de
dezembro para marcar o carter anticonsumista da tradio negra, em
contraste com o Natal, branco e comercializado, encontra-se hoje desvir-
tuada pela massa de produtos e brinquedos especialmente fabricados com
adaptaes para venda nesse perodo, a cujo consumo se entregam com
anco e deleite os afro-americanos. Da mesma forma que as lojas se
enchem da menorahs estilizados e caros para os judeus celebrarem, pouco
antes do Natal cristo, a Hanukkah israelita, cada dia mais glamourosa
nos Estados Unidos e ocializada por polticos de todos os credos, que
no perdem a oportunidade de ostentar em cerimnias pblicas sua tole-
rncia multiculturalista. O mesmo sentido capitalista evidente poderia ser
lembrado a propsito, por exemplo, dos cruzeiros martimos e vos char-
ter organizados para gays, uma vez que a orientao sexual nos dias de
hoje tambm uma categoria cultural.
p g y p
76 i mpulso n 29
mente, anglo-germnica em geral. Ainda que a
composio da populao se tenha alterado subs-
tancialmente com o passar do tempo, essa idealiza-
o germanla antiintegracionista e antimiscige-
nante subjazia idia da sociedade norte-america-
na at recentemente. Seria natural, portanto, que as
minorias tnicas encontrassem meios organizacio-
nais para se armarem como cidads efetivas, ainda
que para isso sua nacionalidade precisasse aparecer
composta, remetendo-se s origens ascendentes, em
contraste com a cidadania ocial, simplesmente
americana. Alm disso, a auto-identicao dos in-
divduos nessas categorias restritivas era e ainda
necessria para que a respectiva microcomunidade
receba os recursos oramentrios pertinentes, dis-
tribudos s diferentes constituencies de acordo com
o nmero de seus integrantes, inclusive para o ensi-
no pblico das respectivas lnguas e/ou tradies.
Michael Lind divide a histria dos Estados
Unidos desde a Guerra de Independncia em trs fa-
ses distintas. A Primeira Repblica, que ele chama de
Anglo-Amrica, estendeu-se at a Guerra de Seces-
so. Nela havia dvidas at se os irlandeses, por se-
rem catlicos, seriam realmente americanos, quan-
to mais os judeus e os negros. A Segunda Repblica,
ou Euro-Amrica, conquanto iniciada aps a aboli-
o da escravatura, deniria como condio de
americanidade apenas a ascendncia europia e
uma religio crist, no necessariamente o protestan-
tismo. Esse abrandamento de critrios visava a abar-
car na nao americana as massas de imigrantes
brancos entrados no pas desde o nal do sculo XIX
at a dcada de 1950. Os negros, evidentemente,
continuavam excludos. A Terceira Repblica, ou a
Amrica Multicultural, corresponde poca atual,
tendo se iniciado com o movimento pelos direitos
civis. Ao contrrio, porm, do que o movimento
postulava, Michael Lind detecta atualmente uma
verdadeira inverso de resultados: Uma revoluo
que comeou como uma tentativa de expurgar o di-
reito e a poltica de classicaes raciais e de alargar a
classe mdia com a incluso dos desprivilegiados ter-
minou, ironicamente, dando origem ao renascimen-
to do governo com conscincia de raa e ao triunfo
do conservadorismo econmico.
36
Nos meios acadmicos dos Estados Unidos
multiplicam-se os estudos dedicados aos direitos
das minorias e s formas possveis de implement-
los com legitimidade, inclusive no que diz respeito
representao poltica.
37
Quase todos se voltam
para a situao norte-americana em sua especicida-
de, abordando muito supercialmente casos graves
como o dos Blcs. E a sociedade norte-americana,
passada ou atual, to distinta das sociedades ho-
mogneas europias (em que as camadas heterog-
neas se tm comprovado geralmente to belicosas
ou se acham to cerceadas que no d para falar em
direitos coletivos) quanto de uma sociedade misci-
genada como a brasileira, ou a cubana, ou a vene-
zuelana (em que nada do que discutido nos textos
tem possibilidade de aplicao). Exemplo desse tipo
de estudo certamente intransfervel para outras rea-
lidades se que tem alguma possibilidade de apli-
cao concreta nos prprios Estados Unidos pode
ser visto nas propostas de Iris Marion Young para
dar legitimidade representao de grupos minori-
trios na esfera poltica (mediante a alocao de fun-
dos para que os grupos possam reunir-se e elaborar
linhas de ao a serem consideradas pelos decision-
makers etc.). Independentemente do mrito das
propostas, a lista de grupos contemplados por Iris
Marion Young relaciona as seguintes categorias de
indivduos: mulheres, negros, americanos nativos,
chicanos, portorriquenhos e outros americanos de
lngua espanhola, americanos asiticos, homens
gays, lsbicas, pessoas da classe trabalhadora
(working class people), pessoas pobres (poor people),
idosos e pessoas portadoras de decincias fsicas
ou mentais.
38
A par da intransferibilidade das sugestes da
autora pelas caractersticas inteiramente distintas
das minorias existentes em outros pases, pela im-
preciso das fronteiras grupais em populaes mis-
cigenadas e pela evidente indisponibilidade de recur-
sos pblicos para a implementao de tais consultas
regulares em pases do Terceiro Mundo , poder-se-
ia inquirir se esse tipo de formulao, e at de pre-
ocupao, no mera decorrncia de hbito que o
36
LIND, 1996, pp. 11-12.
37
Uma dessas coletneas de estudos pode ser encontrada na antologia edi-
tada por KYMLICKA (1995).
38
YOUNG, 1989, p. 261, apud PHILLIPS, 1995, p. 291.
p g y p
i mpulso n 29 77
culturalismo identitrio dos anos 60 e 70 e o multi-
culturalismo ocial vigente desde ento criaram no
pensamento de esquerda. Anal, se os grupos
contemplados na proposta envolvem as pessoas
pobres em geral e as pessoas da classe trabalhado-
ra, seria necessria essa diviso toda? No seria
mais lgico lutar simplesmente pelos direitos de re-
presentao adequada dos pobres e trabalhadores?
Faz sentido falar nos pobres como uma minoria
cultural assemelhada, por exemplo, dos chicanos?
Ser que a mulher rica no-trabalhadora faz questo
de representao especial? Ser que o burocrata ne-
gro bem-sucedido ou o chicano proprietrio de r-
ma lucrativa, investidores ambos em mercados -
nanceiros, que votam regularmente no Partido Re-
publicano e so contra a ao armativa, porque
perpetuaria discriminaes disfaradas,
39
estaro to
preocupados com a representao de sua cultura
africana ou hispnica?
40
Com o crescimento exponencial das minorias
raciais hispnica e asitica (na Califrnia, o mais po-
puloso dos 50 estados, os brancos j so apenas
46,7%), com o desmantelamento em curso da ao
armativa e com a tendncia abolio do ensino
pblico bilnge, o multiculturalismo obsessivo
norte-americano torna-se uma forma de assero
identitria crescentemente expletiva, que pouco traz
de concreto a no ser, talvez, em matria de auto-
estima. Mas a pode colocar-se um novo problema
para os mestios. Anal, se evidente que as cultu-
ras se mesclam, porque no o podem fazer os indi-
vduos?
Jamais reconhecidos como tais, os mestios
norte-americanos podem agora, desde o censo de
2000, autodenir-se como plurirraciais, pertencen-
tes a mais de uma etnia de origem (African Ame-
rican e Hispanic, por exemplo), mas no como os
mulatos, caboclos, cafusos ou genericamente par-
dos (nos recenseamentos brasileiros) que efetiva-
mente so. No o fazem, em primeiro lugar, porque
os formulrios do recenseamento no contemplam
essa opo. Em segundo lugar, no o fazem por temer
redues de recursos para a respectiva constituency ra-
cial com que mais se identicam.
41
No o fazem, tam-
bm, porque, tendo sido por tanto tempo conside-
rados negros pelo critrio escravista britnico da
gota de sangue contaminadora, legalmente man-
tido aps a independncia, a abolio e a Guerra Ci-
vil do sculo XIX, inclusive na proibio de casamen-
tos mistos, tal critrio se acha hoje interiorizado de
tal maneira que ao prprio mestio pareceria de di-
reita declarar-se miscigenado.
42
Numa sociedade em que a mistura etno-racial
forada a gerar identidades duplas ou mltiplas,
no snteses criativas, uma sociedade mestia ser
sempre objeto de desconana, e o sincretismo cul-
tural, sempre visto com maus olhos. Assim como
para o indivduo oriundo de acasalamento inter-ra-
cial soaria vergonhoso assumir-se mestio nos Esta-
dos Unidos, o prprio jazz, evidentemente hbrido,
reconhecido por todos no passado como predomi-
nantemente negro, comea a ter sua negritude con-
testada.
43
Para o movimento negro norte-america-
no (ou o pouco que resta dele com expressividade
poltica), assim como para os negros brasileiros por
ele inuenciados, a sociedade brasileira, alm de in-
justa, que efetivamente , representa uma dor de ca-
bea no somente para a busca de solues. um
problema difcil de ser entendido.
39
Muitas lideranas econmicas negras tm-se colocado ostensivamente
contra a ao armativa com esse tipo de argumento (cf. LINDGREN
ALVES, 2000, pp. 95-96).
40
No quero, evidentemente, dizer com isso que todos os chicanos e
negros bem-sucedidos sejam republicanos (ao contrrio, a maioria parece
ainda ser democrata), ou que sejam contrrios ao armativa (a maioria
dos bem-sucedidos ainda a favorece e a defende com vigor). Menos ainda
pretendo armar que eles no sejam objeto de discriminaes. O que
quero dizer que sua viso pode ser diferente daqueles que se mantm em
piores condies sociais, preferindo uma assimilao mais completa no
mainstream da sociedade norte-americana. E que, em funo de seu xito
individual na sociedade nacional, a assero cultural de suas origens,
reais ou idealizadas, pode constituir mais um fator de incmodo do que
uma forma desejada de auto-armao.
41
A imprensa interpreta que o nmero surpreendentemente pequeno de
pessoas que se autoqualicaram como pertencentes a mais de uma etnia
mdia nacional de apenas 2,4% no recenseamento de 2000 tenha-se
devido a esse temor (KIM & NESS, 2001).
42
Orgulhoso da extraordinria diversidade racial apurada na Califrnia
pelo censo de 2000, o liberalssimo S. Francisco Chronicle, em editorial
intitulado Californias changing face, declarava que the greatest impact of
this amazing diversity is that the ve percent of Californians who identify the-
mselves as multiracial have muted such arbitrary racial designations as
white, brown, or black. E evidenciando a falcia do melting pot norte-
americano to alardeado na propaganda ocial, celebrava: Welcome to the
new face of California not yet a melting pot, but something far more glorious
than the sum of its parts (S. Francisco Chronicle, 30/mar./2001).
43
Acabam de ocorrer na Califrnia debates, cujo resultado desconheo,
envolvendo de um lado crticos de jazz, de outro ex-militantes black
power, para tentar chegar a uma concluso se o jazz ou no msica negra.
p g y p
78 i mpulso n 29
A PS-MODERNIDADE
NA ATUAO SOCIAL
Naquilo que constitui de longe sua conquista
mais durvel, segundo a anlise intimorata de Terry
Eagleton, o ps-modernismo ajudou a estabelecer
as questes de gnero, sexualidade e etnicidade na
agenda poltica de maneira to rme que se torna
hoje impossvel imaginar seu abandono sem uma
luta decisiva.
44
Ajudou, como o professor de
Oxford faz questo de sublinhar, porque, conforme
por ele recordado e aqui explicitado desde o incio,
o movimento pelos direitos civis e o movimento de
mulheres precederam ps-modernidade e ao con-
junto de teorias que se impuseram como ps-mo-
dernismo.
45
Mas esse estabelecimento das novas
questes identitrias foi feito, ainda segundo Terry
Eagleton, em mera substituio s formas mais
clssicas das polticas de esquerda, que lidavam com
classe, Estado, ideologia, revoluo, modos de pro-
duo material.
46
Ao respaldar com seu arsenal terico o essen-
cialismo identitrio nos movimentos sociais, o pensa-
mento ps-moderno estimulou o perspectivismo
epistemolgico na teoria do conhecimento e reintro-
duziu o relativismo dos valores no fulcro das cincias
humanas. Produziu, assim, uma inverso inusitada
nas posies da esquerda, do universalismo iguali-
tarista defesa intransigente do direito diferena,
colocando-a numa situao bastante aproximada
daquela que sempre foi da direita, defensora de tra-
dies e crenas singulares como elementos im-
prescindveis ao progresso do grupo. Como diz
Eric Hobsbawm:
Hoje tanto a direita como a esquerda
acham-se dominadas por polticas de iden-
tidade. Infelizmente, o perigo de desintegra-
o numa simples aliana de minorias in-
usualmente grande para a esquerda, pois o
declnio dos grandes slogans universalistas
do iluminismo, que eram essencialmente
slogans de esquerda, deixa-a sem qualquer
caminho bvio para formular o interesse
comum atravs de fronteiras seccionais. O
nico dos chamados novos movimentos
sociais que atravessa todas essas fronteiras
o dos ecologistas. Mas, infelizmente, seu
atrativo poltico limitado e tende a perma-
necer assim.
47
Perfeitas na substncia, essas crticas e inquie-
taes, enunciadas na Europa por pensadores ligados
chamada esquerda antiga, socialista ou social-de-
mocrata, voltam-se sobretudo, ainda que no apenas,
para a esquerda norte-americana, cuja capacidade de
inuncia externa , no mundo ps-Guerra Fria, es-
magadoramente maior do que a de qualquer outra.
Nas palavras sempre francas de Terry Eagleton,
Muito do ps-modernismo originou-se dos
Estados Unidos, ou pelo menos criou razes
rapidamente por l, e reete alguns dos pro-
blemas polticos mais intratveis daquele pas.
assim, talvez, um pouco etnocntrico desse
antietnocentrismo, embora no um gesto
desconhecido daquela nao, projetar seu
quintal poltico sobre o mundo ao largo. H
hoje um instituto de estudos ps-modernos
na Universidade de Beijing, enquanto a Chi-
na importa Derrida junto com Diet Coke.
48
A inuncia da esquerda norte-americana ,
sem dvida, sensvel no meio universitrio de ou-
tros pases, assim como entre lideranas de movi-
mentos sociais contemporneos. ela que faz pre-
sente no Brasil como no resto do mundo uma ad-
mirao acrtica pelas teorias ps-modernas, trans-
formadas em modismos a que se apegam os mais
variados intelectuais, desconstrutivistas ou no.
ela que faz muitos militantes brasileiros assumirem
posies que nos Estados Unidos podem, talvez,
justicar-se pela opulncia capitalista, mas no Brasil
soam absurdas e impraticveis ante nossas caracte-
rsticas antropolgicas e condies econmicas (co-
mo a reivindicao de indenizaes nanceiras pela
escravido passada, a ser paga no se sabe bem a
quem, com verbas tiradas no se sabe de onde, ou da
remunerao pelo governo do trabalho domstico
44
EAGLETON, 1996, p. 22.
45
Ibid., p. 136. Alm disso, como assinala Terry Eagleton, nem todos os
ativistas desses movimentos deniriam sua poltica em termos ps-
modernos.
46
Ibid., p. 22.
47
HOBSBAWM, 1996, in: ISHAY, 1997, p. 279.
48
EAGLETON, 1996, p. 122.
p g y p
i mpulso n 29 79
das mulheres). ela que produz atualmente nossa
inacreditvel capacidade de autoagelao, conside-
rando-nos piores do que todos os demais nos cam-
pos mais diversos: no racismo (depois de termos
sido apontados como modelo pelos intelectuais
franceses, que no desconheciam nossos proble-
mas, mas viam a miscigenao como o melhor ca-
minho para sua superao), no machismo (quando
o Brasil ostenta nmero maior de governadoras de
estado ou prefeitas de cidades importantes do que
os Estados Unidos, onde o puritanismo da socieda-
de capaz de punir as prostitutas de rua pelo crime
de prostituio e isentar a pornograa mais gritante
que pague impostos comerciais), na perseguio
homossexualidade ( fato que se matam homosse-
xuais em ambos os pases, mas da a dizer-se que as
perseguies brasileiras conguram uma poltica
governamental a justicar concesso de asilo algo
que evidentemente extrapola a realidade).
49
Isso
para no falar de nossos crimes ecolgicos, supos-
tamente decorrentes de polticas governamentais
maquiavlicas ou da ndole m de nosso povo, em
contraste com o natural respeito norte-americano
pelas culturas tradicionais (os poucos Native Ame-
ricans sobreviventes que o digam!) e seu arraigado
preservacionismo ambiental (os Estados Unidos
destruram toda a mata primitiva, atualmente re-
plantada, da Costa Leste, em muito menos tempo
do que o Brasil vem destruindo a mata atlntica, e o
mesmo vem ocorrendo com a redwood forest cali-
forniana, sem que a populao esteja nem de longe
em situao de misria desesperada).
Malgrado todos esses caveats, pertinentes
para a situao do Brasil e do mundo, o autor destas
linhas acredita que nem todas as esquerdas se te-
nham efetivamente americanizado. A grande
americanizao poltico-social que houve em todo o
mundo com o nal da Guerra Fria parece ter sido
temporalmente limitada at meados da dcada pas-
sada. Nessa poca, o triunfalismo neoliberal, com o
respaldo de antigos pensadores progressistas, che-
gara a armar que a diviso de posies polticas en-
tre esquerda e direita se encontrava superada. Por
sorte, o grande Norberto Bobbio, com sua sapin-
cia habitual, foi dos primeiros a chamar ateno para
tal falcia. E a recolocar as posies da esquerda ver-
dadeira em seu eixo natural, evidentemente univer-
salista, ainda que diante de problemas particulariza-
dos, ao armar, em 1994:
Nenhuma pessoa de esquerda pode deixar
de admitir que a esquerda de hoje no mais
a de ontem. Mas, enquanto existirem ho-
mens cujo empenho poltico seja movido
por um profundo sentimento de insatisfa-
o e de sofrimento perante as iniqidades
das sociedades contemporneas hoje tal-
vez menos ofensivas do que em pocas pas-
sadas, mas bem mais visveis , eles carrega-
ro consigo os ideais que h mais de um s-
culo tm distinguido todas as esquerdas da
histria.
50
A esquerda relativista, epistemologicamente
perspectivista e obsessivamente identitria foi e ,
por razes muito especcas j aqui explicitadas, a
esquerda cultural norte-americana. Mas, anal, se-
jamos francos: a expresso esquerda norte-ameri-
cana de per si, quase sempre, um oxmoro, to in-
congruente que chega a transformar em de esquer-
da liberais que alhures seriam no mximo conser-
vadores esclarecidos. A militncia de esquerda
existiu, sim, nos Estados Unidos, inclusive em sen-
tido revolucionrio, com nmeros expressivos, ape-
nas episodicamente, como nos anos da dcada de
1960, em virtude de uma guerra imperialista que di-
zimava suas vidas e esperanas, em territrio distan-
te. Hoje em dia h, verdade, entre os norte-ame-
ricanos, muita gente inspirada por ideais de solida-
riedade altrusta, capaz de praticar lantropia nos
mais distantes rinces, muitas vezes ao risco da pr-
pria vida. Algumas o fazem com uma paixo mais
ou menos arrogante, capaz de enfrentar com altivez
e herosmo os mais cruis ditadores; outras com
uma ingenuidade que irrita os prprios beneci-
49
O argumento tem sido utilizado por brasileiros gays em situao ilegal
nos Estados Unidos, particularmente na regio de So Francisco, para
assim evitar a repatriao. Que eles o utilizem no extraordinrio. Curioso
esse argumento vir sendo aceito pela justia de um pas e de uma comuni-
dade cujos gays freqentemente organizam excurses tursticas para usu-
fruir exatamente daquilo que anunciado como o liberalismo dos
costumes sexuais brasileiros.
50
BOBBIO, 1995, pp. 23-24.
p g y p
80 i mpulso n 29
rios. Mas guras humansticas com a profundidade
e a abrangncia temtica de um Noam Chomski so
rarssimas numa populao de mais de 280 milhes.
Alm de desconhecidas do cidado comum, chegam
a soar chocantes nos prprios meios intelectuais pelo
contraste com tudo o mais que se v na circunvizi-
nhana. Os demais militantes da esquerda norte-
americana s podem ser culturalistas, porque a
isso so impelidos pelas circunstncias do pas, em
particular sua riqueza astronmica (embora muito
concentrada, ela to avassaladora que no pode
deixar de ter importante efeito cascata). Nas pala-
vras demolidoras de Pierre Bourdieu e Loc Wac-
quant: O multiculturalismo americano no nem
um conceito, nem uma teoria, nem um movimento
social ou poltico ainda que pretenda ser tudo isso
ao mesmo tempo. um discurso-tela (...) que en-
gana tanto aqueles que esto nele como os que no
esto. Alm do que um discurso norte-americano,
embora pense e se apresente como universal.
51
De um modo geral, com as excees que con-
rmam a regra, a esquerda europia contempornea
no aparece reetida nas preocupaes de Terry Ea-
gleton e de Eric Hobsbawm reproduzidas neste
texto e certamente no se enquadra no foco de aten-
es exclusivamente norte-americano de Todd Git-
lin ou de Michael Lind (assim como de Richard
Rorty e muitos outros pensadores norte-america-
nos no-mencionados nominalmente neste artigo).
A Frana tem demonstrado que a aliana estudan-
tes-trabalhadores de 1968 ainda capaz de reverbe-
rar em novas greves, como as de 1995, de alcance
respeitvel. A maioria dos intelectuais europeus, a
exemplo desses aqui citados, e outros ex-integrantes
da hoje velha nova esquerda no cessam de de-
nunciar o neocapitalismo vigente, apontando idias
plausveis que pelo menos controlem sua voracida-
de. Preocupam-se, sim, conforme demonstram
Bourdieu e Wacquant na citao acima, com a pos-
sibilidade de contaminao da esquerda de outros
continentes por caractersticas da esquerda cultu-
ral norte-americana. Mas at mesmo o feminismo,
movimento social originalmente norte-americano
que mais contribuiu com idias e aes para o ps-
modernismo terico, evoluiu de tal maneira, sem
abandonar o conceito de gnero, para objetivos to
abrangentes que j h quem fale hoje errnea e en-
ganadoramente de uma fase ps-feminista.
52
Se, como interpreta Terry Eagleton, a maior
contribuio do ps-modernismo s lutas sociais
contemporneas foi a assero do gnero, da sexua-
lidade e da etnicidade na agenda poltica, isso foi e
permanece positivo. O que no se pode permitir
que, a exemplo do que ainda ocorre em setores da
esquerda norte-americana ou setores americaniza-
dos alhures, o identitrio se erija em absoluto, o es-
sencialismo cultural se torne a nica preocupao
poltica e o perspectivismo domine a idia do co-
nhecimento, renegando a possibilidade do real uni-
versal. As diferenas precisam, sim, ser respeitadas
muito mais do que toleradas, que vocbulo da
direita , mas elas no se podem sobrepor ao ideal
mais amplo da igualdade, eterna e incontestemente
de esquerda, e que, exatamente por isso, deu origem
e justicao s prprias lutas identitrias das mino-
rias oprimidas.
Em Seattle, em 1999, contra a OMC, assim
como em Washington e Praga, em 2000, contra o
FMI e o Banco Mundial, os movimentos mais hete-
rogneos, inclusive norte-americanos, articulados
em cadeia, amalgamados por algum tipo de identi-
dade, demonstraram, na forma de protestos e pas-
seatas, estar conscientes de que precisam unir-se
para lograr objetivos mais amplos, de sentido uni-
versal e igualitarista. Uma primeira tentativa de or-
ganizao mais coerente ocorreu em Porto Alegre,
no Frum Social Internacional, no incio de 2001.
Os objetivos focais desses movimentos no foram
ainda alcanados, at mesmo porque eles so hoje
de difcil denio. Mas uma conquista, pelo me-
nos, eles certamente j ajudaram a obter: no discur-
so contemporneo agora ningum mais fala em
consenso neoliberal.
51
BOURDIEU & WACQUANT, 2000.
52
Cf. sobre esse assunto as diversas matrias publicadas no caderno Mais!,
da Folha de S.Paulo de 15/out./2000, que tm como chamada A Nova
Onda do Feminismo, em particular a entrevista com Juliet Mitchell, de
Maria Lucia Pallares-Burke.
p g y p
i mpulso n 29 81
O MOVIMENTO SOCIAL
PELOS DIREITOS HUMANOS
No texto citado um pouco acima, Eric Ho-
bsbawm declara que apenas o ecologismo, entre os
novos movimentos sociais, ultrapassa todas as fron-
teiras seccionais da esquerda. J Boaventura de Sou-
sa Santos reconhece, alhures, com alguma perplexi-
dade, que na linguagem dos direitos humanos que
atualmente se manifestam os agentes sociais cuja
mobilizao emancipatria no passado girava em
torno das idias de socialismo e revoluo.
53
Na verdade, o movimento internacional dos
direitos humanos tambm ultrapassa fronteiras sec-
cionais menos, naturalmente, as sees que com-
pem a extrema esquerda, assim como a extrema di-
reita, refratrias por denio idia de direitos. O
problema que esse segundo novo movimento so-
cial, ainda mais do que os outros, antigos e moder-
nos, sofre forte inuncia de posies norte-ameri-
canas. Por isso, com exceo do perodo de 1993,
quando ajudou a mobilizar o mundo para a Confe-
rncia de Viena sobre direitos humanos, seu atrati-
vo poltico se agura ainda mais limitado do que o
do ambientalismo. Sem preocupaes econmicas
corretas, com os direitos econmicos e sociais cres-
centemente transferidos lantropia da sociedade
civil e os direitos civis impostos internacionalmente
pela tica do humanitarismo (militar ou no), a
nova normatividade emergente para os direitos hu-
manos congura, no lcido e chocante entendi-
mento de Slavoj Zizek, a forma em que se apresen-
ta seu exato oposto.
54
Levando em conta a inuncia enorme dos
Estados Unidos nessa esfera, para se ter esperana
preciso estabelecer uma clara distino entre os gru-
pos norte-americanos que efetivamente defendem
os direitos humanos da Declarao Universal, inclu-
sive nos Estados Unidos, e aqueles de viso mais
curta, reprodutores acrticos do que lhes ensinam os
idelogos do patriotismo ianque, que condenam
sem senso crtico tudo o que no espelhe os direitos
civis norte-americanos. Os primeiros, se inuentes
no mundo, podem ajudar concretamente a luta pe-
los direitos de todos, gravemente violados tambm
em seu prprio pas. Os segundos podem at ter ra-
zo em muitas oportunidades, ao no encontrarem
alhures o respeito dos Estados Unidos pelos direi-
tos civis, mas tendem a perd-la logo, pois ignoram
sem querer ou deliberadamente a trama de in-
uncias complexas, nacionais e internacionais, po-
lticas, jurdicas, religiosas e sobretudo econmicas,
que interagem nesses direitos. A m de se evitar
uma multiplicao de Kossovos no cenrio unipolar
desse princpio de sculo, antes de partir pelo mun-
do numa das tpicas cruzadas de que se imbuem
com freqncia os cidados peregrinos da terra da
Liberdade, do Marlborough e do McDonalds, seria
bom se cada um deles tratasse de fazer seu exame de
conscincia. E forasse seus altos representantes nos
trs nveis de governo a fazer tambm o dever de ca-
sa, que, para ser universal, de todos.
A ns, os inudos de sempre, cabe, porm, a
maior das responsabilidades, na medida em que dela
depende nossa sobrevivncia autnoma: a de esco-
lher adequadamente quem, anal, tem legitimidade
para nos ajudar na matria, num mundo em que os
universais vm perdendo a parada para os identit-
rios diversos. Ou optar por seguir s apalpadelas
nosso prprio caminho, cientes de que o Brasil que
queremos no pode, no deseja, nem tem condies
para desejar ser, a srio, culturalmente essencialista.
O Brasil precisa ser, sim, antidiscriminatrio
com os que, de alguma maneira, aparecem diferen-
tes e auxili-los a vencer, material e psicologica-
mente, a inferioridade em que tantas vezes vivem.
At porque, queiramos ou no os cidados brasilei-
ros, a diferena parte ontolgica de nossa iden-
tidade essencial. So, portanto, absolutamente ina-
ceitveis a disparidade de nveis econmico-sociais
que ainda separam os segmentos negros e brancos
de nossa populao, assim como a violncia civil,
criminal e policial, que brutaliza prioritariamente
negros e mestios, situados na parte mais baixa da
escala social.
Mas o Brasil precisa ser sobretudo mais equni-
me na distribuio universalista da riqueza nacional, ou
simplesmente no ser. Essa melhor distribuio da
abundncia ou da escassez, juntamente com a da justi-
a, j to postergada no decurso da Histria ptria, no
ocorrer se abandonarmos, em favor de uma eccia
53
SOUSA SANTOS, 1997, p. 105.
54
ZIZEK, 2001, pp. 244-245.
p g y p
82 i mpulso n 29
ilusria engendrada pela globalizao sem amarras, a
possibilidade de polticas pblicas voltadas para as vas-
tas camadas de pobres e miserveis, sem identidade ou
cidadania dignas desses termos. Ou se simplesmente
importarmos, sem a devida massa crtica, modelos que
podem at ser vlidos, mas ainda nem sequer deram
certo, nas sociedades especcas, modernas ou ps-
modernas, dentro das quais se criaram.
Referncias Bibliogrcas
A Nova Onda do Feminismo, Folha de S.Paulo, So Paulo, 15/out./2000, caderno Mais!
ABRAMOVAY, M. Uma conferncia entre colchetes. Estudos Feministas, IFCS/UFRJ-PPCIS/UERJ, 3 (1), 1995.
BERG, M. (1968). A turning point in american race relations? In: FINK, C. et al. (eds.). 1968: The world transformed. Cam-
bridge: University Press, 1998.
BOBBIO, N. Direita e Esquerda: razes e signicados de uma distino poltica. Trad. M.A. Nogueira, So Paulo: Editora da
Unesp, 1995.
BOURDIEU, P. & WACQUANT, L. A Nova Bblia de Tio Sam. Trad. T.V. Acker, originalmente publicado no Le Monde Diploma-
tique, mai./2000, reproduzido no <www.forumsocialmundial.org.br>.
BRINKLEY, A. 1968 and the unraveling of liberal America. In: FINK, C. et al. (eds.). 1968: The world transformed. Cambridge:
Cambridge University Press, 1998.
CASTELLS, M. The Power of Identity. Oxford: Blackwell Publishers, 1997.
DERRIDA, J. Force de loi: le fondement mystique de lautorit. Cardoso Law Review 11, 1990.
EAGLETON, T. The Illusions of Postmodernism. Oxford: Blackwell Publishers, 1996.
FOUCAULT, M. Les Mots et les Choses: une archologie des sciences humaines. Paris: Gallimard, 1966.
GITLIN, T. The Twilight of Common Dreams: why America is wracked by culture wars. Nova York: Owl Books, 1995.
__________. The Sixties-years of Hope,Days of Rage. Nova York: Bantam Books, 1987.
HALTER, M. Chasing the rainbow: cashing in on ethnic pride. San Francisco Chronicle, 10/dez./2000, caderno Sunday.
HOBSBAWM, E. The universalism of the left (1996). In: ISHAY, M.R. (ed.). The Human Rights Reader: major political essays,
speeches,and documents from the Bible to the present. Nova York: Routledge, 1997.
HUGHES, R. Culture of Complaint: the fraying of America. Nova York: Warner Books, 1994.
JAMESON, F. Postmodernism,or the Cultural Logic of Late Capitalism. Duke: Duke University Press, 1992.
__________. The politics of theory: ideological positions in the postmodernism debate (1984). In:__________. The Ideo-
logies of Theory: essays 1971-1986. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1988, v. 2, Syntax of History.
KIM, R. & NESS, C. Mixed race Americans are happy nally to make the count, S.Francisco Chronicle, 30/mar./2001.
KYMLICKA, W. (ed.). The Rights of Minority Cultures. Oxford: Oxford University Press, 1995.
LIND, M. The Next American Nation. Nova York: Free Press, 1996.
LINDGREN ALVES, J.A. No peito e na raa: a americanizao do Brasil e a brasilianizao da Amrica, Impulso: Revista de
Cincias Sociais e Humanas,Piracicaba, Editora UNIMEP, 12 (27): 91-106, 2000.
__________. A Arquitetura Internacional dos Direitos Humanos. So Paulo: FTD, 1997.
__________. A Conferncia de Beijing e os fundamentalismos. Revista Brasileira de Cincias Criminais, So Paulo, Editora
Revista dos Tribunais, 4 (15), 1996.
LYOTARD, J.F. The Differend: phrases in dispute. Trad. ingl. G. van den Abbeele. Minneapolis: University of Minnesota Press,
1988.
MALECK-LEWY, E. & MALECK, B. The womens movement in east and west Germany. In: FINK, C. et al. (eds.). 1968: The
world transformed. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
p g y p
i mpulso n 29 83
PHILLIPS, A. Democracy and Difference: some problems for feminist theory. In: KYMLICKA, W. (ed.). The Rights of Minority
Cultures. Oxford: Oxford University Press, 1995.
Report of the Fourth World Conference on Women (Beijing,4-15 September 1995). documento das Naes Unidas A/CONF.
177/20.
RIVERO GARRETAS, M.M. Nombrar el Mundo en Femenino: pensamiento de las mujeres y teora feminista. Barcelona: Icaria
Editorial, 1994.
RORTY, R. Achieving our Country: leftist thought in twentieth century America. Cambridge: Harvard University Press, 1998.
SOUSA SANTOS, B. Uma concepo multicultural de direitos humanos. Lua Nova, (39), 1997.
YOUNG, I.M. Together in difference: transforming the logic of group political conict. In: KYMLICKA, W. (ed.).The rights of
minority cultures. Oxford: Oxford University Press, 1995.
__________. Polity and group difference: a critique of the ideal of universal citizenship. Ethics, 99, 1989.
ZIZEK, S. Did somebody say totalitarianism? Five interventions in the (mis)use of a notion. Londres/NovaYork, 2001.
__________. The Fragile Absolute: or why is the christian tradition worth ghting for? Londres/Nova York: Verso, 2000.
__________. A leftist plea for eurocentrism. Critical Inquiry, University of Chicago, 24, 1998.
55
55
Talvez, porm, essa histria no seja anal to nova. Lembramo-nos, com efeito, do prazer com que Freud descobriu uma cultura tribal obscura que,
nica entre as inmeras tradies de anlise de sonhos existentes no mundo, havia conseguido ir de encontro noo de que todos os sonhos tinham sig-
nicados sexuais ocultos a exceo eram exatamente os sonhos sexuais, que signicavam outra coisa! O mesmo parece ocorrer com o debate ps-
modernista e a sociedade burocrtica despolitizada qual ele corresponde, onde as posies aparentemente culturais se revelam formas do discurso poltico
moralizante, enquanto a nota mais simples abertamente poltica sugere uma forma de escorregadela de volta cultura. FREDRIC JAMESON, 1964
(minha traduo, texto extrado de JAMESON, 1989, p. 113).
crucial perceber como o racismo ps-moderno emerge como conseqncia ltima da suspenso ps-poltica do poltico, da reduo do Estado a mero
agente policial a servio das (consensualmente estabelecidas) necessidades das foras do mercado e do humanitarismo tolerante, multiculturalista. SLA-
VOJ ZIZEK, 1998 (minha traduo, texto extrado de ZIZEK, 1998, p. 997).
p g y p
84 i mpulso n 29
p g y p
i mpulso n 29 85
UM PANORAMA
DA MODERNIDADE:
ORIGENS, FORMAO
E PERSPECTIVAS
*
1
A View of Modernity: origins,
evolution and perspectives
Resumo Ps-modernidade denida como a tentativa de superao da modernidade,
em busca de novos caminhos, enquanto a modernidade propriamente dita consi-
derada a herana provinda de alguns acontecimentos histricos, acompanhados de
suas implicaes polticas e culturais. Rastreia-se esses acontecimentos fundadores de
forma resumida, ao mesmo tempo em que se procura vincul-los s manifestaes ex-
pressas da ps-modernidade, maneira de um inventrio, ao longo do qual se perla
aquilo que de mais decisivo se julgou ter sido estabelecido mediante a inuncia da
modernidade, como um processo de formao. Conclui-se que as caractersticas do
mundo ps-moderno devem ser, por sua vez, modicadas de modo a sair do impasse
em que atualmente se encontra, notadamente no campo cultural das humanidades. E
que essa modicao tem maior probabilidade de sucesso caso os intelectuais que a
operam voltem-se mais decididamente a incorporar em suas anlises os conhecimen-
tos revolucionrios tornados disponveis com as novas descobertas cientcas, em es-
pecial aquelas derivadas das cincias biolgicas, que podem perfeitamente se transfor-
mar na base das futuras investigaes ou formulaes culturais humansticas.
Palavras-chave MODERNIDADE PS-MODERNIDADE CRTICA CULTURAL
CINCIAS HUMANAS E SOCIAIS IMPACTO SOCIAL DAS CINCIAS BIOLGICAS.
Abstract Postmodernity is dened as an attempt to overcome modernity, to nd new
ways, while modernity is considered the legacy of some historical occurrences, associated
with their political and social implications. All these occurrences were briey tracked and
at the same time were linked to the expressed manifestations of postmodernity, as an in-
ventory, along which theyve been organized according to what is believed to have been
established by the inuence of modernity as a development process. In short, the cha-
racteristics of the postmodern world should be changed in a way to escape the present
impasse, mainly in the cultural eld of humanities; this change is more capable of succe-
eding if the professionals who work in that area decide to incorporate in their analyses the
revolutionary knowledge that became available through the scientic discoveries, mainly
those derived from the biological sciences, which can be transformed in the basis for fu-
ture investigations or cultural humanistic formulations.
Keywords MODERNITY POSTMODERNITY CULTURAL CRITICISM SOCIAL AND
HUMAN SCIENCES SOCIAL IMPACT OF THE BIOLOGICAL SCIENCES.
1
Este artigo faz parte do projeto Implicaes Filoscas do Desenvolvimento da Biologia, desenvolvido no
DTAiSER do CCA/UFSCar.
ANTONIO CELSO GEMENTE
Doutor em losoa e histria da
educao pela Unicamp,
professor no Departamento de
Tecnologia Agroindustrial e
Socioeconomia Rural do Centro
de Cincias Agrrias da UFSCar
celsoge@cca.ufscar.br
*
p g y p
86 i mpulso n 29
INTRODUO
odernidade, neste texto, denida como um con-
ceito geral que abarca os acontecimentos culturais
signicativos ocorridos na mentalidade ocidental, em
termos da superao dos conhecimentos antigos e
medievais, a partir da revoluo copernicana, em -
nais do sculo XVI, na Europa. Ps-modernidade de-
ne-se em relao a esse conceito como uma tenta-
tiva de sua superao, valendo-se do pretenso desgas-
te de seus valores, que imprecisamente se torna crucial na Europa da dcada de
1930 e se consolida, em escala mundial, nos anos 60, movimento capitaneado
pela hegemonia norte-americana do ps-guerra. Esse movimento ganha im-
portncia, mais especicamente, com o advento da modernizao trazida pela
informtica, que contribui para a globalizao, ao mesmo tempo em que ocorre
a derrocada da Guerra Fria, com o colapso da URSS em 1989.
Veja-se que o perodo abrangido extenso, pois se est falando de uma
mudana profunda em termos de valores humanos. Nesse vasto painel que se
descortina, alguns surtos menores ou mais restritos de ruptura tm de ser des-
tacados em virtude de sua importncia: em primeiro lugar, a revoluo cient-
ca, no sculo XVII, que se segue nova cosmologia inaugurada por Nicolau
Coprnico; e, em seguida, o iluminismo do sculo XVIII, com a Revoluo
Francesa; o romantismo do sculo XIX, especialmente nos pases ou culturas
ligadas Alemanha; e a Revoluo Industrial, nos sculos XVIII e XIX, levada
a cabo notadamente pela Inglaterra. Por m, no sculo XX, a Revoluo Rus-
sa de 1917, as duas vertentes cientcas (Teoria da Relatividade, em 1905 e
1916, e Teoria Quntica, em 1900 e 1927), o Crculo de Viena (positivismo
lgico/epistemologia), a Escola da Frankfurt (Teoria Crtica), no nal dos
anos 20 e comeo dos anos 30, o surrealismo (cujo nome emblemtico, acu-
sado por todos, mas de sucesso, o de Salvador Dal) e outros movimentos
artsticos de vanguarda, mais ou menos na mesma poca que os j citados, de
antes da 2. Guerra Mundial, e a pop art, personicada em Andy Warhol.
Nessa relao faltou propositadamente a Teoria da Seleo Natural, de
Charles Darwin, publicada no livro A Origem das Espcies, em 1859, e suas
sucessivas conrmaes pela gentica mendeliana, no incio do sculo XX, e
pela descoberta do cdigo gentico, em 1953. Tal descoberta d origem bio-
logia molecular, disciplina mais promissora relativamente s tecnologias fu-
turas e que presentemente est obrigando a uma revoluo nos valores tra-
dicionais, quer em termos ticos quer nos potencialmente comportamentais,
dadas as novidades formidveis que vem trazendo ao nosso cotidiano.
2
2
O destaque dado s descobertas no mbito das cincias biolgicas tem suas razes, porque se acredita que
esse ser doravante o meio mais decisivo pelo qual se poder agregar novas perspectivas ao entendimento
sobre o humano. Nele se vislumbram as maiores possibilidades de revolues culturais derivadas dos novos
conhecimentos e tecnologias tornadas disponveis, independentemente daquilo que vem sendo armado at o
presente pela tradio cultural, includa aqui a prpria ps-modernidade trata-se de uma abertura para o
futuro, um prembulo apenas para que se volte adiante ao tema com maior detalhamento.
MM
M M
p g y p
i mpulso n 29 87
FILOSOFIA E CINCIA
Tm-se expostas as razes ou fontes da mo-
dernidade, sem que se pretenda entrar no mrito da
contribuio de cada um desses momentos assina-
lados, entre outros que nem sequer receberam men-
o, dada a magnitude do amplo painel esboado.
No entanto, algumas consideraes devem ser ex-
plicitadas para que se possa acompanhar o tipo par-
ticular de anlise que se tentar fazer, necessaria-
mente uma anlise interpretativa.
Quanto revoluo cientca que demarca o
incio da era moderna, muito j se tem armado;
porm, vale lembrar em especial as ponderaes fei-
tas por Arendt,
3
que dessa tica pessoal parece ofe-
recer um resumo bastante convincente. A anlise
dessa pensadora, em poucas palavras, repousa em
que a hiptese de Coprnico permitiu que, pela pri-
meira vez, o homem dispusesse de um ponto ar-
quimediano com base no qual conseguiu contem-
plar do exterior a sua prpria existncia. Isso ocor-
reu na medida em que a linha de visada pde ser fei-
ta de uma posio que colocava o planeta Terra em
perspectiva, com o auxlio do telescpio, instru-
mento aperfeioado por Galileu. Desde ento, o ho-
mem comeou de fato a se enxergar do ponto de
vista cosmolgico moderno, dando incio quilo
que se convenciona designar como conscincia mo-
derna, cujo trao mais caracterstico viria a ser a frag-
mentao e, conseqentemente, o relativismo. Ela o
obrigou a renunciar aos principais valores herdados
da tradio anterior da Antigidade, e mesmo da tra-
dio veiculada pelo cristianismo, que a tinha substi-
tudo durante a Idade Mdia. A imagem usual de
que a se comeou a demolir a segurana humana
quanto ao seu papel de ator principal no universo, a
que se seguiriam sucessivamente a decepo ao ser
desbancado do centro da criao, com a Teoria da Se-
leo Natural, tornando-o mais um entre os animais,
e, nalmente, o desmonte sugerido por Freud ao so-
lapar-lhe a segurana quanto ao seu prprio equilbrio
psquico, expondo-o escurido da inconscincia.
Tudo isso bastante conhecido, bem como as
implicaes paralelas derivadas da losoa moder-
na, cujo incio remonta a Descartes e a seu cogito,
que inaugura uma viso absoluta e ironicamente
centrada na razo humana, erigindo-a como a nica
base de apoio. O que lhe seria subtrado, posterior-
mente, pelo avano mesmo do mtodo preconiza-
do nas premissas cartesianas, levando ao solipsismo
e ao descrdito a construo racionalista pura, gra-
as s suas bases que se revelariam demasiadamente
frgeis, porque, primeiro, o mtodo cientco co-
letivo, e no individual (o desconhecido desmesu-
radamente vasto para qualquer mente), e, segundo,
porque a prpria razo encontraria o seu juiz, com
Kant, lsofo do iluminismo que acreditava ter des-
misticado a metafsica. Enquanto isso acontecia no
plano das idias (cincia e losoa), a vida material
(economia e poltica) tinha seu prosseguimento. Em
termos polticos, a Idade das Luzes produz a Revo-
luo Francesa, ao mesmo tempo em que anuncia o
futuro glorioso da razo, destinada a gerir sem inter-
ferncias o destino humano, com poucas vozes con-
trrias a mais importante delas a de Rousseau, que
proclama o primado dos sentimentos. No mbito da
economia, a cincia encontra sua utilidade na Revo-
luo Industrial, que muda completamente a forma
com que a produo realizada, destinada a espraiar-
se pelo mundo afora ao longo do sculo XIX e pros-
seguindo sua marcha at os dias atuais.
Ecoando as teses de Rousseau, o movimento
romntico tenta, sem sucesso (do ponto de vista
prtico), criticar os novos valores, e o faz to viru-
lentamente que produz efeitos relevantes (do ponto
de vista terico), haja vista que muitos de seus ata-
ques nova ordem encontram ampla receptividade
entre os espritos cultivados da poca. O problema
que tal reao volta-se no somente contra os as-
pectos concretos do progresso material (em que
produz poucos resultados), mas tambm, e sobre-
tudo, contra os valores estabelecidos, levando de
roldo algumas das certezas mais tradicionais, espe-
cialmente as da tradio religiosa. Deus est mor-
to no apenas uma frase de efeito de Nietzsche;
mais do que isso, signica a quase completa secula-
rizao dos valores espirituais, que no longo prazo
ir se transformar na situao catica e fragmentria
do mundo ps-moderno, a despeito da recuperao
atual de alguns ideais religiosos, ainda que em gran-
de parte restrita massa menos crtica da sociedade.
A secularizao acompanhada, portanto, de
uma massicao de tal magnitude que atualmente
se torna difcil analisar o que ocorre, em razo da cli-
3
ARENDT, 1997.
p g y p
88 i mpulso n 29
vagem cada vez maior entre os intelectuais ou pen-
sadores e o restante da populao. Simultaneamen-
te, o crescimento populacional extravasa qualquer
senso, trazendo problemas aparentemente insupe-
rveis sociedade contempornea, cujo aspecto
mais visvel a preocupao com o meio ambiente,
o que d origem ao radicalismo muitas vezes exces-
sivo dos movimentos ecolgicos. Estes, todavia,
proliferam juntamente com a tecnologia, cada vez
mais presente, exigida e ainda distante de resolver
suas contradies com a necessidade crescente de
uma maior conscincia ecolgica. No obstante a
pertinncia dessa questo, avanou-se agora muito
no inventrio da modernidade, tocando o futuro de
sua superao, alm at da chamada ps-moderni-
dade preciso retornar um pouco mais quelas
circunstncias responsveis pela presente situao,
de maneira a tentar entend-la melhor. Falta, pois,
adentrar no sculo XX propriamente dito, e embora
este tenha sido um perodo de muitas transformaes,
acredita-se que elas foram simplesmente um dos re-
sultados possveis dos acontecimentos que viemos a
acompanhar, incluindo os efeitos das duas grandes
teorias cientcas forjadas no seu incio (Teoria da
Relatividade e Teoria Quntica), com os desdobra-
mentos culturais que, por vezes, se zeram sentir
independentemente delas.
As novas teorias cientcas referidas simples-
mente terminaram o trabalho que vinha sendo rea-
lizado, porm, numa direo insuspeita, j que sig-
nicaram o desmoronamento completo da viso de
mundo h muito instituda, porque praticamente
destruram com a prpria racionalidade conforme
esta era compreendida desde os gregos clssicos.
Cumpre entender o problema: enquanto experimen-
talmente se obtinham mais e mais evidncias a pro-
psito das hipteses tericas por elas levantadas, em
contrapartida os resultados contrastavam de tal ma-
neira com o senso comum que s podiam ser enten-
didos no plano abstrato das suas formulaes mate-
mticas, desvinculando-as da realidade a que estamos
acostumados. No geral, a Teoria da Relatividade afeta
muito pouco a vida cotidiana, e um pouco mais a vida
acadmica ou cientca, pois interfere basicamente
com fenmenos de dimenses csmicas. Anal, a
cosmologia tem pouco alcance para a maioria esma-
gadora das pessoas; porm, a inuncia da Teoria
Quntica aterrorizante por embaralhar aquelas
questes muito mais prximas concernentes estru-
tura da matria e s relaes de causa e efeito com que
estvamos acostumados uma teoria probabilstica
que apenas muito remotamente atende a nossos fer-
renhos apegos materiais de concretude.
A resultante lquida que os leigos a ignoram,
sem entend-la, ao passo que os cientistas a aceitam
apenas por suas evidncias empricas, sem poder
dar-lhes explicaes verossmeis. Tanto que o pr-
prio Einstein disse a seu respeito, cptico, que
Deus no joga dados, e o gato de Schrdinger as-
sombra aqueles, cientistas na maioria, que enten-
dem ao menos teoricamente a formulao desse
problema. Com isso, somando-se o fracasso do
projeto do neoempirismo do Crculo de Viena (a
construo de uma linguagem cientca livre das
contradies da linguagem usual, apoiada que estaria
na base emprica, os chamados protocolos), levou-se
a epistemologia, ramo da losoa que bem ou mal se
mantinha promissor, a um impasse, no obstante os
esforos do falseacionismo de Popper, que, por m,
parece ter sido ultrapassado pelas teses relativistas
que o criticaram no plano da teoria da cincia. Assim,
presentemente, a teoria do conhecimento vive tam-
bm de contribuies esparsas, sem atingir uma
abordagem majoritariamente consensual entre os
epistemologistas, que, desse modo, se vem reduzi-
dos a elaborar questes de detalhes, parte os pou-
cos renamentos lgicos que ainda persistem nessa
rea, aos quais, na maioria das vezes, a cincia ou a
tecnologia propriamente dita do importncia ape-
nas marginal, ou nenhuma.
4
4
WHITEHEAD (1985) sintetizou bem a frustrao que tomaria conta
dos pensadores quando viessem a constatar que a cincia nada mais do
que um conjunto de relaes que vinculam conceitualmente tantos obje-
tos com quantos outros, sem nada dizer ontologicamente do mundo. Do
ponto de vista existencial, como estar constantemente sobressaltado
pelas imagens fugazes de sonhos perturbadores que pouca relao tm
com a realidade interna dos indivduos, alm de no oferecer algo palpvel
com que se orientar no cotidiano, afora os benefcios materiais, que em
suma no so sucedneos tranqilizantes para a angstia, pois no respon-
dem s perguntas bsicas. Tal sentimento tornou-se o prato comum a que
a maioria dos pensadores modernos e contemporneos acostumou-se a
deglutir, freqentemente indispondo-se com perturbaes digestivas, para
as quais a nica soluo a procura de ervas medicinais que mitiguem o
desconforto estomacal e que usualmente tm servido para a sua escamote-
ao. Essa a posio de Bertrand Russell, de Karl Popper e de tantos
outros que seguiram pela mesma senda, estabelecendo em sntese alguma
forma de idealismo, de convencionalismo ou de relativismo. Trata-se fun-
damentalmente do desmonte da razo, da renncia ao absoluto, a ausncia
platnica da medida, sensao que ir trespassar todo o sculo XX, a des-
truir valores, ideais e utopias, e estar na base das aies ps-modernas.
p g y p
i mpulso n 29 89
POLTICA E FILOSOFIA
As maiores implicaes desses acontecimen-
tos ocorreram mesmo nas reas da poltica e da cul-
tura, de um lado, e da tecnologia, de outro. Na po-
ltica, h que mencionar o nal da Guerra Fria, com
a dbcle dos regimes que se diziam baseados nos
fundamentos socialistas ou comunistas, grande uto-
pia que animou as geraes desde Karl Marx at a
queda do Muro de Berlim, em 1989, passando pela
Revoluo Russa de 1917, primeiro aceno de sua
possibilidade histrica. Enquanto o Imprio Sovi-
tico ou a China de Mao Ts-Tung ofereciam uma al-
ternativa revestida de plausibilidade aos demais pa-
ses do mundo, havia esperana de um embate ao
qual se aferravam as correntes ideolgicas que se en-
frentavam, mas o recuo e o desmoronamento da an-
tiga URSS levou a termo essa longa disputa, da
emergindo o domnio absoluto dos EUA e de seus
aliados
5
(quase todos, hoje em dia, ungidos pela pax
americana, cuja nica ameaa so os fundamentos
do american way of life, que ningum sabe at quan-
do se sustentar econmica ou moralmente). Al-
guns episdios pontuaram essa caminhada: as duas
Guerras Mundiais, a da Coria, a do Vietn e mes-
mo as manifestaes de maio de 1968 na Europa,
especialmente na Frana; no entanto, nenhuma lo-
grou alterar o fato de, com o m da Guerra Fria e o
virtual domnio americano, poder ter sido atingido
um ponto no qual as grandes disputas ideolgicas
no mais se reproduzam.
6
O ncleo duro da questo encontra-se
mesmo na rea cultural, em que ir se cristalizar o
conceito de ps-modernismo, aps sofrer todas as
injunes at aqui descritas, alm do impacto tecno-
lgico, que ser tratado adiante, j que a tecnologia
, por assim dizer, o corolrio de tudo quanto se es-
tabeleceu por conta desse desenvolvimento. Em
termos loscos, a inuncia da linha direta da
fenomenologia de Husserl e da obra de Heidegger,
que, por sua vez, inui sobremaneira no existencia-
lismo sartreano. J se falou da epistemologia e, por
extenso, da losoa da linguagem (aqui se contam
os dois Wittgenstein), que desemboca na losoa
analtica contempornea; esta ltima ocupa um ni-
cho bem determinado no panteo losco e, em
geral, interessa a uma categoria reduzida de especia-
listas. Portanto, o que conta nesse sculo como -
losoa , primeiro, a fenomenologia que, depois de
usufruir uma fase de ascenso e apogeu, parece no
momento ter arrefecido bastante em nmero de
adeptos. Isso porque, notadamente, se revelou im-
praticvel o seu objetivo bsico, pelo menos do
ponto de vista de seu criador original: a possibilida-
de de fazer com os argumentos e sensaes mentais
puros o mesmo tipo de anlise empreendido no m-
bito da cincia, mas utilizando uma metodologia es-
pecicamente losca. Tal objetivo sem dvida fra-
cassou, a despeito de muitos ainda serem entusiastas
da metodologia husserliana, porm com uma ambi-
o bem mais modesta, um tipo apenas de aborda-
gem, entre outros.
Em contrapartida, a inuncia de Heidegger
permanece inalterada, e, ao contrrio da escola an-
teriormente descrita, ganha cada vez mais respeito
no mbito da losoa. No entanto, acontece que a
problemtica abordada por sua losoa bate de
frente com os valores modernos, j que a proposi-
o central heideggeriana se envolve a fundo com a
questo do Ser, algo que remete a uma busca de
princpios de modo a aproxim-la dos padres ori-
ginais gregos. Alm disso, toda a nfase dessa lo-
soa dirige-se a uma crtica acerba do modo moder-
no de vida, moldada em torno da inevitabilidade da
descaracterizao completa do homem enquanto
ele estiver preso pelas amarras de suas necessidades
atuais. Alis, esse vir a ser o aspecto compartilhado
por quase todo o conjunto das formas culturais mo-
dernas a investida crtica contra as caractersticas
mais relevantes ou mesmo prosaicas da contempo-
raneidade , jogando numa vala comum todas essas
manifestaes, uma vez que h um descompasso
abismal entre as reivindicaes culturais e o modo
concreto de vida da massa das pessoas, criando uma
tenso insustentvel.
A Escola de Frankfurt talvez sintetize de ma-
neira eloqente o conluio entre a losoa e suas ra-
5
A China, desde a assuno de Deng Xiaoping, aps Mao, recolheu-se ao
mutismo e a sua denitiva incorporao ao sistema prevalecente apenas
uma questo de tempo, a despeito das possveis decorrncias sociais funes-
tas desse fato.
6
A tese mais amplamente conhecida a esse respeito est em
FUKUYAMA, 1992.
p g y p
90 i mpulso n 29
cionalizadas tentativas de eliminar o ressentimento
causado pela falncia das promessas iluministas de
construir um mundo elevado de idealizaes. O ful-
cro da crtica dos pensadores integrantes dessa in-
uente escola dirige-se no mais aos fundamentos
da infra-estrutura (material) da tradio marxista,
base das relaes econmicas que, pelas suas contra-
dies, aplainaria o caminho para o admirvel mun-
do novo do regime poltico a vigorar na terra pro-
metida do comunismo sem classes e sem injustias
sociais. Dirige-se, isso sim, s superestruturas insti-
tucionais dela derivadas, diretamente s determina-
es culturais emanadas do modo capitalista de pro-
duo, caso sua evoluo avassaladora e destinada
a destruir todas as demais formas humanas de con-
vvio no seja detida por outros valores mais altos.
sintomtico que o ataque aos males da mo-
dernidade j no dependa apenas do determinismo
histrico, que, de um modo ou de outro, alcanaria
sua realizao, uma vez que o solapamento dos va-
lores atingira aparentemente um ponto prximo da
irreversibilidade. Nesse caso, seria importante que a
crtica a essa grgona se zesse de forma contun-
dente, antes que o seu olhar petricador pusesse
tudo denitivamente a perder, inclusive a promessa
socialista. Sem dvida, a proporo de acertos com
que os pensadores dessa escola de pensamento ana-
lisaram os aspectos mais sombrios e ameaadores
do modernismo impressionante, dado que a lmi-
na de suas crticas foi aparentemente dotada de cor-
te com um alto grau de premonio, em especial
quanto ao veredicto da massicao cultural e suas
seqelas, que encontram ecos perfeitos nas caracte-
rsticas atuais manifestas dos eventos culturais, ao
lado das vises apocalpticas que pressagiavam o
onipresente pntano cultural contemporneo. Infe-
lizmente, parece que nada impediu a concretizao
do vaticnio dessas cassandras, que em vo nos aler-
tavam contra as funestas conseqncias do grande
movimento da modernidade em direo ao esgara-
mento.
7
Essa uma das diferenas fundamentais entre
o ps-modernismo e o modernismo. Este est eiva-
do de otimismo, haja vista a esperana de Locke e
dos iluministas, chegando especialmente at Kant e
Hegel, que, no obstante terem sido considerados
conservadores, possuam uma viso muito condes-
cendente com o seu tempo. O mesmo vale para
Descartes, Leibniz e Spinoza, os grandes racionalis-
tas modernos, excetuando, claro, o cepticismo de
Montaigne e de Hume, mas que tambm se ajusta a
seu tempo, pois dicilmente consegue ultrapassar,
por exemplo, o otimismo iluminista de Condorcet.
J as produes inspiradoras do ps-modernismo
colocam-se invariavelmente contra o seu prprio
tempo. Assim se d com os romnticos radicais
(tendo Nietzsche frente), com Heidegger (Hus-
serl parte) e com seu herdeiro Jean-Paul Sartre,
mentor da losoa mais encampada do sculo, o
existencialismo.
O existencialismo parte de uma situao de-
sesperadora, a do eu completamente despojado e
perplexo diante da existncia, o nada, como diria
Sartre, para sofregamente agarrar-se a uma promes-
sa de liberdade, engajando-se por m na poltica,
conforme as ltimas posies do lsofo. Porm,
ca claro para todos quantos o lem que o apelo aos
ideais polticos meramente um sucedneo provi-
srio ao desespero, desde que os ideais foram sepul-
tados aps maio de 1968, juntamente com o movi-
mento hippie. Os esforos de Sartre de se integrar
esquerda francesa exigiram-lhe malabarismos que
ele exaustivamente, e em vo, tentou explicar. Isso
porque, antes das agitaes de 68, a esquerda dividi-
ra-se j no ataque das foras do Pacto de Varsvia
Hungria, em 1956, e com a invaso da Tchecoslov-
quia no mesmo ano de 1968, que sufocou a Prima-
vera de Praga, de Dubcek. Sartre morreu em 1980;
porm, o entusiasmo com a sua losoa declinou
acentuadamente desde o nal dos anos 60, tornan-
do-se hoje uma espcie de relquia nos museus lo-
scos. Resta talvez, em termos de losoa, uma
revigorao do pragmatismo americano de James e
Dewey, tarefa que vem sendo realizada, com o vis
da grande conversao, por Richard Rorty nos
tempos atuais.
A par disso, pode-se considerar as produes
aglutinadas em torno dos mestres franceses Michel
Foucault, Jacques Derrida e Jacques Lacan, formu-
7
Para se inteirar do esprito da Escola de Frankfurt, ler tambm
ADORNO & HORKHEIMER, 1985.
p g y p
i mpulso n 29 91
ladores principais da ideologia ps-modernista na
viso sobre a histria, na interpretao da literatura
e na nova maneira de encarar os problemas psicana-
lticos, respectivamente. No nos aprofundaremos
nesses cones intelectuais, bastando lembrar que eles
tiveram sua cota suciente de reconhecimento, o
qual principiou por se desmantelar h algum tempo.
A propsito, no demais recordar a denncia, ain-
da que eivada de preconceitos, levada a cabo por
Sokal & Bricmont,
8
cuja tentativa de desmisticar
alguns dos principais expoentes da escola ps-mo-
dernista representou forte golpe na reputao de
muitos deles. Ela demonstrava que os conhecimen-
tos ditos cientcos, por eles manejados, eram mui-
tas vezes baseados em imperfeitos e, s vezes, equi-
vocados conceitos, utilizados assim sem critrios,
insinuando um comprometimento de todo o con-
junto da obra, o que caracteriza, bvio, uma a-
grante injustia. No obstante, o resumo da pera
que paira uma forte suspeio sobre a produo -
losca ps-modernista, dada a sua dissonncia em
especial com as conquistas cientcas, independen-
temente de sua justeza ou no, e mais ou menos
esse o ambiente de mal-estar no qual parece padecer
o ps-modernismo, em quase todos os aspectos re-
levantes.
ARTES E HUMANIDADES
No h dvida, no entanto, que o conceito de
ps-modernismo encarnou-se denitivamente, sob
as inuncias mencionadas, nas manifestaes arts-
ticas recentes, herdeiras do surrealismo e do van-
guardismo. Nessa seara, cam mais visveis as teses
ps-modernistas, como que cristalizadas pelo efeito
das inuncias sofridas. Mas ironicamente a sua
bandeira nada mais do que a de descartar-se de to-
das as inuncias para fundar uma nova relao no
campo cultural, livrando-se do peso da tradio e
atendendo s crticas da modernidade. De fato, to-
dos os movimentos culturais insurgem-se contra
algo ao propor mudanas radicais, e o mesmo ocor-
re com o movimento ps-moderno no entanto,
torna-se difcil saber contra o que exatamente ele se
subleva, tendo sido a crtica j realizada sob outras
bandeiras. H um certo cansao nessa nova tentati-
va, visto que aparentemente todas as rupturas pos-
sveis parecem j ter sido realizadas. No h satisfa-
o com que se comprazer no ambiente predomi-
nante, nem para onde voltar suas armas, pois todos
os alvos foram atingidos, sem muitos resultados a
comemorar. Alm disso, o cnone estabelecido co-
loca-se num nvel muito difcil de ser superado, e
exatamente por essa constatao tenta-se desespe-
radamente enveredar por novos caminhos procura
de uma sada libertadora.
Comparem-se os casos mais gritantes. Co-
mecemos com a msica. A grande novidade nessa
rea, podendo ser cotejada com a msica clssica,
a msica dodecafnica ou atonal, de Schnberg, do
nal do sculo retrasado. Porm, a sua apreciao
reserva-se a um grupo seleto de adeptos, na verdade
muito mais entusiasmados com a ousadia tcnica e
a genialidade ou complexidade dessa nova vertente
do que propriamente extasiados no sentido prosai-
co do termo. O gosto popular afasta-se dessa verso
muito mais do que das clssicas, quando no est
exclusivamente interessado nas formas mais gros-
seiras, em termos de sosticao musical, como o
rockn roll e as demais manifestaes abundantes da
msica pop. Esta ltima, dependendo da poca e das
injunes de mercado, incursiona por sons regio-
nais buscados no mundo todo, incluindo as canes
folclricas africanas, asiticas ou mesmo europias,
as de razes sul-americanas e caribenhas bossa no-
va, merengue, salsa, tango, mambo, reggae e tantas
outras das quais no cabe notcia, sem falar dos ao-
ramentos nitidamente nacionais samba, sertanejo
e pagode. Em escala mundial, a msica popular de
maior impacto no sculo XX tenha sido talvez a m-
sica negra norte-americana o jazz , que exerceu e
exerce enorme inuncia.
De qualquer modo, de se registrar que a di-
versidade e a proliferao de tantas manifestaes
populares conguram um caso exemplar de pujana
cultural, no encontrando paralelo nas outras reas,
conforme se ver mais frente. Entretanto, isso no
pode servir de consolo ao apreciador das obras de
Bach, Vivaldi, Mozart, Beethoven e de todos os de-
mais clssicos; ele sempre ir lamentar o m desse
8
Cf. SOKAL & BRICMONT, 1999.
p g y p
92 i mpulso n 29
ciclo de ouro, que parece no mais se repetir.
9
Em
poucas palavras, h uma ntida nostalgia musical ao
se comparar a situao atual, da ps-modernidade,
com a anterior, da modernidade, enquanto os novos
caminhos srios no se solidicam (a msica ato-
nal ou os experimentos da msica concreta, ambos
rejeitados pelo gosto popular) e um espao cada vez
maior cedido sem apelaes msica pop, muito
mais limitada tecnicamente.
No campo das artes plsticas pintura, gra-
vura, escultura a situao ainda mais catica, na
medida em que as possibilidades tornam-se mais
restritivas. O caso da pintura emblemtico. De-
pois das revolues do Renascimento, com Miche-
langelo, da Vinci e Rafael, inovadores em termos de
perspectiva e do uso das cores, obtendo uma liber-
dade muito maior para a criao (no nos esquea-
mos, antes, de Fra Angelico e Brueghel, e, depois, de
Rembrandt e Velzquez, entre tantos outros gran-
des pintores), houve, no nal do sculo XIX, um
grande surto com o impressionismo francs (Mo-
net, Renoir), que alterou para sempre os rumos da
pintura (cite-se tambm Van Gogh). Seguiu-se en-
to o expressionismo, cujos grandes vultos foram o
francs Chagall, os americanos Pollack e Kline e o
ingls Francis Bacon, falecido recentemente.
10
Mas,
sem dvida, o maior nome da pintura contempor-
nea Picasso, cone do artista eternamente gravado
na mente ps-moderna, com Guernica e De-
moiselles dAvignon, que passou do cubismo a
quase todas as correntes modernas da pintura, sem-
pre com preeminncia, tanto pela qualidade de sua
obra quanto pelo seu estilo de vida. Picasso verda-
deiramente reputado digno de emulao e de inveja
sadia pela possibilidade plena de realizao artstica e
pessoal, afora o fato de ter sido denitivamente acla-
mado em vida, o que o mximo de satisfao a que
aspira o esprito ps-moderno um caso de sucesso
inequvoco, sob quaisquer consideraes ou critrios.
No obstante a pintura apresentar-se com
tantos trunfos no desle cultural contemporneo, o
que se seguiu aps esses grandes nomes foi decep-
cionante. A pintura abstrata e a nsia por subverter
todos os padres atingiram o paroxismo, a ponto de
atualmente mal se reconhecer qualquer artista pls-
tico que encontre ressonncia entre a grande massa
potencialmente apreciadora da sua criatividade. Os
abusos cometidos em nome de todos os movimen-
tos que ergueram a bandeira da ps-modernidade
(cujas razes remontam ao surrealismo e ao van-
guardismo) foram tais que connaram suas expres-
ses a sales e exposies freqentados pelo pblico
com maldisfarada incompreenso e impacincia.
Ao mesmo tempo, os marchands e demais agentes
comerciais vivem num mundo absolutamente do-
minado por sutilezas de experts, tornando esse um
ambiente de leilo que guarda incestuosa semelhan-
a com o jogo mercadolgico praticado nas bolsas
de valores.
Reproduz-se aqui, mais uma vez, o que pare-
ce ser a marca registrada da ps-modernidade a se-
parao entre, de um lado, uma reduzida categoria
de especialistas que se fecham sobre si mesmos, dei-
xando a massa ou o pblico margem, e de outro la-
do, esse mesmo pblico (que, alis, pouco se impor-
ta com os especialistas s voltas com a sua esterili-
dade frente aos cnones tradicionais, ou com suas
loucuras, que a poucos afetam). O pblico diverte-
se como lhe apraz, independentemente de seus cr-
ticos, e apenas vez ou outra abre-se francamente s
manifestaes artsticas de vanguarda, a no ser nas
excees consagradas da pop art, como a serigraa
innitamente reproduzvel de Andy Warhol suas
Marylins e latinhas de sopa Campbell ou Coca-Co-
la, anal toleradas pelo gosto popular. Novamente
tem-se o quadro dos especialistas, desesperados e
apartados num mundo de connamento, e a massa
popular, entregue a seus prprios devaneios e sorte,
manipulados sistematicamente por interesses co-
merciais. Essa situao inequivocamente causado-
ra de um grande mal-estar, de um e de outro lado,
com todas as conseqncias indesejveis.
Na rea da literatura, poesia e teatro, a situa-
o basicamente no se altera, com a agravante de
que aqui o aambarcamento por outras formas ar-
tsticas, mais dominadas pela possibilidade de con-
trole econmico, especialmente o cinema e a televi-
so, faz com que o quadro se agure como extre-
mo. Quanto poesia, ela encarada como uma cu-
9
Para uma vasta tomada geral sobre o assunto, especialmente em relao
aos clssicos, cf. MASSIN & MASSIN, 1998.
10
Uma obra de referncia, nesse caso, o clssico GOMBRICH, 1993.
p g y p
i mpulso n 29 93
riosidade de antanho, sobrevivendo de um ou de
outro verso consagrado, quase como um hai-kai ja-
pons, para consumo de saraus literrios e outros
anacronismos, salvo quando pinada para uma ep-
grafe jornalstica, sempre de cunho eminentemente
episdico. O mximo a que se aspira em termos de
elaborao o acrstico, mas as rimas e o formato
de sonetos, por exemplo, ou as redondilhas e outras
regras e perfumarias, to aclamadas no passado,
tudo isso deu lugar ao verso livre, que mal mantm
o ritmo, ou a musicalidade, importando muito mais
a sua visibilidade estrutural, a poesia concreta con-
forme desenhada na pgina ou no tablide, ou
pendurada na parede. Uma esquisitice, cultivada
apenas por accionados pedantes, quase varrida do
convvio social, um rano que ainda de bom-tom
tolerar, entre os cultivados de sempre eis a imagem
que dela se tem.
O teatro, sim, conserva um pouco de sua an-
tiga solenidade, todavia cada vez mais elitizado,
mantido custa de subvenes governamentais ou
reservado aos espetculos nas grandes casas das ca-
pitais do mundo. So grandiosas produes (musi-
cais, na maioria das vezes, bem ao gosto norte-ame-
ricano, ou com grandes cenrios e uma legio de co-
adjuvantes, em escala industrial, para o gudio de tu-
ristas deslumbrados), nada comparvel s grandes
tragdias gregas ou ao gnio de Shakespeare, sempre
representadas, mas que no oferecem o novo aqui
ainda a ltima palavra a do engajamento poltico
de Brecht, do teatro do absurdo de Ionesco e do
non sense de Beckett. Diga-se: o frescor das peas de
Ibsen, de Tchecov ou mesmo dos dramaturgos
americanos que tanto sucesso zeram no sculo XX
(Tennessee Williams, Eugene ONeil, Arthur Miller
etc.) j no exibem a mesma exuberncia, dando a
impresso de estarem um tanto quanto datadas, ain-
da que possam conservar traos apreciveis. O pro-
blema que no h continuidade, dado que o pbli-
co parece no se identicar ou se interessar, restrin-
gindo-se a encenaes ocasionais destinadas a uma
platia reduzida. Assim, tudo se perde em fragmen-
tos de fato irrelevantes no panorama cultural abran-
gente da modernidade (e da ps-modernidade,
cujas arremetidas nessa rea no so signicativas).
Do mesmo modo que ocorre no teatro, a
prpria literatura, antes constituda por um caleidos-
cpio do que de essencial ocorria em sua poca, es-
pcie de repositrio que dava organicidade e visibi-
lidade s imprecisas impresses que campeavam na
sociedade, parece hoje ter perdido esse papel eluci-
dador. E se transformado em depoimentos esparsos
de vivncias extraordinrias, em esoterismo barato
que cativa a mente dos muitos interessados no sim-
plesmente extico, excntrico ou diferenciado, ou
em tramas romanescas, cheias de suspenses e intri-
gas, constituindo os best sellers transpostos para o ci-
nema, com efeitos especiais variados e formidveis.
O destino da literatura promete seguir o dos folhe-
tins ou o dos romances de cavalaria de antigamente,
fadados a sair de moda diante do frenesi da era mo-
derna. Aqui s h espao para o visual (no sentido
de virtual), de extrema rapidez, e sem nenhum com-
promisso de sntese ou de novas perspectivas, sim-
plesmente porque tais ideais se tornaram obsoletos
e, portanto, inteis a essa ps-modernidade frag-
mentria.
11
Nada parecido com o painel monumental da
modernidade, visto, por exemplo, na tentativa de Ja-
mes Joyce (um dos principais responsveis e inuen-
ciadores da desconstruo da literatura, utilizando
todos os gneros, tentando fazer a sntese suprema,
abarcando nela todo o mundo e as tradies conhe-
cidas, maneira genial da pardia) e, depois, dos
grandes painis burgueses de Balzac, do virtuosismo
de Flaubert, das reminiscncias obsessivas de Proust
(ao expor o ftil modo de vida da elite francesa de
n de sicle), do psicologismo penetrante de Dos-
toievski (que auscultou as profundezas da alma hu-
mana), do pico de Tolstoi, da tumultuada e esteti-
camente elevada viso de Thomas Mann, da nura
de Valry, da atormentada e turbulenta aridez e le-
veza de Cline e da desesperana de Kafka. Enm,
o inventrio inndvel.
12
11
So interessantes e pertinentes, a esse propsito, as colocaes de
GLEICK, 2000.
12
Para uma enumerao das obras literrias signicativas, cf. BLOOM,
1995. Embora de forma personalista, esse livro fornece uma viso sucien-
temente ilustrada, alm de seus j clebres comentrios pouco convencio-
nais, dirigidos especialmente contra algumas tendncias ps-modernistas,
entre elas o politicamente correto multiculturalismo. Academicamente,
para um enquadramento mais terico da literatura, ver o clssico brasileiro
CANDIDO, 2000.
p g y p
94 i mpulso n 29
Tem-se, nesse caso, um problema tpico da
grande diculdade em atingir o padro constitudo,
o cnone, alm do fato j referido de a literatura co-
locar-se atualmente como um gnero esgotado, se
assim se permite falar na verdade, um gnero ul-
trapassado de manifestao cultural, ao que tudo in-
dica. Naturalmente, sempre existiro accionados;
porm, a exemplo dos outros casos anteriores men-
cionados, eles so cada vez mais uma minoria, en-
quanto a grande preferncia se dirige a outros gne-
ros mais palatveis. Alis, aqui se d ensejo impor-
tante colocao de que esse fenmeno de decrsci-
mo no nvel de exigncia requerido parece fazer
parte do ambiente ps-moderno, o que requer uma
qualicao no sentido de poder ser apenas uma
conseqncia natural da evoluo da cultura: na me-
dida em que mais e mais pessoas so incorporadas
aos ditames usuais da sociedade de mercado, to-so-
mente uma frao diminuta delas mostra-se com o
gosto apurado dos clssicos.
Esse fato encontra explicao na prpria dis-
tribuio de freqncia que haver sempre de se ma-
nifestar quando se trata de distribuio de caracte-
rsticas, sem dvida, puro elitismo, mas que parece
integrar uma longa tendncia histrica que apenas
se desejou ou se acalentou no existir. Em outras pa-
lavras, quando se trata de apuro, ele algo necessa-
riamente elitista, ao contrrio da crena sempre cul-
tuada dos iluministas e dos otimistas contumazes,
ainda que sem nenhuma contrapartida real. Como
se pode exigir qualidade quando a preferncia incli-
na-se (ou inclinada, por vrias razes, que de fato
pouco importam) em outra direo? A sosticada
presuno dos grandes escritores no encontra eco
na massa dos novos leitores, at por uma questo
lgica, pois mesmo que por hiptese fosse possvel
elevar o padro, rapidamente voltar-se-ia a reprodu-
zir o nvel contemporaneamente inatingvel do c-
none, obstculo difcil de ultrapassar, a menos que
se enveredasse por novos caminhos (e isso estaria
distante do que entendemos hoje em dia por litera-
tura) ou ento que se alterasse (geneticamente?) a
natureza humana (ainda assim as alternativas imagi-
nveis seriam as mesmas).
Desse modo, no h que se estranhar quando
a diversicao parte para solues no cabveis nos
padres internos (do ponto de vista tecnicamente
literrio, vale dizer, dos prprios pares), a exemplo
do esoterismo j citado, das biograas de persona-
lidades populares (artistas e outras celebridades),
dos eternos romances aucarados para senhoras de
ontem, hoje e amanh, dos casos escabrosos que,
uma vez ou outra, sensibilizam a populao, e assim
por diante, mas j distantes da grande literatura. Os
escritos permanecero ainda na forma de best sellers
ou roteiros a serem utilizados nos lmes e soap ope-
ras (novelas) da televiso, o que quase a mesma
coisa; porm, esse o grande lo que resta aos es-
critores remanescentes, desejosos de projeo, aci-
ma da categoria dos accionados, e, nesse caso, as
possibilidades ainda so bastante viveis, tendendo
ao crescimento. Cinema e televiso cada vez mais
ntimos, e tome-se, de um lado, scripts de aventuras
e entrechos extravagantes beirando o infantilismo,
resultando numa lmograa que privilegia quase
exclusivamente os efeitos especiais e as grandes ca-
tstrofes, tratadas ao modo do videoclipe, repleto de
cortes (at o limite da percepo do olho humano)
e de imagens delirantes, o mais das vezes desconec-
tadas, e, de outro, programas de auditrios que no
se cansam de explorar a baixeza humana, talk shows
em que so passadas a limpo as ltimas intrigas e fo-
focas, rgidos e cansativos documentrios (nas TVs
educativas), concursos fabulosos e outros fenme-
nos menos dignos.
Sucesso mesmo, no caso da mdia, so os
acontecimentos esportivos (campeonatos mundiais
a cada semana), os musicais (na forma de msica po-
pular, claro) e os programas de entretenimento (de
auditrio do tipo a-vida-como-ela- e talk shows),
sem esquecer os noticirios que tratam dos casos pi-
torescos, da grande poltica de fachada, da solidarie-
dade, dos bons exemplos, do serial killer, do amor, das
festividades, dos acontecimentos, das guerras locais,
da tecnologia, das descobertas cientcas, das curas
milagrosas, dos acontecimentos, do circo, do bode
expiatrio, do colunismo social, dos grandes senti-
mentos, da ternura, das catstrofes, das campanhas de
ajuda, da conquista do espao, das ameaas ao meio
ambiente, das denncias, da propaganda, da econo-
mia, do comrcio, da indstria, dos acontecimentos
etc. preciso ainda acrescentar que se est diante de
p g y p
i mpulso n 29 95
uma pasteurizao cultural que reduziu ao mnimo a
possibilidade de um desfrute aproveitvel, por quais-
quer critrios pertinentes que se determine?
13
PERSPECTIVAS
Resta uma projeo para o futuro, necessaria-
mente especulativa. O que se ir elaborar nesse sen-
tido, da perspectiva pessoal, tem a ver com as con-
sideraes anteriormente feitas. Viu-se como as ra-
zes que sustentam ou embasam da situao atual so
complexas e contraditrias, mas acredita-se que te-
nham um o condutor, sobretudo em virtude do
sucesso desse modo de desenvolvimento que levou
s caractersticas condicionadoras da ps-moderni-
dade, a saber, a tecnologia e o crescimento popula-
cional. Em termos de tecnologia, no h como ne-
gar que as facilidades proporcionadas por ela contri-
buram sobremaneira para inclusive alcanar a tre-
menda expanso populacional hoje observada, o
que d uma medida cabal da ecincia dos caminhos
trilhados, ao menos do ponto de vista da espcie,
ainda que o nvel atingido traga ameaas tangveis (a
questo ambiental avulta nesse caso, entre outras).
Em todo caso, perodos demasiadamente am-
plicados pouca inuncia exercem sobre a menta-
lidade e as condies imediatas, por mais que os
arautos do catastrosmo se insurjam e vociferem,
como de fato o fazem sistematicamente, embora
com uma utilidade limitada. O nmero excessivo de
habitantes neste planeta pode vir a ser um problema
srio, porque o desmonte da bomba populacional
pode demorar geraes, algo arriscado quando as
medidas necessrias se tornam urgentes, a ponto de
haver enormes diculdades ou mesmo impossibili-
dade de reverter a situao na iminncia de implica-
es catastrcas. Essa uma questo sem dvida
importante, mas de difcil equacionamento, sujeita
s opinies mais variadas, inclusive as tcnicas, razo
pela qual no se vai alm de sua colocao, e, para to-
dos os efeitos, considera-se que o cenrio mais pes-
simista no ir ocorrer. Em outras palavras, de um
modo ou de outro, a situao ser resolvida, ao me-
nos dentro do mdio prazo ou no prazo que o ho-
rizonte dessa anlise contempla.
Contando que o ritmo ao qual esto vincula-
das as possveis mudanas continue a ser o mesmo
que tem sido at o momento, o quadro que se apre-
senta de um divrcio cada vez mais acentuado en-
tre as pretenses intelectuais, de um lado, e as pre-
ferncias da imensa maioria da massa despersonali-
zada, de outro, tendo-se ao meio desse alargamento
um espao pondervel sendo ocupado pelo modo
de vida ditado pela produo tecnolgica com todas
as suas implicaes. O que pode ser verdadeiramen-
te novo nesse processo a atual possibilidade de en-
car-lo como natural, no sentido de que se trata de
algo relativamente autnomo. Ou seja, do ponto de
vista retrospectivo, j possvel aceit-lo como algo
intrnseco cultura, ao invs de visualiz-lo como
um progresso linear em direo a qualquer objetivo
denido, da maneira como tem sido percebido por
todas as utopias histricas, especialmente a iluminis-
ta e, antes ainda, racionalista dos gregos pela utopia.
Em outras palavras, h atualmente condies
de aceit-lo como algo inerente natureza humana,
por parte dos intelectuais, que renunciariam assim
possibilidade de alterar esse estado de coisas median-
te idealizaes tornadas obsoletas. Tal postura, ape-
sar de ancorada numa lgica frrea, de muito difcil
aceitao a todos, menos ainda aos prprios intelec-
tuais, para no dizer impossvel. De forma alterna-
tiva, pode-se pensar que o reclamo dos intelectuais
encontrar apoio suciente da sociedade, a ponto de
convenc-la da necessidade das mudanas, partin-
do-se, nesse caso, para uma reformulao total, mas
cujo consenso agura-se como extremamente im-
provvel. Ainda outra possibilidade seria que a prpria
sociedade, por si mesma, escolhesse o que aqui deno-
minamos um tanto imprecisamente como o caminho
dos intelectuais (por hiptese considerado o mais ade-
quado), mas por uma escolha deliberada, com base
em seus prprios anseios, e no por inuncia exter-
na, o que novamente parece muito difcil ou impro-
vvel. Plausvel seria esperar que as coisas permane-
cessem como esto, e, nesse caso, que os intelectuais
continuassem constituindo utopias e criticando as
formas sociais existentes (contudo, essa parece uma
soluo que, nos dias de hoje, se apresenta como ex-
13
Um comentrio corrosivo a respeito desse tema encontra-se em BAU-
DRILLARD, 1985.
p g y p
96 i mpulso n 29
tenuada, sem fora e criatividade sucientes para rea-
lizar a tarefa). Tambm seria de se esperar que os
motivos para as crticas continuassem proliferando e
a massa das pessoas persistisse na alienao, atenden-
do s suas necessidades vitais (mas sem lograr com
isso uma soluo aceitvel, j que quase todos esta-
riam prontos a admitir que a situao atual necessita
ser alterada).
A sada que se vislumbra a possibilidade de
a cincia a mais alta produo cultural que se lo-
grou atingir vir a ser chamada a realizar ao menos
parte da tarefa, por ser ela a principal responsvel
por grande parte do problema, ao menos pelo su-
cesso da espcie (questo populacional) e pelo
modo de vida presente (questo tecnolgica). Uma
das maneiras dessa realizao mediante as con-
quistas cientcas, especialmente aquelas oriundas
da biologia, que dizem respeito mais proximamente
s questes aqui citadas. A investida das pesquisas
biolgicas no campo da gentica moderna e da bio-
logia molecular, balizada pelas teses evolucionistas,
tem propiciado perspectivas encorajadoras com o
propsito de melhor esclarecer aspectos do com-
portamento humano. Ela parte das descobertas so-
bre o funcionamento do crebro, com suas substn-
cias especcas agindo sobre os impulsos bsicos
(neurotransmissores cerebrais, por exemplo), de
forma nunca antes imaginada, e acena com a possi-
bilidade de avaliar posturas comportamentais luz
das novas teorias psicolgicas fundadas na conr-
mao da Teoria da Evoluo, entre outras determi-
naes j estabelecidas pela moderna biologia.
Abre-se, assim, o caminho para que novos paradig-
mas sejam construdos, podendo levar a mudanas
revolucionrias sobre como temos visto a ns pr-
prios at o momento.
14
Utilizando como suporte tais vericaes
proporcionadas pela cincia, possvel realizar a ta-
refa de modicar conceitualmente muitos dos falsos
mitos que dominam e dominaram o pensamento
por muito tempo, criando-se a oportunidade de
transform-los em algo mais condizente com a rea-
lidade, e, conseqentemente, fundando novas bases
para futuras investigaes. Em resumo, trata-se de
dar um choque de realismo nas crenas h muito
acalentadas pelos pensadores, que devero forosa-
mente se dobrar s evidncias e se municiar desses
outros aparatos tcnicos agora disponveis para for-
jar suas novas elaboraes. Em poucas palavras, tra-
ta-se de uma atualizao, ainda que tardia, das hu-
manidades, que devero se colocar em sintonia com
os avanos cientcos. Com essa nova possibilidade,
abre-se uma vereda interessante pela qual seremos
obrigados a revisar nossos conhecimentos de acor-
do com o avano cientco, tendo ento a oportu-
nidade concreta de sair em busca de novas estrutu-
ras e qualicar de outra tica tudo aquilo j realiza-
do. E, especialmente, deixar para trs uma herana
que, embora nos tenha trazido contribuies valio-
sas, deve ser agora abandonada, para que no que-
mos paralisados diante dos aparentes paradoxos en-
frentados presentemente, quase sem perspectivas
futuras do ponto de vista intelectual.
Eis a oportunidade de nos livrarmos dos gri-
lhes aos quais temos estado inconscientemente pre-
sos, e que nos levam situao atual de paralisao (da
perspectiva racional) ou de perplexidade (da perspec-
tiva civilizatria), com todas as suas conseqncias fu-
nestas, a saber, as decorrentes da extrema pulverizao
da vida moderna e ps-moderna, sem nenhum proje-
to no qual ancorar as aspiraes, dividindo-se da ao
innito em fragmentos desconexos. Poderamos, en-
to, contar com a probabilidade de reconciliar as fac-
es apartadas, mas sobretudo reconstruir em termos
potenciais uma agenda com visibilidade e factibilidade
sucientes para permitir que continuemos vivendo ao
menos com uma possvel reprogramao da pauta
idealista, sonhadora ou ilusionista que seja , s que
agora dotados de um instrumental capaz de nos tor-
nar mais uma vez entusiasmados e, sobretudo, muni-
dos de nova perspectiva, com condies de nos man-
ter ocupados de maneira til, impedindo o imprio da
barbrie ou da banalidade.
Uma palavra nal sobre esse panorama. A si-
tuao de paroxismo a que somos ou fomos (de
modo justo, cr-se) levados a enfrentar fez com que
automaticamente quase sempre dssemos razo s
crticas provindas da intelectualidade. Sem dvida,
tais crticas muitas vezes revestem-se de toda auto-
ridade moral, uma vez que a situao as comporta
14
Cf., a esse respeito, DENNETT, 1998; PINKER, 1998; e WILSON,
1999.
p g y p
i mpulso n 29 97
sobejamente; entretanto, a despeito de sua pertinn-
cia, no devemos esquecer dois aspectos fundamen-
tais. O primeiro que as aspiraes ou sonhos sem-
pre tero de existir e de colidir com a realidade isso
inescapvel, o nosso habitat, de que no devemos
apenas desesperadamente lamentar, mas entender
que faz parte de nossa condio, e sempre o far, se-
no como viver? O segundo que muitas vezes se
tende a esquecer as prprias realizaes, em meio s
desesperanas genricas; no entanto, isso tambm
no corresponde realidade, j que, igualmente,
muito foi conquistado, muito se avanou isso
inegvel. Existencialmente, pode-se deplorar at
mesmo o paraso, quanto mais a decadncia, a runa,
a destruio e a morte; todavia, o trajeto humano
tudo, menos decadente, ao menos at o momen-
to.
15
Ele simples e indenivelmente imperfeito,
sempre a solicitar mudanas.
CONCLUSO
O que se est propondo como soluo do
problema posta ultimamente por pensadores e
grupos de pesquisa de muitas fontes parece, na
verdade, transferi-lo simplesmente a outras esferas
to ou mais complicadas do que a enfrentada no
momento. De certa forma, esbarra-se na esnge da
natureza humana. Aparentemente, est-se diante de
uma soluo idiossincrtica, uma vez que as con-
quistas j conseguidas garantem ampla possibilidade
a qualquer um de recus-la, contrapondo-lhe apenas
suas prprias preferncias pessoais, o que o bas-
tante para desqualicar qualquer proposta feita in-
telectualmente ou racionalmente, amparada no rela-
tivismo do conhecimento. Ser que, do ponto de
vista moral, a cincia acabou por nos enredar numa
armadilha inescapvel?
Mas, com efeito, houve poca que tenha se
convencido de que existiria uma soluo nal?
evidente que no, o sentido sempre para frente, a
soluo nal indubitavelmente a morte, fato ina-
ceitvel. A idia de uma soluo nal no sequer
concebvel pela ou para a imaginao humana, pois
qualquer soluo seria provisria, a menos que se
eliminasse o tempo, que se eliminasse o mundo
como o podemos conceber. Da a concluso de que
nos resta prosseguir com as tentativas possveis e
a alternativa apresentada pode vir a se constituir
num projeto exeqvel, por que no? Realmente, ela
tem todas as condies de prosperar, caso se livre
dos preconceitos existentes. E no exatamente
isso que sempre se pretendeu: ter novas alternativas
disposio, desde que livres das impraticabilidades
(loucuras inconseqentes ou algo parecido), e que
superem as diculdades das condies presentes?
Pode algum negar que as diculdades, nas circuns-
tncias atuais, no estejam repletas de idias precon-
cebidas e gastas? Pensa-se, enm, que a humanidade
tentou h muito construir ideais hoje em dia sabida-
mente inalcanveis; porm, nunca tentou decisiva-
mente assumir algumas das imperfeies que atin-
gem no a todos indistintamente, nem em todas as
circunstncias, mas que seguramente molda a sua na-
tureza, cuja estrutura comea agora a ser identicada.
Encampando tal alternativa, teramos ento
mais um lance de dados no jogo innito das possi-
bilidades, algo que, sem dvida, no foi ainda tenta-
do com vigor e determinao. O lsofo Karl Jas-
pers disse uma vez que a losoa perturba a paz
pois aspira verdade total, que o mundo no quer,
e esse o problema crucial. Argumentamos que a
soluo nal no existe, e o mesmo poderamos
dizer da verdade total, e talvez seja esse o caso, o de
algo impossvel de ser realizado. Entretanto, no se
pode deixar de busc-lo, o que faz de toda losoa
uma utopia. A novidade nessa utopia indita que
estamos ao lado do melhor instrumento de que o
homem at agora disps para superar seus limites
a cincia. dela que deveramos fazer uso na ten-
tativa de ultrapassar esse que o maior desao, a
possibilidade de desvendar a natureza humana,
15
HERMAN (1999) faz um levantamento sobre as principais fontes que
inspiraram a idia de decadncia na histria ocidental, fornecendo uma boa
viso de como ela tem sido forte na nossa tradio. A propsito, cabe aqui
uma considerao geral sobre as cincias humanas, especialmente a socio-
logia, no sentido de que a sua inuncia tem sido substancial desde mea-
dos do sculo XIX. Na verdade, as cincias humanas so o sucedneo do
que fra a losoa clssica anterior ao desenvolvimento da cincia
moderna (em sua verso dura, isto , a fsica, sobretudo, mas tambm a
qumica, e mais recentemente a biologia, com as subdivises da decorren-
tes). Seu fracasso em emular a losoa, ou as cincias duras, seja talvez a
razo de sua atual crise de identidade, ainda que, em seus primrdios, elas
tivessem um programa promissor. Em todo caso, ntido o impasse que
presentemente enfrentam as cincias sociais, a despeito de sua persistente
inuncia como formadora de opinio, at porque no existem outras ins-
tncias para realizar o trabalho, afora a prpria losoa, que, no entanto,
sofre do mesmo mal.
p g y p
98 i mpulso n 29
tornando-nos, com isso, capazes de compreender
melhor os nossos comportamentos. Mesmo que
essa atitude nos obrigue a abrir mo de umas tan-
tas fantasias, que, at o presente, mais no zeram
seno nos confundir e alimentar nossa vaidade e
hipocrisia.
Referncias Bibliogrcas
ADORNO, T.W. & HORKHEIMER, M. Dialtica do Esclarecimento: fragmentos loscos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985.
ARENDT, H. A Condio Humana. 8. ed., Rio de Janeiro: Forense Universitria, 1997.
BAUDRILLARD, J. Sombra das Maiorias Silenciosas. So Paulo: Brasiliense, 1985.
BLOOM, H. O Cnone Ocidental: os livros e a escola do tempo. Rio de Janeiro: Objetiva, 1995.
CANDIDO, A. Literatura e Sociedade.So Paulo: T.A. Queiroz, 2000.
COMTE-SPONVILLE, A. & FERRY, L. A Sabedoria dos Modernos. So Paulo: Martins Fontes, 1999.
DENNETT, D.C. A Perigosa Idia de Darwin. Rio de Janeiro: Rocco, 1998.
FUKUYAMA, F. O Fim da Histria e o ltimo Homem. Rio de Janeiro: Rocco, 1992.
GLEICK, J. Acelerado: o desao de lidar com o tempo. Rio de Janeiro: Campus, 2000.
GOMBRICH, E.H. A Histria da Arte. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1993.
HERMAN, A. A Idia de Decadncia na Histria Ocidental. Rio de Janeiro: Record, 1999.
JASPERS, K. Introduo ao Pensamento Filosco. So Paulo: Cultrix, 1980.
MASSIN, J. & MASSIN, B. (orgs.). Histria da Msica Ocidental. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998.
PINKER, S. Como a Mente Funciona. So Paulo: Companhia das Letras, 1998.
ROUANET, P.S. As Razes do Iluminismo. So Paulo: Companhia das Letras, 1987.
REALE, G. & ANTISERI, D. Histria da Filosoa. So Paulo: Edies Paulinas, 1990/91, 3v.
SOKAL, A. & BRICMONT, J. Imposturas Intelectuais: o abuso da cincia pelos lsofos ps-modernos. Rio de Janeiro: Record,
1999.
TARNAS. R. A Epopia do Pensamento Ocidental. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999.
WATT, I. Mitos do Individualismo Moderno. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1997.
WHITEHEAD, A.N. A Funo da Razo. Braslia: Editora da UnB, 1985.
WILSON, E.O. A Unidade do Conhecimento: consilincia. Rio de Janeiro: Campus, 1999.
p g y p
i mpulso n 29 99
O PS-MODERNISMO E
AS CINCIAS SOCIAIS:
ANOTAES SOBRE
O ATUAL ESTADO
DA DISCUSSO
Postmodernism and the Social Sciences:
notes on the state of the debate
Resumo Este artigo apresenta uma viso geral da contribuio de autores clssicos do
ps-modernismo, no que concerne interpretao das novas conguraes do social,
no ltimo quartel do sculo XX, bem como em referncia s suas estratgias de pro-
duo de anlise cientca. Tentamos mostrar aqui os eventuais pontos de contato entre
as teorias ps-modernas do social e as diversas contribuies dos clssicos das cincias
sociais, em geral, e da sociologia, em particular, chamando a ateno para os limites im-
postos, pelos momentos histricos em que so elaboradas as interpretaes mencio-
nadas, tanto ao primeiro quanto ao segundo grupo de tericos.
Palavras-chave PS-MODERNISMO TEORIA SOCIOLGICA METODOLOGIA.
Abstract This article presents a general approach of the contribution of postmodern
classic authors on the interpretation of new congurations of societies in the last
quarter of the Twentieth Century as well as the strategies for their scientic analysis
production. We try to show here some points of contact between the postmodern
social theories and the several contributions of the classics of Social Sciences, specially
Sociology, seeking to demonstrate the limits that the historical moments in which the
mentioned interpretations are elaborated impose both to the rst and second groups
of authors.
Keywords POSTMODERNISM SOCIOLOGICAL THEORY METHODOLOGY.
LEMUEL DOURADO GUERRA
SOBRINHO
Doutor em sociologia, professor
adjunto do Departamento de
Sociologia e Antropologia da
UFPB, Campus II
lenksguerra@yahoo.com
p g y p
100 i mpulso n 29
INTRODUO
s mltiplas maneiras das quais o termo ps-modernismo tem
sido usado tornam impossvel a tarefa de destacar alguns
poucos ensaios, ou um livro especco, como exemplos in-
questionveis do ps-modernismo na sociologia. Reconhe-
cendo que a variedade de signicados associados aos termos
ps-modernidade e ps-moderno tem suas razes na polisse-
mia do conceito de modernidade, defende-se neste artigo a
idia de que, ao invs de concentrar esforos na tentativa de
precisar os aspectos conceituais da discusso sobre a emergncia da ps-mo-
dernidade e do ps-moderno, mais frutfero destacar uma srie de questes
colocadas pelos autores eventualmente classicados como ps-modernos
teoria e pesquisa social. a isso que se prope este artigo, reconhecendo-
se os limites ligados ao espao exguo para uma discusso desse escopo.
Embora os ps-modernos insistam numa proposta de desconstruo
da sociologia, ao nosso ver, na verdade, existem pontos que aproximam os di-
versos elementos da anlise ps-moderna dos principais constituintes da tra-
dio sociolgica. Em muitas de suas manifestaes, aquela se direciona ao
mesmo tipo de questes que inquietaram a imaginao sociolgica, desde o
surgimento da disciplina no sculo XIX. Essas questes incluem as referentes
natureza e extenso das transformaes em larga escala nas sociedades oci-
dentais, aos seus efeitos correspondentes sobre a natureza da interao e a
construo das identidades, e necessidade de novas estratgias metodol-
gicas. Vistas desse modo, as perspectivas ps-modernas mostram, se exami-
nadas propriamente, um notvel paralelismo com os projetos de Marx, We-
ber, Simmel, Durkheim e outros da tradio sociolgica clssica, que lutaram
para encontrar novas maneiras de entender as mudanas sociais na estrutura
social e no cotidiano, cada um em seu tempo e sua maneira.
Assim, possvel destacar como algumas das principais mudanas es-
truturais enfatizadas nas abordagens ps-modernas as seguintes: o declnio
da eccia poltica dos Estados-Nao que apareceram na modernidade (tan-
to internamente quanto externamente), as transformaes econmicas nos
processos de produo e na organizao das relaes de produo, e, no cam-
po da cultura, o progressivo estabelecimento do consumismo, provavelmen-
te a principal atividade social e simblica das sociedades contemporneas,
mediada pelos meios de comunicao de massa. Tudo isso provocando algu-
mas alteraes na natureza das categorias sociolgicas convencionais, como
as de classe, status, gnero e partidos polticos.
No nvel da interao, os autores do ps-modernismo enfatizam o que
vem como uma crescente supercialidade nas relaes sociais e as conseqncias
destrutivas para a formao da identidade individual. Seu diagnstico crtico ba-
seado largamente numa extenso da anlise de Marx e de Simmel dos efeitos
desintegradores da inexorvel mercadorizao na vida moderna, acelerada
pela forte inuncia dos meios de comunicao de massa, especialmente da
televiso, nas sociedades contemporneas. Mead, o terico clssico que ana-
AA
A A
p g y p
i mpulso n 29 101
lisou a construo da identidade com mais detalhes,
postulou essa considerao sobre o desenvolvimen-
to das identidades organizadas no que ele chamou
de atitudes sociais generalizadas da comunidade.
Embora Mead tenha reconhecido a crescente com-
plexidade do processo de autodesenvolvimento nas
altamente mutveis sociedades modernas, atribuiu-
lhe a produo de indivduos mais racionais e aut-
nomos. Para os ps-modernistas, a perda dos pa-
dres gerais comunitrios, e sua substituio pelas
imagens mercantilizadas produzidas pelos meios de
comunicao, inibe a construo de identidades so-
ciais estveis, como sugerido em seus anncios de
m de social e de desaparecimento do homem.
Vrios ensaios que focalizam as relaes entre
a produo das cincias sociais e as teorias do ps-
moderno discutem muitos desses pontos destaca-
dos acima, provendo exposies detalhadas e crti-
cas dos maiores representantes do ps-modernismo
da teoria social ps-moderna e dos seus mtodos,
numa tentativa de articul-los com os cnones da
prtica do que s vezes chamado de epistemologia
tradicional.
Muitos dos recentes comentrios sobre a teo-
ria ps-moderna feitos pelos tericos da sociologia
mais convencional tm sido altamente crticos,
quando no destrutivos. Alguns negam a validade
substantiva do ps-modernismo como uma descri-
o da sociedade contempornea,
1
enquanto outros
condenam a crtica proposta pela teoria ps-moder-
na como autodestruidora.
2
Uma exceo notvel
Seidman, que prope uma profunda reorientao da
teoria sociolgica baseada nas narrativas ps-mo-
dernas, que contam histrias sobre a sociedade com
um signicado moral, social, ideolgico e, talvez,
mais diretamente poltico.
3
Na linha de inspirao
marxista, destacamos Eagleton, que apresenta uma
renada crtica poltica e terica do carter extrema-
mente ambivalente do discurso do ps-modernis-
mo.
4
Segundo ele, esse discurso capaz de soar to
radical quanto conservador. Anderson, ao adotar
uma perspectiva mais historiogrca do surgimento
do(s) conceito(s) de ps-moderno,
5
faz uma anlise
seguindo basicamente a linha jamesoniana, que, evi-
tando uma avaliao moral do ps-modernismo,
prefere trabalhar no sentido de entender as condi-
es sociocultural-histricas da emergncia e do es-
tabelecimento do debate a respeito das temticas e
transformaes sociais concretas, tornadas objeto
da considerao dos tericos da ps-modernidade.
Entre os temas clssicos na discusso sobre a
articulao das propostas terico-metodolgicas no
mbito do ps-modernismo, destacaremos, com a
brevidade imposta pelas limitaes do espao deste
artigo, os seguintes: 1. Foucault e suas questes ins-
piradas no ps-estruturalismo; 2. o ps-modernis-
mo extremista: Baudrillard, a questo do m do so-
cial e o vale-tudo epistemolgico proposto por Lyo-
tard; 3. a cultura no ps-modernismo: as contribui-
es de Bell e de Jameson; 4. os questionamentos
dos ps-modernos Teoria Social; 5. metodologias
propostas pelos ps-modernos: a desconstruo e a
sociossemitica; 6. o impacto das propostas meto-
dolgicas ps-modernas sobre a teoria social: o caso
da etnologia.
FOUCAULT E AS QUESTES DE
INSPIRAO PS-ESTRUTURALISTA
O entendimento de Foucault sobre ps-mo-
derno, a despeito de sua negao dessa classicao,
tambm pode ser justicado pela sua crtica racio-
nalidade do iluminismo, s abordagens totalizadoras
da histria e da sociedade, e s teorias humansticas
do sujeito.
6
Todas essas crticas so temas-padres
das teorias ps-estruturalistas, mas um aspecto, pelo
menos, contribui para distanciar a abordagem de
Foucault daquelas dos outros pensadores franceses,
entre eles, Baudrillard, Lyotard, Deleuze e Guattari:
mesmo falhando na distino entre as diferentes
formas de conhecimento e poder, e tendo escrito
pouca coisa sobre a sociologia como disciplina, Fou-
cault disse muito a respeito da sociologia da disci-
plina, abrindo a possibilidade de vrias aplicaes do
seu pensamento na construo da abordagem socio-
lgica do mundo contemporneo.
1
Cf. GIDDENS, 1990; e CALHOUN, 1992.
2
Cf. COLLINS, 1990; e ALEXANDER, 1991.
3
SEIDMAN, 19991, p. 141.
4
EAGLETON, 1998.
5
ANDERSON, 2000.
6
Cf. BEST, 1994.
p g y p
102 i mpulso n 29
desnecessrio armar a relevncia do traba-
lho de Michel Foucault para as cincias sociais con-
temporneas, em geral, e, particularmente, para a so-
ciologia. Sem querer fazer aqui uma sntese do pen-
samento foucaultiano, cabe destacar alguns pontos
relativos sua trajetria e contribuio, que justi-
cariam sua incluso no conjunto de autores ps-
modernistas. Em primeiro lugar, podemos localizar
nas mudanas do pensamento de Foucault, quando
ele passa dos primeiros estudos arqueolgicos ao
enfoque genealgico sobre as intrincadas relaes
entre as formas de discurso e o poder, que ele re-
nuncia a seus interesses na gnese abstrata do con-
ceito de subjetividade nas sociedades modernas, em
favor de uma preocupao maior com a gnese pr-
tica das modernas representaes do sujeito e da
moralidade, dentro do contexto das estratgias so-
ciais de dominao.
Em uma entrevista concedida por Foucault
cinco meses antes de sua morte, ele declarou que a
relao entre a questo do conhecimento e a do po-
der no era mais o problema de maior importncia
para ele, a no ser como instrumento de entendi-
mento do problema mais fundamental das relaes
entre sujeito e verdade.
7
Essa descrio de Foucault
sobre a sua principal preocupao intelectual ajuda a
clarear o que muitos comentadores viram como
[um complicado distanciamento da anlise do po-
der observada em seus ltimos livros, colocando-o
junto com outros ps-modernos que promovem a
centralizao da discusso referente ao sujeito, (s)
subjetividade(s), integrados ambos na considerao
da questo do corpo e da identidade, no mbito das
cincias sociais.
8
A abordagem foucaultiana das maneiras pelas
quais os indivduos modernos se constituem como
sujeitos e objetos do conhecimento, sua reexo so-
bre a natureza do poder na modernidade e sua ver-
so do nascimento das cincias humanas lanaram
nova luz sobre algumas das principais preocupaes
da sociologia clssica. A exemplo de outros ps-
modernistas, Foucault tentou dar conta das imensas
mudanas na economia, tecnologia e cultura das so-
ciedades capitalistas do sculo XX, elaborando uma
crtica contundente dos valores do iluminismo e de
alguns aspectos da teoria social moderna.
A teoria sociolgica pode lucrar muito valen-
do-se de uma confrontao com o pensamento
ps-moderno em geral. Em Foucault, que no era
especicamente um socilogo, possvel encontrar
pelo menos trs aspectos inspiradores de uma socio-
logia da sociologia, podendo ser utilizados na recon-
gurao do campo, no sentido de criar nele condi-
es capazes de garantir a validade e a relevncia das
atividades dos socilogos. O primeiro deles sua
sugesto implcita de uma abordagem sociolgica
que adote uma viso multiperspectivstica da reali-
dade, combinando as abordagens da losoa, da
histria e da cincia poltica; o segundo, sua propo-
sio de desmantelamento da idia de sociedade
como unidade ou totalidade, chamando a ateno
para o fato de ela se constituir apoiada num amlga-
ma de discursos, instituies e prticas. Isso pode
ajudar os socilogos a refazer suas estratgias de
anlise e a recompor os vocabulrios com base nos
quais as interpretaes do mundo social so por eles
construdas; o terceiro, sua contribuio para que os
socilogos aprendam a suspeitar das operaes de
poder, da racionalidade, do conhecimento e das
normas sociais, das estratgias de construo dos
sujeitos e mesmo das propostas de emancipao
formuladas no mbito da sociedade. A perspectiva
sugerida e praticada por Foucault tem a vantagem
de recusar o hiper-relativismo de muitos dos seus
colegas ps-modernos, na medida em que enfatiza a
concretude das prticas de poder e subjugao. Des-
se modo, pode contribuir tambm para a redeni-
o do papel do socilogo, que, na sua viso, no
deve se dar ao luxo de produzir anlises sociais por
diletantismo, mas tem a obrigao de colaborar,
com seus trabalhos, para os movimentos de resis-
tncia poltica.
9
Embora ligados a uma mesma tradio teri-
co-losca, e partilhando da mesma cultura, Lyo-
tard e Baudrillard, autores que sero comentados a
seguir, tomaro direes que se distanciam da viso
7
FOUCAULT, 1988.
8
Cf. EAGLETON, 1998.
9
Poltica aqui entendida no sentido foucaultiano: lutas de resistncia aos
mecanismos de poder e de subjugao que se encontram pulverizados em
toda a extenso do tecido social.
p g y p
i mpulso n 29 103
foucaultiana dos tempos ps-modernos. Vamos a
eles!
OS PS-MODERNOS EXTREMISTAS:
BAUDRILLARD E LYOTARD
A dramtica armao, feita por Lyotard, de
que as fontes de legitimao da cincia e da losoa
no ocidente, nos moldes estabelecidos pelo ilumi-
nismo, no seriam mais viveis
10
e a provocativa tese
de Baudrillard de a sociologia e seu objeto, o social,
serem obsoletos
11
so duas das citaes mais bom-
bsticas dentro das contribuies da literatura ps-
moderna.
Embora Lyotard e Baudrillard tenham ambos
se preocupado em fornecer abordagens antifunda-
cionistas que questionam a relevncia das formas
tradicionais de teoria sociolgica, cabe aqui lembrar
tambm que h uma diferena signicativa nas tra-
jetrias intelectuais desses dois tericos, sempre
omitidas nos comentrios de suas obras. Enquanto
Baudrillard direciona sua anlise ps-moderna para
concluses lgicas e niilistas, Lyotard permanece
sensvel necessidade de modelos, caracterizado em
seu mais recente trabalho, em que busca uma teoria
no-representacionista de julgamento, que ainda en-
contra lugar para uma crtica poltica e social.
12
Nele,
Lyotard exibe uma sensibilidade s complexidades
da teorizao e da poltica ps-modernas no decl-
nio das metanarrativas, que parece faltar na recente
proposta de abordagens antifundacionistas teoria
na sociologia contempornea.
13
Aspectos da Contribuio de Jean
Baudrillard Teoria do Ps-moderno
Dois aspectos merecem ser destacados no que
concerne teoria do ps-moderno de Baudrillard. O
primeiro deles o fato de que, partindo da teoriza-
o de Marx a respeito do capitalismo, Baudrillard
atua no sentido de atualizar as anlises marxistas
ao que chama de capitalismo tardio, ou capitalismo
de consumo. Para Baudrillard, num sentido marxis-
ta, isto , aquele segundo o qual os tericos somente
podem enfrentar problemas cujas solues estejam
inscritas no prprio conjunto de possibilidades ob-
jetivas histricas, Marx no podia antecipar o que ele
considera o lado escuro da dialtica, revelado so-
mente na ps-modernidade, que determinou uma
evoluo do fetichismo racionalista da mercadoria
no na direo do telos da revoluo, baseada na
emergncia da conscincia do papel revolucionrio
da classe proletria, mas na de uma progressiva se-
parao entre os signos e a produo, e entre os sig-
nos e o valor de uso. Essa ciso entre o regime dos
signos e o da produo, para Baudrillard, determina
o tipo de problema enfrentado na ps-modernida-
de: no mais os ligados dinmica interna da esfera
da produo, mas aqueles relacionados ao desejo e
ao signicado.
Um segundo ponto da contribuio de Bau-
drillard teoria da ps-modernidade difere do pri-
meiro aqui citado, porm, se relaciona com ele. Da
anlise desse regime de separao entre signo e sig-
nicado, o autor infere que alguns problemas ex-
tremamente signicativos sero enfrentados pelas
cincias sociais pautadas na anlise das sociedades
modernas. Para ele, as estratgias de representao
do real advogadas pela sociologia moderna tor-
nam-se inteiramente obsoletas num mundo onde
os indivduos existem unicamente como partes
indiferenciadas no seio das massas e elas mesmas
somente existem como pontos de convergncia
de tudo o que as ondas da mdia as descrevem.
14
Essa descrio dos indivduos na sociedade con-
tempornea corresponder ao que Baudrillard
anuncia como o m do social. Ele arma que as
massas silenciosas so agora a-sociais, resistentes
a qualquer pedagogia, a toda educao socialista. O
que congura a impossibilidade de aplicao dos
procedimentos epistemolgicos ligados tarefa ra-
cionalista da sociologia moderna de construir repre-
sentaes do mundo social numa conjuntura em
que tudo reduzido a um simulacro de si mesmo.
Lyotard e o Fim das
Narrativas Totalizantes
Armando, como Baudrillard, que o marxis-
mo no responde mais s exigncias de uma teoria
10
LYOTARD, 1988.
11
BAUDRILLARD, 1994.
12
LYOTARD, 1996.
13
Cf. SEIDMAN, 1991.
14
BAUDRILLARD, 1983, p. 39.
p g y p
104 i mpulso n 29
de entendimento do contemporneo, Lyotard criti-
ca Marx em sua pretenso de universalidade. Essa
tendncia totalizante caracteriza, segundo o autor, a
modernidade, que ele ir negar, alinhando-se nessa
tarefa com Foucault,
15
Rorty
16
e Feyerabend.
17
As-
sim como eles, Lyotard combate a tendncia da -
losoa de trabalhar no sentido da reconstruo m-
tica da misso da prtica cientca. O que ele co-
loca em discusso se o discurso cientco unica-
mente privilegiado e se necessrio enfrentar a
questo sobre as maneiras pelas quais a relao entre
ele e a verdade de seus referentes se estabelece e se
rma.
De acordo com Lyotard, o discurso autorit-
rio, quer se dena quer no como cientco, no
pode sustentar-se sem referncia a narrativas que
so parte e emergem do mundo real. O cientista
tende a resistir a essas narrativas, classicando-as
como selvagens, primitivas, subdesenvolvidas, atra-
sadas, alienadas, atravessadas pela opinio, costu-
mes, autoridade, preconceito, ideologia.
18
Isso sig-
nica que a narrativa cientca tm como pressu-
posto manter sua legitimidade fora da discusso, en-
quanto promove a construo de regras cada vez
mais rigorosas, objetivando a colocao da legimiti-
dade de outras narrativas sob avaliao constante.
Valendo-se dessa contestao ao carter nico
do discurso cientco, Lyotard defende a emergn-
cia das prticas cientcas ps-modernas, que se ca-
racterizam por serem heterogneas e variadas, com
base no na idia de plausibilidade e validade totali-
zantes, mas numa viso de cincia como jogo, o que
implica uma denio incluindo a incerteza e o aca-
so. Essa proposta, vinculada ao conceito de jogos de
linguagem, elaborado por Wittgenstein, exige tam-
bm a proposio de um novo critrio de legitima-
o, ligado performatividade:
Podemos dizer hoje que o processo de la-
mentao se completou. No h necessida-
de de comear tudo outra vez. A fora de
Wittgenstein est no fato de que ele no op-
tou pelo positivismo que estava sendo de-
senvolvido pelo crculo de Viena, mas deli-
neou em sua investigao sobre os jogos de
linguagem um tipo de legitimao que ba-
seada no desempenho. nisso que se baseia
o mundo ps-moderno.
19
Como vemos pelo exposto acima, Lyotard e
Baudrillard podem ser considerados em termos de
uma diviso de trabalho dentro da teoria ps-mo-
derna-francesa: enquanto Lyotard se concentra es-
pecialmente numa metacrtica da teoria social e da -
losoa moderna, Baudrillard enfatiza as conseqn-
cias das mudanas denidas como caracterizadoras
do estabelecimento da ps-modernidade. Ambos
trabalham com a idia de que, nas sociedades capi-
talistas avanadas, declina o consenso legitimador
das sociedades burguesas modernas, o que os rela-
ciona s contribuies de dois dos mais importantes
comentaristas do ps-modernismo nos Estados
Unidos, Fredric Jameson e Daniel Bell.
A CULTURA NA TEORIA PS-MODERNA:
BELL E JAMESON
Mais especicamente em referncia ao campo
da cultura nos tempos da ps-modernidade, duas
teorias merecem ser salientadas, a de Bell e a de Ja-
meson. Os dois pensadores tm vises divergentes
a respeito do papel da cultura na promoo da de-
sintegrao do consenso normativo nas sociedades
contemporneas. Bell localiza a origem da cultura
ps-moderna no espraiamento das tendncias re-
beldes da esttica moderna, que, de acordo com ele,
anteriormente limitavam-se apenas ao trabalho e s
vidas de grupos seletos de artistas e escritores, mas
a partir dos anos 60 levaram a contracultura para o
cotidiano das massas. Sob a direo das elites cultu-
rais comercialmente orientadas, mais proeminente-
mente pelos meios de comunicao de massa, a or-
dem moral da sociedade burguesa, segundo Bell, es-
taria sendo substituda por uma imoral pornoto-
pia, na qual virtualmente tudo possvel.
Jameson tambm descreve a cultura ps-mo-
derna em termos de uma ruptura normativa nas so-
ciedades capitalistas avanadas, no entanto, ele teo-
riza sobre seu advento mais diretamente como um
15
FOUCAULT, 1973 e 1980.
16
RORTY, 1989.
17
FEYERABEND, 1975 e 1987.
18
LYOTARD, 1984.
19
Ibid., p. 41.
p g y p
i mpulso n 29 105
efeito cultural de transformaes fundamentais no
modo capitalista de produo. Sua anlise dessas
mudanas deriva da teoria de Mandel a respeito do
capitalismo multinacional como a fase mais pura e
abstrata do capitalismo. Visto dessa forma, o carter
fragmentrio e supercial da cultura contempor-
nea ps-moderna o correspondente de um siste-
ma econmico descentralizado, cujos constituintes
so crescentemente difceis de localizar e denir,
uma vez que as fronteiras entre a produo material
e a produo e circulao de signos so objeto de
uma crescente imbricao.
Jameson e Bell, em seus estudos crticos da
ps-modernidade, partilham a idia da necessida-
de de construir narrativas generalizadoras para com-
preender e colaborar na transformao da sociedade
e da cultura ps-modernas. Essa preocupao os di-
ferencia da corrente de tericos franceses, segundo
os quais qualquer tentativa nesse sentido ser tanto
historicamente obsoleta quanto politicamente peri-
gosa. Bell prev e prope o retorno religio que
forneceria uma base para a reconstruo de uma
moral coletiva como a nica maneira de superar as
tendncias perturbadoras na cultura ps-moderna,
embora ele no seja sucientemente preciso a res-
peito da maneira que o religioso ir retornar, nem
sobre como suas prprias tendncias destruidoras
podem ser evitadas.
20
A anlise de Jameson do momento ps-mo-
derno levou-o a enfatizar as transformaes da es-
fera da cultura em suas articulaes com a dinmica
do sistema capitalista. Ele caracteriza a cultura ps-
moderna com base em algumas marcas bsicas, to-
das relacionadas mais recente fase de desenvolvi-
mento do sistema capitalista. A primeira delas a
supercialidade, denotada no carter fundamental-
mente anti-hermenutico dos produtos e teorias ar-
tsticas contemporneos. Essa marca tambm pode
ser encontrada, segundo Jameson,
21
nas transfor-
maes tericas denominadas ps-estruturalistas. A
segunda o enfraquecimento da historicidade, que
produz, tanto no mbito da coletividade quanto no
da subjetividade, sociedades com uma tendncia pa-
tolgica incapacidade de lidar com o tempo pre-
sente e a histria, como tambm fragmentao do
sujeito, substituto ps-moderno do fenmeno mo-
derno da alienao.
22
Uma terceira marca da cultura na ps-moder-
nidade uma nova tecnologia diferenciada daquelas
dos perodos anteriores, pelo fato de no ter ne-
nhum poder visual ou emblemtico representacio-
nal. Essa nova tecnologia signicativa, pois met-
fora apenas do novo estilo de organizao econmi-
ca-poltica-cultural: a emergente rede informacional,
descentrada e global do capitalismo multinacional.
O computador e a televiso so encenaes do tipo
novo de sociedade, para o qual nosso equipamento
perceptivo ainda no est preparado, formado que
foi com base em noes completamente diferentes
de tempo, espao e velocidade.
Fundamentando-se nesse esboo da cultura
contempornea, do momento ps-moderno, Jame-
son estabelece o que deve ser a tarefa da teoria social
ps-moderna: dar nome ao sistema, classic-lo,
produzir uma organizao em meio confuso dos
signos e das novas conjunturas. Com o reconheci-
mento das diculdades enfrentadas pelos indivduos
para denir seu status de sujeito nessa nova ordem,
constituda pelo estabelecimento de uma sociedade
de rede global e da intensicao crescente da con-
gurao multinacional do capital, Jameson prope
como uma sada possvel a esttica poltica do ma-
peamento cognitivo.
23
Essa proposta prev a produ-
o do sentido de localizao individual local e na-
cional, mas que inclua uma compreenso partindo
da percepo do contexto mais prximo e imediato
em referncia ao contexto espacial mais amplo. Para
ele, esse mapeamento cognitivo conditio sine qua
non renovao das estratgias polticas socialistas
na ps-modernidade.
A seguir, passaremos a comentar algumas
propostas e objees metodolgicas levantadas no
mbito da contribuio dos ps-modernos s ma-
neiras de conduzir a pesquisa social ligadas s cin-
cias sociais modernas.
20
BELL, 1980.
21
JAMESON, 1991.
22
Cf. idem, 1984.
23
Ibid. e 1991.
p g y p
106 i mpulso n 29
METODOLOGIAS PROPOSTAS PELOS
AUTORES PS-MODERNOS: A
SCIOSSEMITICA E A DESCONSTRUO
O impacto do ps-modernismo como estra-
tgia metodolgica ca mais evidente na etnograa
contempornea e nas abordagens feministas. Mais
uma vez, tem havido aqui uma reao defensiva por
parte de alguns pesquisadores mais convencional-
mente orientados,
24
chegando a ponto de elogiar,
como mrito de dois livros recentemente publica-
dos, o fato de no darem nem um milmetro de
ateno seduo atualmente exercida pelo ps-
modernismo e pela desconstruo.
25
Outros, to-
davia, tm sido mais abertos a estratgias alternati-
vas de representao do mundo social em seus pr-
prios trabalhos, incorporando, seletivamente, al-
guns temas ps-modernos.
26
Duas principais pro-
postas metodolgicas tm sido discutidas como
estratgias de pesquisa social ps-moderna, a saber,
a sociossemitica e a desconstruo.
Aspectos da Metodologia
Sociossemitica
inegvel o signicado da semitica nas an-
lises ps-modernas. Sua dupla origem, nos escritos
de Saussure e nos de Peirce, determina as diferenas
entre seus aportes, particularmente quanto ao status
do mundo externo. A formulao de Peirce, defen-
sora da incluso do mundo externo dos objetos ma-
teriais na teoria da signicao, , ao nosso ver, mais
utilizvel na anlise concreta dos fenmenos sociais
e culturais do que a de Saussure.
Concordamos com Gottdiener na crtica
maneira pela qual alguns socilogos tm empregado
a semitica como uma estratgia metodolgica ps-
moderna, ligando sua apropriao a vises saussurea-
nas idealistas, seguindo o vis dos ps-estruturalistas
franceses, especialmente o de Baudrillard.
27
Esse au-
tor prope um uso mais conseqente da semitica
na pesquisa social ps-moderna, sugerindo-lhe um
terreno emprico mais rme, mediante a sociosse-
mitica, cujas premissas bsicas apresentamos a se-
guir:
1. Os signos capturam a articulao entre os
universos de signicados e o mundo material. Ps
trs do innito regresso do signicado existe um
mundo real objetivo ou referentes objetivos, como
sugere Peirce, mesmo se o objeto um elemento de
fantasia construdo, como um unicrnio, que existe
parte como um texto, parte como uma imagem.
Isso signica que pelo menos algum deve ter visto
uma imagem do unicrnio, ou alguma descrio le-
xicogrca, de modo a poder saber como um uni-
crnio . Ao contrrio da desconstruo, que lida
com a losoa da conscincia, fazendo uma anlise
da culturalista da cultura, ou, em outras palavras,
criticando representaes, ou imagens mentais, va-
lendo-se de um intrprete independente da cultura,
sem nenhuma necessidade de conexo com o con-
texto social ou com a prtica social, a sociossemi-
tica preocupa-se em abordar a articulao do mental
e do extra-semitico, da dimenso material da vida
cotidiana com as prticas signicativas dentro de
contextos sociais mais amplos.
2. Os sistemas de signicao so estruturas
multinivelares que determinam os signos denotati-
vos e, alm disso, os cdigos particulares nos quais
se inscrevem os valores sociais, ou, no dizer de Bar-
thes, as ideologias conotativas da cultura. Para a so-
ciossemitica, todos os signicados emergem dessa
dimenso mais codicada e mais articulada. A posi-
o epistemolgica principal da sociossemitica a
de que a conotao precede a denotao. Tanto o
mundo objetivo, produzido nele mesmo, quanto o
nosso entendimento dele derivam de ideologias co-
dicadas, que so aspectos constituintes das prticas
sociais.
3. Embora haja o nvel da vida cotidiana, ca-
racterizado pelas complexas conotaes do hiper-
real modos de representao que focalizam a ima-
gem e sua manipulao pela mdia, como arma
Baudrillard , isso no implica que as coisas signi-
cadas no existam. Os signicados so eles mesmos
baseados na experincia do cotidiano, que o en-
contro do mundo material, que d origem e suporte
aos sistemas de valores e cdigos da cultura. Novos
signicados esto sendo constantemente criados
24
Cf. LOFLAND, 1993.
25
Ibid., p. 3.
26
Cf. RICHARDSON, 1990; DENZIN, 1991 e 1992; CLOUGH,
1992; PFOHL, 1992.
27
GOTTDIENER, 1985.
p g y p
i mpulso n 29 107
pelas pessoas por meio de suas interaes sociais e
experincias vividas.
28
4. Os signos circulam em sociedades avana-
das entre o nvel da experincia vivida, o de sua cria-
o atravs dos valores de uso na vida cotidiana, e o
de sua expropriao pelos sistemas hierrquicos de
poder, incluindo seu uso como valor de troca no
mercado de bens de consumo. Assim, os signos no
so apenas expresses simblicas, mas tambm sm-
bolos expressivos, utilizados como ferramentas para
facilitar processos sociais.
A premissa geral da sociossemitica que qual-
quer objeto cultural tanto um objeto de uso em um
determinado sistema social com uma genealogia e
um contexto quanto um componente em um certo
sistema de signicaes. A base da sociossemitica
a polissemia e a necessidade de analisar a articulao
dos objetos culturalmente dados com os vrios siste-
mas de signos, partindo-se do ponto de vista do pro-
dutor e do consumidor de cultura.
29
A anlise sociossemitica aponta para alguns
desenvolvimentos futuros da pesquisa social, pro-
pondo, em primeiro lugar, a considerao da cultura
material com base na anlise da circulao dos sig-
nos, dando ateno, inclusive, aos signicados resi-
duais, e, em segundo, a interpretao da cultura ma-
terial em suas relaes com as aes comunicativas.
Isso signica reconhecer que as aes organizadas
fundadas no uso de objetos como meios de expres-
so caracterizam muito da cultura. Em ltimo lugar,
sugere um aporte metodolgico capaz de dar conta
da polissemia que marca a ps-modernidade, foca-
lizando, inclusive, o papel das relaes de poder na
denio dos signicados que sero legitimados e
dos que sero relegados obscuridade e enviados s
margens do discurso social.
Aspectos da Metodologia
da Desconstruo
Outra proposta metodolgica ligada ao ps-
modernismo a desconstruo. Alguns autores
tm procurado demonstrar como ela pode ser em-
pregada enquanto estratgia interpretativa de pes-
quisa sobre textos culturais. De acordo com Derri-
da e outros pensadores ps-estruturalistas, a deni-
o de textos culturais inclui tratados cientcos e
polticos, bem como produes artsticas e literrias,
sendo o critrio para transform-los em objetos da
desconstruo o da representao cientca equivo-
cada de seus contedos como nicos e xos, supri-
mindo, por isso, outras possibilidades de interpreta-
o.
A aplicao da desconstruo em disciplinas
acadmicas alm da losoa tem obedecido duas li-
nhas gerais. A primeira, liderada pelos crticos lite-
rrios da Yale, Geoffrey Hartman e J. Hillis Miller,
defende uma abordagem interminavelmente aberta
e innita de leitura de textos, celebrando o impulso
ldico dionisaco do pensamento de Nietzsche. A
segunda apropriao, defendida mais enfaticamente
pelo terico de literatura britnico Christopher
Norris, critica a abordagem ldica pelo fato de que,
nela, qualquer coisa cabe, propondo em seu lugar
uma maneira mais rigorosa de desconstruo de
textos que identique um nmero limitado de in-
terpretaes alternativas.
30
O desconstrucionismo, assim como o ps-mo-
dernismo e o modernismo, um termo complexo.
um conceito intimamente ligado s anlises los-
cas de Jacques Derrida,
31
cujo trabalho consiste,
em certo sentido, numa continuao do ataque de
Husserl crise do empiricismo no Ocidente. Tam-
bm inuenciado pela teoria estruturalista da lin-
guagem elaborada por Saussurre, na investida radical
de Nietzsche aos sistemas objetivos de verdade e do
conhecimento, na crtica de Freud ao sujeito auto-
consciente e na de Heidegger metafsica ocidental.
Metodologicamente, o desconstrucionismo
dirige-se interrogao de textos. Ele envolve a ten-
tativa de escavar e revelar os signicados implcitos,
os vieses e os preconceitos que estruturam a manei-
ra pela qual um texto conceitua sua relao com o
28
Cf. Ibid.
29
Gottdiener oferece um exemplo das vantagens das estratgias de pes-
quisa semitica baseadas em Peirce, apresentando o que ele chama de uma
anlise sociossemitica da Disneylndia, ao relacionar a construo do seu
design e a escolha dos seus temas biograa de Walt Disney e aos cdigos
de consumo dominantes da cultura de massa dos Estados Unidos (1982).
30
Um bom exemplo da aplicao da concepo de Norris, acima citada,
a leitura de Denzin do lme The Morning After, bem como o seu ltimo
trabalho, em que associa a anlise desconstrucionista com os estudos cul-
turais. Cf. DENZIN, 1992.
31
DERRIDA, 1976; e DERRIDA et al., 1981.
p g y p
108 i mpulso n 29
que ele descreve. Isso requer que os conceitos tra-
dicionais, a teoria e a compreenso que cercam um
texto sejam revelados, incluindo a suposio de que
a inteno de um autor pode ser facilmente deter-
minada.
As estratgias-chaves da desconstruo, ou
do desconstrucionismo, incluem: 1. romper com as
frmulas que fazem corresponder palavras escritas a
palavras faladas, palavras faladas a experincias men-
tais, e a voz ao pensamento; 2. demonstrar a inde-
terminao fundamental do signicado; 3. indicar a
produo textual do sujeito como um sistema de di-
ferenas; 4. atacar a capacidade mimtica de um tex-
to em relao representao da experincia; 5. de-
senvolver o que Derrida chama de gramatologia,
uma cincia do estudo da escrita, da fala e dos tex-
tos, que possibilite a reescrita da histria da escrita,
desenvolvendo uma nova teoria da escrita e um
conjunto de prticas desconstrutivistas gramatol-
gicas.
Como foi visto anteriormente, o pressuposto
bsico que precisa ser aceito para a desconstruo
ser utilizada na pesquisa social que a cultura, assim
como as relaes sociais, possam ser encaradas
como textos. Esse princpio se articula desiluso
presente nos autores ps-modernos com a cincia,
concebida como um esforo no sentido de explicar
fenmenos subordinando-os a leis gerais. Um dos
problemas que precisam ser enfrentados pelos de-
fensores dessa proposta de aplicao do desconstru-
cionismo ao entendimento do social como ligar os
textos s experincias da vida cotidiana dos indiv-
duos e aos contextos sociais dentro dos quais aque-
les se tecem. Da capacidade de superar a distncia
entre os textos lidos e as narrativas das experincias,
do substrato que lhes d origem dependem a utili-
dade e o sucesso do empreendimento desconstru-
cionista em termos de pesquisa social.
O IMPACTO DAS PROPOSTAS
METODOLGICAS PS-MODERNAS
SOBRE A PRTICA DA ETNOGRAFIA
Em termos metodolgicos, tem sido signi-
cativo o impacto do ps-modernismo sobre as
abordagens etnogrcas na antropologia e na socio-
logia. Em nenhuma esfera, nas cincias sociais, a in-
troduo da problematizao ps-modernista teve
efeitos mais profundos do que na reavaliao de
como as etnograas so produzidas. Nessa rea, a
reviso ps-estruturalista das maneiras convencio-
nais pelas quais os autores e textos tm sido deni-
dos tem originado vrias novas formas de represen-
tar os sujeitos da pesquisa de campo.
Convivendo com a maneira tradicional de
fazer etnograa tanto na antropologia quanto na so-
ciologia,
32
pelo menos trs tipos gerais de etnograa
ps-moderna tm ganhado signicativa visibilidade:
1. o trabalho de campo ps-moderno, que enfatiza
a problemtica do status do etngrafo como autor;
2. a etnograa radical, que alarga o enfoque da abor-
dagem etnogrca no sentido de incluir lmes, pro-
gramas de televiso, co, sonhos e outras fontes
no convencionais de dados; 3. a etnograa ps-
moderna feminista, que desconstri o vis patriarcal
na autoridade etnogrca.
O Trabalho de Campo Ps-moderno
Para classicar as maneiras ps-modernas de
fazer trabalhos etnogrcos de campo, so usados
conceitos como etnograa interpretativa, experimen-
tal, polifnica, epifnica e minimalista.
33
O que se so-
bressai em todas essas modalidades a viso do au-
tor como problemtica, sendo atacada o que os et-
ngrafos consideram como a falcia do trabalho de
campo tradicional, a inuncia autoritria do etn-
grafo sobre o relato e a interpretao dos dados, me-
diante a tentativa de reduzir a inuncia do pesqui-
sador pela criao de oportunidades para que os na-
tivos falem por eles mesmos tanto quanto possvel.
O objetivo produzir uma polifonia de vozes, ao
invs de ouvir uma nica voz ou poucas, concebi-
da(s) como representativas do universo. Outra ino-
vao no trabalho de campo ps-moderno a ma-
neira de escrever os relatos dos contatos com os na-
tivos. Nos pontos obscuros, em vez de apresentar
uma interpretao, o autor levanta uma srie de ques-
tes, convidando o leitor a participar do processo in-
terpretativo por meio da construo de eventuais res-
32
MANNING, 1989 arma que muitos etngrafos no leram os ps-
estruturalistas franceses, o que permite etnograa tradicional continuar
sendo um modo proeminente de trabalho de campo.
33
Cf. MARCUS & FISCHER, 1986; e DENZIN, 1989.
p g y p
i mpulso n 29 109
postas, capazes de possibilitar uma compreenso pes-
soal do contato com os informantes.
Etnograas Radicais ou Multitextuais
Um segundo grupo de etnograas ps-mo-
dernas estendeu a noo de polifonia aos modos e
variedades de dados usados em abordagens etnogr-
cas. J que a vida cotidiana um texto para ser ana-
lisado como qualquer outro,
34
o objeto da pesquisa
etnogrca pode incluir uma grande multiplicidade
de textos. Na antropologia, essa viso tem possibi-
litado o uso de poemas, lmes e romances.
35
As transformaes acima indicadas so mais
uma expanso das preocupaes j existentes nos
etngrafos tradicionais do que pontos de partida in-
teiramente novos em relao ao campo. A despeito
de suas diferenas internas, os etngrafos clssicos,
embora bastante conantes tanto na legitimidade
quanto na viabilidade de seu trabalho, j esboavam
uma certa compreenso dos limites e problemas
inerentes aos seus mtodos.
36
As questes morais levantadas pelos etngra-
fos ps-modernos so igualmente objeto de con-
trovrsia, na medida em que eles questionam as ma-
neiras pelas quais os etngrafos tm tradicional-
mente legitimado seus empreendimentos. Se a et-
nograa no pode mais justicar sua ao de
aumentar a compreenso e a cooperao entre dife-
rentes grupos e culturas, por que continuar com
ela? Embora isso no se constitua numa questo
importante para muitos ps-modernistas, um
ponto crucial para aqueles que querem continuar fa-
zendo etnograas, mesmo que, eventualmente, nos
moldes ps-modernos.
CONCLUSO
Nesse momento nal do texto, gostaramos
de tecer alguns comentrios rpidos sobre as impli-
caes polticas da nfase na heterogeneidade e na
diferena, presente tanto na teorizao propriamen-
te dita quanto nas metodologias ps-modernas. O
argumento principal em muito da recente literatura
ps-moderna sugere que o conceito marxista de he-
gemonia est obsoleto, j que a abrangente frag-
mentao nas culturas contemporneas e nas nor-
mas sociais impediria a possibilidade da dominao
ideolgica por um s grupo ou classe. Caberia, por-
tanto, valendo-se do reconhecimento da impossibi-
lidade de pensar o mundo com base em esquemas
de polarizao binria, a exemplo da dicotomia mar-
xista das classes sociais, propor anlises da sociedade
que privilegiem uma considerao das relaes e dos
arranjos sociais fundada na heterogeneidade e na
fragmentao.
Chamamos aqui a ateno dos estudiosos da
sociedade para o fato de que to importante quanto
reconhecer esses princpios gerais como os prevale-
centes na conjuntura social atual pensar nas pos-
sibilidades abertas pela disseminao dessas idias
em relao a esse momento ps-moderno, em
termos de sua eventual instrumentalizao pelos
grupos de interesse e de poder. Concordamos com
Goldman e Papson, que questionam a soluo da
heterogeneidade normativa e do culto ao pluralismo
poltico como propcia a produzir nos cientistas so-
ciais, e nos indivduos, em geral, expostos ao discur-
so deles, uma atitude ingnua e, eventualmente, en-
ganosa.
37
Para dar suporte a essa idia, esses autores fa-
zem uma anlise de como a hegemonizao do dis-
curso da heterogeneidade e do pluralismo pode ser
extremamente til, por exemplo, esfera do consu-
mo nas sociedades capitalistas ocidentais.
38
De acor-
do com eles, a condio ps-moderna de ambigi-
dade radical , inclusive, empregada por publicitrios
no apenas para vender seus produtos, mas, funda-
mentalmente, para reproduzir a ideologia consu-
mista do capitalismo contemporneo.
Goldman e Papson demonstram seu argu-
mento por meio de avaliao detalhada de um co-
mercial do tnis Reebok, veiculado pela televiso no
ano de 1988.
39
O comercial, carro-chefe da campa-
nha da marca citada para aquela temporada, orga-
nizado, como demonstram esses autores, em ter-
34
BROWN, 1986.
35
Cf. MARCUS & FISCHER, 1986.
36
A prpria etnograa pr-ps-moderna colocava dvidas tanto de
natureza moral quanto de natureza epistemolgica. Geertz, por exemplo,
arma: os antroplogos adicionaram preocupao com o isto
decente a questo isto possvel? (GEERTZ, 1988, p. 135).
37
GOLDMAN & PAPSON, 1991 e 1994.
38
Ibid.
39
Idem, 1994.
p g y p
110 i mpulso n 29
mos da esttica ps-moderna do pastiche, enfati-
zando a morte dos afetos, do desejo, da idia de co-
letividade e da esquizofrenia lingstica, alm da
retirada dos valores e de qualquer proposta de sen-
tido intencional dos textos culturais. Eles descre-
vem o comercial como um metacomercial, j que ele
transforma a atitude cptica e cnica do pblico em
uma mercadoria signicativa.
Embora extremo, esse exemplo representa o
modo pelo qual os publicitrios atualmente se apro-
priam das crticas ps-modernas e as convertem, em
seus comerciais, num estilo esttico, com o objetivo
de vender seus produtos. Essa nova estratgia pode
ser situada historicamente como uma resposta in-
tensicao da competio pela preferncia dos
consumidores num ambiente de prevalecimento
crescente da cultura do consumo contempornea, o
que exige dos publicitrios uma contnua produo
da diferenciao de suas mercadorias, em um campo
dos signos comerciais crescentemente povoado e
diversicado.
No sentido de avaliar alguns pontos da pro-
posta dos tericos da ps-modernidade, cabe aqui
mencionar que uma das decincias da semitica
ps-moderna e das abordagens desconstrucionistas
a falha delas em conectar a proliferao de imagens
e o simulacro na cultura de massas com os proces-
sos econmico-polticos de produo de mercado-
rias que lhe subjazem. Concentrando suas anlises
somente no mundo hiper-real dos signos e dos sig-
nicantes, essas abordagens proclamam, equivoca-
damente, o m da produo nas sociedades con-
temporneas. Agindo desse modo, os mtodos de
pesquisa ps-modernos reproduzem, no intencio-
nalmente, o empiricismo ingnuo que eles criticam
nos mtodos de pesquisas positivistas e impedem a
possibilidade de uma crtica social e poltica.
Partilhamos com Mills a convico de que
muitas de nossas categorias de anlise derivam da
grande transio histrica da Idade Mdia para a
Idade Moderna e no so mais generalizveis para
os nossos dias.
40
Todavia, isso no signica dizer
que os socilogos precisam escolher entre uma so-
ciologia ps-moderna e uma sociologia do ps-mo-
derno. Ao nosso ver, qualquer abordagem da natu-
reza da sociedade e da cultura contemporneas deve
ser tanto uma quanto outra, estimulando a forma-
o de novas estratgias analticas informadas pelas
proposies ps-modernas, como a semitica e a
desconstruo, bem como a reproduo de estrat-
gias tradicionais e a considerao de teorizaes an-
teriores, no que elas se revelarem ecientes.
Uma compreenso das perspectivas ps-mo-
dernas tem vital importncia para futuros projetos
de pesquisa social contempornea, inclusive em seus
pontos de contato e de continuidade com a tradio
nas cincias sociais, em geral, e na sociologia, em
particular, e baseada em uma viso crtica da relao
entre as mudanas ocorridas no campo intelectual e
de sua articulao com o estado do mundo real.
Nesse sentido, um dos pontos a serem considera-
dos com bastante cuidado a recusa dos autores
ps-modernos em incluir, em sua proposta de leitu-
ra das culturas como textos, a necessidade de ir alm
dos mesmos, incluindo suas possveis bases no m-
bito do mundo da produo. Mesmo nos shopping
centers contemporneos, que alguns tericos identi-
cam como emblemticos do hiper-espao ps-
moderno, a sociedade do espetculo subsidiada
pelo pagamento de salrios abaixo do mercado aos
proletrios dos servios urbanos. Consideramos
no menos importante do que o reconhecimento
das mudanas que caracterizam o nosso tempo
como diferente de outros anteriores, o que exige dos
cientistas sociais um investimento ousado num es-
foro de teorizao e explicao do mundo contem-
porneo, a tarefa de considerar a temtica da desi-
gualdade e da explorao na congurao dos atuais
espaos pblicos de gloricao e de reproduo do
sistema de mercadorias-signos-valores.
Embora uma parte signicativa da crtica dos
ps-modernos sociologia moderna possa ser con-
siderada vlida, argumentamos aqui que ela apresen-
ta com freqncia um retrato excessivamente redu-
tor das teorias de pensadores como Marx, Weber,
Durkheim e Simmel. Se lidos corretamente, pos-
svel encontrar tambm nesses tericos o reconhe-
cimento das limitaes da representao do mundo
social, a viso da existncia social como resultado
precrio de foras integradoras e fragmentadoras, e
40
MILLS, 1961.
p g y p
i mpulso n 29 111
a percepo dos sujeitos como possuidores de uma
limitada racionalidade, e parcialmente integrados e
auto-articulados, dependendo sempre de condies
histricas mutveis.
Falhando em reconhecer esses aspectos de
sua prpria proposta, no af de marcar a originali-
dade e a independncia de suas abordagens de quais-
quer outras que as precederam sendo nesse ponto
muito mais modernos do que ps-modernos , os
crticos da teoria social moderna, os ps-modernis-
tas pecam por confundir alguns elementos essencia-
listas das abordagens fundantes com o todo da teo-
rizao clssica do social.
Assim como possvel um olhar crtico sobre
a contribuio dos socilogos clssicos, determina-
dos e limitados pelo tempo em que escreveram,
nosso olhar sobre o momento atual do ps-moder-
no pois podemos observar as transformaes das
tendncias tericas assim classicadas indica que a
teoria ps-moderna pode, ela mesma, ser vista
como uma abordagem especicamente histrica,
representando uma reao ao m da era ps-guerra
ou uma produo terica inuenciada por uma viso
pessimista dos regimes conservadores que atualmen-
te governam as superpotncias do Ocidente.
Ao nosso ver, uma posio sensata no pode
se eximir de considerar as objees propostas pelos
tericos da ps-modernidade tanto teoria social
moderna quanto s metodologias de pesquisa social
tradicionais delas resultantes. Ao mesmo tempo, no
lugar de adotar uma viso excessivamente fragmen-
tada e a-histrica, ela implica assumir a tarefa de pro-
por a construo de uma teoria social contempornea
compreensiva, que descreveria simultaneamente as
estruturas institucionais centrais da sociedade e ela-
boraria diacronicamente seus modelos e processos
centrais de desenvolvimento.
Essa teorizao sobre o tipo de sociedade glo-
bal seria, a um s tempo, sensvel s preocupaes
ps-modernas em relao aos preconceitos clssicos
do iluminismo e capaz de perceber as eventuais pos-
sibilidades de identicar as continuidades em ter-
mos de organizao dos diversos arranjos sociais.
Alm de permitir a considerao das novas congu-
raes da tecnologia, da cultura e das experincias
sociais, ela permitiria o resgate do que, na teoria so-
cial clssica, permanece vlido no somente pelas
anidades eletivas dos pesquisadores da sociedade
com essa ou aquela corrente terica, mas tambm
porque se revelam ecazes na construo de um en-
tendimento claro sobre o mundo contemporneo,
inclusive em referncia aspirao por mudanas
sociais eventualmente consideradas necessrias, o
que d teoria social sua vitalidade e signicado.
Referncias Bibliogrcas
ANDERSON, P. As Origens da Ps-modernidade.Trad. Marcos Penchel. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999.
ALEXANDER, J. Sociological theory and the claim to reason: why the end is not in sight. Soc.Theory, 9:147-153, 1991.
BAUDRILLARD, J. In the Shadows of the Silent Majorities. Trad. Charles Levin. New York: Semiotext(e), 1983.
__________. Sombra das Maiorias Silenciosas. So Paulo: Editora Brasiliense, 1994.
BELL, D. (ed.). The Return of the Sacred? The Winding Passage. Cambridge: Abt Books, 1980.
__________. The Cultural Contradictions of Capitalism. New York: Basic Books, 1976.
__________.The Coming of Post-industrial Society. New York: Basic Books, 1973.
BEST, S. Politics of Historical Vision. New York: Guilford Press, 1994.
BROWN, R.H. Society as Text: essays on rethoric,reason and reality. Chicago: University of Chicago Press, 1986.
CALHOUN, C. The infrastructure of Modernity. In: HAFERKAMP, H. & SMELSER, N. (eds.). Social Change and Modernity.
Berkely/Los Angeles: University of California Press, 1992.
CLOUGH, P. T. The End(s) of Etnography. Newburg Park: Sage,1992.
COLLINS, R. Cumulation and anti-cumulation in sociology. American Sociological Review, 55: 462-463, 1990.
p g y p
112 i mpulso n 29
DENZIN, N. K. Symbolic Interactionism and Cultural Studies. Oxford: Basil Blackwell, 1992.
__________.The Images of Postmodernism: social theory and and contemporary cinema. London: Sage, 1991.
__________. Interpretive Interactionismo. Newbury Park, CA: Sage, 1989.
DERRIDA, J. Positions. Trad. Alan Bass. Chicago: University of Chicago Press, 1981.
__________. Of Grammatology. Trad. Gayatri Spivak. Baltimore: John Hopkins University Press, 1976.
EAGLETON, T. As Iluses do Ps-modernismo. Trad. Elizabeth Barbosa. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998.
FEYERABEND, P. Farewell to Reason. London: Verso, 1987.
__________.Against Method. London: Verso, 1975.
FOUCAULT, M. The Care of the Self. Trad. Robert Huley. New York: Vintage Books, 1988.
__________. Power Knowledge: selected interviews and other writtings. Trad. Colin Gordon et al. New York: Pantheon
Books, 1980.
__________. The Order of Things: an archaelogy of the human sciences. New York: Vintage Books, 1973.
GEERTZ, C. Works and Lives: the anthropologist as author. Stanford: Stanford University Press, 1988.
GIDDENS, A. The Consequences of Modernity. Stanford: Stanford University Press, 1990.
GOLDMAN, R. & PAPSON, S. The postmodernism that failed. In: DICKENS, D. & FONTANA, A. (eds.). Postmodern and Social
Inquiry. London: The Guilford Press, 1994.
__________. Levis and knowing wink. Current Perspectives in Social Theory, 11: 69-95, 1991.
GOTTDIENER, M. Hegemony and mass culture: a semiotic approach.American Jounal of Sociology, 90: 979-990, 1985.
__________.Disneyland: a utopian urban space. Urban Life.11(2): 1390162, 1982.
JAMESON, F. Postmodernism. Durham: Duke University Press, 1991.
__________. Postmodernism: or the cultural logic of late capitalism. Left Review, 146: 53-92, 1984.
LOFLAND, L. Fightining the good ght: again. Contemporary Sociology, 22: 1-3, 1993.
LYOTARD, J-F. A Condio Ps-Moderna.Rio de Janeiro: Jos Olympio, 1996.
__________. The Differend: phrases in dispute. Trad. George van den Abbeele. Minneapolis: Univ. of Minnesota Press,
1988.
__________. The Postmodern Condition: a report on knowledge. Trad. Geoffrey Bennington & Brian Massumi. Minneapolis:
University of Minnesota Press, 1984.
MANNING, P.Strands in the Postmodernist Rope: oxymorons int he desert. Trabalho apresentado no Congresso da Soci-
edade para o Estudo da Interao Simblica, realizado em So Francisco, no perodo de 07-09 de agosto/1989.
__________.Semiotics and Fieldwork. Newbury Park: Sage, 1987.
MARCUS, G.E. & FISCHER, M.J. Anthropology as Cultural Critique: an experimental moment in the human sciences. Chicago:
Chicago University Press, 1986.
MILLS, C. W. The Sociological Imagination. New York: Grove Press, 1961.
__________.White Collar. New York: Oxford University Press, 1951.
PFOHL, S. Death at the Parasite Caf. New York: St. Martins Press, 1992.
RICHARDSON, L. Writting Strategies: reaching diverse audiences. Newbury Park: Sage, 1990.
RORTY, R. Contingency,Iron and Solidarity. Cambridge, England: Cambridge University Press, 1989
SEIDMAN, S. The End of Sociological Theory: the postmodern hope. Sociological Theory,9:131-146, 1991.
p g y p
i mpulso n 29 113
TEORA TRADICIONAL
Y TEORA CRTICA DE
LA CULTURA
Traditional and Critical Theories of Culture
Resumen Sobre la base de la distincin realizada por Horkheimer entre la teora tra-
dicional y la teora crtica, este artculo propone una crtica a las teoras contem-
porneas que pretenden vincular la cultura con atributos de tipo antropolgico,
econmico y humanista. De la mano de los estudios culturales y de las teoras pos-
coloniales, el autor propone avanzar hacia una economa poltica de la cultura que
pueda dar cuenta de la complejidad de los fenmenos culturales en tiempos de la glo-
balizacin.
Palabras-clave GLOBALIZACIN TEORA CRTICA.
Abstract Based in Horkheimers distinction between traditional theory and cri-
tical theory, the present article proposes a critique on contemporary theories that in-
tend to link culture to anthropological, economical and humanist attributes. Based
on cultural studies and postcolonial theories, the author proposes a political eco-
nomy of culture which can absorb the complexity of cultural phenomena in times
of globalization.
Keywords GLOBALIZATION CRITICAL THEORY.
SANTIAGO CASTRO-GMEZ
Professor de losoa social na
Universidad Javeriana de Bogota
scastro@javercol.javeriana.edu.co
p g y p
114 i mpulso n 29
n su famoso artculo programtico de 1937, Horkheimer
estableca una distincin entre dos concepciones diferentes
de teora.
1
La primera de ellas hace referencia a un con-
junto de proposiciones cuya validez radica en su correspon-
dencia con un objeto ya constitudo previamente al acto de
su representacin. Esta separacin radical entre el sujeto y el
objeto del conocimiento convierte a la teora en una activi-
dad pura del pensamiento, y al terico en un espectador
desinteresado que se limita a describir al mundo tal como es. Tal idea de
teora, que considera a su objeto de estudio como un conjunto de factici-
dades, y al sujeto como un elemento pasivo en el acto del conocimiento, es
identicada por Horkheimer como tradicional. A ella opone un segundo
tipo de conceptualizacin que denomina teora crtica. A diferencia de la
teora tradicional, la teora crtica considera que tanto la ciencia como la rea-
lidad estudiada por sta, son un producto de la praxis social, lo cual signica
que el sujeto y el objeto del conocimiento se encuentran preformados social-
mente. Ni el objeto se encuentra ah, sin ms, colocado frente a nosotros y
esperando ser aprehendido, ni el sujeto es un simple notario de la realidad.
Ambos, sujeto y objeto, son resultado de procesos sociales muy complejos,
por lo que la tarea fundamental de la teora crtica es reexionar sobre las es-
tructuras desde las que, tanto la realidad social como las teoras que buscan
dar cuenta de ella, son construidas, incluyendo, por supuesto, a la misma teo-
ra crtica.
Pienso que, aunque concebido como herramienta de lucha contra el
positivismo de su poca, el programa inicial de Horkheimer podra resultar
muy til para dibujar un mapa de las teoras modernas sobre la cultura. De-
fender la tesis de que tales teoras pueden ser divididas en dos grandes gru-
pos: aquellas que ven a la cultura como una facticidad natural, es decir, que
se acercan a su objeto como si este se encontrase anclado en la naturaleza
humana; y aquellas que, por el contrario, consideran a la cultura como un
mbito estructurado por la praxis, es decir, como una construccin social de
la que hace parte la misma prctica terica. Al primer grupo lo llamar, sigui-
endo a Horkheimer, teora tradicional, y al segundo teora crtica de la
cultura. Identicar algunos elementos caractersticos de la teora tradicio-
nal y luego procurar contrastarlos con el concepto de Geocultura desar-
rollado por la llamada teora poscolonial. Me propongo con ello presentar al
poscolonialismo como una teora crtica de la cultura en tiempos de globali-
zacin o, parodiando la frase de Jameson, como una crtica cultural del ca-
pitalismo tardo.
LA METAFSICA DEL SUJETO Y EL CONCEPTO
TRADICIONAL DE CULTURA
Una consideracin de la teora tradicional de la cultura deber comen-
zar con la siguiente reexin epistemolgica: la cultura se convierte en ob-
1
HORKHEIMER, 1974, pp. 223-271.
EE
E E
p g y p
i mpulso n 29 115
jeto de conocimiento nicamente a partir del mo-
mento en que el Hombre se ha constitudo como
sujeto de la historia. Los conceptos de cultu-
ra, historia, sujeto y Hombre se remiten a
una misma raz genealgica que, cronolgicamente
hablando, emerge y se consolida entre los siglos XVI
y XIX. Antes de esta poca no era pensable algo as
como la cultura, sencillamente porque no se haba
congurado todava la episteme que hizo posible la
formacin del concepto. Si nos limitamos nica-
mente al tipo de teoras surgidas en Occidente, ve-
remos que ni en Grecia, ni en Roma, ni en la edad
media cristiana fue posible el surgimiento de una teo-
ra de la cultura en el sentido que aqu llamar tradi-
cional, y mucho menos en su sentido crtico.
Esto debido a que la moral, la poltica y el conoci-
miento eran vistos como una simple prolongacin
de las leyes del cosmos, es decir, como un conjunto
de instituciones naturales que se encuentran ordena-
das hacia el cumplimiento de un n (telos) cosmo-
lgicamente predeterminado.
Para Aristteles, la verdad, la bondad y la jus-
ticia se tornan imposibles sin considerar los prime-
ros principios que rigen el cosmos, puesto que la
ciencia, la legislacin y la moral cumplen el prop-
sito de hacer maniesto al ser en tanto que ser, es
decir, al orden natural tal como en realidad es y no
como aparece. La reexin sobre la vida social de
los hombres no es vista por Aristteles como per-
teneciente a las ciencias tericas, que versan ni-
camente sobre los primeros principios de las co-
sas, sino a un tipo de saberes de menor dignidad lla-
mados ciencias prcticas. La losofa primera o
Metafsica se encuentra en el pinculo de la escala de
los saberes, puesto que a ella le corresponde estable-
cer las nociones ms universales. El objeto de la Me-
tafsica son las leyes inmutables que rigen el cosmos,
y por eso es la ciencia ms abstracta, ms exacta y
ms general de todas. En cambio, ciencias como la
poltica y la economia derivan sus conceptos gene-
rales de la metafsica porque, a nivel ontolgico, su
objeto de estudio (la vida humana) no posee auto-
noma ninguna frente a las leyes del cosmos. Igual
ocurre en el campo de la moral y la legislacin.
Como las leyes de la vida social tienen un funda-
mento cosmolgico, independiente de la voluntad
humana, la sabidura del buen gobernante consiste
precisamente en reconocer ese fundamento y en ha-
cer que las leyes de la polis se ordenen al cumplimi-
ento de las disposiciones naturales de los hom-
bres.
Con todo esto quiero decir lo siguiente: en un
ordenamiento epistemolgico en el cual la moral, la
poltica y el conocimiento son pensados como de-
pendientes de las leyes que rigen el cosmos, no re-
sulta posible el surgimiento de un objeto de cono-
cimiento llamado la cultura. Slo cuando la vida
humana en su conjunto es vista como un proceso
dinmico regido por leyes creadas por el hombre mis-
mo, y que no son, por tanto, un simple corolario de
las leyes naturales, es cuando puede hablarse de
cultura tanto en el sentido tradicional como en
el sentido crtico del concepto. La idea moderna
de Hombre, entendido como un ser que se hace
a s mismo en la historia, es decir, que crea valores
culturales, slo puede aparecer en el vaco dejado
por la desaparicin de la cosmologa clsica.
Es, entonces, durante los siglos XVIII y XIX
cuando empieza a consolidarse la idea de que la cul-
tura es un mbito de valores especcamente huma-
no, que se contrapone a la naturaleza. La cultura
constituye aquella esfera de valores morales, religio-
sos, polticos, loscos y tecnolgicos que le per-
miten al hombre humanizarse, es decir, escapar a
la tirana del estado de naturaleza. Si, como dec-
amos antes, la metafsica del cosmos hizo de la vida
social un elemento puramente derivativo, cuyas di-
nmicas reejaban las leyes generales del universo,
ahora el hombre se ve a s mismo como productor de
sus propias formas de organizacin poltica y social.
Es decir, la naturaleza deja de ser vista como un m-
bito al cual el hombre poda recurrir para extraer lec-
ciones morales o para contemplar la gloria divina, y
pasa a ser vista como un objeto que debe ser pu-
esto al servicio de los intereses humanos. La meta-
fsica del cosmos es sustituda por la metafsica de lo
humano. El mundo del que hablan pensadores
modernos como Bacon, Descartes y Kant ya no es
el cosmos greco-romano-medieval, en donde la
vida social era tenida como un simple reejo de
leyes predeterminadas, sino un mundo creado por el
hombre a su imagen y semejanza.
p g y p
116 i mpulso n 29
Pero si el mundo es una construccin huma-
na y no el reejo inexorable de la lex aeterna, enton-
ces la vida social queda revestida de una dimensin
hasta entonces impensada: la temporalidad. Ni Pla-
tn, ni Aristteles, ni Toms de Aquino considera-
ron el tiempo como un eje a partir del cual la accin
humana podra adquirir sentido, ya que ste vena
predeterminado cosmolgicamente. Como en las
manos del hombre no estaba la creacin de algo
nuevo, el tiempo no era otra cosa que la actuali-
zacin de potencialidades establecidas de antemano
y para siempre. Pero cuando el hombre es pensado
como arquitecto nico de su propio destino, enton-
ces puede decirse que la humanidad est en la capa-
cidad de humanizarse, es decir, de ir constituyn-
dose a s misma en el tiempo mediante la creacin
de un mundo enteramente propio: la cultura. La pri-
mera caracterstica del concepto tradicional de cul-
tura es, entonces, la idea de la humanizacin paula-
tina de la especie como un proceso que ocurre en el
tiempo, en la historia, y que no viene ya determina-
do desde afuera por leyes cosmolgicas.
Ahora bien, si mediante la cultura el hombre
se va liberando paulatinamente de las cadenas que le
impone la naturaleza, entonces las formas culturales
adquirirn tambin un grado cada vez mayor de per-
feccin, en la medida en que permitan el despliegue
del espritu, es decir, el ejercicio de la libertad hu-
mana. Para Hegel, las formas culturales que se acer-
quen ms a la naturaleza tiene un grado de dignidad
mucho menor que aquellas que hacen abstraccin
de la misma. Esto debido a que la naturaleza perte-
nece a la esfera de la necesidad, mientras que el es-
pritu es el mbito propio de la libertad. As, por
ejemplo, las religiones que practican cultos natura-
listas son inferiores al cristianismo, debido a que
ste posee un concepto ms abstracto de la divini-
dad (Dios es espritu). Igual ocurre con las manifes-
taciones artsticas: aquellas que imitan a la naturaleza
o que giran en torno a lo puramente gurativo son
inferiores a aquellas que privilegian las formas puras,
debido a que stas ltimas han logrado escapar de la
tirana de los contenidos materiales, que no son ap-
tos para la libre expresin del espritu. De la mano
de Hegel encontramos, entonces, una segunda ca-
racterstica del concepto tradicional de cultura: el
privilegio de la llamada cultura alta sobre la cul-
tura popular. Las formas propiamente letradas o,
como dira Weber, racionalizadas de la cultura
(codicacin musical, arte secularizado, literatura,
losofa, historiografa) son ms elevadas desde el
punto de vista fenomenolgico, puesto que a travs
de ellas el hombre puede volver sobre s mismo y re-
conocer su propia vocacin espiritual. Los grupos
humanos que no han logrado acceder a la reexivi-
dad de la cultura alta permanecen anclados en la
minora de edad y se hallan necesitados de la ilu-
minacin proveniente de los letrados, y particular-
mente de los lsofos. Ellos, los letrados y lso-
fos, son los que pueden elevarse sobre todas las con-
tingencias culturales y aprehender a su objeto desde
afuera, con la misma mirada de un Deus absconditus
que se digna a contemplar el mundo.
Pero si el despliegue de la cultura es fruto de
un proceso histrico, entonces la libertad deber
objetivarse tambin, y de manera especial, en la es-
fera de la vida poltica. Un pueblo que ha logrado la
mayora de edad es aquel que no solamente ha de-
sarrollado una cultura alta, esto es, letrada, sino
que ha logrado constituirse polticamente como
Estado nacional. Para Hegel, el Estado es el ver-
dadero portador de la cultura, del espiritu nacional
de un pueblo. Solamente en el Estado la libertad se
hace objetiva, porque es all donde son reconciliados
todos los individuos particulares con la sustancia
tica de la colectividad. Los individuos deben, por
tanto, subordinarse a l, ya que slo por su media-
cin aprenden a ser conscientes de quines son, qu
quieren y cul es su destino en tanto que miembros
de una sola nacin. Tambin Herder, Rousseau,
Montesquieu y Fichte consideran que el Estado
debe ser el portador de la identidad nacional de un
pueblo. A diferencia de los contractualistas, todos
ellos piensan que el Estado debe asentarse en las
condiciones geogrcas, las costumbres, la lengua y
los modos de pensar caractersticos del pueblo so-
bre el que se ejerce el gobierno. Con lo cual llega-
mos a una cuarta caracterstica del concepto tradicio-
nal de cultura: la identicacin entre pueblo, na-
cin y cultura. La objetivacin ms plena de la
cultura, entendida sta como libertad frente a los
imperativos provenientes del exterior, es la cons-
p g y p
i mpulso n 29 117
truccin histrica del Estado nacional-popular. Slo
en tanto que miembros de un Estado que reeje ju-
rdicamente lo que Montesquieu llam el espritu ge-
neral, Hegel el Volksgeist y Rousseau la voluntad ge-
neral, pueden los individuos experimentar la verda-
dera libertad.
EL POSCOLONIALISMO COMO
TEORA CRTICA DE LA CULTURA
Transladando la distincin introducida por
Horkheimer al tema que nos ocupa, podramos decir
que la diferencia entre la teora tradicional y la teora
crtica de la cultura es el reconocimiento, por parte
de sta ltima, de que su objeto de estudio no es una
facticidad natural sino una construccin social. La
cultura no es vista, entonces, como el mbito de la
libertad, aquel que nos protege de la tirana de la na-
turaleza, sino como un entramado de relaciones de
poder que produce valores, creencias y formas de
conocimiento. La teora, a su vez, no es mirada
como un conjunto de proposiciones analticas e in-
contaminadas por la praxis, sino como parte integral
de la lucha por el control social de los signicados.
El terico no es tampoco un sujeto pasivo, que asu-
me una actitud de objetividad y neutralidad cient-
ca, sino que se encuentra atravesado por las mis-
mas contradicciones sociales del objeto que estudia.
Sujeto y objeto forman parte de una misma red de
poderes y contrapoderes de la que no pueden esca-
par.
Una de las herramientas fundamentales de la
teora crtica, cuyo uso le diferencia sustancialmente
de la teora tradicional, es la nocin de totalidad so-
cial. Con esto quiere decirse que la sociedad es una
entidad sui generis, cuyo funcionamiento es relativa-
mente independiente de la actividad de los individu-
os que la componen.
2
El grupo social es algo ms
que la suma total de sus miembros y constituye un
sistema de relaciones cuyas propiedades son distintas
de las de los elementos particulares que entran en
relacin. El plus de la sociedad frente a los indivi-
duos radica, pues, en el conjunto de relaciones que es-
tos entablan entre s, de tal manera que lo que cuen-
ta para la teora crtica es el tipo de transacciones o
negociaciones que se dan entre sujeto y estructura.
Ni la vida de la estructura prescindiendo de los su-
jetos, como plantean Durkheim y Luhmann, ni la
vida de los sujetos prescindiendo de la estructura
como quisieran los comunitaristas.
Este concepto de totalidad social rompe ci-
ertamente con la metafsica del cosmos, porque las
leyes que estructuran la vida de los hombres no son
vistas como simple reejo de una normatividad di-
vina o cosmolgica; pero tambin rompe con la me-
tafsica del sujeto, porque la vida social no es consi-
derada como una prolongacin transparente de la
conciencia y la voluntad humanas. Lo cual signica
que la vida social no libera al hombre de la tirana de
la naturaleza, conducindolo a una humanizacin
paulatina mediante la cultura, sino que lo somete a
un nuevo tipo de heteronoma, esta vez bajo la for-
ma de sistemas que no estn enteramente bajo su
control. Tales sistemas son naturaleza segunda, en
el sentido de que ejercen una coaccin externa sobre
los individuos y se convierten, como muestra Gid-
dens, en condicin de posibilidad de la accin indi-
vidual. Pero la accin de los individuos revierte, a su
vez, en el funcionamiento de los sistemas, impul-
sando sus transformaciones histricas, si bien no
necesariamente en direccin de una humanizacin
de la humanidad.
Frente al concepto tradicional de cultura, la
teora crtica plantea, entonces, que la vida social no
es el reino de la libertad sino el de la contradiccin;
que, por no depender enteramente de la intenciona-
lidad de la conciencia sino de la dialctica entre su-
jeto y estructura, la vida social tiene por lo general
consecuencias perversas, esto es, resultados que
escapan a todo tipo de planeacin racional. Puede
ocurrir incluso, como lo muestran Beck, Giddens y
Bauman, que estos resultados perversos no aparez-
can por falta de racionalidad sino como consecuencia
de ella, tal como lo ensea la crisis del as llamado
proyecto de la modernidad.
3
Las relaciones socia-
2
Relativamente independiente signica aqu que la totalidad social no es
una entidad ontolgicamente anterior a los elementos individuales que la
constituyen, y en la que stos se limitan a asumir roles predeterminados,
como plantea el estructuralismo clsico, sino que la reproduccin de la
vida social se da como un proceso de negociacin entre el todo y las partes.
Giddens ha mostrado que este proceso implica ciertamente una estructu-
racin de los sujetos, pero tambin, y al mismo tiempo, una subjetiva-
cin de las estructuras. Cf. GIDDENS.
3
Cf. BECK, 1986.
p g y p
118 i mpulso n 29
les organizadas, que para la teora tradicional apare-
cen como una salida del estado de naturaleza y un
ingreso en el mbito espiritual o civil de la cultura,
son vistas por la teora crtica como un espacio de
lucha y de confrontacin de intereses. El estado de
naturaleza no termina sino que se prolonga, con
otros medios, en el estado civil.
Valdra la pena incluir aqu una reexin muy
general sobre el estatuto epistemolgico de la cate-
gora de Totalidad. Lyotard y otros lsofos pos-
modernos han sealado con razn que la prdida de
legitimidad del saber cientco en la sociedad globa-
lizada conlleva tambin la crisis de los metarelatos.
Parafraseando a Lyotard diramos que, en tiempos
de globalizacin, ya no es posible articular con
pretensiones de verdad un relato que busque otear
de una sola mirada el conjunto total de la sociedad.
Esto, de algn modo, es tambin lo que plantea
Horkheimer con su crtica a la teora tradicional.
Ninguna teora puede, en nombre de la objetividad,
constituirse en una plataforma desde la cual es po-
sible observar la totalidad, pero sin ser ella misma
observada. Esto equivaldra a seguir el juego del pa-
nptico de Foucault: el pequeo grupo de letrados
(vigilantes) se arroga el privilegio de observar todos
los movimientos de aquellos que se encuentran en
las celdas, sin poder, a su vez, ser observados por s-
tos. La teora cumplira en este caso el papel de un
Deus Absconditus.
Pensamos, sin embargo, que la categora de
totalidad no tiene necesariamente que cumplir la
funcin de metarelato. Por el contrario, ya hemos
indicado que la teora crtica no hace referencia a la
sociedad como si estuviese articulando proposiciones
verdaderas sobre el en-s del objeto que estudia.
La funcin de la categora de totalidad no es enton-
ces ontolgica sino poltica. Entendiendo que el tra-
bajo terico es una forma de lucha por el control so-
cial de los signicados, la teora crtica se propone
elaborar mapas cognitivos que nos permitan re-
presentar a nivel de la accin poltica lo que a nivel
de la ciencia resulta ilegtimo e irrepresentable. El
propsito de la teora crtica no es decir verdades so-
bre el mundo social en su totalidad, sino generar
modelos interpretativos que sirvan para cambiar ese
mundo de acuerdo a intereses que, en s mismos, y
como bien lo vio Weber, no poseen fundamento
ontolgico alguno. Al hablar de totalidad, la teora
crtica no busca producir verdades, sino nicamente
efectos de verdad que sirvan para agenciar la accin
poltica.
Entrando ya en el campo de las teoras pos-
coloniales, la nocin regulativa de totalidad se ex-
presa en una categora acuada por el lsofo social
norteamericano Immanuel Wallerstein, pero que ha
sido ampliamente utilizada por tericos tan diferen-
tes como Zizek, Mignolo, Jameson, Dussel, Quija-
no y Spivak. Me reero a la categora de sistema-
mundo. Desde un punto de vista hermenutico, el
inters de esta categora radica en su referencia a una
estructura de carcter mundial, ampliando as el ho-
rizonte interpretativo de la sociedad-nacional, que
haba funcionado como referente clsico de las cien-
cias sociales desde el siglo XIX. Como decamos an-
teriormente, el sistema-mundo no es una realidad
emprica objetivamente descriptible desde la prcti-
ca terica, sino un mapa cognitivo (Max Weber dira:
un tipo-ideal) que nos permite establecer relacio-
nes estructurales entre distintos elementos. As, el
sistema-mundo se presenta como un conjunto sui
generis de relaciones sociales que se congura en el
siglo XVI como consecuencia del expansionismo eu-
ropeo hacia el Atlntico.
4
Dos son los elementos
que diferencian al sistema-mundo de otras estruc-
turas sociales: su carcter planetario y la lgica inter-
na que impulsa su reproduccin. Analicemos la pri-
mera de ellas.
El sistema-mundo es una red de interdepen-
dencias que abarca un nico espacio de accin social.
Sociolgicamente hablando, esto signica que, a par-
tir del siglo XVI, la vida de un nmero cada vez
mayor de personas en todo el mundo empez a
quedar vinculada a una divisin planetaria del traba-
4
Tanto Dussel como Wallerstein han sealado frente a otros tericos
marxistas como Erik Wolf y Andr Gunder Frank que, a diferencia de
los anteriores sistemas sociales, que giraban en torno a un tipo de unidad
poltica centralizada, vivimos hoy en un sistema que agrupa diferentes uni-
dades polticas en torno a una sola economa-mundo: el capitalismo. Ade-
ms, el sistema-mundo moderno es la nica estructura histrica en donde
la acumulacin incesante de riquezas es tenida como un valor per se. En
todas las dems estructuras sociales, la acumulacin de riquezas era vista
como un medio para lograr algo, y no como un fn en s mismo. La maxi-
macin de la plusvala se convierte as en una virtud individual o colectiva,
premiada y castigada por una institucin llamada el mercado.
p g y p
i mpulso n 29 119
jo, coordinada por unidades sistmicas ms pe-
queas denominadas Estados nacionales. Las di-
ferencias entre los grupos y las sociedades que inte-
gran el sistema-mundo no se deben a su nivel de
desarrollo industrial o a su grado de evolucin
cultural, sino a la posicin funcional que ocupan al
interior del sistema. No son, pues, diferencias tem-
porales sino estructurales. Unas zonas sociales del
sistema ocupan la funcin de centros, en el senti-
do de que monopolizan la hegemona, mientras que
otras ocupan una funcin perifrica porque son
relegadas hacia las mrgenes de la estructura de po-
der.
5
Para un sector de la teora tradicional contem-
pornea,
6
esta perspectiva pudiera parecer un tanto
incmoda, ya que pone en entredicho la idea de que
el desarrollo cognitivo, moral y expresivo de las di-
ferentes sociedades obedece al despliegue de
competencias especcas de la especie humana.
An aceptando que el sistema-mundo funciona
como un a priori que organiza cuasi-trascendental-
mente la experiencia social en los tres mbitos sea-
lados por Habermas, no nos encontramos aqu
frente a un trascendental revestido de un estatuto
antropolgico. Se trata, ms bien, de una estructura
histrica, es decir, intempestiva, que tuvo su gnesis
en el largo siglo XVI, que logr su mximo equi-
librio sistmico entre los siglos XIX y primera mitad
del XX, pero que actualmente se halla en un mo-
mento de inestabilidad y desarticulacin. Desde este
punto de vista, lo verdadero, lo bueno y lo bello, es
decir, el conjunto de objetivaciones histricas de la
accin humana que denominamos cultura, no se
encuentra anclado en competencias trascendentales
de la especie, sino en relaciones de poder socialmente
construdas que han adquirido un carcter mundial
y que estn sometidas a un proceso complejo de
transformaciones histricas. La cultura no es, en-
tonces, el indicativo del nivel de desarrollo estti-
co, moral o cognitivo de un individuo, de un grupo
o de una sociedad, sino, como lo arma Wallerstein,
el campo de batalla ideolgico del sistema-mun-
do.
7
Llegamos as a la segunda de las caractersticas
del sistema-mundo moderno: la lgica colonial
que desde el siglo XVI ha condicionado su funcio-
namiento. En efecto, la formacin histrica del sis-
tema-mundo estuvo impulsada durante mucho ti-
empo por la incorporacin o anexin militar de
nuevas zonas geogrcas por parte de los Estados
que lograron una posicin hegemnica al interior
del sistema. Pero este proceso de colonizacin era
algo constitutivo y no solamente aditivo a su lgica
de funcionamiento, ya que el imperativo bsico del
sistema-mundo ha sido, y contina siendo, la acu-
mulacin incesante de capital.
8
Para ello era necesa-
rio que los Estados hegemnicos del sistema-mun-
do (Espaa y Portugal primero, luego Holanda,
Francia e Inglaterra y, posteriormente, los Estados
Unidos) abrieran nuevas fuentes de abastecimiento
para sus mercados internos, con el n de incremen-
tar su margen de benecios. Las relaciones de poder
conguradas por el sistema-mundo adquieren as
un carcter colonial, que afecta no solo a las anti-
guas colonias europeas, sino tambin a una gran
cantidad de personas al interior mismo de los pases
colonizadores. Es a esta situacin que apunta el con-
cepto de colonialidad del poder introducido por
el socilogo peruano Anbal Quijano.
9
Pero, qu tiene todo esto que ver con la cul-
tura? Mucho, si tenemos en cuenta que la divisin
social del trabajo entre las zonas centrales y las pe-
rifricas, tanto a nivel general del sistema-mundo
como al interior de sus unidades bsicas, los Estados
5
Enfatizo la idea de zona social, para evitar confundirla con el concepto
de zona geogrca. Por zona social entiendo un conjunto de relacio-
nes sociales hegemnicas (lo que Marx, en su momento, denominara
clase) que se congura primariamente en el marco poltico del Estado
nacional, pero cuya funcin estructural trasciende en algunos casos los lmi-
tes polticos jados por ste. As, por ejemplo, las zonas sociales hegem-
nicas en los pases europeos del siglo XIX funcionaron ciertamente como
centros al interior de sus propias sociedades, pero su hegemona econ-
mica y cultural se extendi tambin hacia todas las zonas sociales perifri-
cas del sistema-mundo. Adems, fue en esas zonas donde se concentr la
apropiacin de la plusvala generada por el trabajo realizado en las colonias.
En este sentido, como veremos, la hegemona del poder queda revestida
de un carcter colonial.
6
Cf. HABERMAS.
7
Cf. WALLERSTEIN, 1994.
8
Para reproducirse, el sistema-mundo ha desarrollado unos mecanismos
institucionales (anclados inicialmente en los Estados nacionales y ahora en
la lgica global del consumo) que premian y castigan materialmente a los
individuos segn se ajusten o no al imperativo de la maximizacin de
benecios. Horkheimer y Adorno hablaron en este sentido de la universa-
lizacin de la razn instrumental, si bien extrapolaron errneamente
este concepto hasta abarcar la totalidad de la historia humana.
9
Cf. QUIJANO, pp. 99-109.
p g y p
120 i mpulso n 29
nacionales, tena que ser legitimada ideolgicamente
por los grupos hegemnicos, o bien contradecida,
tambin ideolgicamente, por los grupos subalter-
nos. Mientras que la teora tradicional naturaliza la
cultura, proyectndola hacia un mbito ideal en
donde reinan el orden y la armona (esttica de lo
bello), la teora crtica enfatiza el carcter poltico y
social, es decir, conictivo, de la misma. En otras pa-
labras, la cultura es vista como el campo de lucha por
el acceso a la hegemona. Lo cual signica que la teora
crtica no asla la cultura del proceso de su produc-
cin social y de su funcin estructural al interior del
sistema-mundo y de los subsistemas que lo compo-
nen, sino que avanza hacia la pregunta por la econo-
ma poltica de la cultura, es decir, como lo muestran
lsofos contemporneos como Zizek, Jameson y
Baudrillard, hacia la pregunta por la lgica cultural
del capitalismo.
10
Las teoras poscoloniales radicali-
zan esta pregunta, al sospechar que la lgica cultu-
ral del sistema-mundo se encuentra atravesada por
la gramtica social de la colonizacin.
Vista desde esta perspectiva, la cultura ha
sido el espacio en donde la colonialidad del poder
ha sido legitimada o impugnada desde diversas pers-
pectivas sociales. Por razones de tiempo, considera-
r slamente el modo en que la colonialidad del po-
der fue legitimada en trminos ideolgicos a partir
del siglo XVI, quedando pendiente mostrar el tipo
de impugnacin a que fue sometida por parte de lo
que Wallerstein ha denominado movimientos anti-
sistmicos. Veremos que la anexin colonial de
nuevas zonas al sistema-mundo estuvo acompaada
por el nacimiento de dos ideologas que sirvieron
como pilares culturales del sistema-mundo mo-
derno: el racismo y el universalismo. Consideremos
este punto ms de cerca.
Aunque las jerarquas sociales fueron justi-
cadas desde siempre sobre la base de una supuesta
inferioridad o superioridad de unos pueblos sobre
otros, el concepto de raza es una construccin te-
rica muy propia del sistema-mundo moderno. Nace
al calor de los debates que se dieron en Espaa sobre
la necesidad de someter a los indios americanos al
dominio del orbis cristiano, y toma cuerpo en insti-
tuciones coloniales como la encomienda y el res-
guardo. La idea de raza sirvi adems como un cri-
terio de diferenciacin social entre los colonizado-
res blancos y los colonizados pardos o mesti-
zos, vistos como inferiores por causa de su color y
proveniencia social.
11
Ya en los siglos XVII y XVIII,
una vez transladada la hegemona del sistema-mun-
do desde Espaa hacia Francia y Holanda, el con-
cepto de raza queda incorporado a un registro te-
rico denominado losofa de la historia. Aqu las
diferencias jerrquicas entre unos pueblos y otros
y, concomitantemente, el lugar que les correspon-
de en la divisin social del trabajo son justicadas
de acuerdo a su nivel de desarrollo, medido en una
escala temporal-evolutiva. Los pueblos que en esta
escala aparecen como ms adelantados pueden, en
consecuencia, ocupar legtimamente el territorio de
los ms atrasados y llevarles, sin reparos de con-
ciencia, los benecios de la civilizacin. Ya en el siglo
XIX, y coincidiendo con la consolidacin de la he-
gemona inglesa, el concepto de raza se desprende
nalmente de la losofa de la historia y queda ci-
entizado, es decir, incorporado a la metodologa
de las ciencias positivas y de las nacientes ciencias
sociales.
12
La superioridad de unas razas sobre otras
es vista como resultado inevitable de la evolucin de
las especies; como una ley inexorable de la natura-
leza suceptible de ser vericada empricamente.
Lo que quiero mostrar con todo esto es la re-
lacin intrnseca entre la idea colonial de raza y el
concepto tradicional de cultura. Si la maximizacin
de los benecios fue el imperativo sistmico que im-
puls la anexin territorial de las colonias, entonces
era necesario justicar por qu razn sus habitantes
10
Formulado de este modo, el problema que planteamos escapa a cual-
quer tipo de determinismo de la base sobre la superestructura econ-
mica de la sociedad. La teora crtica de la sociedad propone una dialctica
entre sujeto y estructura, en donde ninguno de los dos elementos puede ser
pensado con independencia del otro, sino que ambos se condicionan
mutuamente. He tratado este punto con mayor amplitud en mis artculos:
Los vecindarios de la ciudad letrada. Variaciones loscas sobre un tema
de Angel Rama (en MORAA, 1997, pp. 123-133) y Latinoamerica-
nismo, Modernidad, Globalizacin. Prolegmenos a una crtica poscolo-
nial de la razn (en CASTRO-GMEZ & MENDIETA, 1996).
11
Magnus Mrner habla, en este sentido, de una pigmentocracia racial
basada en el concepto de la pureza de sangre. Cf. MRNER, 1969, pp.
60-77. Estamos, pues, frente a una etnizacin de la fuerza de trabajo.
12
De hecho, como lo ha mostrado Edward Said, las ciencias humanas, y
en especial la antropologa, la etnologa y la orientalsitica, nacen como
consecuencia de la ocupacin militar de las colonias de ultramar por parte
de Francia e Inglaterra.
p g y p
i mpulso n 29 121
deban ser utilizados como mano de obra barata en
benecio de sus colonizadores. Los indios, los ne-
gros y los mestizos pueden y deben ser esclavizados
porque comparten una serie de valores, creencias y
formas de conocimiento que les impide llegar, por s
mismos, a disfrutar de los benecios de la civilizaci-
n. Hay algo en su cultura, y quizs hasta en su
biologa, que les coloca en conicto con los valores
universalistas compartidos por el hombre blanco.
No poda haber punto de encuentro entre la cul-
tura de los colonizadores y la de los colonizados
porque, o bien se trataba de dos naturalezas dife-
rentes, como planteaba Gins de Seplveda, o bien
se trataba de una misma naturaleza pero en fases di-
ferentes de su evolucin. En ambos casos nos en-
contramos, sin embargo, frente a un concepto na-
turalista de cultura que sirve, como anillo al dedo,
para legitimar las desigualdades sociales y polticas al
interior del sistema-mundo.
13
Se deja entrever de qu manera el carcter in-
trnsecamente colonial del sistema-mundo atraviesa
tambin a la segunda de las ideologas que conside-
raremos en este ensayo: el universalismo. Si el racis-
mo sirve para legitimar la inferioridad de los coloni-
zados o de los grupos subalternos al interior de los
Estados, el universalismo sirve para legitimar la su-
perioridad de los colonizadores o de los grupos he-
gemnicos a nivel nacional. Nacido de la mano de la
nueva ciencia, el universalismo es, ante todo, una
postura epistemolgica. Proclama la posibilidad de
acceder a conocimientos objetivamente vlidos so-
bre el mundo fsico y social, disponiendo tan slo
del mtodo adecuado para ello. Arma que la va-
lidez (Geltung) de este mtodo se encuentra ga-
rantizada por su neutralidad valorativa, ya que tras-
ciende las motivaciones histricamente condiciona-
das por la cultura. Su anclaje no est dado, pues,
en la historia y en las tradiciones, sino en una facul-
tad compartida por todos los hombres, independi-
entemente de su raza, sexo, edad o condicin social:
la racionalidad.
Mirado desde la perspectiva del sistema-mun-
do, el universalismo se integra plenamente en la l-
gica que Max Weber bautiz con el nombre de ra-
cionalizacin. Ya no es la voluntad inescrutable de
Dios quien decide sobre los acontecimientos de la
vida individual y social, sino que es el hombre mis-
mo quien, sirvindose de la razn, es capaz de des-
cifrar las leyes inherentes a la naturaleza para colo-
carlas a su servicio. Esta rehabilitacin del hombre
viene de la mano con la idea del dominio sobre la na-
turaleza mediante la ciencia y la tcnica, cuyo verda-
dero profeta fue Bacon. De hecho, la naturaleza es
presentada por Bacon como el gran adversario del
hombre, como el enemigo al que hay que vencer
para domesticar las contingencias de la vida y esta-
blecer el Regnum hominis sobre la tierra.
14
La neutra-
lidad valorativa de la ciencia y la tcnica se convierte as
en garante ideolgico de la modernizacin impulsa-
da por los Estados hegemnicos del sistema-mun-
do y, concretamente, por las burguesas al interior
de esos Estados. La institucionalizacin poltica del
Regnum hominis soado por Bacon y Descartes se
convierte de este modo en un problema de caracter
tcnico, manejado por economistas, cientcos soci-
ales, educadores, administradores y expertos de
todo tipo. El imperativo de fondo era eliminar las
barreras que impedan la expansin del capital y la
maximizacin de las ganancias. Y esto inclua, por
supuesto, la administracin racional de las colonias.
15
A nivel interno, el universalismo sirvi como
instrumento de control jurdico y social al interior
de los Estados nacionales. En tanto que parte inte-
gral del sistema-mundo moderno, la funcin estruc-
tural del Estado era ajustar el cuerpo y la mente de
todos los individuos pertenecientes a una territoriali-
dad especca al imperativo global de la produccin.
Todas las polticas y las instituciones estatales (la es-
cuela, las constituciones, el derecho, los hospitales,
las crceles etc.) fueron canalizadas hacia el discipli-
namiento de las pasiones a travs del trabajo. De lo
que se trataba era de ligar a todos los ciudadanos al
proceso mundial de produccin mediante el some-
13
Recurdese que cuando hablamos de centro y periferia no hacemos
referencia nicamente a las relaciones entre las metrpolis y las colonias,
sino tambin a la relacin entre grupos hegemnicos y subalternos al inte-
rior de los mismos Estados nacionales europeos (cf. nota 10).
14
Cf. BACON, Novum Organum, # 1-33; 129.
15
Para el caso de las colonias espaolas, el imperativo de la racionalizacin
comienza con la introduccin de las reformas borbnicas hacia mediados
del siglo XVIII.
p g y p
122 i mpulso n 29
timiento de su tiempo y de su cuerpo a una serie de
normas que venan denidas y legitimadas por el
conocimiento cientco-tcnico. Para ello el Estado
deba estar en la capacidad de garantizar un marco
jurdico imparcial dentro del cual las personas bajo
su jurisdiccin pudieran ser contempladas como su-
jetos de derecho. La funcin jurdico-poltica de las
constituciones era, precisamente, inventar la ciudada-
na, es decir, crear un campo formal de legalidad que
hiciera viable, a nivel microfsico, el imperativo ma-
croestructural de la acumulacin de capital.
En este punto es necesario aclarar lo siguiente:
aunque las teoras poscoloniales recogen la microf-
sica del poder realizada por Michel Foucault, com-
plementan, sin embargo esta perspectiva, mostrando
algo que para el terico francs se constituy en un
punto ciego: las relaciones de poder vienen marca-
das por imperativos macrofsicos de carcter colonial.
As, por ejemplo, la ciudadana no era restringida
nicamente a los varones casados, alfabetos, hetero-
sexuales y propietarios, sino que, adems, y muy es-
pecialmente, tenan que ser blancos. A su vez, los
individuos que quedaban por fuera del espacio ciu-
dadano no eran nicamente los homosexuales, pri-
sioneros, enfermos mentales y disidentes polticos
en los que piensa Foucault, sino tambin los negros,
los indios, los mestizos, los gitanos, los judos, y aho-
ra, en tiempos de globalizacin, las minoras tni-
cas, los inmigrantes y los extranjeros. De este mo-
do, la genealoga de las microestructuras de poder es
ampliada por las teoras poscoloniales hacia una ge-
nealoga de las macroestructuras de larga duracin
(Braudel/Wallerstein). Podramos decir, entonces,
que las teoras poscoloniales llevan hasta sus ltimas
consecuencias el programa de una ontologa del
presente iniciado magistralmente por Foucault.
A MANEIRA DE CONCLUSIN
Quisiera nalizar sealando dos cosas. La pri-
mera es que el racismo y el universalismo se conso-
lidaron, por lo menos hasta la primera mitad del si-
glo XX, como la Geocultura dominante del siste-
ma-mundo moderno. El racismo es una herencia de
lo que Dussel llamase la primera modernidad, la
hispano-catlica, mientras que el universalismo es
herencia de la segunda modernidad, la de la ilus-
tracin dieciochesca y su prolongacin en el positi-
vismo decimonnico. Ambas ideologas crearon un
ambiente representacional es decir, una cultu-
ra que legitim la mobilizacin inusitada de fuer-
za de trabajo y recursos nancieros, de campaas
militares y descubrimientos cientcos, de progra-
mas educativos y reformas jurdicas, en n, de todo
ese conjunto de polticas fusticas de control social,
jams antes vistas en la historia, que conocemos
como el proyecto de la modernidad. Por supuesto
y esta es la otra parte de la historia , la desigualdad
en la distribucin de la riqueza gener tambin mo-
vimientos anti-sistmicos que tuvieron xito en la
medida en que pudieron negociar con las hege-
monas creadas por el sistema.
16
La segunda anotacin tiene, ms bien, un ca-
rcter diagnstico. Si una de las caractersticas de la
globalizacin es haber minado la capacidad de los
Estados nacionales para organizar la vida social en
su conjunto, entonces nos encontramos frente a
una profunda crisis estructural del sistema-mundo
moderno. Este, como queda dicho, se haba organi-
zado sobre la base de unidades ms pequeas, los
Estados nacionales, que garantizaran el cumplimi-
ento del imperativo que asegura el equilibrio interno
del sistema: la acumulacin incesante de capital me-
diante la anexin de nuevos territorios. Pero a co-
mienzos del siglo XXI nos encontramos en una si-
tuacin en donde ya no existen ms territorios por
anexar y en donde la vida social queda organizada
por instancias supranacionales. Es a esta situacin
hacia la que apunta la categora, un poco ambiga, de
lo poscolonial. El n del colonialismo territorial,
impulsado por los Estados nacionales hegemnicos,
corre paralelo con el agotamiento del proyecto de
la modernidad, es decir, con el n de la capacidad
institucional de estos Estados para ejercer control
sobre la vida social de las personas.
17
Pero esto no
signica necesariamente que el sistema-mundo se
encuentre herido de muerte, ni que su geocultura
16
Es el caso, por ejemplo, de los movimientos sindicales en Europa y los
Estados Unidos, o de los movimientos de liberacin nacional en el Ter-
cer Mundo.
17
Esta idea del n de la modernidad como proyecto de control poltico-
social la he desarrollado en el artculo Fin de la modernidad y transforma-
ciones de la cultura en tiempos de globalizacin, en BARBERO et al.,
1997, pp. 78-102.
p g y p
i mpulso n 29 123
estructural haya dejado de ser operativa. Nos en-
contramos, ms bien, en un momento histrico en
el que ya no hay pases colonizadores sino nica-
mente pases colonizados por un capital que se ha
invisibilizado, que se ha revestido de un caracter es-
pectral.
Ante esta nueva situacin, la teora crtica de
la sociedad se enfrenta al reto de recuperar el hori-
zonte de la totalidad, que la crtica cultural contem-
pornea pareciera haber perdido en nombre de la
embestida posmoderna contra los metarelatos, cor-
riendo el peligro de convertirse en una nueva teora
tradicional. No basta un anlisis cultural que se limi-
te a tematizar las exclusiones de sexo, raza, etnia o
conocimiento, es decir, que se limite a tematizar la
homogenizacin de las diferencias, sino que es ne-
cesario pensar qu es aquello que ha estructurado
a los sujetos sociales y por qu razn este proyecto
de control social (la modernidad) ha llegado a su
n, abriendo paso a nuevas formas de estructuracin
global. Con otras palabras, se hace necesario pensar
cules son las transformaciones histricas que est
sufriendo la Geocultura del sistema-mundo moder-
no, en su actual momento de crisis. Este es, a mi jui-
cio, el punto bsico en la agenda de una teora social
que se entiende a s misma como ontologa crtica
del presente.
Referencias Bibliogrcas
BACON, J. Novum Organum. # 1-33; 129.
BARBERO, J.M. et al. (eds.). Cultura y Globalizacin. Bogot: Universidad Nacional de Colombia, 1997.
BECK, U. Risikogesellschaft.Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt: Suhrkamp, 1986.
CASTRO-GMEZ, S. & MENDIETA, E. (eds.). Teoras sin Disciplina. Latinoamericanismo, Modernidad y Globalizacin en
Debate. Mxico: Porra Editores, 1996.
HORKHEIMER, W. Teora tradicional y teora crtica. In: Idem. Teora Crtica. Buenos Aires: Amorrortu Editores, 1974.
MORAA, M. (d.). Angel Rama y los estudios latinoamericanos. Pittsburgh: University of Pittsburgh, 1997.
MRNER, M. La Mezcla de Razas en la Historia de Amrica Latina. Buenos Aires: Paidos, 1969.
QUIJANO, A. Colonialidad del poder, cultura y conocimiento en Amrica Latina. In: CASTRO-GMEZ, S. et al. (eds.). Pensar
(en) los Intersticios.
WALLERSTEIN, I. Geopolitics and Geoculture. Essays on the changing World-System. Londres: Cambridge University Press,
1994.
p g y p
124 i mpulso n 29
p g y p
i mpulso n 29 125
A MODERNIZAO
NO BRASIL COMO
PROBLEMA
FILOSFICO
Modernization in Brazil as
a philosophical problem
Resumo Ao suprimir o aristotelismo do ensino, mediante a expulso dos jesutas e
a reforma da instruo pblica, o marqus de Pombal deu incio, na segunda metade
do sculo XVIII, ao processo de modernizao no Brasil. A viso do problema da mo-
dernizao no Brasil como problema losco pode ser enunciada em termos de
mudana de princpio, a saber: a assimilao do cogito cartesiano como princpio da
losoa moderna supe a converso religiosa como princpio da formao cultural
brasileira sob o aristotelismo.
Palavras-chave FILOSOFIA BRASILEIRA MODERNIZAO CULTURALISMO
ARISTOTELISMO.
Abstract In suppressing Aristotelism from education, through the banishment of
the Jesuits and the reform of public aducation, the Marquis of Pombal started the
process of modernization in Brazil, during the second half of the 18
th
Century. The
understanding of the problem of modernization in Brazil as a philosophical matter
can be expressed in terms of a principle change, that is: the assimilation of Cartesian
cogito as the principle of modern philosophy assumes religious conversion as the prin-
ciple of development of the Brazilian culture under Aristotelism.
Keywords BRAZILIAN PHILOSOPHY MODERNIZATION CULTURALISM ARIS-
TOTELISM.
LUIZ ALBERTO CERQUEIRA
Doutorado em losoa pela
Universidade Nova de Lisboa.
Dedica-se linha de pesquisa
losoa brasileira e portuguesa
no mbito de um projeto
luso-brasileiro de pesquisa
losca. Professor adjunto da
UFRJ e coordenador do Centro de
Filosoa Brasileira (CEFIB)
cerqueira@ifcs.ufrj.br
p g y p
126 i mpulso n 29
m Portugal, o conito ideolgico entre antigos e moder-
nos arrastou-se, desde o nal do sculo XVII, para as ne-
cessrias reformas pombalinas na segunda metade do sculo
XVIII. No mbito da educao, muito contribuiu para as re-
formas realizadas pelo marqus de Pombal a participao do
estrangeirado, nome pelo qual cou conhecida a intelectua-
lidade portuguesa que, ciosa de sua formao moderna no
estrangeiro, passou a denunciar o mtodo pedaggico dos
jesutas como a causa de decadncia da cultura nacional. Entre os estrangei-
rados distinguiu-se o oratoriano Lus Antonio Vernei, cujo modernismo
teve forte inuncia sobre a Junta de Providncia Literria, incumbida de re-
digir o novo Estatuto da Universidade. Com o seu Verdadeiro Mtodo de Es-
tudar,
1
ele ps a descoberto as decincias do sistema de ensino portugus
em face de uma cultura ocidental j marcada pelo esprito cientco-racional.
Caracterizando esse esprito como o interesse nos conhecimentos exa-
tos e na educao pela razo, ele fez a crtica do ensino de losoa em Por-
tugal luz do iderio iluminista, mas sem nunca por em dvida a superiori-
dade da revelao e da graa divinas sobre o mecanismo da natureza e da ra-
zo humana. A presena desse princpio escolstico no bojo do modernis-
mo portugus uma prova de que no se pode, impunemente, ver no
momento das reformas pombalinas da instruo pblica uma atitude los-
ca absolutamente contrria tradio espiritualista portuguesa.
Infelizmente, no foi essa a interpretao que prevaleceu na historio-
graa losca brasileira. O simples fato de o pensamento losco portu-
gus ter-se voltado, no sculo XIX, sobre questes de origem, isto , questes
pertinentes origem escolstica do seu tradicional aristotelismo, foi sucien-
te para rotular de tradicionalismo essa atitude, com toda a carga semntica ne-
gativa do termo.
2
Inversamente, o simples fato de a intelectualidade brasileira,
no mesmo perodo, ter-se socorrido da lngua francesa para modernizar-se,
assimilando as questes e os temas da losoa moderna por intermdio de
autores franceses, bastou para se constatar, falsamente, uma diversidade ori-
ginal de interesses entre as losoas brasileira e portuguesa.
A historiograa losca brasileira realmente no distinguiu a moder-
nizao inerente s reformas pombalinas como problema losco espec-
co, restringindo-se sua condicionalidade histrica. Do ponto de vista da
condicionalidade histrica das reformas pombalinas, a modernizao supe
1
Alm do Verdadeiro Mtodo de Estudar, foram importantes no mesmo sentido as Cartas sobre a Educao da
Mocidade e o Mtodo para Estudar a Medicina, de Antonio Ribeiro Sanches.
2
Partindo de uma base comum, nos lanamos tarefa de elaborar o pensamento autnomo logo no comeo
do sculo passado [XIX] primeiro com a mudana da Corte para o Rio de Janeiro, depois com a Revoluo do
Porto e a Independncia. A base comum a que estamos referidos diretamente corresponde ao empirismo miti-
gado e ao tradicionalismo, ambos criao do momento pombalino. Contudo, o enraizamento das duas verten-
tes na cultura portuguesa no parece dispor da mesma profundidade. O tradicionalismo conta com o respaldo
dos sculos em que vigorou a hegemonia da Segunda Escolstica Portuguesa, enquanto os ancestrais do empi-
rismo mitigado resumem-se aos estrangeirados. E a circunstncia de que, por um momento, haja deslocado a
Escolstica e assumido o seu lugar deve-se antes a Pombal que a outros suportes histrico-culturais mais con-
sistentes (...). Quando o peso dessa tradio se faz presente de modo claro e insosmvel, parece s vezes que
ns brasileiros estamos agarrados ao manto de Pombal, enquanto os portugueses aferram-se ao tradiciona-
lismo (PAIM, 1983, p. 18).
EE
E E
p g y p
i mpulso n 29 127
as idias de atraso e decadncia da cultura de ln-
gua portuguesa em face de uma nova mentalidade,
um novo esprito cientco, cuja origem remonta
ao sculo XVII e em razo do qual se deu a denitiva
substituio do aristotelismo escolstico por uma
nova cincia da natureza. Qual a novidade desse es-
prito at ento mais recente? A novidade estava
no mtodo como se elevava a razo concreta e his-
trica do indivduo em nvel de universalidade da lei
ontolgica que rege a existncia de todas as coisas.
Aqueles que viam a pessoa do legislador hu-
mano maior que a lei consideravam a lei ontolgi-
ca como a expresso de uma vontade criadora, ni-
ca e livre, imutvel e eterna, a lei de Deus. Mas os
que enxergavam a pessoa do legislador humano
tambm submetida regularidade uniforme e im-
pessoal da experincia concebiam a lei ontolgica
como expresso das leis da natureza. No sculo
XVII, o conhecimento da natureza est dentro do al-
cance da inteligncia humana. A partir de Descartes,
o sujeito comum j no depende da ajuda de outro
(a intermediao do sacerdote) para aceitar a juris-
dio universal de leis que determinam a existncia
das coisas. Eis a novidade do mtodo cartesiano, ra-
zo pela qual ele considerado, com justia, o fun-
dador da losoa moderna: pela prpria razo o ho-
mem revela-se como uma inteligncia, como sujeito
de conhecimento, ao mesmo tempo em que conhe-
ce a si mesmo como objeto submetido a leis neces-
srias e universais, sem necessidade de outro que lhe
sirva de espelho.
3
Desse modo, a losoa se liberta
da tutela da teologia. Em outras palavras: em lugar
da converso religiosa, a autoconscincia do cogito
cartesiano.
Mas mesma poca em que Descartes esta-
belecia, com suas Meditaes, o moderno princpio
ontolgico de que a prpria existncia tem o seu
fundamento na conscincia de si como pensamento
(ou inteligncia, isto , a viso interior da essncia
das coisas), no Brasil se mantinha inaltervel, sob o
mtodo pedaggico dos jesutas, o Ratio Studiorum.
o antigo princpio teolgico de que a prpria exis-
tncia se funda na universalidade da converso, en-
tendida como a viso interior de si mesmo mediante
o auxlio do pregador. Para que no haja dvidas so-
bre o que quero dizer, eis como, em meados do s-
culo XVII, se representava na cultura de lngua por-
tuguesa o sentido de universalidade da converso:
Para uma alma se converter por meio de um
Sermo h de haver trs concursos: h de
concorrer o pregador com a doutrina, per-
suadindo; h de concorrer o ouvinte com o
entendimento, percebendo; h de concorrer
Deus com a graa, alumiando. Para um ho-
mem ver a si mesmo so necessrias trs
coisas: olhos, espelho e luz. Se tem espelho
e cego, no se pode ver por falta de olhos;
se tem espelho e olhos, e de noite, no se
pode ver por falta de luz. Logo h mister
luz, h mister espelho e h mister olhos.
Que coisa a converso de uma alma seno
entrar um homem dentro em si, e ver-se a si
mesmo? Para esta vista so necessrios
olhos, necessria luz, e necessrio espe-
lho. O pregador concorre com o espelho,
que a doutrina; Deus concorre com a luz,
que a graa; o homem concorre com os
olhos, que o conhecimento.
4
Ao nal do sculo XVIII, no obstante o car-
ter revolucionrio das reformas pombalinas na ins-
truo pblica, como que abrindo as portas da uni-
versidade cincia at ento proibida em Portugal,
por motivos religiosos (como alegou o marqus),
o problema da modernizao como problema lo-
sco consistia em reconhecer a necessidade das
leis da natureza, sem que para isso fosse preciso
renunciar lei de Deus. Longe de ser uma posio
meramente tradicionalista, essa problematizao
na modernidade reetia uma viso de mundo origi-
nria, como bem observou Arnold J. Toynbee:
A crena de que toda a vida do universo es-
tava governada pela lei de Deus era uma
herana do judasmo compartilhada pelas
sociedades crist e muulmana e que cou
expressa em duas obras de gnio notavel-
mente parecidas, embora totalmente inde-
3
Na cultura medieval, os religiosos exerciam essa funo de espelho do
rei (speculum regum), levando os governantes a reetirem moralmente
sobre sua condio pessoal de estarem originariamente submetidos uni-
versalidade da lei de Deus.
4
Sermo da Sexagsima, III, in: VIEIRA, 2000.
p g y p
128 i mpulso n 29
pendentes: De civitate Dei, de Santo Agos-
tinho, e os Prolegomena a uma Histria dos
Brbaros, de Ibn Jaldn. A verso agostinia-
na da concepo judaica da histria foi con-
siderada como coisa bvia pelos pensadores
cristos ocidentais durante mais de mil anos
e encontrou sua ltima expresso, cheia de
autoridade, no Discours sur lHistoire Uni-
verselle, de Bossuet, publicado em 1681.
5
Tanto no Brasil como em Portugal, os primei-
ros autores oitocentistas que procuraram garantir a
autonomia do pensamento losco assumiram o
mesmo problema como a condio de entrada no
compasso da Histria sem prejuzo da prpria his-
toricidade. A prova disso so os estudos loscos
do brasileiro Domingos Jos Gonalves de Maga-
lhes, sobretudo com Fatos do Esprito Humano
(1858) e A Alma e o Crebro (1876), e do portugus
Pedro de Amorim Viana, com a sua Defesa do Ra-
cionalismo ou Anlise da f (1866). Essa idia de que
no h incompatibilidade entre a lei de Deus e as
leis da natureza reete, por sua vez, uma viso da
Histria que est na base da cultura ocidental:
A idia de uma lei de Deus foi elaborada
pelas almas dos profetas israelitas e iranianos
em resposta s incitaes da histria babil-
nica e siraca, enquanto que a exposio cls-
sica do conceito de leis da natureza foi ela-
borada por observadores loscos da de-
sintegrao dos mundos ndico e helnico.
Mas as duas escolas de pensamento no so
logicamente incompatveis e bem se pode
conceber que estes dois tipos de lei operem
conjuntamente. A lei de Deus revela uma
nica e constante nalidade que requerem a
inteligncia e a vontade de uma personalida-
de. As leis da natureza mostram a regula-
ridade de um movimento reiterado, como o
de uma roda que gira em torno do seu eixo.
Se pudssemos imaginar uma roda que nas-
cesse sem o ato criador de um ferreiro e que
logo passasse a girar eternamente sem ne-
nhuma nalidade, tais repeties pareceriam
de fato vazias; e era esta a concluso pessi-
mista dos lsofos ndicos e helnicos, que
viam que a penosa roda da existncia gira-
va eternamente in vacuo. Na vida real no
encontramos rodas que no tenham sido fa-
bricadas nem fabricantes que as faam sem
que algum os tivesse encarregado de sua fa-
bricao e que fossem instaladas em carros
para que as revolues repetidas das rodas
pudessem levar os carros aos destinos a que
queriam chegar os condutores. As leis da
natureza teriam sentido quando concebi-
das como as rodas que Deus colocou em
seu prprio carro.
6
Nessa perspectiva de entendimento, no po-
demos dissociar a cultura da religio. Foi por inter-
mdio do culto religioso que o homem aprendeu a
preservar o sentido interno da conscincia, o reino
da intencionalidade, em que a vida se rege pela cau-
salidade nal e gira exclusivamente em torno da in-
teligncia e da vontade. Em Magalhes, podemos
ver claramente que ao mecanismo da natureza se so-
brepe o mundo da cultura como prova de necessi-
dade do ser livre e criador, isto , como prova da ne-
cessidade de Deus:
Reetindo o homem sobre si mesmo, viu-
se mutvel, e sujeito a um crescimento e a
modicaes que malgrado seu se operam;
e concentrando-se em sua conscincia, no
lhe foi possvel duvidar que a forma exterior,
sujeita s alternativas do tempo, ocultava
uma substncia permanente, e dela distinta;
a esta substncia referiu ele o seu Eu. A du-
alidade foi ainda mais manifesta pela luta das
duas naturezas; e o conhecimento do que
em si se passava conrmou-lhe a idia do
que fora de si descobrira. A sua fora inter-
na chamou ele alma, e a fora do Universo
denominou Deus. Desde logo entre a alma
e Deus se estabeleceu uma relao toda es-
pecial. O homem assim erguido ao Ente Su-
premo, a ele sua existncia devendo, dele de-
pendendo para sua conservao e aperfeioa-
mento, como poderia sufocar os transportes
de sua admirao, e de seu reconhecimento,
vendo-se colocado no mais sublime grau
dos seres criados, e dotado de uma fora es-
5
TOYNBEE, 1971, p. 186. interessante observar que a referida obra de
Bossuet teve boa repercusso em lngua portuguesa, sendo editada pela
Universidade de Coimbra no incio do sculo XVIII.
6
Ibid., pp. 185-186.
p g y p
i mpulso n 29 129
piritual que o alava acima do mundo fsico,
e o comunicava at ao princpio de tudo?
(...) Mas cou porventura o homem no es-
tado da natureza? (...) No (...). As belezas
da natureza, as necessidades humanas, e to-
das as circunstncias da vida podiam desviar
o homem dessa fonte luminosa, desse Ser
invisvel, que ele desejava perpetuar, e ter
sempre presente sua inteligncia, como
aos seus sentidos (...). Que faz o homem?
Alm do mundo conhecido cria um mundo
para seu Deus, onde ele exista distinto de tudo;
e neste mundo terrestre cria uma forma ma-
terial que o represente, e o manifeste continua-
mente aos seus sentidos. Tendo assim xado
sua idia, fazendo-a sensvel, e, por assim me
explicar, materializando-a; no podendo ela
escapar nem sua inteligncia, nem a seus
sentidos, o instinto vago que a Deus o ele-
vara se converte em culto, adquire perma-
nncia, e nada haver capaz de o destruir.
7
O mundo da cultura assim concebido, como
o conjunto das atividades humanas orientadas para
a signicao (os rituais do culto), religa por dentro,
isto , no mbito da conscincia, o que a natureza
diversica e separa externamente. Nesse sentido, a
atitude losca moderna no excluiu a religiosida-
de do seio da cultura. Pelo contrrio, sem o sentido
dessa ligao espiritual corremos o risco de perder a
verdadeira signicao do cogito cartesiano, uma vez
que
a arte, a poesia, a cincia, ao proporem aos
homens valores, verdades, ideais comuns,
contribuem ecazmente para uni-los por
dentro e expressam em si mesmos esta uni-
dade interna; uma espcie de meio espiri-
tual atravs do qual os sujeitos se comuni-
cam e em relao ao qual a personalidade de
cada um se situa, uma vez que penetro a
personalidade do outro quanto mais assimi-
lo seu universo ideal.
8
A moderna exigncia de uma educao fun-
dada no uso terico da razo visa a orientar o homem
para o modo essencial do seu ser (no sentido aris-
totlico do modo prprio de agir em conformidade
com a razo),
9
visto que acidentalmente ou por na-
tureza a racionalidade j lhe inerente. Assim, em
Magalhes, a busca de verdades necessrias e univer-
sais (a investigao ou a pesquisa) excede o modo
natural do ser e no se justica seno em funo do
modo essencial do ser homem, cujo amor da ver-
dade deve ser entendido exatamente nos termos
em que Aristteles explicara que aqueles que
losofaram para fugir da ignorncia, claro
que buscavam o saber em vista do conheci-
mento, e no por alguma utilidade. Pois esta
disciplina comeou a buscar-se quando j
existiam todas as coisas necessrias [sendo]
evidente que no a buscamos por nenhuma
outra utilidade, seno que, assim como cha-
mamos homem livre quele que para si
mesmo e no para outro, assim considera-
mos esta [sabedoria] como a nica cincia
livre, pois s esta para si mesma.
10
Nesse sentido, o pensador brasileiro armou
que a losoa est hoje pouco mais avanada do
ponto em que a deixaram Plato e Aristteles.
11
Nesse sentido tambm, Magalhes, embora distin-
guindo a importncia do trabalho qualicado na
vida moderna, insiste que o homem, mais do que
transformador da natureza, tornou-se o intrprete
da natureza, talvez dando a entender, enquanto ro-
mntico, que assim como na mitologia grega a dig-
nidade do trabalho de Hermes est na comunicao
ideal que por meio dele se estabelece entre os deu-
ses, a dignidade da atitude losca moderna est
no uso indiferenciado que o homem faz da prpria
razo como uma abertura para o absoluto:
Admirveis so na verdade todos esses es-
foros da indstria, todas essas invenes
das artes, todos esses triunfos da inteligncia
humana, aplicada sem repouso a vencer a re-
sistncia da inerte matria. Mas no creio
que nesse trabalho assduo de Ciclopes se
revele a dignidade do homem, nem que
deva o rei da criao exaurir essa inteligncia
7
MAGALHES, 1865, pp. 274-275 (grifos acrescentados).
8
FINANCE, 1962, 169.
9
Aristteles, tica a Nicmaco I, cap. 7, 1098a.
10
Aristteles, Metafsica I, cap. 2, 982b.
11
MAGALHES, 1858, p. 15.
p g y p
130 i mpulso n 29
(...) no exclusivo estudo e afano de prover as
suas necessidades fsicas, como se ele fosse
um msero escravo do corpo, a vtima da na-
tureza, e no o seu intrprete.
12
Ento o que procura o homem com tanto
af e constncia? (...). A verdade, por amor
da verdade! Eis o m das suas investigaes,
o objeto do seu amor intelectual, e o dolo
do seu culto (...). Ele quer conhecer o mun-
do em que vive, as foras que o animam, e as
leis gerais que o regem; quer descobrir a uni-
dade do princpio que permanece no meio
da innita diversidade de fenmenos que
passam (...); quer penetrar a essncia das
coisas, achar as causas, compreender o me-
canismo do imenso universo, e v-lo como
um todo harmonioso, movendo-se perpe-
tuamente por simples e poucas leis, depen-
dentes de um s princpio imutvel, dirigido
por uma s fora, uma s causa primeira,
uma s substncia innita, na qual o bem, o
belo, a verdade, a vida se identicam na ab-
soluta necessidade do Ser Eterno!
13
A MUDANA DE PRINCPIO
Tendo em mente o texto de Vieira referido
acima e a Meditao Segunda de Descartes, no
excessivo dizer que Fatos do Esprito Humano ca-
racteriza uma atitude losca propriamente brasi-
leira. Isso porque o modo como Magalhes intro-
duziu o princpio de autoconscincia na cultura bra-
sileira corresponde mesma superao cartesiana
do mecanismo da natureza e do dogmatismo como
uma experincia atual. Assim, foi necessrio que a
introduo do princpio de autoconscincia se im-
pusesse em relao ao passado, e no interior da tra-
dio losca portuguesa, como um aperfeioa-
mento de mtodo na formao espiritual.
O aperfeioamento de mtodo diz respeito
ao modo como, em face do cogito cartesiano, tor-
nou-se inteiramente dispensvel o concurso do pre-
gador como fator externo (o espelho) para en-
trar um homem dentro em si e ver-se a si mesmo.
O mtodo psicolgico cartesiano revela a necessi-
dade da inteligncia como essncia do sujeito cog-
noscente e razo de ser da lei de causalidade univer-
sal, como algo que no tem causa nem se pode ex-
plicar por nenhuma coisa ou princpio a ela estra-
nho, de modo a se estabelecer uma relao de
equivalncia entre inteligncia e liberdade, como as
duas faces de uma mesma moeda:
O que limita o nosso poder o corpo ani-
mal, essa imagem, esse complexo de fen-
menos sensveis, sujeito a leis necessrias,
independentes da nossa vontade (...). Sem
esse corpo, sem as relaes sensveis com ou-
tros espritos, e com os objetos pensados por
Deus, e postos ao nosso alcance, no pode-
ramos efetuar as intuies puras de justia,
de dever, de virtude e do belo no meio de
todas as lutas da liberdade e da inteligncia,
de que a histria, essa conscincia do gnero
humano, conserva a lembrana para nosso
ensino. S com esta triste condio podera-
mos ser entes morais (...). S tem liberdade
neste mundo quem inteligente; s tem in-
teligncia quem livre e obra por si mesmo;
e quem tem inteligncia e lberdade tem
conscincia de si mesmo, de necessidade
um ente moral.
14
Cumpre observar que em sua adeso ao cogi-
to, proclamando a necessidade transcendental do
esprito humano
15
mediante a supresso de toda a
dependncia da alma em relao ao corpo e aos sen-
tidos, Magalhes no deixa de revelar o sentido de
historicidade da conscincia, assumindo atitude -
losca sem incompatibilizar-se com Aristteles,
em nome do qual se estabelecera, no passado, o en-
sino de losoa no Brasil sob o Ratio Studiorum.
16
Portanto, sua armao de que recolhendo-se no
santurio da sua conscincia [a alma] poder pene-
trar nesse mundo espiritual da metafsica
17
no re-
pugna a Metafsica do estagirita. Pelo contrrio,
evidente, nesse aspecto, a simetria do pensamento
de Magalhes com o de Aristteles, segundo o qual
12
Ibid., pp. 2-3.
13
Ibid., pp. 6-7.
14
Ibid., pp. 367-368 (grifos acrescentados).
15
Ibid., pp. 367-368.
16
Nas Regras do Professor de Filosoa recomenda-se o seguinte: Em
questes de alguma importncia no se afaste de Aristteles, a menos que
se trate de doutrina oposta unanimemente recebida pelas escolas, ou,
mais ainda, em contradio com a verdadeira f (FRANCA, 1952, p.
160).
17
MAGALHES, 1858, p. 291.
p g y p
i mpulso n 29 131
a metafsica, como contemplao desinteressada da
verdade,
18
supe o modo livre do ser aquele que
para si mesmo e no para outro,
19
no mesmo sen-
tido em que Descartes v na dvida metdica, que
suspende e anula todas as certezas recebidas de ou-
tro, um exerccio da liberdade.
Seria essa anulao de todas as determinaes
particulares a essncia do esprito em Magalhes?
Seria o mundo espiritual da metafsica pura nega-
tividade e vcuo? De modo algum. Em Magalhes
(assim como no fundador da losoa moderna), o
procedimento abstrativo apenas condio de con-
siderar em separado os elementos necessrios que
concorrem na percepo externa. Isso quer dizer
que a essncia do esprito pensante ou sujeito cog-
noscente no o nada vazio, mas a inteligncia
como uma abertura para todas as coisas, permitindo-
nos ver em separado no s a essncia das coisas,
como tambm as leis da natureza e a lei de
Deus.
Se suprimirmos com o pensamento todas as
coisas que no espao e no tempo se suce-
dem, no poderemos por nenhuma abstra-
o suprimir o espao, o tempo, o ser e a
causa; e se concebssemos que todas essas
coisas necessrias e absolutas se reduzissem
ao nada, seramos do mesmo modo obriga-
dos pela razo a dar atributos a esse nada, e
convert-lo em ser, dizendo que esse nada
era eterno, innito, substncia e causa de to-
das as causas. Mudaramos o nome s coisas
reais, absolutas, chamar-lhe-amos nada, e
elas, sem desaparecer um s instante do
nosso entendimento, nos obrigariam a re-
conhec-las, e arm-las. Suponhamos
mesmo que deixamos de existir, que tudo se
aniquila, absolutamente tudo, e ainda assim
nos parece que a razo eterna ca conceben-
do todas as coisas. O pensamento do nada
absurdo (...) o que de razo absoluta per-
manece, e com ela o esprito que a contem-
pla, e no h abstrao que o destrua (...) a
realidade das coisas de percepo e de razo
que obriga o esprito a conceb-las como
pode, e no as leis do entendimento que
obrigam o esprito a pensar nelas.
20
Se supusermos leis necessrias a que sujeito
esteja o entendimento humano, seremos
obrigados a supor tambm um ser necess-
rio que lhe imponha essas leis.
21
Desse modo, Magalhes no exclui as fontes
de espiritualidade do aristotelismo portugus vigen-
te no passado. Tanto em Santo Toms como em
Aristteles, o esprito, para chegar a ser tudo, deve
antes no ser nada, chegando o primeiro a armar
que o esprito na ordem intencional o que no na
ordem real, de sorte que o mundo constitudo pelo
pensamento at mais rico do que o mundo real.
22
Posteriormente a Magalhes, o cearense Farias
Brito, mesmo sem fazer qualquer referncia obra
losca de seu antecessor no processo de moder-
nizao da cultura brasileira,
23
avanar, depois de
uma distino entre a inteligncia divina e a inteli-
gncia humana, para uma fenomenologia da
conscincia de certo modo baseada na mesma com-
preenso da lei ontolgica, apresentada pelo autor
de Fatos do Esprito Humano:
Em ns a inteligncia est, por necessidade
natural, ligada a um organismo, do qual de-
pende e do qual dicilmente poder fazer
inteira abstrao. Por isto tem dois aspectos:
um aspecto individual, e neste sentido cha-
ma-se vontade, e um aspecto geral e univer-
sal, e neste sentido chama-se pensamento.
Como vontade a inteligncia tem por desti-
no prprio promover o bem do indivduo e
por isto que a vontade se manifesta preci-
samente como conscincia ou indicao das
nossas necessidades. Como pensamento a
inteligncia tem por m colocar-nos em re-
lao com a totalidade das coisas, dando-
nos o sentido de nossa existncia, e encami-
18
Magalhes diz: O esprito humano (...) na contemplao desse mundo
ideal da razo pura (...) acha ele um encanto inefvel, a que nada se pode
comparar, que nada pode substituir; porque esse o seu mais belo
emprego, nisso est o complemento da lei que o rege (ibid., p. 291).
19
Cf. citao da nota 10.
20
MAGALHES, 1858, pp. 284-285.
21
Ibid., pp. 284-285.
22
Cf. Santo Toms, Summa theologica, I, q. LXXV, a. II, e Aristteles, De
anima III, cap. 4, 429a-429b.
23
pouco provvel que Farias Brito desconhecesse a obra de Magalhes
depois da crtica demolidora de Tobias Barreto a Fatos do Esprito Humano
e da imagem negativa de seu autor em Slvio Romero, tanto em A Filosoa
no Brasil (1878) como na Histria da Literatura Brasileira (1888). Entre-
tanto, possvel que no a referisse pela mesma razo.
p g y p
132 i mpulso n 29
nhando-nos (...) para a identicao de nos-
sa conscincia com a conscincia universal.
A vontade, por um lado, isola e separa o in-
divduo do todo (...). O pensamento no:
participa da luz, luz interior, e como tal
liga-se no a qualquer forma individual, no
ao que passa e desaparece, mas ao que uni-
versal e eterno.
24
A DOUTRINA DA CONCILIAO
Entre as questes loscas suscitadas por
Magalhes no mbito da modernizao, a de maio-
res implicaes com a idia de losoa brasileira, a
estabelecer uma linha de pensamento que leva a To-
bias Barreto e, da, a Farias Brito e a Miguel Reale,
certamente aquela relacionada com a existncia da
escravido na sociedade brasileira desde a sua for-
mao. Ela aparece no captulo XV de Fatos do Es-
prito Humano e poderia ser apresentada sob a se-
guinte formulao: uma vez fundada a existncia do
indivduo na conscincia de si como inteligncia e li-
berdade, como justicar no seio da sociedade brasi-
leira recm-emancipada a existncia de homens vi-
vendo em regime de escravido? Em outras pala-
vras: a existncia de uma sociedade fundada no ho-
mem livre, como aquele que para si mesmo e no
para outro, excluiria a existncia de outros homens
que, privados da conscincia de si, e por isso mesmo
sem inteligncia nem liberdade, so obrigados ne-
cessidade da lei por determinaes estranhas pr-
pria vontade? Para Magalhes, os fatos da vida com-
provam que no.
Tratava-se, portanto, de reconhecer em pri-
meiro lugar que existe uma sociedade de homens
capazes de agir em conformidade prpria liberda-
de, tanto quanto existe a dimenso do mundo vivi-
do em virtude da conscincia do saber e do dever,
enm, a dimenso moral da ao humana. Em se-
guida, tratava-se de reconhecer, em razo da neces-
sidade a priori de leis absolutas (as leis da natureza
ou a lei de Deus) que regem a mecnica do uni-
verso e o prprio mecanismo dos deveres morais a
cumprir neste mundo, para complemento dos altos
desgnios do seu criador,
25
que existe uma dimen-
so do mundo da vida em que os homens esto li-
gados exclusivamente por fora dessa necessidade, e
no de sua inteligncia ou de sua vontade. Tratava-
se, enm, de reconhecer que essas duas formas da
vida no se excluem. Tudo reconhecido, como trs
premissas de um mesmo argumento, Magalhes
conclui que natural a coexistncia de homens vi-
vendo em liberdade e outros vivendo na escravido:
Demos que desaparecessem todas as virtu-
des, e todas as cincias, desaparecendo todas
as suas ocasies, todos os vcios, e todos os
males humanos; essa sociedade de mquinas
vivas, pouco mais ou menos como a das
abelhas, impossvel seria com a inteligncia e
a liberdade; porque bastariam estas duas
condies para que cada indivduo pensasse,
discorresse, e quisesse ordenar as coisas a
seu jeito; e cada qual pensando, e querendo
operar a seu grado, no haveria acordo, no
haveria sociedade, seria a guerra o estado
permanente, e viveriam os homens em um
estado muito pior do que o atual. Supondo
porm uma sociedade de entes sem liberda-
de, sem virtudes nem vcios, sem bens nem
males, todos de acordo e uniformes obede-
cendo a uma s vontade sempre justa, uma
tal sociedade possvel, e talvez exista em
qualquer outro sistema planetrio; mas sen-
do tambm possvel uma sociedade de ho-
mens livres, que no exclui a outra, nem
por ela excluda, esta sociedade existe de
fato no nosso planeta, e dela somos mem-
bros, livres graas a Deus, a m de que se-
jamos justos por ns mesmos, virtuosos e
sbios pelos nossos prprios esforos, e no
um rebanho de mquinas, obedecendo ce-
gamente a uma vontade soberana.
26
Poderamos, assim, distinguir numa ordem
essencial dois modos do ser: 1. o modo do ser pela
necessidade, em que a coexistncia no depende da
prpria inteligncia, nem da prpria vontade; 2. o
modo do ser pela liberdade, em que a coexistncia
uma construo da inteligncia com a nalidade l-
tima de garantir o livre-arbtrio. Nesse sentido, o se-
gundo modo excede o primeiro, de tal forma que
24
BRITO, 1914, 88.
25
MAGALHES, 1858, p. 392.
26
Ibid., p. 370.
p g y p
i mpulso n 29 133
pode haver o primeiro modo sem o segundo,
27
mas
no o segundo sem o primeiro:
Quem nega a liberdade cai em uma contra-
dio manifesta; porque, negando-a, prova
que sabe o que liberdade; que quis, e dei-
xou de querer alguma coisa em oposio
outra; que fez esforos para resistir; que
pensou sobre os meios de subtrair-se ne-
cessidade; que foi livre na sua resoluo, na
sua inteno, no seu querer, e que s deixou
de executar o que livremente quis, porque a
execuo depende de coisas estranhas sua
livre vontade. Se esse poder de efetuar fosse
tanto como o de querer, imagine-se que or-
dem haveria neste mundo! (...) A liberdade
de muitos s era possvel com algum ele-
mento fatal, que os reunisse, e os harmoni-
zasse; e a coexistncia da liberdade e da ne-
cessidade prova que tudo foi previsto e or-
denado com maior sabedoria que a ordem
de todo esse imenso universo. E como de
fato existe esta harmonia da liberdade e da
necessidade, nenhuma diculdade temos de
admitir o livre-arbtrio, e a prescincia divina
(...). Eu creio que, reconhecendo-se bem no
que consiste o livre-arbtrio, distinguindo-o
do elemento fatal e previsto que lhe resiste,
e da oposio mesma de todas as vontades
livres que se combatem, coordenam e har-
monizam perante a razo absoluta e a neces-
sidade das coisas que no dependem da nos-
sa vontade, possa tudo estar previsto, sem
que deixem os homens de ser livres.
28
Quais as fontes dessa compreenso? Quanto
aos modos do ser, tudo indica que a fonte a tradi-
o losca do aristotelismo portugus. Aristte-
les distingue como forma da vida entre os homens,
segundo a necessidade, aquela unio do que natu-
ralmente governante e do que naturalmente s-
dito, pois o que capaz de prever as coisas com sua
mente naturalmente governador e senhor ou che-
fe, e o que capaz de fazer coisas com seu corpo
naturalmente sdito e escravo.
29
Quanto conci-
liao de necessidade e liberdade, vemos claramente
a ressonncia do agostinismo poltico, em que
Agostinho se questiona se est sujeita a alguma ne-
cessidade a vontade humana:
Se por necessidade nossa entendermos o
que no se encontra em nosso poder, mas,
embora no queiramos, exercita seu poder,
como, por exemplo, a necessidade da mor-
te, evidente que nossa vontade, com que
vivemos bem ou mal, no se encontra sob o
domnio de tal necessidade. Porque faze-
mos muitas coisas que, se no quisssemos,
no faramos. A esse gnero pertence, em
primeira plana, o prprio querer, pois, se
queremos, existe, e, se no queremos, no
existe, visto como no quereramos se no
quisssemos. E, se se dene a necessidade,
como quando dizemos ser foroso que algo
seja assim, se faa assim, no sei por que te-
memos que nos tire o arbtrio da vontade.
Nem pomos, tampouco, sob o domnio
dessa necessidade a vida de Deus e sua pres-
cincia, se dizemos ser necessrio que Deus
viva sempre e saiba de antemo todas as coi-
sas, assim como no lhe diminumos o po-
der, se dizemos que no pode morrer nem
enganar-se. De tal maneira no pode, que, se
pudesse, seria, sem dvida, menor seu po-
der. Com razo se diz onipotente quem no
pode morrer, nem enganar-se. Chama-se
onipotente porque faz o que quer, no por-
que padece o que no quer; se isso aconte-
cesse, no seria onipotente. Donde se segue
no poder algumas coisas, justamente por
ser onipotente. Assim tambm, quando di-
zemos: necessrio que, se queremos, quei-
ramos com livre-arbtrio, indubitavelmente
dizemos verdade e no sujeitamos, por isso,
o livre-arbtrio necessidade, que suprime a
liberdade.
30
A importncia da doutrina da conciliao em
Magalhes para a histria da losoa brasileira no
est apenas no fato de ela justicar a forma da vida
27
Julgo que por essa razo, e fortemente apoiado nos argumentos do seu
contemporneo FLOURENS (De la vie et de lintelligence, seco II, cap.
VIII, pp. 45-49) e de PLOTINO (Enades I, L. I, 7), Magalhes come-
teu na losoa um erro mdico: extraiu cirurgicamente a sensibilidade da
conscincia, tentando assim dar um golpe fatal no sensualismo, no que
atraiu para si o mau humor de Tobias Barreto e de toda a historiograa
losca brasileira.
28
MAGALHES, 1858, p. 371.
29
Aristteles, Poltica I, cap. 2, 1252b.
30
Santo Agostinho, A Cidade de Deus, V, X.
p g y p
134 i mpulso n 29
brasileira sob a monarquia, mas, sobretudo, por ser
imediatamente superada pela teoria da cultura de
Tobias Barreto, por sua vez, o ponto de partida do
culturalismo de Miguel Reale. No temos dvida de
que, se Magalhes no tivesse concebido como na-
tural a sociedade escravista brasileira, Tobias Barreto
no teria armado, com tanta nfase, ainda no m-
bito da modernizao, que a cultura (...) a anttese
da natureza,
31
especialmente se considerarmos que
ele argumenta da seguinte forma: se algum hoje
ainda ousa repetir com Aristteles que h homens
nascidos para escravos, no vejo motivo de estra-
nheza. Sim, natural a existncia da escravido (...)
porm cultural que a escravido no exista.
32
Se considerarmos o modo como Farias Brito,
em O Mundo Interior, aprofunda o estudo da lo-
soa moderna em torno concepo da conscincia
como um absoluto, mais evidente se torna a impor-
tncia de Magalhes para o estudo da losoa bra-
sileira. Eis a concepo de liberdade em Farias Brito:
para alcanar o verdadeiro sentido da liberdade
preciso considerar o eu profundo, o eu na sua signi-
cao interna, o eu independentemente de qual-
quer inuncia proveniente do conhecimento das
coisas exteriores.
33
CONCLUSO
O reconhecimento de Magalhes como res-
ponsvel pela mudana de princpio da cultura bra-
sileira por si s lhe justica o crdito, concedido por
Tobias Barreto, de ter sido o primeiro, com Fatos do
Esprito Humano, a querer, em nome da civilizao
e do progresso, naturalizar entre ns a losoa.
34
Acresce que, alm da mudana de princpio, sua
doutrina da conciliao abre caminho para a idia de
losoa brasileira. Pois foi com base em sua viso
do problema da escravido como problema los-
co, e no apenas como um problema jurdico, eco-
nmico ou poltico, que Tobias Barreto avanou
para uma concepo ontolgica da cultura como
anttese da natureza, j ento no mbito do neokan-
tismo alemo e da prpria losoa de Kant, como
posteriormente ressaltou Miguel Reale. Alm de To-
bias Barreto, Farias Brito poderia tambm ser intro-
duzido partindo-se de Magalhes, particularmente
no que diz respeito concepo da conscincia
como um absoluto e importncia do mtodo psi-
colgico para a losoa.
Esta maneira de ver os estudos loscos de
Magalhes, especialmente Fatos do Esprito Huma-
no, como uma abertura para trabalhos de maior en-
vergadura e originalidade nos oferece a possibilidade
de uma verdadeira histria da losoa brasileira que,
nesse sentido, ainda est por escrever. Rero-me,
evidentemente, possibilidade de uma histria da -
losoa brasileira sem preconceitos contra o passado
ou contra o aristotelismo portugus inerente nos-
sa formao cultural, apenas com base no princpio
de historicidade do saber, conforme a referida com-
preenso heideggeriana desse princpio.
35
A reviso do signicado da obra losca de
Magalhes, particularmente em face do seu procla-
mado tradicionalismo, passa a ser um ponto es-
sencial se quisermos dar qualidade losca his-
toriograa losca brasileira, superando em de-
nitivo aquela perplexidade introduzida por Slvio
Romero, quando confessa que no Brasil o esprito
pblico no est ainda criado e muito menos o es-
prito cientco. A leitura de um escritor estrangei-
ro, a predileo por um livro de fora vem decidir da
natureza das opinies de um autor entre ns. As
idias dos lsofos, que vou estudando, no des-
cendem umas das outras pela fora lgica dos acon-
tecimentos.
36
Quero crer que depois que Miguel Reale re-
dimensionou a doutrina da cultura de Tobias Barre-
to, inaugurando o culturalismo brasileiro, no seio
do qual renovaram-se os estudos historiogrcos,
com a Histria das Idias Filoscas no Brasil, de
Antonio Paim, tornou-se evidente a necessidade de
31
Sobre uma nova intuio do direito, cf. BARRETO, 1990, p. 247.
32
Glosas heterodoxas a um dos motes do dia, ou variaes anti-sociolgi-
cas. Ibid., p. 304.
33
BRITO, 1914, 45.
34
Todos sabem que esta obra [Fatos do Esprito Humano], escrita por um
homem afeito ao movimento da poltica e das letras europias, constitui,
ela s tal o nosso atraso toda a biblioteca losca do Brasil. Foi uma
tentativa louvvel do seu autor [D. J. Gonalves de Magalhes] querer
assim, em nome da civilizao e do progresso, naturalizar entre ns a lo-
soa, conceder-lhe direito de cidade; porquanto no havia, como no h
ainda a par dele, obra digna de ateno (BARRETO, 1990, p. 83).
35
HEIDEGGER, 1999, 6.
36
ROMERO, 1969, p. 32.
p g y p
i mpulso n 29 135
considerar o processo de modernizao cultural,
iniciado pelas reformas pombalinas da instruo p-
blica, como o ponto de partida da losoa brasileira.
Ora, mais do que qualquer outro que o tenha ante-
cedido, incluindo-se o Frei Francisco do MontAl-
verne e o portugus Silvestre Pinheiro Ferreira, que
em seu curso das Prelees Filoscas, no Rio de Ja-
neiro (1813-1816), reetiu a inuncia do moderno
sensualismo, Gonalves de Magalhes no foi s o
primeiro a pensar a modernizao da cultura brasi-
leira como problema losco, mas, sobretudo, o
primeiro a propor uma resposta ao problema. Nessa
perspectiva de entendimento, a reexo losca
de Magalhes em Fatos do Esprito Humano tem
efetivamente um carter fundador.
Referncias Bibliogrcas
AZEVEDO, F. A Cultura Brasileira: introduo ao estudo da cultura no Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, 1943.
BARRETO, T. Estudos de Filosoa. Obras Completas. Rio de Janeiro: INL/Record, 1990.
BRITO, F. O Mundo Interior. Rio de Janeiro: Revista dos Tribunais, 1914.
CAEIRO, F.G. Para uma histria do iluminismo no Brasil: notas acerca da presena de Verney na cultura brasileira. Revista
da Faculdade de Educao, So Paulo, USP, 5 (1/2): 109-118, 1979.
CALAFATE, P. A Idia de Natureza no Sculo XVIII em Portugal. Lisboa: Imprensa Nacional, 1994.
CAMPOS, F.A. Reexo introdutria ao estudo da losoa na poca colonial, no Brasil. In: CRIPPA, A. (org.). As Idias Filos-
cas no Brasil: sculos XVIII e XIX; sculo XX (partes I e II). So Paulo: Convvio, 1978.
CARVALHO, L.R. As Reformas Pombalinas da Instruo Pblica. So Paulo: EDUSP/Saraiva, 1978.
CERQUEIRA, L.A. (org.). Aristotelismo Antiaristotelismo Ensino de Filosoa. Rio de Janeiro: gora da Ilha, 2000.
__________. Natureza e Cultura: a idia de origem da losoa brasileira (mimeo.). Lisboa: Universidade Nova de Lisboa,
1997.
__________. Gonalves de Magalhes: o sentido de um projeto losco brasileiro. O Pensamento de Domingos Gonal-
ves de Magalhes. Lisboa: Instituto de Filosoa Luso-brasileira, 1994.
__________. O pensamento esttico de Tobias Barreto. O Pensamento de Tobias Barreto. Lisboa: Universidade Nova de
Lisboa, 1991.
DIAS, J.S.S. O ecletismo em Portugal no sculo XVIII: gnese e destino de uma atitude losca. Revista Portuguesa de
Pedagogia, Coimbra, VI, 1972.
FERREIRA, S.P. Prelees Filoscas. Lisboa: Imprensa Nacional, 1996.
FINANCE, J. Essai sur lagir humain. Roma: Universidade Gregoriana, 1962.
FRANCA, L.S.J. O Mtodo Pedaggico dos Jesutas. Rio de Janeiro: Agir, 1952.
FREYRE, G. Casa-grande & Senzala. 25. ed., Rio de Janeiro: Jos Olympio, 1987.
GOMES, J.P. Aristotelismo em Portugal. VELBC, Lisboa, 2, 1964.
HEIDEGGER, M. Ser e Tempo. Trad. Mrcia de S Cavalcante. Petrpolis: Vozes, 1999.
HOLANDA, S.B. Razes do Brasil. 6. ed., Rio de Janeiro: Jos Olympio, 1971.
MAGALHES, D.J.G. Filosoa da religio. Obras. Rio de Janeiro: Garnier, 1865.
MARINHO, J. Verdade,Condio e Destino no Pensamento Portugus. Porto: Lello, 1976.
MOURA, D. Odilo (O.S.B.). O Iluminismo no Brasil. In: CRIPPA, A. (org.). As Idias Filoscas no Brasil: sculos XVIII e XIX. So
Paulo: Convvio, 1978.
_________. Relaes entre a losoa portuguesa e brasileira no sculo XIX. Filosoa Luso-brasileira. Rio de Janeiro: Uni-
versidade Gama Filho, 1983.
PAIM, A. Histria das Idias Filoscas no Brasil. 4. ed., So Paulo: Convvio, 1987.
p g y p
136 i mpulso n 29
PEREIRA, J.E. Silvestre Pinheiro Ferreira. Cadernos de Cultura, Lisboa, 1 (1): 9-18, 1998.
REALE, M. Estudos de Filosoa Brasileira. Lisboa: Instituto de Filosoa Luso-Brasileira, 1994.
ROMERO, S. A Filosoa no Brasil. Rio de Janeiro: Jos Olympio, 1969.
STURM, F.G. O signicado atual do pensamento britiano. Anais do IV Congresso Nacional de Filosoa, So Paulo/Fortaleza,
Instituto Brasileiro de Filosoa, 1962.
TEIXEIRA, A.B. O Pensamento Filosco de Gonalves de Magalhes. Lisboa: Instituto de Filosoa Luso-Brasileira, 1994.
TOYNBEE, A. Estudio de la Historia (v. 3). Madrid: Alianza, 1971.
VIEIRA, A. Sermes. Org.: Alcir Pcora. So Paulo: Hedra, 2000.
p g y p
i mpulso n 29 137
REVISITANDO A
MODERNIDADE
BRASILEIRA:
NACIONALISMO E
DESENVOLVIMENTISMO
Reviewing the Brazilian Modernity:
nationalism and development
Resumo Este artigo revisita a modernidade brasileira, salientando os fundamentos, as
concepes e as prioridades que nortearam as aes construtoras do processo de de-
senvolvimento urbano-industrial como uma busca pela soberania e autonomia do
Brasil em relao ao exterior. Procuramos evidenciar as contradies desse processo
modernizador, que, ao mesmo tempo que dinamizava e redimensionava a economia
e a sociedade, seguia reproduzindo seus principais limites: ingerncia externa, insta-
bilidade econmica e desigualdade social.
Palavras-chave MODERNIDADE NACIONALISMO DESENVOLVIMENTO CIDA-
DE INDUSTRIALIZAO.
Abstract In this article we review Brazilian modernity focusing the basics, concep-
tions and priorities that guided the actions that started the industrial-urban develop-
ment process, as a quest for Brazils sovereignty and autonomy regarding foreign
countries. We tried to show the contradictions of such modernizing process, which
made economy and society more dynamic, while reproducing their main limits: fo-
reign inuence, economic instability and social inequalities.
Keywords MODERNITY NATIONALISM DEVELOPMENT CITY INDUSTRIALI-
ZATION.
MARIA THEREZA MIGUEL PERES
Doutora em histria
pela USP e professora de
economia da Faculdade de
Gesto e Negcios/UNIMEP
mtmperes@unimep.br
ELIANA TADEU TERCI
Doutora em histria pela USP,
professora de economia
da Faculdade de Gesto e
Negcios/UNIMEP e
pesquisadora do NPDR-UNIMEP
etterci@unimep.br
p g y p
138 i mpulso n 29
INTRODUO
s sociedades capitalistas nos anos recentes vm, de modo
geral, enfrentando mudanas signicativas na vida cultural,
social e econmica, que tm provocado intenso debate so-
bre os impactos da modernidade, chegando-se at a diag-
nosticar que uma nova sociedade vem se estruturando, fer-
mentada pela anlise ps-moderna.
1
Nesse cenrio de trans-
formaes, discute-se urbanizao, democratizao, abertu-
ra econmica, reforma do Estado, emprego, papel do
consumo e do consumidor, globalizao etc., subestimando muitas vezes o
contexto da realidade nacional, o que demonstra o quanto ainda as experin-
cias e/ou modelos europeus e norte-americanos fascinam intelectuais e pol-
ticos no trato da modernidade brasileira. Mediante um resgate histrico e
econmico, entretanto, percebe-se que a construo da modernidade no Bra-
sil apresentou certas especicidades, marcadas, em alguns perodos, por um
grande apelo autonomia socioeconmica e soberania nacional.
Como no se trata de buscar uma reexo denitiva, a questo que ini-
cialmente se coloca compreender a prpria modernidade como processo
histrico no qual as transformaes envolvem situaes diversicadas de ar-
ticulao entre interesses econmicos e polticos. So trajetrias variadas, ca-
pazes de desfazer a iluso de um desenvolvimento socioeconmico racional
e coerente, isento de perturbaes, impulsionado por uma lgica universal.
Pode-se tambm entender a modernidade como experincia que une e de-
sune homens, mulheres, cidades, pases, mercados, na sua convivncia social.
De fato, a modernidade
um tipo de experincia vital experincia de tempo e espao, de si mes-
mo e dos outros, das possibilidades e perigos da vida que compar-
tilhada por homens e mulheres em todo o mundo, hoje. Designarei esse
conjunto de experincias como modernidade. Ser moderno encon-
trar-se em um ambiente que promete aventura, poder, alegria, cresci-
mento, autotransformao e transformao das coisas em redor mas
ao mesmo tempo ameaa destruir tudo o que temos, tudo que sabemos,
tudo que somos. A experincia ambiental da modernidade anula todas
as fronteiras geogrcas e raciais, de classe e nacionalidade, de religio e
ideologia: nesse sentido, pode-se dizer que a modernidade une a espcie
humana. Porm, uma unidade paradoxal, uma unidade de desunidade:
ela nos despeja a todos num turbilho de permanente desintegrao e
mudana, de luta e contradio, de ambigidade e angstia.
2
As palavras de Berman so oportunas, pois possibilitam revisitar a mo-
dernidade brasileira no seu processo de expanso urbano-industrial, identi-
cando alguns marcos do seu crescimento econmico que, ao mesmo tempo,
dinamizaram as cidades e redeniram vrias dimenses da economia e da so-
1
HARVEY, 1993.
2
BERMAN, 1996, p. 15.
AA
A A
p g y p
i mpulso n 29 139
ciedade. Porm, foram incapazes de eliminar a inge-
rncia externa, a instabilidade econmica e a desi-
gualdade social, que tm, de forma geral, compro-
metido o alcance de seu projeto modernizador.
Confrontando o cenrio internacional com a
experincia brasileira, pode-se dizer que a moderni-
dade aproximou essas fronteiras valendo-se de uma
articulao de interesses comuns, sem, contudo,
destruir a dimenso singular dos limites, problemas
e contradies presentes no movimento de
expanso das cidades brasileiras.
BRASIL MODERNO:
A INSERO COMPULSRIA
Relacionar Brasil e modernidade signica tra-
tar de uma insero. Sim, pois o Brasil, e os demais
pases latino-americanos, em razo de seu passado
colonial e suas decorrncias escravido, latifndio,
dependncia econmica e poltica tiveram seus
processos de desenvolvimento e formao econ-
mica limitados e, em grande medida, controlados
por esses estigmas que se cristalizaram na estrutura
produtiva e social, perdurando mesmo depois de a
industrializao tornar o sistema colonial vazio de
sentido. Em outros termos, o Brasil chegava s d-
cadas nais do sculo XIX com boa parcela de sua
elite rural resistindo a abolir a escravido, com sua
estrutura produtiva monocultora e latifundista de
base primrio-exportadora.
A esse tempo, o mundo assistia estarrecido
2. Revoluo Industrial, ou Revoluo Tecno-
cientca, cujas caractersticas determinantes foram o
advento da grande empresa monopolista, a mundia-
lizao da economia sob a regncia do Estado e a
utilizao da cincia como instrumento para o de-
senvolvimento de tcnicas e materiais industriais.
Barracloug rme em seu argumento: no h dvi-
da que o mundo j no era o mesmo a partir de
1870!
3
Era impossvel car alheio ao turbilho de no-
vidades impostas pela revoluo tecnolgica, por-
que as transformaes que decorriam no se mos-
travam ocasionais, como tinham sido na 1. Revo-
luo Industrial. Eram cienticamente planejadas:
surgiram os novos materiais, o ao, a eletricidade e o
petrleo substituram o ferro e o vapor, e a medicina
foi revolucionada com os avanos da indstria qu-
mica e da farmcia, bem como com o advento das
novas cincias a microbiologia, a bioqumica e a
bacteriologia , que alteraram qualitativamente a
prtica mdica. Sem contar a revoluo na agricul-
tura, provocada pela introduo dos fertilizantes ar-
ticiais, dos novos mtodos de conservao dos ali-
mentos a refrigerao, a pasteurizao e a esterili-
zao e, ainda, do aperfeioamento nos processos
de embalagem de alimentos enlatados. Essas inova-
es permitiram o fornecimento regular e relativa-
mente mais barato de alimentos para a crescente po-
pulao mundial.
4
Entretanto, essa revoluo teve um endereo,
assim como a sua antecessora. Localizou-se na Eu-
ropa Ocidental e na Amrica do Norte e estabele-
ceu a distino entre as naes: o centro formado
pelos pases industrializados e a periferia composta
pelos demais, basicamente de economia agrcola. O
Brasil, conforme apontamos, pela sua condio
agrrio-exportadora, mantinha-se no segundo gru-
po. Por paradoxal que possa parecer primeira vista,
a condio primrio-exportadora da periferia foi o
que possibilitou a sua insero na 2. Revoluo In-
dustrial por meio do comrcio internacional. Alis,
como alertou Sevcenko, o comrcio internacional
foi a via dessa insero compulsria, determinada por
interesses mtuos: aos pases industrializados inte-
ressava ter acesso s matrias-primas e alimentos
produzidos nos pases primrios-exportadores, e,
para estes ltimos, essa era a nica forma de obter
crdito para nanciar sua produo agrcola, bem
como para poder consumir as novidades produzi-
das pela industrializao.
5
A insero compulsria, no entanto, se fazia de
maneira subordinada: para ter acesso ao crdito in-
ternacional era preciso inspirar conana nos gru-
pos credores internacionais, era preciso modernizar
3
Cf. BARRACLOUG, 1983. justamente o evento da 2. Revoluo
Industrial que Barracloug toma como referncia para demarcar o incio da
histria contempornea. Mais precisamente a partir de 1890, quando os
efeitos da revoluo tecnolgica e a nova diviso internacional do trabalho
(novo imperialismo), que a acompanha, se fazem sentir no mundo inteiro.
4
Ibid.
5
SEVCENKO, 1995.
p g y p
140 i mpulso n 29
o pas, construir uma imagem de respeitabilidade no
exterior capaz de ser, por si mesma, a avalista dos
devedores nacionais. E modernizar o pas signica-
va, para as elites pensantes brasileiras, tirar o Brasil
do atraso em que ele se encontrava. Atraso iden-
ticado com base nos elementos formadores do
povo ou da raa brasileira, atribudos ao passado co-
lonial e suas remanescncias, e agravados pelo clima
tropical negritude, indolncia, preguia. nesse
sentido que Ribeiro e Cardoso identicam o deslo-
camento da ao reformadora e da construo da
repblica no Brasil do social para a nao, a constru-
o da nacionalidade: Todos os discursos tendem,
mais ou menos, a apresentar um pas sem povo, ou
melhor, sem uma sociedade organizada, organica-
mente constituda, capaz de, por si, estabelecer as
dinmicas constituidoras da nacionalidade.
6
Como alerta Renato Ortiz, a partir de ento,
inaugura-se uma linha de pensamento que busca
entender a questo da identidade nacional na sua
alteridade com o exterior,
7
excetuando-se, eviden-
temente, a antiga metrpole. Ou seja, ser moderno
signicava estar atualizado com o mundo, acompa-
nhar a ordem urbano-industrial. Acompanhar a pa-
lavra adequada, pois nem sempre nesse percurso
modernizante, iniciado com a abolio da escravi-
do e o advento da repblica, urbanizar e industria-
lizar revelaram-se prioridades para as elites empre-
endedoras brasileiras. Alis, so bastante conhecidas
as teses, especialmente a partir de Alberto Torres,
que postulavam um destino agrcola para o Brasil, es-
tabelecendo uma distino entre a superioridade da
agricultura em relao articialidade das atividades
urbanas.
8
Dito de outra forma, pelo menos at os
anos 30, no se pode dizer que houve uma proposi-
o industrializante no Brasil, ainda que o mercado
interno haja se intensicado e dinamizado. Ao con-
trrio, a economia agrrio-exportadora constitua o
eixo dinmico de sustentao do emprego e da ren-
da, e as elites proprietrias, mais precisamente a oli-
garquia cafeeira alinhada com os crculos nanceiros
internacionais construa o seu iderio de moderni-
dade no qual exportar caf era o sentido.
Isso no signicou, entretanto, o desprezo s
cidades. Em que pese o fato de elas no terem se
consumado no eixo de interveno das elites em-
preendedoras, acabaram canalizando boa parte dos
recursos produtivos, seja em decorrncia do cresci-
mento das atividades urbanas subsidirias do co-
mrcio de exportao cafeeira bancos, indstrias
de sacaria, casas de beneciamento de caf, ferrovia
etc. , seja porque as cidades constituam plos de
atrao para as populaes pobres em busca de
oportunidades, seja ainda em razo de as cidades se
apresentarem como os locus privilegiados para
sedimentao do poder poltico das elites. Em ou-
tros termos, se o campo era o espao de sustentao
econmica, de formao das fortunas e mesmo de
sedimentao da base poltica das elites, a cidade era
o lugar onde as atividades econmicas se realizavam
e o poder poltico se materializava.
Desse modo, tendo em vista as referncias
determinadas pela conjuntura aberta com a 2. Re-
voluo Industrial, a modernizao do Brasil pas-
sava, impreterivelmente, pela transformao das
cidades, em especial as grandes cidades, as capitais,
pois elas representariam os esforos modernizan-
tes das elites brasileiras: verdadeiros cartes de vi-
sitas aos moldes do requintado gosto europeu. Es-
sa, na verdade, no era uma peculiaridade nacional.
A historiograa sobre as cidades aponta a forma-
o do mercado de trabalho livre e a industrializa-
o como os fenmenos baseados nos quais a ci-
dade se problematiza e a questo urbana passa a ser
pensada de forma racional. Surge a cincia urbana,
cuja preocupao o reordenamento dos espaos
segundo mtodos cientcos de planejamento e
saneamento, com vistas a transformar o caos em
que as cidades se tornaram, com o advento do ca-
pitalismo e da industrializao, e a conseqente de-
sarticulao das sociedades rurais, em espaos hi-
ginicos e civilizados, espaos modernos, contro-
lados.
9
6
Cf. RIBEIRO, L. & CARDOSO, A. Da cidade nao: gnese e evolu-
o do urbanismo no Brasil, in: RIBEIRO et al., 1996, p. 57.
7
ORTIZ, 1994, p. 182.
8
SALIBA, 1981.
9
Cf. a respeito CHOAY, 1979 e 1994; BEGUIN, 1991; TOPALOV,
1991; e RIBEIRO et al., 1996.
p g y p
i mpulso n 29 141
A CONSTRUO DA CIDADE
PARA INGLS VER
Nas dcadas iniciais da Repblica no Brasil, a
modernizao das cidades se manifestou de forma
emblemtica no processo que a imprensa denomi-
nou regenerao e que tomou conta da capital do
pas. Sevcenko relata com riqueza de detalhes os re-
quintes dessa interveno, marcada pela busca ob-
sessiva de se criar uma nova respeitabilidade repu-
blicana, e identica quatro princpios norteadores,
que vale a pena destacar:
A condenao dos hbitos e costumes liga-
dos pela memria sociedade tradicional; a
negao de todo e qualquer elemento de
cultura popular que pudesse macular a ima-
gem civilizada da sociedade dominante;
uma poltica rigorosa de expulso dos gru-
pos populares da rea central da cidade, que
ser praticamente isolada para o desfrute ex-
clusivo das camadas aburguesadas; um cos-
mopolitismo agressivo, profundamente
identicado com a vida parisiense.
10
Constituiu-se, assim, um modelo de gesto
pblica para as cidades brasileiras que se torna
referncia demarcatria da distino entre o Brasil
moderno e o atrasado. O mtodo era fornecido
pela cincia urbana: os elementos higiene, esttica e
circularidade presidiam as aes dos reformadores
urbanos. E seriam mdicos, engenheiros sanitaristas
e higienistas os primeiros reformadores.
11
Alm da capital do pas, essa interveno se
traduziu numa srie de planos de saneamento e
expanso das cidades na virada do sculo XIX e, es-
pecialmente, na primeira dcada do sculo XX.
12
Foi
o caso do plano do engenheiro sanitarista Saturnino
de Brito para a cidade de Santos, tido como uma das
primeiras obras do urbanismo moderno no Brasil,
visto que suas medidas de saneamento, higienizao
e embelezamento nortearam-se pela capacidade de
crescimento da cidade, antecipando o seu futuro.
13
O projeto de Victor Freire, de remodelao do anel
virio de So Paulo, tambm ilustra essa proposio,
pois pressupe a necessidade de preparar a cidade
para a futura expanso.
14
Inscreve-se aqui tambm o plano de Aaro
Reis para construo de Belo Horizonte, de inspi-
rao haussmanniana, tanto na sua concepo higie-
nista quanto na idia de organizao, funcionalidade
e monumentalidade do espao urbano.
15
Finalmen-
te, para no carmos apenas nos exemplos das ca-
pitais e grandes cidades, acrescente-se a esse quadro
as medidas de administrao pblica do mdico
Paulo de Moraes Barros para Piracicaba. No se
sabe ao certo se elas obedeceram a um plano de ao
previamente estabelecido, mas possvel armar
que foram regidas pelos princpios norteadores do
urbanismo iluminao, higienizao e esttica.
16
Ribeiro e Cardoso, no entanto, referindo-se
s reformas urbanas na 1. Repblica, chamam a
ateno para uma caracterstica comum a todas
elas, a saber, a negao da apropriao do espao
pblico pelas camadas populares, a sua expulso
das reas nobres da cidade, ou seja, a inteno de
construir uma cidade para ingls ver. Os autores
identicam nessa proposio absolutamente ex-
cludente o trao peculiar da interveno urbana no
Brasil relacionado com moderno urbanismo euro-
peu: enquanto, na Europa, o urbanismo surgiu re-
vestido da idia de reforma social, cujas aes prin-
cipais esto na origem de uma srie de polticas do
welfare state, no Brasil, a reforma urbana visava a
afastar a todo preo as populaes empobrecidas e
incultas dos locais mais visveis ruas, praas, reas
centrais -, apoiando-se nas posturas e leis munici-
pais, na destruio das velhas construes coloniais,
que delineavam os centros urbanos, e nas leis con-
tra a vadiagem e a mendicncia, que proliferaram
nesse perodo.
17
10
SEVCENKO, 1995, p. 30.
11
LEME, 1991.
12
H divergncia entre os diversos estudos relativamente identicao
das aes dos reformadores urbanos brasileiros na 1. Repblica como
manifestaes que podem ser consideradas obras da cincia urbana ou de
planejamento urbano, sobretudo quando a referncia o controle social.
Cf. RIBEIRO et al., 1996.
13
ANDRADE, 1991.
14
LEME, 1991.
15
GUIMARES, B. A concepo e o projeto de Belo Horizonte: a uto-
pia de Aaro Reis, in: RIBEIRO et al., 1996.
16
Cf. TERCI, 1997.
17
Cf. RIBEIRO, L. & CARDOSO, A. Da cidade nao: gnese e evo-
luo do urbanismo no Brasil, in: RIBEIRO et al., 1996.
p g y p
142 i mpulso n 29
O DESPERTAR DE UM NOVO TEMPO
O advento da 1. Guerra Mundial, porm, ar-
rasa o cenrio idlico da belle poque: ao romper com
o mito do internacionalismo liberal, a guerra desnu-
da a acirrada rivalidade que marcava as relaes entre
as naes e desperta uma parcela dos polticos e in-
telectuais brasileiros para a necessidade de fortalecer
a nao e preservar sua soberania. Alm disso, os
efeitos da guerra atingiam tambm o Brasil, seja por
conta da dupla crise imposta ao setor exportador
(retrao das compras e do crdito internacional),
pela carestia dos preos dos alimentos (acarretada
pelo aumento das exportaes desses gneros e pe-
los mecanismos inacionrios de nanciamento do
caf e do dcit pblico), seja ainda pela diculdade
de manter as exportaes.
18
A verdade que a sociedade tambm era mui-
to diferente dos anos iniciais daquele sculo. A
industrializao, a urbanizao e a constituio das
grandes cidades trouxeram com elas a diversicao
da populao com o surgimento de novos grupa-
mentos sociais, sobretudo a formao de um ope-
rariado urbano, que, embora ainda em estgio em-
brionrio, dava nova movimentao s cidades. Essa
nova diversidade social se construiu num clima de
enormes tenses sociais, envolvendo trabalhadores,
patronato e Estado, que se agudizaram no perodo
da guerra, notadamente em razo da carestia dos ali-
mentos, do desemprego, do arrocho salarial e da au-
sncia de legislao trabalhista, contribuindo, por
sua vez, para o fortalecimento do movimento ope-
rrio. O desfecho dramtico foram as greves gerais
de 1917, 1918 e 1919, que, se de um lado, revelaram
novas formas de ocupao das ruas e dos espaos
pblicos, bem distintos do que pretendiam as elites,
de outro, revelaram tambm o grau de tolerncia
das classes dominantes e os limites do alargamento
da esfera pblica: as greves foram tratadas como ca-
so de polcia, como sintetizou Washington Luiz, e
reprimidas violentamente.
19
Os anos 20, entretanto, anunciavam o desper-
tar de um novo tempo. A conjuntura catastrca
dos anos anteriores parecia superada. O m da
guerra acrescentara novos contedos ao vocbulo
moderno, em virtude do carter apocalptico atribu-
do transio para o novo, ou seja, despertava o
mundo num chamamento mstico para a constru-
o do novo, sado do caos o novo homem, a nova
ordem, o esprito novo e, especicamente no Brasil,
a nova nao.
20
A conjuntura que se abria a partir de ento
constituiu um momento de grande reexo para as
elites brasileiras sobre os problemas nacionais, dan-
do origem campanha nacionalista, que tomaria
conta do pas. Esse movimento envolveu as princi-
pais capitais brasileiras, institucionalizando-se nas li-
gas nacionalistas estaduais, e, embora tivesse ainda
como elemento irradiador as transformaes no ce-
nrio das relaes internacionais, diferia substancial-
mente do que fora o processo regenerador das
dcadas iniciais da Repblica, como alerta Sevcenko.
Tratava-se de um movimento introspectivo, e no
cosmopolita como o anterior, o centro irradiador
passou a ser So Paulo, no o Rio de Janeiro, e seu
objetivo consistiu na busca de uma identidade nacio-
nal que permitisse ao Brasil integrar o mundo mo-
derno e participar da diviso internacional do traba-
lho, preservando sua autonomia e soberania. Para
tanto, o resgate do passado, das razes tradicionais,
da cultura popular, dos feitos de suas gentes desde
os ureos tempos do perodo colonial representava
uma ncora fundamental para a construo de um
futuro alicerado na justaposio do velho e do no-
vo, do arcaico e do moderno.
21
Ainda desta feita a estrutura social, poltica e
econmica no seria tocada. Os problemas relativos
ao modelo de desenvolvimento econmico voltado
para fora, alicerado no comrcio internacional no
seria questionado, visto que o processo de
modernizao do pas levado a termo nos anos an-
teriores no tinha revertido a situao vigente: a
industrializao e a urbanizao se zeram ancora-
18
Para uma anlise dessa conjuntura e de suas conseqncias, cf., entre
outros, SEVCENKO, 1992; MOREIRA, 1982; SALIBA, 1981; e LOVE,
1989.
19
Para maiores detalhes sobres as greves de 1917 a 1919, cf., entre outros,
FAUSTO, 1977; e PINHEIRO, 1977.
20
Sobre as vrias fases do modernismo, cf., BRADBURY & McFAR-
LANE, 1989. A respeito da construo da modernidade brasileira, cf.
ORTIZ, 1994.
21
SEVCENKO, 1992.
p g y p
i mpulso n 29 143
das no setor de mercado externo, como atividades
secundrias ou subsidirias a ele, sendo incapazes de
produzir novos grupos sociais com fora suciente
para enfrentar a oligarquia cafeeira, ou mesmo cons-
tituir-se como alternativa a ela.
Assim, o movimento modernizante institudo
a partir de ento reforava a posio ruralista da eco-
nomia brasileira e identicava, na esfera da poltica, os
entraves aos sonhos de grandeza do pas: eram as oli-
garquias regionais e as mazelas eleitorais que as per-
petuavam no poder, impedindo a ascenso das
oposies redentoras. A reforma do sistema eleito-
ral, com a introduo do voto secreto, constitua a
principal bandeira do movimento nacionalista.
22
So Paulo buscava galvanizar todas as possibi-
lidades dessa ascenso redentora: depositrio da
maior riqueza nacional, o caf, e de uma tradio
desbravadora que era motivo de seu maior orgulho,
o bandeirantismo, a unidade federativa emergente
desencadeia um movimento inclusivo, atingindo to-
dos os setores indistintamente, desde a imprensa,
passando pela literatura e pelas artes, at o governo.
Era a consagrao do non ducor, duco, expresso lar-
gamente difundida na poca, ou do paulistismo,
no dizer de Elias T. Saliba.
23
Vale salientar que, em
nome dessa misso redentora e modernizante atri-
buda a So Paulo e ao caf, aprofundam-se nos anos
20 as presses da oligarquia cafeeira sobre o governo
federal para o alargamento das polticas e medidas
em defesa da lavoura cafeeira e de sua lucratividade,
cuja produo seguiria crescendo e os riscos de uma
superproduo crtica continuariam sem soluo at
o nal da dcada.
24
No que se refere interveno urbana, ainda
que se mantenham as proposies saneadoras, higie-
nizadoras e segregadoras, a elas vm se somar outros
contedos, contribuindo para uma nova forma de
interao entre o pblico e o espao urbano: o em-
belezamento e a monumentalidade. Alm da valo-
rizao das construes suntuosas das habitaes,
sedes comerciais e instituies, a ereo dos monu-
mentos alusivos a momentos ou personagens hist-
ricos so a marca do perodo do nacionalismo, gra-
as sua capacidade de, ao mesmo tempo, promo-
ver o culto ao passado, a imortalizao dos persona-
gens e seus feitos, a arte e os artistas nacionais.
Segundo Sevcenko, mais signicativos que os mo-
numentos, entretanto, so os festivais modernos: as
cidades tornam-se palco de uma srie de rituais co-
memorativos aos grandes feitos nacionais, cujo efei-
to mais notvel o clima de comunho nacional que
promovem nos habitantes.
25
Os anos iniciais da dcada de 20 so o corol-
rio dessa euforia modernista, cuja maior expresso
a Semana de Arte Moderna de 1922. Esse ano de
1922 de fato um marco. Data do Centenrio da
Independncia, proporciona o momento ideal para
a grande confraternizao nacional. Para as come-
moraes alusivas data, o ento presidente do Es-
tado de So Paulo, Washington Luiz, promove um
grande festival cvico, cujo ponto alto foi o concur-
so pblico criado para dar sua capital uma srie de
monumentos alusivos data, envolvendo artistas e
associaes mutuais, que, segundo Sevcenko, com-
puseram a mais sistemtica campanha de embeleza-
mento da cidade desde os tempos do prefeito An-
tonio Prado.
26
Ao que tudo indica, esse no foi um evento lo-
calizado apenas na capital. O interior tambm aca-
bou tocado pelo clima das comemoraes e, na me-
dida do possvel, as elites buscaram trazer o festival
moderno para as diversas localidades. Em Piracicaba,
por exemplo, organizou-se uma grande quermesse
cvica, cuja renda foi revertida para as obras da Santa
Casa local, trocaram-se as nomenclaturas das ruas
principais pelos nomes das personalidades ligadas
Proclamao da Independncia e da Repblica e eri-
giu-se um primeiro monumento histrico em ho-
menagem ao dr. Paulo de Moraes Barros, o prefeito
que conquistara o ttulo de administrao modelo
para Piracicaba na primeira dcada do sculo XX.
27
CONSERVADORISMO NACIONALISTA
As tenses se avolumavam, apesar do clima
de comoo geral patrocinado pela onda nacionalis-
22
Cf. SALIBA, 1981.
23
Ibid.
24
Cf. FURTADO, 1982.
25
SEVCENKO, 1992.
26
Ibid.
27
TERCI, 1997.
p g y p
144 i mpulso n 29
ta. A poltica de valorizao do caf praticada pelo
governo federal promovia a socializao das per-
das, provocando a carestia dos preos e o descon-
tentamento das camadas urbanas.
28
Na verdade,
eram as polticas de valorizao o sustentculo do
modelo primrio exportador e da economia cafeei-
ra, a tal ponto que, ao nal da dcada de 20, o receio
de que o novo presidente pudesse no sustentar a
poltica cafeeira levou Washington Luiz a defender o
nome de um paulista para a sua sucesso presiden-
cial. Dessa forma, rompeu o pacto que mantivera o
regime oligrquico federativo desde que o governo
de Campos Salles promulgou a legislao eleitoral
que cou conhecida como a poltica dos governa-
dores ou a poltica do caf com leite.
29
Essa ati-
tude acabou empurrando a oligarquia mineira a ade-
rir Aliana Liberal e revoluo varguista.
crise poltica veio somar-se a derrocada fatal
do modelo primrio-exportador com a crise de
1929. A queda vertiginosa das exportaes cafeeiras
desnudava a vulnerabilidade de um modelo de de-
senvolvimento to dependente do mercado exter-
no, de uma economia to voltada para fora, como
era a brasileira. Foi nesse ambiente de dupla crise
poltica e econmica que a Aliana Liberal conduziu
Getlio Vargas ao poder e esse clima abriu espao
para a difuso de um novo projeto de modernizao
para o Brasil, totalmente avesso ao iderio liberal
que vigorara at ento, em que pesem os protestos
e insubordinaes dos liberais paulistas.
30
O novo projeto de modernidade ento inau-
gurado produziu dois deslocamentos em relao ao
perodo anterior. O primeiro diz respeito ao diag-
nstico do atraso cuja formulao mais conhe-
cida encontra-se nos escritos de Oliveira Vianna
identicado com o latifndio e a escravido presen-
tes nas bases da sociabilidade brasileira, centrada na
autoridade pessoal do grande proprietrio. Tal estru-
tura social, por sua vez, deu origem ao caudilhis-
mo e ao coronelismo, que dominavam a poltica
brasileira e zeram do Estado um verdadeiro cart-
rio em defesa dos interesses privados dos grandes
proprietrios rurais. Segundo Oliveira Vianna, da
teria resultado a inviabilidade do liberalismo no Bra-
sil: para enfrentar a fora do caudilhismo, que era
sempre uma ameaa desintegrao territorial e so-
cial, s um poder centralizador forte - metropolita-
no ou nacional , que agisse como promotor da paz
e da ampla proteo dos cidados.
31
o que justica a modernizao conservado-
ra: a realidade brasileira teria conseguido tornar de-
fensvel o que, at ento, teria sido indesejvel; o
poder central, absoluto e autoritrio teria se trans-
formado na nica via de construo do Estado mo-
derno no Brasil, capaz de se orientar por mecanis-
mos racionais.
32
Essa formulao, levada s ltimas
conseqncias, produziu o iderio do Estado Novo,
cuja ateno voltou-se especialmente para a questo
social e a proposio de criar uma sociedade harm-
nica sob a tutela do Estado.
33
J o segundo desloca-
mento advinha do novo padro de acumulao sus-
tentado por grupos industriais e agrcolas emergen-
tes da expanso das atividades urbanas, promovidas
pelo crescimento do complexo cafeeiro centrado no
mercado interno no desenvolvimento para dentro.
34
Nesse novo modelo, a industrializao foi priorizada
como forma de tornar o Brasil o menos dependente
possvel do comrcio internacional.
A euforia nacionalista e defensiva que se ins-
taurou com a modernizao conservadora no foi
capaz, no entanto, de promover um intenso proces-
so de substituio de importaes de modo a pos-
sibilitar a diversicao do parque industrial brasilei-
ro, nem mesmo de romper a estrutura agrrio-ex-
portadora centrada na monocultura e no latifndio.
A to almejada independncia econmica, e conse-
28
O processo de socializao das perdas, expresso cunhada por Celso
Furtado, ocorria pelo fato de a poltica de valorizao do caf contar fun-
damentalmente com o mecanismo de ajuste cambial: ao desvalorizar a
moeda nacional, para manter a lucratividade do setor exportador, encare-
cia-se as importaes e, portanto, quem delas dependia arcava com os pre-
juzos. Cf. FURTADO, 1982.
29
Sobre o governo Campos Salles e a poltica dos governadores, cf.
FAORO (1995). Como sabido, desde a sua edio, So Paulo e Minas
Gerais se alteravam no governo federal, garantidos pela poltica dos gover-
nadores. Em 1929, seria a vez de Minas na sucesso presidencial.
30
Cf. CAPELATO, 1989. Segundo a autora, a faco liberal paulista, que
dera apoio ao golpe que conduziu Vargas ao poder no demorou a perce-
ber que os seus anseios estariam ameaados com a centralizao do poder
e a ditadura vindoura; pegou em armas e fez a sua revoluo em 1932.
31
GOMES, 1998, p. 509.
32
Ibid.
33
Ibid.
34
SINGER, 1968.
p g y p
i mpulso n 29 145
qentemente poltica, em relao ao mercado exter-
no esbarrava na relativa carncia de base tcnica da
economia brasileira, tornando o processo de
industrializao dependente da importao de tec-
nologia. Sendo assim, no perodo que se estende en-
tre as dcadas de 30 e 50, a industrializao cou
restringida, de acordo com o termo empregado
por Cardoso de Mello.
35
Ou seja, seguiu a estrutura
previamente montada ou complementar a ela, com
grande expanso do setor txtil e um crescimento
tmido da indstria de base emergente, especial-
mente borracha, cimento, mobilirio, papel e side-
rurgia.
36
Da mesma forma, o urbano tambm no as-
sumiu o papel de destaque, como era de se esperar,
sobretudo porque as presses das oligarquias regio-
nais presentes no pacto social de sustentao do
novo governo zeram reproduzir o antiurbanismo
nos meios intelectuais e tcnicos que formulavam
as proposies e polticas sociais.
37
Assim, embora
o antiurbanismo no fosse absoluto possvel
identicar a associao entre nacionalidade,
industrializao e urbanizao no pensamento de
outros intelectuais inuentes no governo, por
exemplo, Azevedo Amaral , o urbano nos anos
30 ainda no era tematizado como questo. Preva-
leciam as formulaes que idealizavam a cidade,
condenando a realidade e postulando uma inter-
veno pautada nos mesmos padres produzidos
nos pases centrais e reproduzidos no Brasil no in-
cio do sculo XIX: embelezamento, monumentali-
dade e controle social.
Sedimenta-se, portanto, a concepo dual do
atraso brasileiro, traduzida na oposio campo versus
cidade, que vinha sendo cunhada desde o incio do
sculo, conforme retratam as obras de Monteiro
Lobato e Euclides da Cunha. Somente a partir dos
anos 50, com a rme deciso de se industrializar o
Brasil a qualquer custo, a industrializao prioriza-
da como o salto para a modernidade e a cidade passa
a ser tematizada como questo.
A INDUSTRIALIZAO COMO
ESPELHO DA MODERNIDADE
Certamente, a dcada de 50 foi um perodo
marcado pelo clima de entusiasmo, oriundo das
possibilidades que as modernas fbricas passaram a
oferecer. Foi um dos grandes momentos da moder-
nidade brasileira e da sua insero nos avanos tec-
nolgicos provenientes da Revoluo Industrial.
Cresceu o ritmo da produo e aceleraram-se as
oportunidades de emprego, de expanso do merca-
do e do consumo, com uma acentuada quantidade
e variedade de bens produzidos. O Brasil comparti-
lhava a euforia desenvolvimentista vivenciada em es-
cala mundial, proveniente da tranqilidade e da feli-
cidade geral retomadas de um ps-guerra. A econo-
mia norte-americana se destacava e se expandia in-
terna e externamente. A Europa tambm no
perdeu lugar nesse movimento e enfrentou com ra-
dicalidade a reconstruo das suas economias.
A presena internacional de dois blocos, com
distintas caractersticas socioeconmicas, liderados
pelos Estados Unidos e Unio Sovitica, reforou a
tendncia internacionalizao, na medida em que
os demais pases puderam e foram levados a estabe-
lecer acordos e garantias de proteo mtua no
campo poltico, econmico e militar. Em nome da
democracia, ou da paz mundial, a interveno ame-
ricana ou sovitica era justicada. O Brasil se mos-
trou seduzido pelo modo de vida norte-americano e
as grandes cidades tornaram-se palco privilegiado
para o desenvolvimento de novos hbitos de con-
sumo. Consolidava-se, naquele momento, a socie-
dade urbano-industrial, com signicativa repercus-
so no padro de acumulao de capital no Brasil: de
um padro contido e subordinado dinmica do se-
tor agrrio-exportador, a economia brasileira, a partir
do qinqnio 1956-1960, desenvolveria a indstria
pesada e expandiria o seu processo de industrializa-
o, diminuindo, assim, os entraves colocados at
ento.
Os grandes centros urbanos, desde o incio
dos anos 50, comeavam a expressar um crescimen-
to marcado pela iniciativa de reformulao da estra-
tgia econmica do Estado nacional.
35
MELLO, 1982.
36
SINGER, 1968.
37
RIBEIRO, L. & CARDOSO, A. Da cidade nao: gnese e evoluo
do urbanismo no Brasil, in: RIBEIRO et al., 1996.
p g y p
146 i mpulso n 29
Entre 1950 e 1954 (2. perodo Vargas), a
economia explicitara a necessidade de con-
verter sua restringida indstria num proces-
so especco de industrializao, ou seja, de
instalar a indstria pesada. Nesse sentido,
foram importantes os estmulos estatais di-
retos e indiretos para os setores de infra-es-
trutura, indstria de base e autopeas, esta
ltima como o embrio da futura indstria
automobilstica.
38
A emergncia de novos atores e instituies
sociais estimulava a sociedade brasileira a valorizar,
de forma deslumbrada, as novidades do momento,
deixando de lado as mazelas sociais ainda presentes
na realidade socioeconmica nacional. Em nome do
novo ignoravam-se as continuidades. De fato, no
campo econmico, a partir de meados da dcada de
50, novas iniciativas eram realizadas, mediante um
bloco de investimentos reconhecido por Cardoso
de Mello como uma verdadeira onda de inovaes
schumpeteriana, quer pelo salto tecnolgico atin-
gido quer pela capacidade produtiva que se ampliava
frente da demanda preexistente.
39
Vale a pena evidenciar o comportamento de
alguns indicadores que, a partir dos anos 30, conr-
mam o quanto esse perodo foi importante para o
desenvolvimento brasileiro.
40
O Produto Interno
Bruto, entre 1928 e 1955, cresceu taxa mdia anual
de 4,1%. Mesmo diante da crise cafeeira, o setor
agropecurio cresceu a uma taxa mdia anual de
2,6%, enquanto a demograa cresceu 2%. A
industrializao, a urbanizao e a diversicao das
culturas de exportao exerceram forte estmulo
expanso da fronteira agrcola com a corrida para o
oeste brasileiro, impactando positivamente tambm
o setor da construo, com a elevada taxa de cresci-
mento de 6,5% ao ano, entre 1939 e 1955. Mesmo
um setor pouco expressivo como o da minerao
cresceu a mdia anual de 3,5% nesse perodo. En-
quanto o setor de servios diminuiu a sua participa-
o no PIB de 60% para 53%, dado o crescimento
dos demais setores , a indstria de transformao
foi a que apresentou melhores resultados: com uma
taxa anual de 6,3%, sua participao no PIB saltou de
12,5% para 20%.
41
O que esses resultados trazem de novo no
o fato de expressar apenas a expanso industrial,
mas tambm uma nova concepo urbana, marcada
por variveis econmicas, culturais e polticas, entre
outras, que a cada momento histrico do uma
signicao e um valor especco ao meio criado
pelo homem.
42
Para Henry Lefebvre, a
industrializao interfere na cidade de modo nega-
tivo, arruinando a cidade antiga. Esta passa a se lo-
comover para os meios de produo e para os dis-
positivos da explorao do trabalho social por aque-
les que detm a informao, a cultura, os prprios
poderes de deciso... A racionalidade d um salto
para frente.
43
Realmente, a racionalidade adminis-
trativa passa a reger o padro de interveno urbana.
Abandona-se aquela orientao idealizadora da ci-
dade e adota-se uma proposio de gerir a cidade re-
al, agindo sobre as distores advindas das dis-
funcionalidades do crescimento econmico.
44
No contexto dos anos 50, entretanto, a socie-
dade brasileira apoiou, de modo geral, as transfor-
maes em curso, mostrando-se fascinada pelas
perspectivas progressistas, mergulhada numa viso
acrtica do mercado moderno.
45
De fato, h uma
vasta anlise que evidencia os problemas e contras-
tes dessa modernizao e/ou modernidade, notada-
mente no seu aspecto social. Mas, evidentemente,
nos anos 50, a impresso que se tinha da cidade era
bem diversa da que anos mais tarde se apresentaria.
Algumas anlises sociais conrmam o quanto a
expanso urbano-industrial desse perodo amorte-
ceu paradoxalmente as tenses sociais.
Esse um aspecto importante quando se
constata que o desenvolvimento econmico brasi-
leiro tem enfrentado graves tenses sociais para se
38
CANO, 2000, pp. 169-170.
39
MELLO, 1982, p. 117.
40
Vrios trabalhos vm enfatizando o avano da industrializao desde os
anos 30 pela ao poltica e econmica do Estado Nacional. Sobre esse
aspecto, arma Snia Draibe: restam, hoje, poucas dvidas sobre o fato de
que, entre 1930 e 1945, no mesmo perodo em que se desencadeava a pri-
meira fase da industrializao brasileira a industrializao restringida ,
amadurecia tambm um projeto de industrializao pesada (DRAIBE,
1983, p. 100). Cf. tambm CANO, 1993.
41
CANO, 1993, pp. 170-171.
42
SANTOS, 1996, p. 111.
43
LEFEBVRE, 1991, p. 142.
44
RIBEIRO, L. & CARDOSO, A. Da cidade nao: gnese e evoluo
do urbanismo no Brasil, in: RIBEIRO et al., 1996.
45
ORTIZ, 1994, p. 36.
p g y p
i mpulso n 29 147
inserir internacionalmente na marcha da moderni-
dade. O comportamento do PIB, nesse sentido, re-
velador. Entre 1989 e 1998, o PIB cresceu mdia
anual de 1,9%, pouco abaixo da mdia dos anos 80
(2,2%), reconhecida como a dcada perdida. Utili-
zando o Plano Real como referncia, o quadro no
se altera. De 1989 a 1994, registrou-se a taxa de
1,3% e, entre 1994 e 1998, de 2,7%. Diante disso,
poderamos constatar que tais resultados expressam
o preo da insero do Brasil no cenrio econ-
mico internacional, ou na dcada prometida, aque-
la em que rumaramos ao Primeiro Mundo.
46
Adalto L. Cardoso esclarece, em certa medida,
esse aspecto. Ele chama a ateno para o fato de a ci-
dade, embora priorizada como foco da interveno
econmica, no ter perdido seu carter simblico,
sobretudo considerando-se o papel atribudo cons-
truo de Braslia, a meta sntese. Em que pesem
todas as justicativas econmicas e estratgicas para
a edicao da nova capital, evidente que a sua con-
cretizao coroava de xito o projeto nacional desen-
volvimentista: a possibilidade de modernizar o pas
como ato de vontade poltica. Nas palavras do autor,
Desde o governo Vargas parece se manifes-
tar uma clara relao entre o espao cons-
trudo e os smbolos cvicos de constituio
da nacionalidade. Braslia, todavia, levar
esta relao ao extremo, ao criar um cenrio
ideal para a rearmao dos elementos bsi-
cos da nacionalidade, por meio da viso do
Estado, sob uma tica modernizadora. O
que estava em pauta, ento, era essencial-
mente a construo do novo, do Brasil do
futuro.
47
Embora tal papel estivesse reservado a Bras-
lia, fcil imaginar a difuso que essa dimenso sim-
blica atribuda cidade teve para as elites e os po-
deres pblicos das mais diversas localidades brasilei-
ras na denio dos planos de modernizao das ci-
dades. De fato, as cidades e as populaes foram
tomadas pela euforia modernizadora e industriali-
zante, assistindo estarrecidas e deslumbradas a
elevao dos seus primeiros arranha-cus, a inova-
o tecnolgica de suas indstrias e a estruturao
dos seus comrcios nas modernas magazines, abar-
rotadas pelas novas mercadorias. Chegara, enm, a
possibilidade de redeno do atraso.
Assim, a consolidao da industrializao pe-
sada no Brasil, no perodo compreendido entre 1956
e 1960, possibilitou a realizao de uma das grandes
aspiraes desenvolvimentistas presentes no Plano
de Metas do ento presidente da Repblica, Jusceli-
no Kubitschek. Um moderno aparato produtivo
tornou-se no s desejo nacional, como tambm
meta necessria para delegar ao Brasil uma outra
insero internacional, baseada no impacto que a
mudana na estrutura econmica do pas poderia
provocar na integrao do mercado nacional. O PIB
cresceu taxa mdia anual de 7,1%. Os investimen-
tos foram os principais responsveis, j que apresen-
taram tambm elevadas taxas de crescimento (de
13,5% do PIB, em 1955, para 18%, em 1958-1959).
Apesar de os anos recentes revelarem caracte-
rsticas diferentes da dcada de 50, no deixam de
evidenciar a importncia das polticas econmicas
quando seus formuladores ambicionam o desenvol-
vimento econmico. Os 50 anos materializados em
cinco, conforme as metas pretendidas por Kubits-
chek, mostraram que havia uma brecha para o
crescimento econmico, no pela imposio dos in-
teresses econmicos externos, mas pelos obstculos
colocados continuidade de um desenvolvimento
ditado pelo comportamento da exportao de seus
produtos primrios.
A SOBERANIA PROMETIDA
Para alguns analistas, a modernidade brasilei-
ra, como meta do governo JK expressa pela
industrializao, no resulta de uma reao defensi-
va, meramente econmica, mas especialmente pol-
tica, na qual a noo de soberania encontra-se de
mos dadas com a grandeza nacional.
Pretende-se soberania e considera-se que
aquilo que falta para t-la o enriquecimento.
Por isso a soberania almejada se iguala au-
tonomia econmica, quando o pas no de-
pender de outros para solucionar seus pro-
blemas de carncia de capital. Mas consegui-
46
CANO, 1993, p. 266.
47
CARDOSO, A.L. O urbanismo de Lcio Costa: contribuio brasi-
leira ao concerto das naes, in: RIBEIRO et al., 1996, p. 112.
p g y p
148 i mpulso n 29
la envolve escolha entre alternativas, implica
opes, matria de poltica, portanto.
48
Compreendendo que o Plano de Metas foi,
de modo geral, o momento de consagrao da
industrializao e do avano da sociedade brasileira,
no qual a direo econmica do Estado assumiu pa-
pel relevante, no pretendemos realizar uma anlise
exaustiva desse projeto, mas assinalar algumas trans-
formaes socioeconmicas fundamentais para o
progresso ento almejado. Inicialmente, vale reco-
nhecer o mrito do Estado como agente fundamen-
tal na constituio plena das foras produtivas, es-
pecialmente capitalistas.
49
Elas foram tambm con-
solidadas pela iniciativa privada, tanto estrangeira
como nacional. Nessa aliana para o progresso,
curioso observar que o Estado apostou no desen-
volvimento sustentado pela atividade econmica,
abandonando as preocupaes com a estabilidade e
as orientaes ortodoxas.
50
O Estado brasileiro reproduziu uma conduta
para o crescimento econmico inspirada no keyne-
sianismo, assumindo novos papis e construindo
novos poderes institucionais, recebendo em troca o
apoio interno e externo dos capitais privados, nacio-
nais e estrangeiros, e da prpria sociedade brasileira.
Desse modo, os rumos da modernizao brasileira
distriburam-se em 31 metas absorvidas em seis
grandes grupos:
energia metas de 1 a 5 energia eltrica,
energia nuclear, carvo, produo de petr-
leo, renao de petrleo;
transportes metas de 6 a 12 reequipa-
mento de estradas de ferro, construo de
estradas de ferro, pavimentao de estradas
de rodagem, construo de estradas de ro-
dagem, de portos e de barragens, marinha
mercante, transportes areos;
alimentao metas de 13 a 18 trigo,
armazns e silos, frigorcos, matadouros,
mecanizao da agricultura, fertilizantes;
indstrias de base metas de 19 a 29 ao,
alumnio, metais no-ferrosos, cimento, l-
calis, papel e celulose, borracha, exportao
de ferro, indstria de veculos motorizados,
indstria de construo naval, maquinaria
pesada e equipamento eltrico;
educao meta 30;
construo de Braslia meta-sntese.
51
Entre essas metas incontestvel a importn-
cia do automvel. A penetrao desse produto no
mercado brasileiro aponta para outra direo. So
evidentes os estmulos para a nacionalizao de ve-
culos e para a expanso da indstria mecnica. Ca-
minhes, nibus, jipes e, mais tarde, tratores foram
sendo fabricados no Brasil numa escala crescente.
Em 1955, havia no pas 700 fbricas de autopeas e
a Fbrica Nacional de Motores produzia 2.500 ca-
minhes por ano, com ndice de 54% de nacionali-
zao. Em 1960, eram 1.200 fbricas de autopeas,
com a substituio por peas nacionais de aproxima-
damente 90% do peso dos veculos. Nas palavras de
Lessa, a expanso automobilstica tinha um duplo
aspecto: meta de produo e de ndice de naciona-
lizao. Integrando verticalmente o parque indus-
trial, as empresas mecnicas e de material eltrico na
sua expanso constituram um importante segmen-
to produtor de bens de capital do pas.
52
A soberania prometida seria aquela alcanada
pelo desenvolvimento econmico, com a superao
do atraso e a acelerao do crescimento econmico.
Segundo Mriam Cardoso, Juscelino explorou nos
seus discursos o termo soberania, extraindo dele
grande parte do seu contedo poltico, privilegiando
intensamente a sua dimenso econmica. Desse mo-
do, a emancipao econmica no teria resultado de
uma ao propriamente poltica, vinculada emanci-
pao poltica, mas simplesmente gerada pelo cresci-
mento econmico. Essa liberao econmica, como
garantia de prosperidade, fornece o elemento que fal-
ta aos pases subdesenvolvidos para que, junto com a
ordem democrtica, alcancem plena soberania.
53
Desde o incio dos anos 50, estudiosos e po-
lticos inuenciados pela Comisso Econmica para
a Amrica Latina (Cepal) j se preocupavam com a
construo de um projeto nacional para o Brasil. Na
48
CARDOSO, 1978, pp. 101-102.
49
MELLO, 1982, p. 97.
50
CANO, 1993, p. 172.
51
BENEVIDES, 1979, p. 210.
52
LESSA, 1982, pp. 48-50.
53
CARDOSO, 1978, p. 103.
p g y p
i mpulso n 29 149
viso cepalina, as condies para o desenvolvimento
da Amrica Latina passavam pela superao da de-
pendncia econmica que esses pases, considera-
dos periferia, mantinham com os pases capitalistas
desenvolvidos. Para isso, seria fundamental dinami-
zar as atividades industriais como um desao nacio-
nal encampado pelo Estado. Subordinao, depen-
dncia e atraso eram as caractersticas de um pas cuja
dinmica econmica ainda se encontrava, signica-
tivamente, ancorada nas atividades primrio-expor-
tadoras. Com as metas do governo JK, a ncora da
modernidade brasileira passou a sustentar-se na eco-
nomia, com expanso industrial e soberania nacio-
nal, respondendo ao diagnstico cepalino.
Nesses termos, estava claro para as chamadas
economias perifricas que o almejado desenvolvi-
mento no seria alcanado pelas livres foras de
mercado, e sim pela transformao em dois nveis:
interno e externo. A estrutura interna dinamizada
pela produo agrcola encontrava-se fortemente
concentrada, provocando baixo efeito de integrao
com os demais setores produtivos e desemprego es-
trutural (as oportunidades de emprego no acompa-
nhavam a rpida expanso demogrca). Ao lado
desses limites, as relaes com o exterior impediam
que os pases perifricos se apropriassem dos ganhos
de produtividade, na medida em que a exportao de
produtos primrios comprava uma quantidade cada
vez menor de produtos industriais. Em outras pala-
vras, tanto a reforma agrria como a industrializa-
o, sob planejamento e interveno estatal, seriam
capazes de sustentar um desenvolvimento com so-
berania nacional.
A superao do atraso, nessa perspectiva, era
vislumbrada pela industrializao e urbanizao,
abandonando-se aquelas concepes que buscavam
a construo da nacionalidade na essncia rural. No
caso do Brasil, o iderio cepalino foi contemplado
nos programas de governo e nas suas respectivas
aes concretas, particularmente a partir da segunda
metade dos anos 50. O pensamento econmico bra-
sileiro esteve representado nas leiras cepalinas, com
nomes de relevante expresso, como Celso Furtado,
Maria da Conceio Tavares, Fernando Henrique
Cardoso, Carlos Lessa e A. Barros de Castro.
54
NOVOS CENRIOS E OS
LIMITES DE UMA NOVA CONDUO
inquestionvel que a industrializao do pe-
rodo JK trouxe para a sociedade brasileira o otimis-
mo e a esperana de um futuro que marchava no
compasso da civilizao moderna. O movimento de
repensar o Brasil aprimorou aes e intervenes
que recusavam a estabilidade e as orientaes da or-
todoxia econmica. No se apregoava que as vanta-
gens da modernidade seriam alcanadas como re-
compensa aos efeitos sociais e culturais destrutivos,
como um mal necessrio insero do Brasil numa
nova posio econmica mundial. Pelo contrrio,
nesse perodo, o calor das discusses sobre o Bra-
sil moderno podia ser constatado pela diversidade
de propostas e opinies presentes nos debates inte-
lectuais e polticos, que convergiam com as anlises
da Cepal. Elas viabilizavam, por um lado, a luta an-
tiimperalista (comunista) e, por outro, a defesa da
industrializao ancorada no Estado (nacionalista).
A Operao Panamericana, o rompimento
com o FMI e a preocupao com o Nordeste brasi-
leiro foram atitudes polticas que demonstrariam o
quanto o desenvolvimento estivera apoiado num efe-
tivo enfrentamento e controle de obstculos reali-
zao das metas delineadas. Se, de um lado, as atitu-
des polticas foram ousadas, de outro lado, as
intervenes econmicas foram instrumentalizadas
sem signicativas inovaes. Nas palavras de Lessa:
No houve neste perodo, salvo raras excees, pre-
ocupao com a reformulao instrumental rede-
nio do papel do Estado (...). Persistiu e, de certa
forma, acentuou-se o carter no harmnico e im-
provisado do instrumental de poltica econmica.
55
Portanto, cabe destacar que a industrializao
e o desenvolvimento foram alcanados a despeito da
estabilizao, da ortodoxia e com inadequaes ins-
titucionais, que, apesar disso, mudaram radicalmen-
te a estrutura econmica e social do pas.
56
Os cen-
tros urbanos passaram a exercer forte atrao sobre
as populaes rurais. A possibilidade de melhorar as
condies de vida era oferecida, a partir de ento,
pelas cidades modernas, alterando a distribuio es-
pacial da populao. Em 1950, 36% dos brasileiros
54
MANTEGA, 1987, p. 32.
55
LESSA, 1982, p. 99.
p g y p
150 i mpulso n 29
viviam nas cidades. Dez anos depois esse percentual
se elevou para 45%, conforme dados do IBGE.
Mesmo expandindo-se desordenadamente e
j sinalizando para a precariedade da sua infra-estru-
tura, as cidades foram se transformando mais uma
vez. Velhos bairros se descaracterizaram e redeni-
ram suas formas e funes. Moradores recm-che-
gados, edifcios e prdios ocuparam o lugar das an-
tigas casas trreas; bairros residenciais cederam es-
pao a centros comerciais e instituies prestadoras
de servios. Nesse momento, a expanso urbana de-
sencadeou uma srie de oportunidades de emprego
que diminuram os prejuzos sociais da inao e os
efeitos do comportamento modesto do emprego
industrial. A industrializao, nesse aspecto, veio j
marcada pela ocorrncia de dois movimentos
contraditrios de expanso e contrao: a
expanso decorrente da implantao (ou expanso)
dos setores mais complexos, e a contrao decor-
rente da modernizao que ocorre nos setores de
bens de consumo no-durveis.
57
Como momento especco da expanso da
sociedade de consumo no Brasil, o consumidor
como sujeito social j se evidencia nesse processo de
maturao dos investimentos econmicos. Ator
passivo, o consumidor manifesta desejos e canaliza
recursos para obter bens ou produtos, transfor-
mando o poder aquisitivo e a exibio de bens ma-
teriais nos valores principais da sociabilidade.
58
Apesar da padronizao do consumo atingir apenas
parcelas da populao, signicativa a participao
das camadas mdias urbanas no desfrute dos pro-
dutos modernos (automvel, TV e geladeira).
As perspectivas de ascenso social podem ser
observadas tanto pelo comportamento dos salrios
como pela valorizao prossional. Com exceo
do salrio mnimo legal, que em dezembro de 1958
era, em termos reais, 52,5% mais elevado do que sua
base de 1940, caindo para 34,5% em outubro de
1961, o movimento geral dos salrios apresentou
um desempenho favorvel, no sendo pressionado
para baixo.
59
A valorizao prossional, promovida
notadamente pelos padres americanos de direo e
gesto empresarial, estimulava a formao de mo-
de-obra mais especializada. Engenheiros, adminis-
tradores, economistas e publicitrios iam sendo for-
mados, atendendo valorizao do mercado e s de-
mandas das principais cidades brasileiras.
Esse foi um importante momento de integra-
o do mercado nacional brasileiro. Mesmo reco-
nhecendo a posio privilegiada de So Paulo, que
formou um verdadeiro cinturo industrial em torno
da sua capital, com indstrias, estradas de rodagem
(Anchieta e Dutra) e ferrovias, os demais estados
brasileiros tambm registraram crescimento econ-
mico. Nas palavras de Marly Rodrigues, a
modernizao do Brasil desencadeava nesse perodo
a modernizao dos homens, tornando-os cada
vez mais urbanos. Modernizao de seus pensa-
mentos e hbitos, tornando-os consumistas.
Modernizao do modo de vida, das cidades, da ar-
quitetura, das artes, da tcnica, da cincia.
60
CONSIDERAES FINAIS
A modernidade brasileira, ao ser revisitada,
demonstra claramente que sua anlise passa pelas
transformaes das cidades. Os esforos moderni-
zantes das elites brasileiras estiveram direcionados
aos grandes centros urbanos, como se eles fossem
capazes, de modo geral, de irradiar indistintamente
para a populao os efeitos fantsticos das
intervenes polticas e inovaes cientco-tecno-
lgicas, implementadas para a superao da condi-
o de pas atrasado.
As tentativas histricas de intervenes urba-
nas, materializadas por aes especcas, tentavam
esconder as imagens de deformao da sociedade
brasileira. A partir dos anos 50, a modernizao ga-
nhou maior velocidade com a expanso industrial,
desaando, mais uma vez, as metas dos tcnicos em
planejamento urbano. As cidades foram expondo,
56
Como peas fundamentais do instrumental utilizado pelo Plano de
Metas podemos identicar um setor pblico conjugando formas adminis-
trativas exveis (empresas estatais e autarquias) com vinculaes de fun-
dos nanceiros no sujeitas a cortes oramentrios e um setor privado
recebendo fortes estmulos das polticas, por meio de entidades e grupos
executores especcos, como o BNDE (emprstimos a longo prazo e aval a
crditos externos) e a SUMOC (que regulava o acesso a importao e recur-
sos externos). Cf. Ibid., pp. 100-101.
57
CANO, 1993, p. 177.
58
SORJ, 2000, p. 50.
59
CANO, 1993, p. 177.
60
RODRIGUES, 1992, p. 31.
p g y p
i mpulso n 29 151
sem controle, a sua feira urbana. Favelas e bair-
ros de periferia avolumam-se em espaos fsicos,
mal estruturados e mal assistidos, cada vez mais dis-
tantes ou excludos do mercado consumidor que se
formara, desfazendo a crena no sucesso dessa face
modernizadora.
Em outros termos, a superao da concepo
idealizadora da cidade e das intervenes higienistas
e estticas, bem como a adoo de posturas mais ra-
cionais buscando tematizar a cidade real no foram
sucientes para problematizar a cidade e produzir
aes satisfatrias, at mesmo em razo da comple-
xidade que a sociedade urbano-industrial acabou as-
sumindo. Na verdade, foi-se mais e mais perdendo
o controle, o que, alis, no se mostrou exclusivida-
de brasileira. Num balano resumido do percurso
da modernidade brasileira e de suas realizaes,
pode-se constatar que a industrializao, na dcada
de 50, provocou uma intensa movimentao polti-
ca e social que animava o debate sobre o desenvol-
vimento socioeconmico brasileiro, pelo qual o pas
parecia haver conquistado sua autonomia. Os anos
posteriores, entretanto, revelaram a fragilidade das
medidas tomadas por fora de circunstncias que,
efetivamente, no romperam com a insero com-
pulsria do Brasil na modernidade. Ao contrrio,
permaneceram na mesma rota, reproduzindo as ve-
lhas mazelas: dependncia econmica e tecnolgica,
excluso social e inchao urbano.
A economia brasileira, submetida na poca
ao anseio nacional-desenvolvimentista, se afastou
das convices liberais e dos princpios do laissez-
faire. No lugar do livre jogo do mercado, a burgue-
sia industrial brasileira se viu ao lado de um Estado
que passou a realocar recursos econmicos e -
nanceiros para viabilizar uma moderna infra-estru-
tura industrial, capaz de concorrer internacional-
mente. Em que pese o fato de a industrializao
acelerada e a rpida urbanizao, empregando aqui
os termos de Mello e Novaes,
61
terem sido cunha-
das num clima democrtico e de grande eferves-
cncia poltica, no resta dvida de que o modelo
de desenvolvimento adotado teve continuidade
nas conjunturas posteriores, numa verso sosti-
cada e arrojada das polticas e aes do Estado.
Embora a propalada crise do padro nacional-de-
senvolvimentista de interveno tenha se feito pre-
sente nas dcadas de 70 e 80, foi na de 90 que as
medidas liberalizantes passaram a dar a tnica das
agendas dos governos no Brasil.
A relevncia de tais foras socioeconmicas
nas estruturas da sociedade brasileira ganha maior
sentido quando nos deparamos, nos anos 90, com a
economia brasileira abandonando, no campo eco-
nmico, a ncora estatal, com cortes radicais dos
gastos pblicos, acompanhados por medidas de de-
sestatizao econmica. A conseqncia uma re-
denio do setor pblico, que rompe com os pa-
dres histricos do desenvolvimento brasileiro e
tenta recomear uma trajetria marcada pela aber-
tura do mercado s importaes, motivado pelo im-
pulso globalizador, em que vantagens so obtidas
mediante as diferenas de produtividade e de custos
de produo entre os pases. Sob novas cores, o li-
beralismo econmico recoloca o mercado como
um dos grandes baluartes da expanso econmica,
capaz de orientar o intercmbio mundial de produ-
tos como uma imposio inelutvel. Graas a esse
cenrio, a sociedade brasileira enfrenta o descom-
passo entre o crescimento econmico e as condi-
es de vida de signicativa parcela da populao.
Diante da perversa desigualdade social, a vio-
lncia se propaga como instrumento de defesa e so-
brevivncia. As cidades, locus privilegiado da vida
moderna, no conseguem cultivar a solidariedade
social. Nesse quadro socioeconmico, inevitvel a
constatao, de um lado, de um
Brasil Moderno, a grande empresa, os pe-
quenos e mdios empresrios ecientes,
seus trabalhadores e a classe mdia; de outro
os muito pobres e os miserveis da agricul-
tura e dos servios, legais e ilegais. De um la-
do, So Paulo, seu espao econmico e os
enclaves modernos das regies atrasadas; de
outro, o resto do Brasil e as manchas de mi-
sria das regies desenvolvidas.
62
61
MELLO & NOVAES, 1998.
62
MELLO, 1992, p. 64.
p g y p
152 i mpulso n 29
Referncias Bibliogrcas
ANDRADE, C.R.M. O plano de Saturnino de Brito para Santos e a construo da cidade moderna no Brasil. Espao &
Debate.Revista de Estudos Regionais e Urbanos, So Paulo, NERU, ano XI (34), 1991.
BARRACLOUG, G. Introduo Histria Contempornea. 5. ed., Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1983.
BEGUIN, F. As maquinarias inglesas do conforto. Espao & Debate. Revista de Estudos Regionais e Urbanos, So Paulo,
NERU, ano XI (34), 1991.
BENEVIDES, M.V.M. O Governo Kubitschek. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979.
BERMAN, M. Tudo que Slido desmancha no Ar. So Paulo: Companhia das Letras, 1996.
BRADBURY, M. & McFARLANE, J. (orgs.). Modernismo: guia geral 1890-1930. So Paulo: Companhia das Letras, 1989.
CANO, W.Soberania e Poltica Econmica na Amrica Latina. So Paulo: Ed. Unesp, 2000.
__________.Reexes sobre o Brasil e a Nova (Des)Ordem Internacional.Campinas: Ed. Unicamp, 1993.
CAPELATO, M.H.R. Os Arautos do Liberalismo: imprensa paulista 1920-1945.So Paulo: Brasiliense, 1989.
CARDOSO, M.L. Ideologia do Desenvolvimento Brasil: JK - JQ.Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978.
CHOAY, F. A Histria e o mtodo em urbanismo. In BRESCIANI, M.S. Imagens da Cidade - sculos XIX e XX. So Paulo:
ANPUH-SP/Marco Zero/FAPESP, 1994.
__________. O Urbanismo: utopias e realidade,uma antologia. So Paulo: Perspectiva, 1979.
DRAIBE, S. Rumos e Metamorfoses. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 1983.
FAORO, R. Os Donos do Poder. 10. ed., So Paulo: Globo, 1995.
FAUSTO, B. A Revoluo de 1930: histria e historiograa. 15. ed., So Paulo: Brasiliense, 1995.
__________. Trabalho Urbano e Conito Social.So Paulo: Difel, 1977.
FURTADO, C. Formao Econmica do Brasil. 18. ed., So Paulo: Cia. Editora Nacional, 1982.
GOMES, .C. A poltica brasileira em busca da modernidade: na fronteira entre o pblico e o privado. In: SCHWARCZ, L.M.
et al.Histria da Vida Privada no Brasil: contrastes da intimidade contempornea.So Paulo: Companhia das Letras,
1998.
HARVEY, D. Condio Ps-moderna. So Paulo: Edies Loyola, 1993.
LEFEBVRE, H. O Direito Cidade. So Paulo: Moraes, 1991.
LEME, M.C.S. A formao do pensamento urbanstico em So Paulo no incio do sculo XX.Espao & Debate. Revista de
Estudos Regionais e Urbanos, So Paulo, NERU, ano XI (34), 1991.
LESSA, C. 15 Anos de Poltica Econmica. So Paulo: Brasiliense, 1982.
LOVE, J. Autonomia e interdependncia: So Paulo e a federaobrasileira, 1889-1937.In: FAUSTO, B. et al. Histria Geral
da CivilizaoBrasileira.O Brasil Republicano.Estrutura de Poder e Economia (1889-1930). 5. ed., So Paulo: Bertrand
Brasil, 1989.
MANTEGA, G. A Economia Poltica Brasileira. Rio de Janeiro: Vozes, 1987.
MELLO, J.M.C. O Capitalismo Tardio.So Paulo: Brasiliense, 1982.
__________.Conseqncias do Neoliberalismo. Economia e Sociedade,n. 1, ago./1992.
MELLO, J.M.C. & NOVAES, F.A. Capitalismo tardio e sociabilidade moderna. In: SCHWARCZ, L.M. et al. Histria da Vida Pri-
vada no Brasil: contrastes da intimidade contempornea.So Paulo: Companhia das Letras, 1998.
MOREIRA, S.L. A Liga Nacionalista de So Paulo: ideologia e atuao.[Dissertao de mestrado, Departamento de Histria
FFLCH/USP, mimeo, 1982].
ORTIZ, R. A Moderna Tradio Brasileira: cultura brasileira e indstria cultural.5. ed., So Paulo: Brasiliense, 1994.
PINHEIRO, P.S. Poltica e Trabalho no Brasil. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977.
p g y p
i mpulso n 29 153
RIBEIRO, L.C.Q. et al. Cidade,Povo e Nao: gnese do urbanismo moderno.Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 1996.
RODRIGUES, M. A Dcada de 50. So Paulo: tica, 1992.
SALIBA, E.T. Ideologia Liberal e Oligarquia Paulista: a atuao e as idias de Cincinato Braga,1891/1930. [Tese de doutorado,
Departamento de Histria FFLCH/USP, mimeo, 1981].
SANTOS, M. Metamorfose do Espao Habitado. So Paulo: Hucitec, 1996.
SEVCENKO, N. Literatura como Misso, Tenses Sociais e Criao Cultural na Primeira Repblica. 4. ed., So Paulo: Brasili-
ense, 1995.
__________. Orfeu Exttico na Metrpole: So Paulo,sociedade e cultura nos frementes anos 20. So Paulo: Companhia das
Letras, 1992.
SINGER, P. Desenvolvimento Econmico e Evoluo Urbana. So Paulo: Cia. Editora Nacional, 1968.
SORJ, B. A Nova Sociedade Brasileira. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000.
TERCI, E.T.A Cidade na Primeira Repblica: imprensa,poltica e poder em Piracicaba. [Tese de doutorado, FFLCH/USP, 1997].
TOPALOV, C. Os saberes sobre a cidade: tempos de crise? Espao & Debate. Revista de Estudos Regionais e Urbanos, So
Paulo, NERU, ano XI (34), 1991.
p g y p
154 i mpulso n 29
p g y p
i mpulso n 29 155
OS DESAFIOS DAS
ORGANIZAES
NO CONTEXTO
PS-MODERNO
The Challenge of the Organizations
in the Postmodern Context
Resumo Este texto busca estabelecer as articulaes possveis entre a ps-moderni-
dade e o contexto organizacional moderno, com nfase nas tendncias e nos desaos
apontados para organizaes. Nesse sentido, retoma-se o marco conceitual da ps-
modernidade, a m de congurar as interferncias que tal dimenso cultural trouxe
para a sociedade como um todo, e, particularmente, para o campo de atuao das or-
ganizaes. Na seqncia, procuramos determinar as interferncias desse cenrio na
atuao das organizaes, sobretudo no que diz respeito dimenso simblica de sua
atuao. Para buscar referncias mais concretas das estratgias de ao das organiza-
es, recorremos a algumas autoridades da administrao que apontam tendncias
para o setor. Finalmente, tratamos as relaes entre a ps-modernidade e o contexto
organizacional, destacando os desaos que, ao nosso ver, devem fazer parte das pre-
ocupaes daqueles que atuam na rea.
Palavras-chave MODERNIDADE PS-MODERNIDADE GESTO CONTEMPOR-
NEA IMAGINRIO ORGANIZACIONAL.
Abstract In the following text we try to establish the possible articulations between
postmodernity and the modern organizational context, emphasizing trends and chal-
lenges aimed towards organizations. In this sense, we retake the conceptual frame of
postmodernity, in order to congure the interference that was brought to society as
a whole by this cultural dimension, but focusing the particular eld of action of the
organizations. Then, we tried to establish the interferences of such scenario in the ac-
tion of the organizations, specially regarding the symbolic dimension of its action. In
order to bring more concrete and solid references on the action strategies of the or-
ganizations, we quote sayings from some gurus of administration, who point out
the trends for this sector, trying, nally, to establish the relationships between post-
modernity and the organizational context, and to emphasize the challenges that, in
our point of view, should be a concern of those who work in this area.
Keywords MODERNITY POSTMODERN CONTEMPORARY ADMINISTRATION
ORGANIZATIONAL IMAGINARY.
ELISABETE STRADIOTTO
SIQUEIRA
Doutora em cincias sociais e
mestre em administrao pela
PUC/SP, professora da Faculdade
de Gesto e Negcios da UNIMEP
e coordenadora do Programa
de Gesto Social do Ncleo de
Estudos e Programas em
Educao Popular (Nepep)
betebop@uol.com.br
VALRIA RUEDA ELIAS SPERS
Mestre em administrao e
superviso educacional pela
Unicamp, professora e
coordenadora do curso de
Administrao na UNIMEP
vrueda@unimep.br
p g y p
156 i mpulso n 29
PS-MODERNIDADE: CRIANDO
CENRIOS PARA O CONTEXTO ORGANIZACIONAL
conceito de ps-modernidade encontra ampla gama de
possibilidades, que ora se aliam ora se colocam de for-
ma contraditria, apontando, inclusive, que no haveria
uma ruptura da noo de modernidade, e sim a sua ra-
dicalizao, uma vez que as estruturas de poder relacio-
nadas ao domnio econmico no se modicaram. De
outra parte, a ps-modernidade pode indicar um mo-
mento de transio e de busca de um novo projeto.
Nesse sentido, mais do que uma estrutura de sociedade, ela representaria um
momento de construo valorativa, que daria as bases de uma nova poca.
Para abordar esses aspectos, nos apoiaremos em Giddens, Menezes e
Archer. Giddens trabalha a idia de uma modernidade reexiva,
1
denida
como a possibilidade de uma (auto)destruio criativa para toda uma era
a da sociedade industrial e o grande sujeito dessa destruio criativa no
a revoluo, no a crise, e sim a vitria da modernizao ocidental.
Se, no fundo, a modernizao simples (ou ortodoxa) signica, primeiro,
desincorporao e, segundo, a reincorporao das formas sociais tradi-
cionais pelas formas sociais industriais, ento, a modernizao reexi-
va signica, primeiro, a desincorporao e, segundo, a reincorporao
das formas sociais industriais por outra modernidade.
2
Partindo dessa questo, pode-se considerar que a radicalizao da mo-
dernidade traria realidade da sociedade industrial possibilidades de reincor-
porao de novas alternativas modernizantes que indicariam uma possvel
continuidade.
Por isso, supe-se que modernizao reexiva signique que uma mu-
dana da sociedade industrial ocorrida sub-repticiamente e sem pla-
nejamento no incio de uma modernizao normal, autnoma, e com
uma ordem poltica e econmica inalterada e intacta implica a radica-
lidade da modernizao, que vai invadir as premissas e os contornos da
sociedade industrial e abrir caminhos para outra modernidade.
3
A idia introduzida por Beck a de que quanto mais as sociedades so
modernizadas mais os agentes (sujeitos) adquirem a capacidade de reetir so-
bre as condies sociais de uma existncia e, assim, de modic-la.
4
Contudo,
no no sentido de uma reexo intencional (auto-reexiva), mas especial-
mente em decorrncia dos riscos que essa modernizao produz na socieda-
1
GIDDENS, 1997, p. 12.
2
Ibid, p. 16.
3
Ibid., p. 13. Ainda segundo Giddens, o conceito de modernizao reexiva no implica (como pode sugerir
o adjetivo reexiva) reexo, mas (antes) autoconfrontao. A transio do perodo industrial para o perodo
de risco da modernidade ocorre de forma indesejada, desapercebida e compulsiva no despertar do dinamismo
autnomo da modernizao, seguindo o padro dos efeitos colaterais latentes (ibid., p. 16).
4
BECK, U. A Reinveno da Poltica: rumo a uma teoria da modernizao reexiva, in: GIDDENS et al.,
1997, pp. 10-71.
OO
O O
p g y p
i mpulso n 29 157
de, modernaizao esta denida pelo autor como
autonomizada.
Para Beck o auto-risco da modernidade
substitudo pela automodicao. O diag-
nstico no o declnio, mas uma mudana
de cena ou, mais precisamente, um jogo de
duas realidades interagentes. Um aponta-
mento feito pelo autor procura exemplicar
o que signica esta automodicao. A an-
tiga e familiar realidade da luta pela distribui-
o de bens desejados agora compete
com a nova realidade da sociedade de risco.
Esta ltima realidade essencialmente uma
luta pela denio dos novos males, mas
esta realidade recm-descoberta interage
com o antigo conito por modos confusos
e contraditrios. Este o atual drama do
conito de risco.
5
Segundo Giddens, a caracterstica de nossas
vidas atualmente o que se poderia chamar incer-
tezas fabricadas. De repente, muitos aspectos tor-
nam-se abertamente organizados em termos de
suposies de cenrios, construo como se
dos possveis resultados futuros. Isso ocorre tanto
no plano individual quanto na humanidade como
um todo. Por um lado, podemos facilmente discer-
nir muitas novas oportunidades que potencialmente
nos libertam das limitaes do passado. Por outro,
quase em toda parte enxergamos a possibilidade de
catstrofe. E em muitos momentos difcil dizer,
com qualquer grau de segurana, que direo as coi-
sas iro tomar.
A explicao para esse estado de coisas no
encontrado como freqentemente se pensa no
ceticismo metodolgico do conhecimento moder-
no, embora ele seja importante. Para o autor, o prin-
cipal fator envolvido exatamente a reexividade
institucional, termo que prefere utilizar em substi-
tuio modernizao reexiva, pois, para ele, esta
ltima tende a implicar uma espcie de concluso
da modernidade, o vir tona de aspectos da vida so-
cial e da natureza anteriormente adormecidos.
Assim, a modernidade inseparvel dos siste-
mas abstratos que propiciam o desencaixe das rela-
es sociais atravs do tempo e do espao e se es-
tendem sobre a natureza socializada e o universo so-
cial. A razo da circularidade do conhecimento so-
cial (reexividade), que afeta em primeira instncia
o mundo social, ao invs do natural, forma um uni-
verso de eventos em que a velocidade, o acaso e os
riscos assumem um novo carter. Em condies de
modernidade, o mundo social nunca pode formar
um meio ambiente estvel em termos de entrada de
conhecimento novo (conceitos, teorias, descober-
tas). No torna simplesmente o mundo social mais
transparente, mas altera sua natureza, projetando-a
para novas direes, que extensionam e intensio-
nam, simultaneamente, os indivduos a sistemas de
grande proporo, apontando para a complexidade
e a dialtica das mudanas.
O mundo um em certo sentido, mas ra-
dicalmente cindido por desigualdades de
poder em outro. E um dos traos mais ca-
ractersticos da modernidade a descoberta
de que o desenvolvimento do conhecimen-
to emprico no nos permite, por si mesmo,
decidir entre diferentes posies de valor.
6
Nesse sentido, Giddens se apia em uma ma-
nuteno da prpria modernidade, sem necessaria-
mente apostar na sua superao. Por sua vez, Phila-
delpho Menezes congura a ps-modernidade
como transio, e no como mundo recongurado:
O termo ps-modernidade surge para de-
signar a cultura produzida numa sociedade
cuja evoluo tecnolgica se pe alm da
produo industrial de bens materiais. Se a
economia capitalista baseada na industriali-
zao o cenrio da cultura da modernida-
de, a superao dela e de sua base tcnica da-
ria vazo ao aparecimento de uma cultura
ps-moderna, pois que esse quadro repre-
sentaria o esgotamento da prpria moderni-
dade.
7
Desse ponto de vista, aquilo que caracterizaria
essa sociedade ps-industrial seria o domnio da in-
formtica, e sua conseqente produo de bens
5
GIDDENS et al., 1997, p. 213.
6
GIDDENS, 1991, p. 153.
7
MENEZES, 1994, p. 145.
p g y p
158 i mpulso n 29
imateriais, dando lugar a uma nova estrutura de pro-
duo no mais centrada nas grandes aglomeraes
industriais, mas na produo informacional, que
causaria menores impactos ao meio ambiente e di-
nmica urbana, uma vez que sua estrutura no de-
manda grandes complexos produtivos. Nesse novo
contexto, o prprio trabalho seria reconceituado,
pois, como atividade imaterial, tambm consistiria
em um produto, resgatando assim os laos que um
dia o separaram do espao domstico.
Menezes destaca a transitoriedade do mo-
mento em que vivemos: se a revoluo informacio-
nal est em pleno curso, ainda inconcebvel uma
sociedade que tenha denitivamente eliminado a
produo de bens materiais, j que so fundamen-
tais prpria existncia humana, alm de que as
concentraes industriais ainda so necessrias in-
clusive para garantir a produo informacional. Pa-
rece-nos que o autor chama a ateno para a neces-
sidade de um certo cuidado quanto ao risco de nos
apegarmos a vises futuristas que desconsideram
que o futuro est para ser construdo.
Enm, observar at que ponto as inovaes
tecnolgicas foram incorporadas por meio
de processos intermediadores de assimila-
o das novas informaes, entre os quais se
destacam a linguagem e as artes, ou se elas
restam at hoje na esfera das suposies fu-
turolgicas e salvacionistas sem que nada de
profundo tenha afetado.
8
O autor conceitua a ps-modernidade, em
seu momento de ruptura com o moderno, com
base no abandono da viso de histria como pro-
cesso evolutivo. Para ele, a nfase no processo de
inovao tcnico-cientco permanente a rotiniza e
rompe sua possibilidade de impacto transformador
radical. Portanto, a congurao do ps-moderno
est marcada notadamente pela ausncia de um pro-
jeto unicador que direcione as foras sociais.
A grande diferenciao que o pensamento
ps-moderno estabelece com relao mo-
dernidade o abandono da viso de histria
enquanto processo evolutivo que implica o
conceito de superao e de novidade a cada
poca. Com o desaparecimento da histria
entendida como progresso linear, esgota-se
tambm a viso teleolgica que dotava os
atos sociais de uma nalidade til dirigida
redeno e emancipao. Enm, esgota-se
a prpria formulao utpica que impregna-
va o pensamento histrico de um objetivo
tico. (...) Na noo de uma no-histria
que o pensamento ps-moderno procura se
estabelecer enquanto ruptura com o mo-
derno.
9
No vivemos um momento de superao,
mas de sobreposies de momentos histricos di-
ferentes, cujo produto no a sua soma, e sim uma
complexa combinao desse mosaico, que, por sua
vez, produtora de nossa cultura, e, de certa forma,
condutora do modo de ao dos agentes sociais en-
volvidos nesse processo. No possvel pensar a re-
voluo tecnolgica sem considerar sua inter-rela-
o com a cultura. Segundo Archer, necessrio su-
perar a viso de sociedade industrial em que a cul-
tura se submetia estrutura, ou ainda concepo
ps-industrial em que no h distino entre elas.
Essa autora salienta a necessidade de preservao de
espaos prprios que se inter-relacionem, mediados
pela tica de construo de uma boa sociedade, de
forma a libertar a cultura da subordinao, restau-
rar a sua autonomia relativa e restabelecer a sua au-
toridade moral.
10
E arma ainda:
A subordinao da cultura em teorias da so-
ciedade industrial rejeita a priori qualquer
importncia das contradies culturais. A
viso da cultura subordinada realmente
aquilo que promove um terico da socieda-
de industrial eles possuem uma imagina-
o industrial limitada que funde a estrutura
com a cultura, a racionalidade instrumental
com a moralidade, e o avano tcnico com
progresso social.
11
Nesse sentido, acreditamos que o desao co-
locado aos administradores no est na denio do
futuro, nem em uma tentativa saudosista de retorno
8
Ibid., p. 159.
9
Ibid., p. 160.
10
ARCHER, 1994, p. 123.
11
Ibid., p. 130.
p g y p
i mpulso n 29 159
ao passado, quando imperavam as grandes aglome-
raes industriais. Seu papel extrapola o espao pro-
dutivo, at porque ele prprio est disperso e em
fase de redenio. O administrador ocupa, cada
vez mais, um lugar social em que a reconciliao en-
tre produtividade e bem-estar social urgente. Para
entender os efeitos da revoluo tecnolgica ne-
cessrio ultrapassar os limites da tecnologia, resga-
tando o seu sentido original, que a articulava ao co-
nhecimento, arte e, portanto, ao modo de vida da
sociedade.
Ao tratar a noo de administrador, nos refe-
rimos a todos aqueles que desenvolvem a ao de
gerir processos organizacionais, independentemen-
te da relao dessa organizao com processos pro-
dutivos ou de prestao de servios (sejam eles lu-
crativos ou no, pblicos ou privados). O objeto
colocado aqui em debate , portanto, a organizao,
por compreendermos que essas estruturas orien-
tam-se por uma lgica semelhante que responde os
contextos histricos especcos.
As solues no estariam no passado, nem
tampouco no futuro. Elas dependem de uma anlise
intercultural do presente e dessa multiprocessuali-
dade provocada por sinais do futuro e do passado.
Conseqentemente, as habilidades do administra-
dor devem ir alm da racionalidade tcnica e balizar-
se por um compromisso social de construo, cujo
norte seja a tica de uma vida melhor para todos.
O IMAGINRIO
ORGANIZACIONAL MODERNO
Vivemos em um mundo de conceitos contra-
ditrios. Perplexidade e apatia, por exemplo, convi-
vem sem muitos problemas, quando nos depara-
mos com um novo fenmeno: a intensidade das
mudanas e inovaes vem retirando delas o carter
de novidade. A prpria noo de crise, que h algum
tempo apontava momentos particulares da histria,
passou a fazer parte da construo do cotidiano, do
nosso modo de vida, deixando de signicar mo-
mentos de ruptura. Em alguma medida, possamos
talvez reportar tal situao ao fato de vivenciarmos
um perodo de transio e, estando em tal redemoi-
nho, passarmos a compreender que as foras no
embate da construo do futuro so o prprio fu-
turo.
As organizaes no so diferentes, nem tam-
pouco os indivduos. E por serem produzidas por
eles, tambm so palco de um processo intenso de
mudana, que tem produzido um imaginrio orga-
nizacional particular. Freitas reporta tal imaginrio
ao contexto ps-moderno, por sua vez articulado a
um simbolismo nunca visto em nenhuma outra so-
ciedade.
12
A dimenso simblica das organizaes
encontra no ambiente atual as sementes e o terreno
que permitiram o seu desenvolvimento ambiente
em que a complexidade
13
e a velocidade determi-
nam as condutas organizacionais e em que a frag-
mentao dos valores e condutas pessoais coloca a
organizao como referncia social
14
para uma par-
cela signicativa da populao.
Freitas aponta a organizao como uma insti-
tuio capaz de captar e se adaptar, com certa agili-
dade, s mudanas ocorridas no contexto contem-
porneo, entendendo que elas so fruto de uma in-
terao entre o espao social e o temporal, os quais
produzem uma forma de representao de mundo
que constitui a sua auto-imagem.
15
Com isso, a crise
das signicaes imaginrias, produzidas pela forma
12
FREITAS, 2000.
13
Cf. MORIN, 1990. O termo complexidade est relacionado diculdade
em explicar alguma coisa derivada particularmente dos processos simult-
neos que produzem uma ao e, por outro lado, de fenmenos aleatrios
produtores da incerteza. Assim, a essncia da complexidade a impossibi-
lidade de sua homogeneizao. Ainda segundo o autor: a complexidade
correlativamente o processo da ordem, da desordem e da organizao.
Digo tambm que a complexidade a mudana de qualidades da ordem e
a mudana das qualidades de desordem. Na complexidade muito alta, a
desordem torna-se liberdade e a ordem muito mais regulao do que
imposio. Neste aspecto modiquei meu ponto de vista e mais uma vez
modiquei complexicando (Ibid., p. 157).
14
Mais adiante, teremos a oportunidade de comentar como alguns
gurus da administrao caracterizam tal contexto, chamando a ateno
mudana signicativa no perl do ambiente de negcios, que cria novas
referncias para o conceito de produtividade e passa a ter como palco de
atuao uma dimenso digital. Destacaremos tambm a mudana demo-
grca, que altera o perl do consumidor tanto com relao idade como
no convvio e confronto de diferentes culturas, e a insero do comrcio
eletrnico, que altera as relaes entre os vrios agentes do processo orga-
nizacional (empresrios, funcionrios, fornecedores, consumidores,
governos e comunidade), alm de trazer novos desaos quanto concep-
o da atuao geogrca das organizaes, modicando drasticamente a
importncia estratgica dos canais de distribuio, e ainda relativamente a
conceitos como alianas corporativas. Afora essas questes, considerare-
mos ainda os impactos das mudanas tecnolgicas que trazem uma nova
equao na composio de valor do produto, deslocando-se de sua dimen-
so material para ter seu valor agregado pelo quantum de conhecimento
investido.
15
FREITAS, 2000.
p g y p
160 i mpulso n 29
de organizao do trabalho durante o sculo XX, e
que o separaram signicativamente da realizao
dos desejos dos indivduos, restringindo essa di-
menso ao consumo, tenciona o espao de identi-
cao social e individual ao trabalho, colocando-se,
dessa forma, como fonte de referncia tanto do su-
cesso como de uma auto-imagem socializada entre
funcionrios e sociedade.
O imaginrio organizacional moderno, em tal
contexto, busca materializar-se como alternativa
nica capaz de promover o desenvolvimento eco-
nmico e social, uma vez que toma para si dimen-
ses relacionadas a cidadania, excelncia, exibilida-
de e tica. Contudo, Freitas indica a limitao dessa
empreitada, pois esse imaginrio constitui-se de ele-
mentos que podem assumir dimenses contradit-
rias, como por exemplo:
a idia de uma empresa cidad, quando a ci-
dadania um atributo humano valorativo, e
de que o valor preponderante nas organiza-
es ainda o econmico;
a concepo de excelncia, sem se dar conta
de que esse sempre um conceito provis-
rio, pois est relacionado dimenso da su-
perao constante, e, portanto, prpria
impossibilidade do sucesso de todos;
a exibilidade que rompe com as barreiras
do espao geogrco e do tempo, mas que,
ao mesmo tempo, impossibilita a dimenso
de qualquer estabilidade e consolidao;
a empresa como restauradora da tica,
quando o propsito organizacional est
submetido sua sobrevivncia, alm da ne-
cessidade de um mnimo de credibilidade
para que as organizaes possam atuar, pois
de outra forma no poderiam colocar-se
como possibilidade de referncia. A opo
tica visa, desse modo, prpria sustenta-
o da imagem da empresa, e no necessa-
riamente a um novo tipo de conduta orga-
nizacional.
Diante de tal panorama, a autora chama a
ateno para os riscos de uma imagem organizacio-
nal auto-referente, que induz a processos de homo-
geneizao, restringindo as possibilidades de apren-
dizado e tendendo estagnao. Assim, em sua atua-
o no contexto ps-moderno, as organizaes de-
param-se com riscos a serem enfrentados, pois o
imaginrio criado apresenta limitaes apropriao
do conhecimento como agregador de valor ao pro-
duto.
A seguir, recuperaremos brevemente como o
cenrio atual das organizaes foi constitudo, a m
de delinear que o cenrio organizacional moderno
no est marcado apenas pelo vis tecnolgico, mas
primordialmente pela dimenso cultural.
CENRIOS DAS ORGANIZAES: AS
ORGANIZAES E SUA DIMENSO HOJE
O surgimento da indstria como fenmeno
social, no sculo XX, est marcado por uma mudan-
a signicativa, caracterizada pelo abandono ou su-
perao de uma viso mstica substituda por uma
concepo racional de mundo que guardava na tc-
nica o seu suporte de legitimao. Sob esta tica, no
incio da sua constituio, as organizaes se con-
guravam como forma de, em um mesmo espao,
unir know how e acumular conhecimento, visando a
encontrar uma maneira de trazer o controle para o
capital.
O historiador Edgar De Decca defende que
tal relao foi conduzida pela idia de controle tanto
da produo como do trabalho,
16
fazendo com que
a tecnologia desse perodo, para alm da melhoria da
produtividade, buscasse controlar e disciplinar o tra-
balhador a revoluo industrial modicou no
apenas o sistema produtivo, mas notadamente as
formas de administrao. Por outro lado, o desen-
volvimento tecnolgico facilitou o processo de sub-
misso, uma vez que reduziu a interferncia do tra-
balhador especializado na denio e no controle da
produo. Pode-se, ento, concluir que o processo
de desenvolvimento tecnolgico desse perodo, alia-
do s novas formas de controle dele decorrentes, es-
tabeleceu as relaes de poder do capital sobre o tra-
balho.
Recorrendo a autores como Marx e Stephen
Marglin, Andre Gorz nos traz reexes sobre
como a tecnologia tem sido utilizada para manter
no somente o controle do trabalho, mas sua sub-
16
DE DECCA, 1995.
p g y p
i mpulso n 29 161
misso ao capital. Segundo o autor, a diviso do
trabalho e o parcelamento das tarefas, a ciso entre
trabalho intelectual e manual, a monopolizao da
cincia pelas elites, o gigantismo das instalaes e a
centralizao dos poderes que da decorre nada
disso necessrio para uma produo ecaz.
17
Nesse sentido, Gorz e De Decca concordam que a
tecnologia ou os imperativos tecnolgicos amadu-
receram suas origens voltados mais para o controle
do trabalho do que necessariamente para melhoria
do processo produtivo.
18
Com essas argumentaes, os autores no
pretendem ignorar a importncia da tecnologia, re-
conhecendo nela a diminuio do custo de produ-
o, como tambm sua superioridade no que diz
respeito ecincia em termos tanto de economia
de tempo como de simplicao das tarefas. De-
marcam, contudo, que a diviso das tarefas, a criao
do mercado e a inovao tecnolgica trouxeram de-
nitivamente a dependncia do trabalho ao capital.
Esse quadro demonstra signicativamente as ori-
gens da funo do administrador com relao tec-
nologia. Em outras palavras, coube gura do ad-
ministrador gestar essa transio do domnio da
produo centrada na pessoa do arteso para a do
capitalista; o administrador no sistema de fbrica
passou a ser uma pea fundamental de mediao en-
tre o capital e o trabalho, e a tecnologia tornou-se
instrumento essencial para execuo de tal tarefa.
O fordismo foi a primeira grande promessa
da tecnologia na revoluo da relao homem-tra-
balho. Para Ford, a ampliao da produo, cujo cer-
ne tecnolgico era a linha de montagem, possibili-
taria gerao de empregos, reduo de custos e, con-
seqentemente, a ampliao do consumo, criando
um crculo vicioso de melhoria no bem-estar geral
da sociedade. Alm do elemento tecnolgico (a li-
nha de montagem), reorganizando o trabalho e
transformando o controle individual taylorista em
controle coletivo no fordismo, este contava ainda
com um eixo poltico: a poltica de bem-estar mate-
rializada no New Deal norte-americano completava
o quadro poltico-econmico que iria permitir a ex-
panso do consumo.
Na dcada de 50, com a implantao das m-
quinas de controle numrico, tal controle se inten-
sicou ainda mais, visto que ele podia ento se rea-
lizar fora do espao da fbrica. J a dcada de 60 iria
apontar os primeiros sinais de crise do fordismo. Se-
gundo Heloani, a recuperao da Europa do ponto
de vista econmico e o dcit pblico e comercial
nos EUA trouxeram diculdades na continuidade
do aumento da produtividade;
19
as tecnologias pou-
padoras de mo-de-obra e de intensicao do tra-
balho foram cada vez mais incentivadas, congu-
rando o incio do atual quadro de desemprego.
Os anos 80 so marcados pelo desemprego
tecnolgico e pela recuperao da Europa e do Ja-
po na busca de novos mercados, acirrando a con-
corrncia e o dcit scal norte-americano; a rigidez
dos investimentos passa a exigir reestruturao eco-
nmica, reajustamento social e poltico e novas for-
mas de organizao industrial que autores como
Antunes e Harvey denominam acumulao ex-
vel.
20
Novos processos de trabalho emergem, onde
o cronmetro e a produo em srie e de massa so
substitudos pela exibilizao da produo, pela
especializao exvel, por novos padres de busca
de produtividade, por novas formas de adequao
da produo lgica do mercado.
21
Partindo dessas consideraes, podemos per-
ceber que passamos no apenas por modicaes
no sistema produtivo, mas sobretudo no modo de
vida social, ou seja, estamos assistindo a uma reor-
ganizao da sociedade, cujo futuro depende em
grande parte do tipo de atuao que os diversos
agentes sociais se proponham desenvolver. Em
1999, a revista HSM Cultura & Desenvolvimento
organizou um evento na Argentina com especialis-
tas em diversas reas do management, que contou
com a participao de quatro mil executivos no con-
gresso. O resultado dessas discusses foi sistemati-
zado em uma edio especial, publicada pela revista
no ano 2000, intitulada O futuro da empresa anteci-
pado no maior encontro de executivos do mundo.
17
GORZ, 1989.
18
Cf. GORZ, 1989; e DE DECCA, 1995.
19
HELOANI, 1994.
20
Cf. ANTUNES, 1995; e HARVEY, 1992.
21
ANTUNES, 1995, p. 16.
p g y p
162 i mpulso n 29
Tomaremos por base algumas dessas confe-
rncias, a m de explicitar como especialistas na rea
de management reconhecem as mudanas referidas
neste texto. Na seqncia, adotaremos como eixo a
conferncia de quatro autoridades reconhecidas no
mundo dos negcios: Peter Drucker, Bill Gates, Mi-
chael Porter e Nicholas Negroponte.
22
Eles reco-
nhecem que esse novo cenrio desaa uma raciona-
lidade tomada somente em sua dimenso instru-
mental e exige do gestor certas mudanas no seu
perl de relacionamento organizao-sociedade.
Drucker aponta que as organizaes contem-
porneas devem se preparar para alguns fatores que
sugerem mudanas nas formas gerenciais. Um deles
diz respeito mudana demogrca caracterizada
pela reduo do nmero de jovens e pelo aumento
na expectativa de vida da populao. Tal mudana
tambm marcada pelos processos de presses mi-
gratrias, provocados por xodos resultantes de
conitos polticos, mobilidade do mercado de tra-
balho e trnsito trazido pela facilidade de transporte.
De certa maneira, tais processos colocam em con-
vivncia diferentes culturas. Com base nos fatores
de mudanas apontados por Drucker, congura-se
um perl diferente do mercado consumidor, que
ser recongurado a partir da releitura indicada por
essas tendncias.
Outra vertente, segundo esse autor, diz res-
peito ao comrcio eletrnico, que desloca o centro
de valor das empresas para o processo de distribui-
o e exige a integrao das cadeias de abastecimen-
to. Desse ponto de vista, o reexo organizacional
poderia ser um sistema centralizado na alta adminis-
trao, contraposto por uma estrutura descentrali-
zada de fornecimento de produtos e servios. Ou
seja, a cadeia de distribuio passa a ser um elemento
fundamental, como tambm as alianas, as associa-
es e os acordos entre as empresas que viabilizam
tal processo. Uma terceira corrente se refere eli-
minao das distncias entre organizao e consu-
midores, dada a universalizao de bens e servios
propiciada pelo comrcio eletrnico, que inaugura a
competio mundial. Em tal contexto, embora
primeira vista possa parecer que haver uma homo-
geneizao de produtos, Drucker alerta para o fato
de que a disponibilidade de acesso a produtos em
qualquer lugar do mundo evidencia a cor local, ou
seja, o diferencial de produto e sua competncia es-
sencial.
23
Procurando ainda congurar o novo cenrio
das organizaes, o autor aborda a questo da nova
nfase na produtividade, cujo fator mais relevante
desloca-se da equao mo-de-obra, mais matria-
prima, mais tecnologia para a imaterialidade do
produto, cuja contribuio humana centra-se no
conhecimento. Tal mudana recongura o conceito
de organizao do trabalho, que perde a sua dimen-
so de previsibilidade absoluta e ganha nova dinmi-
ca, caracterizada pela eliminao de rotina e trabalho
em equipe, no sentido de viabilizar a criatividade no
processo produtivo. Nesse contexto, a assistncia
educacional agregada promoo da tecnologia da
informao passam a ser elementos fundamentais
do conceito de produtividade.
J Bill Gates centra sua anlise nas mudanas
proporcionadas pela insero da informtica nos
processos de gesto, que, segundo ele, podem trazer
como vantagem a capacidade de acelerar o uxo de
informao dentro de e entre organizaes, assim
como os elos da cadeia de valor dos clientes atuais e
potenciais.
24
Ele considera que os computadores
tm sido ferramentas subutilizadas, em razo da re-
sistncia cultural na eliminao de papis, falta de
conhecimento do aplicativo e pouco aproveitamen-
to dos recursos eletrnicos no acompanhamento de
projetos. O empresrio projeta para o futuro uma
organizao que perder o contato com o papel, pri-
vilegiar o feedback e a informao digitalizada, pois
atuar em um ambiente digital.
Esse ambiente digital por ele denido como
a capacidade da informtica de gerar alas e circuitos
de feedback que possibilitaro conhecer a opinio
22
Cf. DRUCKER, 2000; GATES, 2000; PORTER, 2000; e NEGRO-
PONTE, 2000.
23
Competncias essenciais so habilidades e capacidades codicadas e
decodicadas que conferem empresa seu sabor singular, no podendo
ser imitadas com facilidade pela concorrncia. No dizem respeito, neces-
sariamente, ao que a empresa deve fazer, mas primordialmente ao que no
deve fazer. Centrar-se na competncia bsica atuar diretamente em bens
e servios relacionados razo de ser da empresa; no entregar esta com-
petncia ao mercado (MOTTA, 1998, p. 81).
24
GATES, 2000.
p g y p
i mpulso n 29 163
dos clientes, consultar funcionrios, receber infor-
maes externas em tempo real, relacionar resulta-
dos, observar tendncias e simular aes, prevendo
efeitos na realidade sem a necessidade de intermedi-
rios. Como conseqncia, o gestor poder analisar a
evoluo do relacionamento com clientes ou do cli-
ma do espao de trabalho. Haver ainda maior am-
plitude e possibilidade de articulao de dados que
interferem na lgica de preos, disponibilidade de
informao sistematizada do produto e aumento do
mercado potencial das organizaes, reduzindo o
custo de busca da informao.
No entanto, para aproveitar a fora propulso-
ra da tecnologia, Gates considera necessrias algu-
mas mudanas do ponto de vista organizacional, en-
tre elas, a incorporao do correio eletrnico cul-
tura corporativa e a anlise dos impactos da Internet
nos negcios, como tambm a promoo dessas mo-
dicaes, como a simplicao de operaes, o pro-
piciamento de interligao da cadeia de valor (anteci-
pao de processos informativos das reunies), a dis-
seminao dos benefcios da tecnologia, mediante
apoio governamental e de centros especializados,
especialmente para pequena e mdia empresa, e a in-
sero da informtica como disciplina obrigatria
nas escolas.
Esse quadro aponta a tecnologia como uma
alternativa possvel para a soluo de dois problemas
de escassez: tempo e dinheiro. Em tal contexto, o
papel da liderana ser o de promover a mudana
para insero da organizao no ambiente digital.
Ainda que essa realidade possa parecer promissora,
Gates adverte os riscos de invaso da privacidade e
a necessidade de manuteno do controle humano
tico sobre a informtica. Porm, a utilizao da In-
ternet contribui certamente com o rompimento das
prises geogrcas.
Ao caracterizar o que denomina demograa
digital, Nicholas Negroponte a divide em trs gru-
pos: os usurios jovens que navegam na Internet
como peixes e, portanto, so 100% digitais, os de
faixa etria acima de 65 anos, que, dada a sua maior
disponibilidade de tempo, tm maiores possibilida-
des de conviver com o ambiente digital, e, nalmen-
te, os desamparados digitais, que no entraram no
processo de digitalizao por conta da limitao de
tempo e do fato de estarem envolvidos com outras
atividades cotidianas.
25
Esse bloco abriga os dirigen-
tes de naes, escolas e empresas que, diante do seu
distanciamento com o mundo digital, reproduzem
tal diculdade no espao empresarial.
O autor caracteriza a civilizao digital como
regida pelas unidades de informao computadori-
zada (bits)
26
cujo impacto na vida diria determi-
nado pelo custo de reproduo igual a zero, trazen-
do, dessa forma, para economia um desao ao tratar
a noo de reproduo ou ainda de oferta e demanda.
A fora mobilizadora desse processo de digitaliza-
o, ainda segundo Negroponte, a cultura, quando
expressa pela valorizao das liberdades individuais,
da economia subterrnea,
27
e pela cultura horizon-
tal, que enfatiza uma falta de respeito saudvel pela
autoridade e desenvolve-se com base na argumen-
tao e no debate.
28
Essas particularidades culturais
explicam as diferenas entre os pases no que se re-
fere insero no mundo digital, ou seja, esta no se
limita somente disponibilidade dos recursos tec-
nolgicos.
Quanto inteligncia da rede, Negroponte
arma que a capacidade de interconexo determina-
r a eccia do seu desempenho, que atingir o
mundo empresarial pelo comrcio eletrnico, me-
dida que algumas questes sejam equacionadas, en-
tre elas, reduo dos preos dos computadores e das
telecomunicaes, melhoria nos sistemas de teleco-
municao, diminuio de juros e de multas nos sis-
temas de pagamento e desintermediao entre em-
presa e consumidor. Com isso, as lojas perderiam a
sua funo de venda para privilegiar a exposio e a
promoo dos produtos.
Como resultado desse processo, o autor
aponta a interconectividade sobre o conceito de na-
o articulando o local e o global, a aproximao da
qualidade de vida urbana e rural, e o rompimento da
noo de sincronismo do cotidiano, uma vez que no
mundo dos bits no h necessidade de simultanei-
25
Cf. NEGROPONTE, 2000, p. 86.
26
Digito binrio que pode estar apenas em um entre dois estados, repre-
sentando zero ou um (LAUDON & LAUDON, 1999, p. 375). Uni-
dade de medida da quantidade de informao.
27
A economia subterrnea se caracteriza pela informalidade e pela valori-
zao dos relacionamentos.
28
Cf. NEGROPONTE, 2000, p. 86.
p g y p
164 i mpulso n 29
dade fsica. Entretanto, alerta para a necessidade
fundamental de investimento de programas educa-
cionais que respondam lgica de produo do co-
nhecimento no mundo digital.
Finalmente, Michael Porter centra a sua an-
lise do processo de mudana organizacional na
questo da estratgia.
29
Para ele, a globalizao tem
exigido uma mudana de mentalidade no que se re-
fere concorrncia e existe uma diculdade de for-
mulao das estratgias, em funo da instabilidade
e do curto prazo que o ambiente proporciona. Ana-
lisando detalhadamente os fatores que se inter-rela-
cionam com a denio de uma estratgia de orga-
nizao entre eles, o desempenho do setor, a ren-
tabilidade da organizao e do setor em que se atua,
a relao entre preos e custos e a ecincia opera-
cional , o autor conclui que tal estratgia deve ser
denida pela competio de que a organizao no
quer participar e pela liberdade de escolher o seu
concorrente. Assim, ela no se reduz lucratividade,
mas se amplia para a gerao de um crescimento
maior do que aquela concorrncia que a organiza-
o decidiu enfrentar.
Do ponto de vista de um panorama para as
organizaes, Porter constri uma nova noo de
competitividade baseada na mudana e no rompi-
mento com a tradio, possibilitando um ambiente
estimulador da produtividade que dever estar cen-
trada em um marketing melhor, marcas destacadas,
excelente distribuio e um esplndido atendimen-
to ao cliente. Dessa perspectiva, a criao de um am-
biente de produtividade responsabilidade da orga-
nizao, da sociedade e da economia. Portanto, h
necessidade de uma articulao da macroeconomia,
que, apesar de no gerar riquezas, pode facilitar ou
dicultar a sua gerao, e da microeconomia, res-
ponsvel pelo oferecimento de produtos e servios
valiosos, produzidos por pessoas com aptides e
atitudes pouco comuns em campos especcos.
Em virtude disso, Porter caracteriza o ambien-
te microeconmico como o diamante econmico
responsvel por oferecer insumos de altssima qua-
lidade (recursos humanos, infra-estrutura, sistema
de comunicao, base cientca e capital a prazos ra-
zoveis), bons clientes (exigentes, inteligentes e
com necessidades difceis de atender e que, portan-
to, exigem ecincia) e competio como fruto de
conquistas, no de favores. Sobre essa ltima ques-
to, arma que a comunidade empresarial deve as-
sumir sua responsabilidade na formulao da poltica
econmica da nao, uma vez que a estratgia de
uma organizao extrapola o limite da empresa e
atinge a comunidade. Assim, considera que cabe ao
homem de negcios assumir o seu papel de estadista.
CONCLUSO
Certamente, Gates, Drucker, Negroponte e
Porter no abordam a totalidade das mudanas pos-
sveis em um novo cenrio organizacional; contudo,
pode-se dizer que, de uma forma ou de outra, os
quatro abordam dois eixos de discusso que consi-
deramos fundamentais na anlise de um possvel
perl de um gestor atuante num cenrio complexo
e em constante mudana. So eles o conhecimento
e a tecnologia informtica.
Muitos autores tm tratado a questo do co-
nhecimento no processo de recongurao no
mundo do trabalho. No campo administrativo, ela
tem sido abordada com a terminologia de capital in-
telectual.
30
Stewart constri tal conceito estabelecen-
do uma distino entre capital humano e capital es-
trutural: o primeiro diz respeito ao acmulo cogni-
tivo dos indivduos e o segundo, apropriao, por
parte das empresas, dos conhecimentos dos indiv-
duos que as compem.
31
Desse modo, a gesto do
conhecimento implica a habilidade do gestor em es-
tabelecer a ponte entre o capital humano e o capital
estrutural. Quais os desaos para tal questo?
O primeiro deles diz respeito prpria for-
mao dos indivduos para o processo de trabalho.
Como vimos anteriormente, as formas de organiza-
o do trabalho no sculo XX privilegiaram as estru-
turas de controle, em detrimento da capacidade
proativa dos indivduos, desde a prpria forma de
concepo de cincia at a sua materializao na re-
29
Cf. PORTER, 2000.
30
Capital intelectual a soma do conhecimento de todos em uma
empresa, que lhe proporciona vantagem competitiva (...). Capital intelec-
tual intangvel (STEWART, 1998, p. XIII).
31
O conhecimento referido por Stewart (1998) diz respeito forma de
processos e tecnologias.
p g y p
i mpulso n 29 165
produo do ensino. Distanciaram, portanto, a idia
de concepo da noo de conhecimento novo e a
sua reproduo. O sistema educacional formal ten-
de a reproduzir contedos descontextualizados de
seu processo histrico e de sua inter-relao com
outras reas do conhecimento.
32
Na verdade, a limitao e a diculdade encon-
tradas pelas organizaes em um contexto que exi-
ge atuao mais criativa e inovadora so, em alguma
medida, reexo no apenas do processo de trabalho,
mas sobretudo da lgica que orientou a cincia, re-
duzindo-a ao conceito de tecnologia, esgotando a
sua capacidade de questionamento e criao do no-
vo. Dessa perspectiva, a atuao das organizaes
nesse contexto extrapola seus limites, por estar arti-
culada a mudanas que devem ser promovidas em
todo o contexto social.
Quanto ao capital estrutural, que talvez esteja
mais restrito ao mbito da organizao, as transfor-
maes tambm so necessrias. A mediao da re-
lao capital-trabalho assume aqui novos pesos e
medidas, pois, se a lucratividade ainda a moeda
forte do capital, esta no pode mais, hoje em dia, ser
obtida apenas com o controle mximo da fora de
trabalho. A adeso no deve ser s do corpo; envol-
ve toda a dimenso humana. No queremos dizer,
com isso, que as formas de organizao do trabalho
que objetivavam o uso da fora fsica no agreguem,
em seu processo, um nvel de seduo da subjetivi-
dade.
33
Contudo, a atividade de criao precisa da
subjetividade de forma integral e direcionada, capaz
de dar novo sentido ao j existente e, partindo da,
de produzir o novo. Caber, ento, ao gestor cons-
truir mecanismos que viabilizem a materializao do
capital humano no processo organizacional e, con-
seqentemente, a construo do capital estrutural.
Esse certamente um desao signicativo
para os processos de gesto, j que trazer tona ou
convencer os indivduos a disponibilizar seus co-
nhecimentos no uma ao meramente mecnica.
Ela necessita de uma adeso a um projeto organiza-
cional e, nesse sentido, os indivduos precisam cons-
tituir-se como sujeitos,
34
dimenso essa constante-
mente negada pelo capital. No se esgotar aqui
toda a construo terica que sustenta tal negao
por parte do capital; entretanto, considerando que a
constituio do sujeito elaborada pela construo
de uma auto-imagem,
35
ou pela possibilidade de
esse sujeito colocar-se no centro do seu prprio
mundo,
36
no se pode negar que o capital poder
buscar a sua otimizao em detrimento da consti-
tuio dos indivduos. Certamente, o percurso do
capital no sculo XX no foi capaz de aniquilar a
existncia de sujeitos, pois se tivesse tido tal xito o
prprio conceito de humanidade estaria em risco.
Contudo, esse foi um campo de embate intenso
que, hoje em dia, se recoloca de um novo ponto de
vista, pois o desejo passa a ter uma dimenso impor-
tante para a criatividade de que a organizao tanto
necessita.
O gestor, nessa dimenso, est em outro pa-
tamar de relao, pois, alm de no dominar todo o
conhecimento necessrio para atender as exigncias
de criatividade demandadas pelas organizaes, pre-
cisa potencializar os conhecimentos que se colocam
de forma fragmentada na organizao e transform-
los em produtos, servios e processos. No que tan-
ge informtica, deve-se, num primeiro momento,
considerar que ela pode ser entendida com base em
duas possibilidades: uma aponta para a sua apropria-
o integral por parte do processo produtivo e a ou-
tra, apesar de instrumentalizar uma nova lgica de
32
Cf. MORIN, 2000.
33
O conceito de subjetividade aqui utilizado no se restringe relao do
inconsciente com a realidade, mas estabelece a ligao entre o sujeito do
desejo com o mundo que o circunda. A subjetividade, ainda que no
mbito do sujeito, construda em um processo de inter-relao e inter-
pretao da realidade. Segundo Flix Guattari, Subjetividade o conjunto
das condies que torna possvel que instncias individuais e/ou coletivas
estejam em posio de emergir como territrio existencial auto-referen-
cial, em adjacncia ou em relao de delimitao com uma alteridade ela
mesma subjetiva (GUATTARI, 1989, p. 19). Assim, consideramos a
subjetividade integral como a utilizao da intuio, da emoo, e direcio-
nada resoluo de problemas organizacionais, como tambm na percep-
o de alternativas de novas condues ao processo organizacional capazes
de sustentar a dinmica da complexidade das organizaes. No entanto, tal
relao s possvel na medida em que o sujeito possa interpretar ou
encontrar na ao a realizao de seu prprio desejo, e no apenas daqueles
da organizao.
34
Segundo MORIN (1996), a concepo de sujeito est relacionada ao
reconhecimento do eu no de um eu absolutamente isolado e ego-
cntrico, mas que se constri na teia de relaes mltiplas colocadas pelo
cotidiano. Para o autor, a posio de sujeito implica toda uma complexi-
dade de composies que o constituem como tal. Nesse sentido, o eu
no apenas a pessoa, mas toda a rede de relaes que ela traz consigo.
35
MANZINI-COVRE, 1996.
36
MORIN, 1990, p. 95.
p g y p
166 i mpulso n 29
produo, extrapola tal dimenso e recongura re-
laes sociais. Ateremo-nos a essa segunda dimen-
so, uma vez que os prprios consultores da rea de
administrao apontam como os processos infor-
matizados possibilitam, por parte da comunidade,
maior controle das organizaes. Isso, por conta das
possibilidades de acesso a informaes, como tam-
bm de interferncia no processo organizacional,
considerando a expresso e o contato em tempo
real com as organizaes, por meio de ferramentas
disponibilizadas aos clientes em uma srie de servi-
os dessa natureza.
Do ponto de vista dos consumidores, o pro-
cesso informacional recongura a idia de mercado
consumidor, na medida em que o lugar geogrco
no se constitui mais como fator preponderante.
Ao mesmo tempo, o consumidor, do escritrio de
sua casa, tem sua disposio todo um conjunto de
empresas a lhe oferecer bens e servios com deta-
lhamento de preo e qualidade jamais vistos. Por-
tanto, a delimitao do mercado consumidor po-
tencial hoje signicativamente complexa, tanto
em termos de perl quanto de quanticao. Na re-
lao entre as empresas, essa tecnologia capaz de
integr-las em processos de altssima velocidade,
exigindo maior preciso nos processos organizacio-
nais, com nfase no processo de distribuio.
Trabalhar com tal complexidade encontra nas
alianas e associaes uma possibilidade de enfren-
tamento dessa questo. Exige, contudo, uma mu-
dana na idia de concorrncia, visto que, ao se tra-
balhar com parceiros, o processo dever se dar em
um contexto de compartilhamento e troca de infor-
maes, recursos, tecnologias, prticas etc. Interna-
mente, a informatizao das relaes produz impac-
tos tanto nos procedimentos, que podem deixar de
ser mediados por papis e relaes entre pessoas,
como na prpria dinmica interna organizacional,
pois a presena fsica no local de trabalho pode, em
muitos casos, ser substituda pela integrao de pro-
cessos mediante relacionamentos virtuais. Nesse
sentido, o trabalho voltaria sua dimenso domici-
liar e toda lgica de controle possibilitada pela con-
centrao espacial cairia por terra.
Ainda no mbito interno, a tecnologia infor-
macional capaz de socializar informaes que pos-
sam contribuir na produo de novos conhecimen-
tos, tendo em vista que se processam novas formas
de interpretaes do mesmo bloco de elementos. A
simultaneidade da informao poder propiciar um
ambiente hologrco, pois a relao entre a parte e
o todo se estabelece de maneira unidimensional, j
que facilita a superao da fragmentao de proces-
sos lineares de informao.
Nessa dimenso, o desao colocado ao gestor
est demarcado pela exigncia da capacidade de tra-
tar uma multiplicidade de fatores determinados por
consumidores, concorrentes, alianas e pelo prprio
corpo funcional, sem uma lgica evidente de centra-
lidade que lhe permita um controle preciso de todo
processo organizacional, uma vez que a sua atuao
ocorrer em um ambiente mutante e multifacetado.
Estaro a cincia, a arte ou a tcnica administrativa
preparadas para formar gestores com tal perl?
Referncias Bibliogrcas
ANTUNES, R. Adeus ao Trabalho? Ensaios sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo do trabalho. 2. ed., So Paulo:
Cortez, 1995.
ARCHER, M. Teoria, cultura e sociedade ps-industrial. In: FEATHERSTONE, M. Cultura Global: nacionalismo, globalizao e
modernidade. Petrpolis: Vozes, 1994.
COVRE, M.L. A funo da tcnica. In: BRUNO, L. & SACCARDO, C. (coords.). Organizao, trabalho e tecnologia. So Paulo:
Atlas, 1986, pp. 91-115.
DE DECCA, E. O Nascimento das Fbricas. Col. Tudo Histria. So Paulo: Brasiliense, 1995.
DRUCKER, P. E assim comea o milnio... HSM Management, So Paulo, ed. esp.: 6-11, 2000.
FREITAS, M.E. Contexto social e imaginrio organizacional moderno.Revista de Administrao de Empresas, So Paulo, 40
(2): 6-15, 2000.
p g y p
i mpulso n 29 167
GATES, B. Na velocidade do pensamento. HSM Management, So Paulo, edio especial: 12-16, 2000.
GIDDENS, A. et al. Modernizao Reexiva: poltica,tradio e esttica na ordem social moderna. So Paulo: Edunesp, 1997.
GIDDENS, A.As Conseqncias da Modernidade. So Paulo: Edunesp, 1991.
GIMPEL, J. O m do futuro: o declnio tecnolgico e a crise do Ocidente. Portugal: Inqurito, 1992.
GORZ, A. Crtica da Diviso do Trabalho. 2. ed., So Paulo: Martins Fontes, 1989.
GUATTARI, F. Caosmose: um novo paradigma esttico. So Paulo: 34, 1989.
HARVEY D. Condio Ps-moderna. 5. ed., So Paulo: Loyola, 1992.
HELOANI, R. Organizao do Trabalho e Administrao: uma viso multidisciplinar. So Paulo: Cortez, 1994.
LAUDON, C.L. & LAUNDON, J.P. Sistemas de informao. Rio de Janeiro: LTC, 1999.
MANZINI-COVRE, M.L. No caminho de Hermes a Sherazade: cultura,cidadania e subjetividade. Taubat: Vogal, 1996.
MENEZES, P. A Crise do Passado. So Paulo: Experimento, 1994.
MORIN, E. A Cabea Bem-feita: repensar a reforma,reformar o pensamento. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000.
________. A noo de sujeito. In: SCHNITMAN, D.F. (org.). Novos Paradigmas Cultura e Subjetividade. Porto Alegre: Artes
Mdicas, 1996.
________. Introduo ao Pensamento Complexo. Col. Epistemologia e Sociedade. Lisboa: Instituto Piaget, 1990.
MOTTA, P.R. Transformao Organizacional: a teoria e a prtica de inovar. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1998.
NEGROPONTE, N. Civilizao digital. HSM Management, So Paulo, edio especial: 84-89, 2000.
PORTER, M. A nova era da estratgia. HSM Management, So Paulo, edio especial: 18-28, 2000.
RIFKIN, J. O Fim dos Empregos: declnio inevitvel dos nveis dos empregos e a reduo da fora global de trabalho. So Paulo:
Makron Books, 1995.
STEWART, T.A. Capital Intelectual: a nova vantagem competitiva das empresas. Rio de Janeiro: Campus, 1998.
p g y p
168 i mpulso n 29
p g y p
i mpulso n 29 169
MODERNISMO
E DISCURSOS
PS-MODERNOS
NO BRASIL
Modernism and Postmodern Discourses in Brazil
Resumo So duas as perguntas que guiam este ensaio. A primeira : o que signica
ser moderno? Para respond-la, parto dos debates contemporneos sobre a moder-
nidade nos contextos europeu e anglo-americano para revelar uma constante forma
de excluso, uma abstrao seletiva, que a no considerao da Amrica Latina e
do Brasil como parte da modernidade. A segunda questo indaga: o que signica ser
moderno no Brasil? Ela nos remete esttica do modernismo e aos discursos ps-
modernos no Brasil, nos quais tambm se revela uma grave abstrao seletiva: a no
considerao da diversidade cultural brasileira, antes enfatizada pelo modernismo.
Com base nessa dupla constatao, chamo a ateno para a necessidade de se estabe-
lecer novos sentidos de moderno, ps-moderno e seus respectivos generativos, a par-
tir do reconhecimento e eliminao das abstraes seletivas apontadas.
Palavras-chave MODERNIDADE MODERNISMO PS-MODERNO AMRICA LA-
TINA BRASIL ABSTRAO SELETIVA.
Abstract There are two general questions guiding this essay. The rst is: what does
it mean to be modern? To answer this question, I start with the contemporary de-
bates about modernity in the European and Anglo-American contexts, in order to re-
veal a continuous form of exclusion, a selective abstraction, that is the disregard of
Latin America and Brazil as part of modernity. So the second question asks: what
does it mean to be modern in Brazil? This leads us to the aesthetics of modernism and
the post-modern discourses in Brazil, in which we nd a new form of selective abs-
traction: they overlook the Braziian cultural diversity, once emphasized by moder-
nism. Based on this double nding, I try to call the attention upon the need to de-
velop new meanings of modern, post-modern and their generatives, based on the re-
cognition and elimination of selective abstractions.
Keywords MODERNITY MODERNISM POSTMODERN LATIN AMERICA BRA-
ZIL SELECTIVE ABSTRACTIONS.
AMS NASCIMENTO
Estudos musicais em Buenos
Aires (EMEC), mestrado em
cincias sociais e religio
pela Umesp, estudos doutorais
em losoa na Unicamp e
na Frankfurt-Universitt
asnascim@unimep.br
p g y p
170 i mpulso n 29
Muita sava e pouca sade,
os males do Brasil so.
MRIO DE ANDRADE, Macunama
esde h muito profetizado como tempo de uma nova
odissia, 2001 talvez seja uma data adequada para um ba-
lano do que seja a modernidade. Novos tempos podem
ser motivo para questes e reexes, ainda mais ao se tratar
de dcada e sculo novos que anunciam mais um milnio
em alvor. Mas o que so anos, dcadas, sculos e milnios?
Marcos temporais relativos, claro, pois pensaramos o
tempo de outro modo, caso tomssemos o calendrio chi-
ns, judaico, guarani ou juliano. O que h de novo, e o que passado? Talvez
nada veramos de novo, seno o eterno retorno do que j se conhece. Quanto
de bom e o que h de males no que o choque do novo traz? Depende da
perspectiva que se toma. Mais alm dessa relatividade podemos, porm, re-
etir sobre essa data e nos servir desse marco contingentemente ocidental, do
qual somos privilegiadas testemunhas, a pretexto de retomar duas questes
pontuais: o que signica ser moderno? o que signica ser moderno no Bra-
sil?
Em resposta a tais indagaes proponho, de incio, uma breve retros-
pectiva histrica sobre trs milnios de modernidade europia, para assim re-
velar o que denomino abstraes seletivas. Estas nada mais so do que uma
infundada forma de excluso, e ocorrem ao se dar maior relevncia ontol-
gica, epistemolgica ou lingstica a dados obtidos por mera pressuposio,
enquanto se relega como irrelevante o que temos mais diretamente mo:
uma experincia sensvel que de antemo excluda. E que h de mal nisso?
O fato de se dedicar grande esforo terico inconsciente at para evitar
as iluses da percepo por meio de uma abstrao, em um processo de isolar
e excluir por antecipao aquilo que no se quer ver. E aqui jaz o problema:
se reconhece desde o incio haver algo que no se quer conhecer, fechando-
se sem justicativas ao novo, diferena e diversidade.
Antdotos a esse mal de raiz ideolgica existem. Um deles abertura
cultural. Outro , sem dvida, uma abertura dimenso esttica, pois a sen-
sibilidade e a acuidade perceptiva com razo ajudam a curar os males das abs-
traes. Eis aqui teses caras ao modernismo, vanguarda e tambm aos dis-
cursos ps-modernos que, ao privilegiar a esttica, buscam corrigir os exage-
ros da epistemologia moderna. Por isso proponho a retomada de alguns de-
bates sobre a esttica no Brasil, seguindo a linha que nos leva do modernismo
ps-modernidade. Mas no nos iludamos! Tambm na esttica, nos discur-
sos ps-modernos e mesmo no Brasil, ocorrem abstraes seletivas que afe-
tam o sentido das possveis respostas s duas questes levantadas.
DD
D D
p g y p
i mpulso n 29 171
O QUE SIGNIFICA SER MODERNO?
Para responder essa primeira questo, parta-
mos, como indiquei, do contexto europeu, muitas
vezes visto como sinnimo de modernidade. No
porque devamos cair na cilada de absolutizar essa
conveno. Mas sim porque a partir de uns poucos
dados algumas respostas esquemticas podem ser
apresentadas, guisa de introduo.
Uma primeira acepo do moderno nos re-
mete linguagem litrgica e ao tom decididamente
metafsico da clssica indagao das Consses de
Agostinho: quid est tempus? O tempus modernus,
inaugurado pelo advento do cristianismo, nada seria
seno o tempo marcado pela histria da salvao,
oposto s religies dos pagani e pluralidade de
conceitos tradicionais gregos hoje olvidados
cr noj , mera, shmeron, kair j , ai on e outros. Mo-
dernus, o tempo presente impregnado de futuro e
medido pela unidade bsica dos anni domini (A.D.)
no Calendarium Gregorianum, foi o marco do pri-
meiro milnio. Tanto que Cassiodoro identicou o
que lhe era contemporneo, o sculo VI, como mo-
dernis saeculis, embora muitos nos dias de hoje de-
nam essa mesma poca e seu universalismo missio-
nrio como os sculos das trevas, como Idade M-
dia a ser superada por algo superior.
1
Uma segunda noo, j no segundo milnio,
nos leva cincia, e no mais teologia. Tambm
aqui se denominavam moderni os lgicos e
matemticos que, em oposio aos antiqui, defen-
deram uma nova ratio e a logica modernorum. Pas-
sando pela Renascena, a Reforma e a Revoluo
Cientca, esse protesto chegaria a Descartes, cujo
Discours sur la mthode comea por defender a an-
lise dos modernos contra a lgebra dos antigos.
A questo da racionalidade chega tambm cultura,
arte da ars nova no sculo XIII famosa querelle
des anciens et des modernes, com Charles Perrault,
em 1687 , moral e poltica, com a substituio
do latim por novas linguagens nacionais atreladas a
distintos territrios, e com o desenho de estruturas
formais de saber. O tema perpassa o sculo XVIII,
novos descobrimentos e as novas cincias, chegan-
do ao ponto no qual a Europa se arma como o
continente moderno por excelncia, ao inaugurar
novo projeto poltico universal, to criticado no s-
culo XX.
2
A terceira possibilidade de resposta,
contempornea ao milnio que se inicia, nos remete
a vrias pessoas que denem, defendem ou criticam
a modernidade. Assim o fazem, tanto luz da cul-
tura ocidental desses dois milnios tempo mnimo
na histria humana como em vista de uma reali-
dade mutante e plural, marcada por mltiplas lin-
guagens e complexas tecnologias. Se Jrgen Haber-
mas e Anthony Giddens sejam talvez mais conhe-
cidos como defensores da modernidade, h em
oposio a eles a linha ps-moderna de Jean-Fran-
ois Lyotard, de movimentos feministas, ps-colo-
niais e representantes de verses variadas de crticas
a esse legado.
3
O que signifca, ento, ser moderno? Para
muitos, o remeter-se ao lastro cultural europeu,
privilegiando algum ponto nesses trs milnios de
histria. Essa reconstruo esquemtica ampla, ge-
ral e irrestrita. Pode ser acusada de privilegiar narra-
tivas eurocntricas em detrimento de outras tantas
possveis; de pretender cobrir, em trs pargrafos,
trs milnios de modernidade. Leva-nos, porm, ao
mago da questo a qual me dedicarei: ser moderno
signica ver a modernidade em relao a algo espe-
cco, e implica uma diversidade nem sempre reco-
nhecida nos debates atuais sobre o tema, quando
neles se revela uma forma de excluso, uma abstra-
o seletiva. Mencionarei brevemente cinco debates
atuais sobre a modernidade e a ps-modernidade,
nos quais limitaes e abstraes podem ser indica-
das e criticadas, medida que nos aproximamos
mais e mais de questes pertinentes ao contexto
brasileiro:
1. A polmica entre Jrgen Habermas e Jean-
Franois Lyotard ocupa lugar central nas
discusses sobre a modernidade, e nela se
apresenta uma primeira abstrao, que se
refere justamente nfase na Europa cen-
1
Cf. FREUND, 1957; NASCIMENTO, 1997; e bibliograa ad nem.
2
Sobre isso cf. DESCARTES, 1965; KLINE, 1972; e DE RIJK, 1968, cf.
1, p. 16ss; bem como HALL, 1966, pp. 34-128; KUHN, 1972, cap. XIII; e
JAU, 1964.
3
Cf. HABERMAS, 1985a; e GIDDENS, 1990 e 1991; LYOTARD,
1979. Para uma viso geral, cf. BERTENS, 1995.
p g y p
172 i mpulso n 29
tral e ausncia de referncia e considera-
o a uma srie de outros temas e autores
relevantes para essa temtica.
4
2. O debate ampliou-se com vasta literatura
na Europa e nos Estados Unidos,
5
mas
mesmo entre as pessoas que se dedicaram a
corrigir e complementar a discusso epist-
mica, incluindo a arte, a questo da mulher,
a poltica local e a produo econmica,
6
observa-se outra grande abstrao. V-se a
excluso do que se dene como a Amrica
Latina e de outras regies vistas como
perifricas , embora a discusso sobre a
modernidade seja prpria histria recente
do continente.
7
3. H, deveras, aspectos histricos, espec-
cos cultura e esttica latino-america-
nas, que devem ser trazidos a pblico.
8
Mas
no esto livres das abstraes, pois, em
toda a literatura produzida de modo alter-
nativo na Amrica Latina, observa-se a falta
de ateno para a situao do Brasil. Embo-
ra o mesmo possa ser dito sobre o Equador,
o Paraguai e o Haiti,
9
no se deve negar a
especicidade e a presena cultural e polti-
ca que o Brasil exerce no continente, bem
como a particularidade lusitana com relao
herana hispnica.
10
Somente com grande
abstrao que se pode separar o Brasil da
Amrica Latina.
4. necessrio, ento, reetir sobre como
esse tema foi tratado no prprio contexto
brasileiro.
11
Desde as consideraes pionei-
ras de Jos Guilherme Merquior, at as po-
lmicas envolvendo a esttica concretista e
a discusso sobre a cultura popular e a cul-
tura de elite no Brasil, trava-se intensa dis-
cusso sobre o sentido da modernidade e
da ps-modernidade no pas.
12
Mas tal dis-
cusso muitas vezes abstrai a realidade e
pluralidade social, econmica, poltica e cul-
tural brasileira.
5. Por sorte, h alternativas, se nos voltamos
para a diversidade inerente modernidade.
Tais discusses partem da discusso sobre a
modernidade e a ps-modernidade no Bra-
sil retomando uma vez mais a tradicional
questo sobre a identidade nacional, mas
vendo-a sob a perspectiva da cultura popu-
lar e as formas plurais que ela encerra.
Poderamos, portanto, tentar corrigir as abs-
traes com um simples apelo sensibilidade para
com a pluralidade no prprio conceito de moderni-
dade. Mas mesmo nessa frmula simples, que po-
deria caracterizar tanto a modernidade como a ps-
modernidade esttica e cultural a abertura multi-
cultural, a crtica aos discursos universalizantes e a
primazia dada voz dos excludos , outras srias
formas de abstrao podem ser descobertas em pro-
cesso ad innitum. Isso nos revela o desao de vol-
4
Lyotard, conhecido inicialmente no meio losco por seu livro La ph-
nomnologie (1954) e seu envolvimento com os movimentos libertrios na
Arglia desenvolveu uma srie de crticas modernidade antes de lanar
seu manifesto La condition postmoderne (1979), no qual critica Habermas
por sua losoa do consenso, que no seria to distinta do positivismo.
Habermas, que ganhara destaque no ambiente acadmico primeiramente
por sua anlise da esfera pblica e da relao entre conhecimento e inte-
resse, publicou Theorie des Kommunikatven Handelns (1981a), e apresen-
tou resposta indireta a Lyotard. Escreveu Die Moderne: ein
unvollendetes Projekt, includo em Kleine politische Schriften I-IV
(1981b) e Der Philosophische Diskurs der Moderne (1985a), chegando
concluso de que a crtica da modernidade pelo ps-modernismo era simi-
lar crtica da modernidade pelo neo-conservadorismo. Sobre o neo-con-
servadorismo, cf. STEINFELS, 1979. Respostas a Habermas ento em
LYOTARD, 1986 e 1993. Sobre o debate entre Habermas e Lyotard, cf.
RORTY, 1984; e NASCIMENTO, 1989.
5
Cf., por exemplo, RORTY, 1983.
6
Cf. KAMPER & REIJEN, 1987; e BERTENS, 1995; alm de HAS-
SAN, 1987; HARVEY, 1989; HUTCHEON, 1988; e GILROY, 1993.
7
KOEHLER (1977), por exemplo, destaca esse ponto. LYOTARD
(1979, p. 11) menciona a reconstruo histrica feita por Koehler, mas
depois se concentra em questes relativas cincia, embora sua referncia
aos estudos de Lvi-Strauss sobre os nativos brasileiros e discusso sobre
o entendimento histrico da tribo dos Cashinaua sejam fundamentais
para sua posio. Cf. LYOTARD, 1979, pp. 37-43 e 48. WELSCH (1987,
p. 13) tambm menciona o contexto latino-americano, mas no extrai da
maiores conseqncias, chegando a armar que esse fato irrelevante ao
entendimento da ps-modernidade. Cf. minha crtica, em NASCI-
MENTO, 1995.
8
A primeira referncia histrica ao termo ps-moderno deu-se por volta
de 1904, conforme registrado na Antologa de la Poesa Espaola e Hispa-
noamericana, publicada por Federico de Ons, em 1934. A teologia da
libertao tambm se armou ps-moderna, j no incio da dcada de
1970, sobretudo na obra de Enrique Dussel e Gustavo Gutirrez. Cf. tam-
bm as discusses atuais em RINCN, 1995; e a coletnea de HERLIN-
GHAUS & WALTER, 1994. Essas discusses tm tido impacto no
contexto anglo-americano, sobretudo em razo da crescente inuncia da
comunidade latina e hispnica nos Estados Unidos. Cf. BEVERLEY,
1995; e YDICE, 1991.
9
Cf. sobre isso CASTRO-GMEZ, 1997.
10
Cf. aqui NASCIMENTO & SATHLER, 1997.
11
Duas tentativas nessa direo podem ser encontradas em RINCN,
1995; e PERRONE, 1996.
12
Cf. MERQUIOR, 1980a; e MORICONI, 1994.
p g y p
i mpulso n 29 173
tar ao ponto de partida de uma das formas espec-
cas de ser moderno, a modernidade esttica do
modernismo no Brasil, e nos manter atentos para
evitar que discursos ps-modernos repitam inad-
vertidamente as abstraes ou excluses j discuti-
das e criticadas no passado.
O QUE SIGNIFICA SER
MODERNO NO BRASIL?
A pergunta sobre a modernidade no Brasil
surge em relao intrnseca com a questo referente
identidade nacional. Aparece j no sculo XVIII,
como eco das idias iluministas, e ganha maior en-
vergadura no sculo seguinte, no bojo dos movi-
mentos por independncia. fundamental no incio
do sculo XX, sobretudo em meio a vrios movi-
mentos regionais e regionalistas. E surge depois
como parte do nacionalismo desenvolvimentista,
cujo signicado ainda hoje est em debate. Depois
do impacto da teoria de dependncia e das discus-
ses sobre a cultura nacional no mbito do ISEB, o
tema marca sua presena no contexto da teologia e
losoa de libertao. Em todos esses casos ca cla-
ro o interesse por temas muitas vezes olvidados nos
debates atuais.
Para evitar muitas digresses, tomemos um
simples exemplo. Sem dvida, no se pode negar
que a teoria da dependncia traz em seu bojo uma
reexo sobre o processo de desenvolvimento e
modernizao econmica, em princpio aplicvel a
todo o continente. Mesmo assim, em seus desdo-
bramentos, a teoria reconheceu ser necessrio dife-
renciar a realidade econmica da Argentina e da
Guatemala, da Colmbia e do Brasil, argumentando
que embora todos estivessem na periferia, depen-
dentes dos centros econmicos, seu respectivo ca-
minho para a democracia e o desenvolvimento seria
diferenciado.
13
Paulo Freire tambm partiu do nacio-
nalismo desenvolvimentista na proposta de uma
nova pedagogia, mas conseguiu dialogar com outras
realidades sociais de pases que compartiam com o
Brasil um alto ndice de pobreza e, conseqente-
mente, de analfabetismo.
14
E tal fato era, sem dvi-
da, um bloqueio ao desenvolvimento e
modernizao. Isso valia at mesmo para a esttica,
tanto no modernismo representado pela Semana
de Arte Moderna de 1922, sobretudo na gura de
Mrio de Andrade, quanto na esttica da fome. Ne-
las se deve buscar as reexes mais originais sobre o
sentido de uma modernidade esttica e cultural ge-
nuinamente brasileira.
15
Tambm a teologia da libertao pode ser ana-
lisada pelo mesmo prisma, pois tornou-se um movi-
mento de propores continentais, tendo vrios bra-
sileiros em sua liderana.
16
Veja-se, por exemplo, a
proposta apresentada por Leonardo Boff no livro
Igreja, Carisma e Poder. Segundo ele, h um modo la-
tino-americano, e, mais especicamente, um modo
brasileiro de ser religioso, o qual envolve a necessida-
de de entender e interagir com culturas diferentes, le-
vando, assim, a um processo de sincretismo que deve
ser reconhecido como genuno da cultura brasileira, e
adaptado a uma forma de religio contextual.
17
Nesse
caso, trata-se de levar em considerao a cultura po-
pular e os elementos europeus, africanos e indgenas
que se articulam na arte e na cultura, tendo sua ex-
presso no catolicismo popular.
No basta ver a ps-modernidade como rea-
o cultural modernidade econmica e social, mas
deve-se diferenciar a temtica e a perspectiva espe-
cca da qual se trata. Quando se fala da moderniza-
o industrial, pode-se a ela contrapr um tipo de
ps-modernidade. Se ressaltada a dimenso estti-
ca, do modernismo e sua contrapartida que se de-
veria falar. Por essa razo, faz-se necessrio discutir
a viso interna brasileira sobre a ps-modernidade,
observando inclusive as relaes possveis com os
debates realizados a partir do modernismo, que
buscou de maneira radical uma resposta questo
sobre o sentido de ser moderno no Brasil. Aqui tais
13
Esse argumento foi levantado notadamente por CARDOSO, 1975 e
1980.
14
FREIRE, 1974. Para uma crtica do nacionalismo desenvolvimentista
em Freire, cf. PAIVA, 1980. A contrapartida esttica dessa proposta pode
ser vista no teatro do oprimido de Augusto Boal.
15
ANDRADE, 1987. Sobre a relao com o cinema, cf. JOHNSON,
1982.
16
Entre os expoentes brasileiros se poderia mencionar Rubem Alves,
Hugo Assmann e Clodovis Boff.
17
BOFF, 1981. Para uma crtica dessa posio cf. NASCIMENTO &
SATHLER, 1997.
p g y p
174 i mpulso n 29
termos se aplicariam, em primeira instncia, sobre-
tudo esttica proposta por Mrio de Andrade. In-
cluiria tambm o iconoclasmo das iniciativas poti-
cas experimentais e provocativas oriundas do movi-
mento inaugurado por Oswald de Andrade a an-
tropofagia , que, de certo modo, divergiam das
estritas diretrizes do movimento modernista apre-
goadas por Mrio de Andrade. A meu ver, porm,
Mrio sintetizou em uma frmula esttica, o Leit-
motiv elptico e lapidar de Macunama a questo
sobre o sentido de ser moderno no Brasil: muita
sava e pouca sade, os males do Brasil so.
Com essa armao apresento uma possvel
resposta questo o que signica ser moderno no
Brasil?. Talvez signique reconhecer os males do
pas e trabalhar um novo ideal pluralista de moder-
nidade, cujo princpio seja o reconhecimento da
contingncia histrica e a no excluso do prprio
horizonte hermenutico que condiciona o processo
de percepo e elaborao dos mais variados discur-
sos. V-se que as noes de modernidade,
modernizao e modernismo so respostas mltiplas
ao sentido do que ser moderno no Brasil. E aqui
mostra-se a relevncia do modernismo ao nos pro-
por um princpio interessante: partir da esttica para
denunciar os males do Brasil, condio para que as
abstraes seletivas possam ser sempre questiona-
das.
Para compartilhar os passos da reexo que se
fez necessria para se chegar a tal armao, propo-
nho, a seguir, que vejamos em mais detalhes a rela-
o entre o modernismo e os discursos ps-moder-
nos no Brasil. Mostrarei de modo especco os
pontos nos quais as abstraes seletivas se revelam.
DO MODERNISMO AOS DISCURSOS
PS-MODERNOS BRASILEIROS
J vimos que a discusso sobre modernidade
e ps-modernidade bastante ampla, havendo sido
retomada, no contexto europeu, desde o ponto de
vista metafsico at a dimenso epistemolgica e dis-
cursiva, passando, na atualidade, por uma srie de
contextos culturais especcos nos quais so encon-
tradas abstraes seletivas, que indicam a arma-
o de propostas universais sem o conhecimento ou
reconhecimento de outras culturas e experincias
locais. Tais abstraes so ainda mais aberrantes
quando se v que nelas est a pr-condio para o
entendimento de modernidade e ps-modernidade.
Se a primeira das abstraes seletivas aqui re-
veladas se d no eixo franco-alemo, e a segunda, no
contexto anglo-saxo, a terceira surge no prprio
mbito latino-americano, j que o Brasil, sobretudo
em virtude de sua particularidade lingstica e he-
rana portuguesa, parece muitas vezes ter sido des-
considerado quando se trata das reexes sobre a
modernidade e ps-modernidade cultural e esttica.
Poder-se-ia argumentar que o problema lingsti-
co ou, ainda, a constante falta de intercmbio e in-
formaes entre os pases. Esse argumento perderia
sua fora ao nos lembrarmos de como a teoria da
dependncia, a pedagogia de Paulo Freire e a teolo-
gia da libertao tiveram sua origem no Brasil, tra-
taram a questo da modernidade em suas respecti-
vas reas e se tornaram conhecidas em todo o con-
tinente e alm dele. Alm do mais, o dilogo inter-
cultural uma condio para entender o conceito de
ps-modernidade e os discursos ps-modernos no
Brasil: Na literatura hispano-americana, o termo
ps-modernismo caracterizava uma tendncia do
incio do sculo XX; no Brasil, foi utilizado inicial-
mente para se referir gerao artstica atuante aps
1945; mas depois que a noo de ps-modernismo
ganhou progressiva relevncia nas discusses cultu-
rais anglo-americanas aps a dcada de 1940 e no
contexto latino-americano especialmente no
Mxico, Argentina e Peru, na dcada de 1960 , en-
contramos novos desdobramentos globais de tais
discusses.
18
Por isso entendo o ps-modernismo
como parte da ps-modernidade em geral. A partir
dessa premissa, possvel observar como os discur-
sos ps-modernos no Brasil se apresentam como
variaes sobre o tema do modernismo: o diag-
nstico dos males do Brasil a partir de um dilogo
intercultural nem sempre explcito.
Uma das primeiras discusses sobre a ps-
modernidade no Brasil foi iniciada por Jos Gui-
lherme Merquior, que usou o termo ps-moderno,
em um artigo publicado no jornal O Estado de
18
Cf. RINCN, 1995, p. 103ss, especialmente o captulo Los comien-
zos del debate sobre lo postmoderno en el Brasil.
p g y p
i mpulso n 29 175
S.Paulo em 7 de novembro de 1976, para tecer co-
mentrios em relao situao cultural e losca
do pas. Para tanto, voltou-se justamente literatura
do modernismo brasileiro, ressaltando as contri-
buies importantes de escritores como Mrio de
Andrade, Manuel Bandeira e Jorge de Lima, e con-
trastando-os com o que se produzia ao mesmo
tempo na Europa. Isso documentado no artigo
Modernisme et aprs-modernisme dans la littra-
ture brsilienne, apresentado tempos depois no
Colloque de Crisy.
19
H, nesse artigo, um enfoque
um tanto vago sobre Mrio do Andrade como au-
tor brasileiro modernista, cuja caracterstica maior
denida por Merquior em termos quase psicanalti-
cos, j que ele busca na biograa do autor moder-
nista elementos psicolgicos origem mulata, ten-
dncias homossexuais, complexo nacionalista dian-
te da cultura estrangeira e outros para tentar ex-
plicar suas opes artsticas. Seguindo essa mesma
linha em A esttica do Modernismo do ponto de
vista da histria da cultura, em Formalismo e Tra-
dio Moderna, Merquior se debate com propostas
estticas de origem europia, tendo a questo dos
males do Brasil como pano de fundo.
20
luz de
Mrio de Andrade, em quem Merquior v o epgo-
no de uma brasilidade, um dos males do Brasil no
ser visto externamente como moderno. Seu argu-
mento ou reivindicao perante o pblico externo
explicvel, ademais, por sua condio de diplomata
, nesse caso, bem simples: o Brasil tambm pode
ser moderno!
Merquior no s desenvolveu uma discusso
interna concernente produo literria brasileira
na primeira metade do sculo XX, mas igualmente
tentou v-la luz e em contraponto com as estticas
europias da dcada de 1960, representadas pelo es-
truturalismo, o ps-estruturalismo emergente e a
Escola de Frankfurt. Foi um dos primeiros a escre-
ver sobre a esttica estruturalista e sobre a esttica
de Herbert Marcuse, Theodor Adorno e Walter
Benjamin, como ainda a expressar crticas contun-
dentes e polmicas ao ps-modernismo caracters-
tico da esttica ps-estruturalista.
21
Seguindo uma
tradio brasileira de crtica literria e cultural que
remonta aos ensaios de Slvio Romero e aos mem-
bros da Escola de Recife no sculo XIX, Merquior
era acima de tudo um polemista, dedicado a abrir
uma discusso controvertida sobre o estado da arte
brasileira, especialmente o da literatura. Tais contro-
vrsias levaram a debates igualmente polmicos so-
bre o signicado de identidade nacional, indicando,
portanto, uma continuidade com relao s ques-
tes que haviam caracterizado tanto o modernismo
cultural de Mrio de Andrade como a moderniza-
o econmica propugnada por Celso Furtado e
Fernando Henrique Cardoso. , por conseguinte,
no marco amplo do debate sobre a cultura e a iden-
tidade nacional que as discusses sobre o sentido da
modernidade e da ps-modernidade no Brasil,
como as lideradas por Merquior, devem ser enten-
didas.
Outro dos vrios desdobramentos na questo
sobre a ps-modernidade no Brasil pde ser observa-
do no nal da dcada de 1970 e incio dos anos 80, e
acompanhado semanalmente, j que se deu nas pgi-
nas de jornais importantes, especialmente a Folha de
S.Paulo. Tal debate envolveu, em primeira instncia,
intelectuais ligados teoria da literatura e da comuni-
cao, como Roberto Schwarz, Augusto de Campos,
Haroldo de Campos e Mrio Chamie, entre outros.
De um lado do debate se encontravam Au-
gusto de Campos, Haroldo de Campos e Dcio
Pignatari, reunidos sob o mote da poesia concreta
em So Paulo. A exposio Arte Concreta no
Museu de Arte Moderna de So Paulo, em 1956,
vale como continuidade e radicalizao do manifes-
to modernista. Em sua primeira fase, a poesia con-
creta valeu-se do exemplo da msica (a musique
concrte de Varse, a Klangfarbenmelodie das com-
posies seriais de Anton Webern e a esttica da in-
determinao, de John Cage), da poesia (o simbo-
lismo de Stphane Mallarm, a poesia pica de Ezra
Pound e a poesia pictrica, desde a poesia visiva at
e.e. cummings), alm das artes plsticas modernistas
19
Cf. artigo de Merquior no caderno Suplemento Cultural de O Estado
de S.Paulo, n. 4, 7/11/76; e MERQUIOR, 1980b. J em 1974, Merquior
utilizava-se do termo alm moderno para referir-se obra de Gilberto
Freyre.
20
Cf. MERQUIOR, 1977; alm de suas outras publicaes correlatas
(1979, p. 27ss., e 1981).
21
Cf. idem, 1967, 1969 e 1983. Para uma viso crtica sobre Merquior, ver
o suplemento especial da Caderno Mais! (15/jul./01) dedicado a seu pen-
samento.
p g y p
176 i mpulso n 29
(de inspirao em Kandinsky e Mondrian), para de-
dicar-se a experimentos com a visualidade no-re-
presentacional do poema impresso. Depois, voltan-
do-se para a semitica de Max Bense e a teoria da in-
formao de Abraham Moles, a poesia concreta tra-
balhou com certo formalismo alguns elementos
internos ao poema, como a sintaxe, a fontica e a
mtrica.
22
De outro lado, no necessariamente como
um grupo coeso, se via Roberto Schwarz, Flora Sus-
sekind e Mrio Chamie, entre outros, que se opu-
seram concepo neo-concretista de ps-moder-
nidade. J na dcada de 1960 o concretismo havia
sido o alvo principal da poesia praxis dissidncia
inaugurada por Chamie, que acusava o autoritaris-
mo potico da esttica concretista. Baseando-se na
leitura que faz da rapsdia Macunama em um livro
publicado em 1970, Intertexto, Chamie publicou
uma srie de artigos no incio da dcada de 80, nos
quais enfatizou a diversidade e a multiplicidade de
linguagens, propondo assim uma leitura de ps-mo-
dernidade que seria a alternativa posio dos ir-
mos Campos. Para Chamie, o dito os males do
Brasil so fundamental: no s um documento
do heri (segundo o modelo de Pero Vaz Caminha)
sbre o descoberta e conquista da grande cidade,
mas ainda um testamento humano, poltico e social
que oferece a chave maior do texto de um livro do-
minado pela pretenso de radiografar o inconsciente
coletivo nacional.
23
A discusso focalizou certos detalhes tcni-
cos do modernismo e do concretismo na poesia.
Tambm aqui Mrio de Andrade foi o principal
ponto de referncia, pois enquanto Chamie desta-
cava no guru modernista a valorizao da diversida-
de, ele era levado pelos concretistas condio de
smbolo da modernidade e precursor de todo expe-
rimentalismo que poderia ser rastreado tambm nas
estticas ps-modernas.
24
Tal armao no encer-
ra, porm, aceitao tcita do ps-modernismo. Na
verdade, embora o grupo concretista tenha sido
identicado com tendncias estticas ps-moder-
nistas, especialmente devido defesa de uma poesia
ps-utpica, sua relao era de crtica ao ps-mo-
dernismo e defesa de uma radicalizao do moder-
nismo, como pode ser observado em uma srie de
artigos polmicos publicados no Folhetim, entre
1982 e 1987, especialmente nos ensaios Poesia e
modernidade 1. Da morte da arte constelao e
Poesia e modernidade 2. O poema ps-utpico
(em 7 e 14/10/1984). A posio concretista era de
crtica ao conservadorismo e tradicionalismo liter-
rio, bem como exacerbao ideolgica de novos
movimentos. Nada expressa melhor essa posio
do que o poema satrico de Augusto de Campos,
que praticamente encerrou o debate. Entitulado
Pstudo, o poema um epigrama que joga com a
polissemia das palavras mudo e tudo, remetendo a
idias como mudana, emudecimento, totalidade e
pretenso, entre outras, de modo a apontar as aporias
da ps-modernidade.
25
O poema organizado de
forma grca, permitindo mltiplas leituras. Apesar
da diculdade de transcrev-lo em suas formas e ti-
pos originais em letraset, podemos ao menos in-
dicar sua estrutura:
QUIS
MUDAR TUDO
MUDEI TUDO
AGORAPSTUDO
EXTUDO
MUDO
O impacto desse poema pode ser medido de
vrias formas. Uma delas em um cartoon da srie
Radical Chic, de Miguel Paiva, publicado no Su-
plemento de Domingo do Jornal do Brasil. Posando
com ares de intelectual, a jovem retratada nos dese-
nhos pondera: Quando os Beatles se separaram eu
j era ps-hippie! Depois eu fui ps-romntica, ps-
tropicalista, ps-chique, ps-brega, ps-apocalpti-
ca, ps-poltica, ps-xiita, ps-punk, ps-tudo... J
me sinto meia pr-histrica!. Isso mostra o impac-
to cultural do poema. Por outro lado, porm, houve
uma ampla reao que testica o seu impacto inte-
22
Uma recente anlise dessa trajetria dada por PERRONE, 1996.
23
Cf. CHAMIE, 1970, pp. 384-385; e SUSSEKIND, 1995.
24
Haroldo de Campos trabalhou essa questo em vrios momentos,
inclusive em sua participao na edio crtica de Macunama, preparada
por Tel Ancona Lopez, e na traduo deste livro a outros idiomas. Cf. o
artigo Mrio de Andrade: a Inspirao Estutural, em CAMPOS, 1992,
pp. 167-182.
25
Para detalhes cf. RINCN, 1995, e PERRONE, 1996.
p g y p
i mpulso n 29 177
lectual. Roberto Schwarz foi o primeiro a reagir, no
artigo Marco Histrico, publicado no Folhetim,
denunciando o carter autocongratulatrio e os ares
de superioridade, decididamente elitistas, que carac-
terizariam uma arte de vanguarda totalmente des-
compromissada com as questes sociais.
26
A expres-
so mudo seria, segundo Schwarz, sintomtica de tal
posio, pois indicaria o silncio da vanguarda sobre
os fatos histricos e sua inconseqncia diante das
questes ideolgicas do momento.
27
Mrio Chamie
e Flora Sussekind somaram-se ao coro dos descon-
tentes.
28
Este no foi o primeiro nem o ltimo lance da
polmica sobre o ps-modernismo e a ps-moder-
nidade no Brasil. Srgio Paulo Rouanet envolveu-se
na discusso tecendo consideraes loscas so-
bre o sentido do ps. Foi no jornal O Estado de
S.Paulo que Rouanet tratou o tema, voltando-se
tanto para os pontos apresentados por Merquior,
com relao ao signicado de modernidade e mo-
dernismo, quanto para o debate desencadeado pelos
defensores da poesia concreta. Tanto em um caso
como em outro, porm, ele deixa de lado as
consideraes internas para dedicar-se a temas mais
genricos. Volta-se a Max Weber, Michel Foucault e
Jrgen Habermas, a m de entender o projeto eu-
ropeu de modernidade como um projeto de crtica
racional. Em duas composies para os peridicos
Tempo Brasileiro e Revista Brasil, com os ttulos
Do Ps-Moderno ao Neo-Moderno e A Verda-
de e a Iluso do Ps-Moderno, assim como em v-
rios de seus livros, especialmente A Razo Cativa: as
iluses da conscincia, de Plato a Freud e As Razes
do Iluminismo, Rouanet resume as linhas bsicas do
debate sobre a ps-modernidade na Europa e nos
Estados Unidos, tentando conect-lo com a discus-
so brasileira.
Tudo isso pode parecer distante da discusso
interna prvia no Brasil. No entanto, em um texto
menos mencionado, Verde-amarelo uma cor do
nosso irracionalismo, publicado no Folhetim, em
17 de novembro de 1985, surge na superfcie a dis-
cusso esttica sobre a identidade nacional, reme-
tendo-nos estrutura bsica da frase original de M-
rio de Andrade. Se em 1927, Mrio de Andrade diria
de modo um tanto crptico: muita sava e pouca
sade, os males do Brasil so, Rouanet, porm,
arma o problema do Brasil ... e preenche as
reticncias com o termo irracionalismo, adjetivo
fundamental que a seu ver revelaria o carter nacio-
nal. Para ele a modernidade seria a condio para se
aplicar o predicado racional ao povo brasileiro. Ao
reetir sobre o debate losco e epistemolgico
na Europa e no Brasil, em tica e Racionalidade Mo-
derna, Manfredo de Oliveira props uma leitura
complementar leitura de Rouanet, baseando-se na
losoa de Jrgen Habermas e Karl-Otto Apel, e
discutindo o impacto da crise de racionalidade e
suas conseqncias ticas em geral.
29
Finalmente, poderamos indicar algumas outras
discusses mais independentes dos debates iniciados
por Merquior, mas que tambm surgiram como res-
posta s reivindicaes e aos temas acima menciona-
dos. Silviano Santiago e Eduardo Coutinho tomaram
partido da ps-modernidade, desenvolvendo novas
consideraes mais alm desse debate. Em 1986, dois
autores resumiram as discusses bsicas em termos
de crtica cultural: Jair Ferreira dos Santos, em O que
Ps-Moderno, e Jos Teixeira Coelho Neto, em Mo-
derno Ps-Moderno. A eles se juntou Luiz Costa Li-
ma, que em Ps-modernidade: contraponto tropi-
cal e numa srie de outros textos reunidos em Pen-
sando nos Trpicos, desenvolveu uma crtica da ps-
modernidade, indicando que a discusso europia so-
bre esse conceito se baseava em categorias muito ge-
nricas e teria pouca relevncia para o contexto brasi-
leiro, devendo ser tropicalizada para poder ganhar
um sentido local. Um dos males do Brasil, a seu ver,
era esse resqucio eurocntrico. Atentando a essas
discusses, Otlia Arantes desenvolveu paulatina-
mente sua anlise da discusso e sua aplicao espec-
ca no campo da arquitetura, trazendo uma perspec-
tiva prpria a pblico em A Arquitetura depois dos
Modernos, concentrada mais no papel e no lugar da
arquitetura como marco de modernidade. Em um
26
Cf. SCHWARZ, Marco Histrico, depois includo em Que Horas
so? (1989).
27
Augusto de Campos publicou sua rplica no Folhetim, em 7 de abril de
1985, sob o ttulo Dialtica da maledicncia.
28
Cf. SUSSEKIND, 1995; e as ponderaes de Chamie na Folha de
S.Paulo (1985).
29
Cf. ROUANET, 1985, 1986a, 1986b e 1987; OLIVEIRA, 1989 e 1993.
p g y p
178 i mpulso n 29
pas como o Brasil, que tem Braslia cidade moderna
por excelncia como capital, essa autora indica: tra-
ta-se tambm de uma arquitetura da periferia! Esses
so alguns poucos exemplos da pluralidade e da si-
multaneidade dos assuntos bsicos relativos s dis-
cusses da modernidade e da ps-modernidade no
Brasil e sobre o impacto terico dessas discusses.
30
Podemos ver, portanto, que h uma tradio
de debate sobre o tema no Brasil, estendendo-se
desde as dcadas de 1910 e 1920, com as primeiras
iniciativas em torno do modernismo, radicalizando-
se na dcada de 1950, com as propostas de vanguar-
da, at chegar aos debates das dcadas de 1970, 1980
e 1990, quando se discute mais especicamente a
ps-modernidade, e em dilogo com o que se dis-
cutia na Europa, na Amrica do Norte e na Amrica
Latina. No h, pois, razo para que se abstraia o
contexto brasileiro ao se tratar a modernidade e a
ps-modernidade. Todavia, h outra abstrao ine-
rente ao debate brasileiro, pois Merquior havia de
fato se voltado a intelectuais de elite, sem nenhuma
considerao quanto importncia de expresses
culturais populares no Brasil, que tinham sido o ob-
jeto de estudo e preocupao nos projetos de mo-
dernidade, modernizao e modernismo. A varieda-
de cultural, sobretudo popular, e a realidade social,
que haviam sido o ponto de partida da teoria da de-
pendncia, da pedagogia dos oprimidos ou da teo-
logia da libertao acabaram esquecidas. A discus-
so sobre a ps-modernidade no Brasil, seguindo os
passos de Merquior, pareceu limitar-se a questes de
forma, sem discutir alguns aspectos sociais, econ-
micos, histricos e polticos condicionantes dos
processos culturais e artsticos. Essa abstrao sele-
tiva indica uma contradio interna no debate bra-
sileiro. Faz-se necessrio, portanto, avanar um
pouco mais na discusso, a m de tentar corrigir
essa limitao e encontrar modelos que possam sa-
nar tal problema.
AS ABSTRAES SELETIVAS DOS
DISCURSOS PS-MODERNOS NO BRASIL
Ao se tratar os debates sobre a modernidade
e a ps-modernidade no Brasil, percebe-se, toda-
via, algumas abstraes seletivas, particularmen-
te quando se deixa de examinar a cultura popular,
a situao econmica e as histrias locais. Isso no
signica, porm, a inexistncia de discusses sobre
tais temas. H, deveras, extensa produo intelec-
tual sobre eles e mister relembr-la aqui. Interes-
sa-me sobretudo a insistncia no termo popular,
que indica a mudana de perspectiva, pois a nfase
j no recai sobre a cultura de elite, como parecia
ser o caso nas discusses iniciais sobre a ps-mo-
dernidade no Brasil.
Nesse ponto podemos inserir a reexo
losca, em especial a contribuio de Marilena
Chau, com sua leitura poltica do debate e sua cr-
tica ao modelo de identidade cultural nacional.
Chau denunciou as categorias desse debate como
fabricadas por uma elite que quis integrar a nao ao
custo das formas alternativas da vida cotidiana.
Opondo-se ao elitismo, ao populismo e ao conser-
vadorismo que reetiram uma tradio comparti-
lhada, a seu ver, por Merquior, ela apresentou outra
linha de crtica de modernidade. Apontou a ideolo-
gia poltica conservadora de conciliao e integrao
na histria brasileira a mitologia verde-amarela ,
exps a reivindicao para a democratizao do pas
como parte dessa vertente popular e, complemen-
tando essa srie de argumentos, insistiu tambm na
valorizao do papel das mulheres nesse processo.
31
Em Conformismo e Resistncia: aspectos da cultura
popular no Brasil (1986), Chau comea por discutir
o prprio conceito de cultura, articulando-o com o
de popular e denindo a cultura popular como
prtica local e temporalmente determinada, como
atividade dispersa no interior da cultura dominante,
como mescla de conformismo e resistncia.
32
A
argumentao de Chau tocava, alm do mais, a di-
menso poltica e econmica do processo de mo-
dernidade. Segundo ela, a caracterstica fundamental
do ps-modernismo seria a ideologia do capitalismo
neoliberal, atuando como forma de fragmentao e
valorizao do contingente.
30
Cf. SANTOS, 1986; COELHO NETO, 1986; COSTA LIMA, 1991;
e ARANTES, 1993.
31
Cf. CHAU, 1984.
32
Idem, 1986, p. 43.
p g y p
i mpulso n 29 179
Outra contribuio ao debate sobre a dupla
tenso entre modernidade e ps-modernidade, e en-
tre cultura de elite e cultura popular, no Brasil foi
dada por Renato Ortiz. Ele seguiu a orientao an-
tropolgica de Roger Bastide e pesquisou a interao
entre os africanos e europeus no Brasil, para assim
mostrar como surgiu no caso um processo genuina-
mente brasileiro, no encontrado em nenhum outro
lugar. Tambm segundo Ortiz, isso se expressa aci-
ma de tudo na arte popular e na religio. Neste caso
o argumento bvio, e se distingue da linha que ob-
servamos anteriormente ao discutir a situao brasi-
leira, pois, para Ortiz, a questo da modernidade e da
ps-modernidade nos remete ao seguinte ponto: te-
mos uma identidade cultural, com base na qual de-
nimos nossa posio com relao modernidade.
33
Portanto, podemos concluir que a oposio interna
entre cultura popular e cultura de elite intrinseca-
mente ligada questo da modernidade.
Esses exemplos j nos do uma viso panor-
mica de um debate constante no contexto brasilei-
ro, que apontaria para correes s abstraes j de-
tectadas. Ao discutir a modernidade e a ps-moder-
nidade no Brasil, poderamos, ento, seguir as linhas
esboadas acima e trazer outras histrias desconhe-
cidas que complementariam a discusso europia,
anglo-americana, americana, latina e brasileira, de
modo a integrar essa dimenso no contexto mais
amplo de dilogo intercultural. Sobre essa base, po-
deramos ter uma viso geral e, ao mesmo tempo,
especca do impacto da modernidade e da crtica a
ela em diferentes contextos, tentando assim elimi-
nar a insistente abstrao seletiva que pudemos de-
tectar em todos os casos.
Contudo, precisamos reconhecer que, ainda
que as iniciativas acima descritas pudessem ser crti-
cas com relao a aspectos especcos da moderni-
dade e da modernizao, estas tambm estavam li-
mitadas por certas contingncias que precisam ser
reveladas: a discusso sobre a ps-modernidade na
arena internacional reduz o escopo e a contribuio
da Amrica Latina, a discusso latino-americana
amparada especialmente na Amrica hispnica, e
omite a parte que foi colonizada por Portugal, isto ,
o Brasil. Por outro lado, a discusso brasileira foi di-
tada por membros de uma certa tendncia elitista e
centrada em cidades como So Paulo e Rio de Ja-
neiro. Uma contingncia interna relativa parte da
cultura popular nesse todo no foi reconhecida e
surge, nalmente, como alternativa complementar
aos debates aqui apresentados.
Todas essas concluses podem ser vistas
como um saldo positivo de nossa discusso. Mas,
at mesmo se corrigidos todos esses aspectos, ainda
h outro desao. Olhando o todo, podemos obser-
var a preocupao com projetos diferentes de mo-
dernidade e ps-modernidade, cujo intuito denir
o que o Brasil ou deve ser. Mais especicamente,
busca-se uma forma de caracterizar a identidade
brasileira moderna. Por mais positivas que sejam tais
iniciativas, elas no respondem pela pluralidade con-
seqente de vrios Brasis. Para melhor lidar com
esse tema, devemos manter nossos olhos abertos
aos aspectos de pluralidade e identidade, muitas ve-
zes implcitos nos acirrados debates.
luz dessa constatao que se faz necess-
rio propor uma via diferente, intrnseca discusso
acima, mas que ainda no veio superfcie de modo
contundente. Isso nos leva concluso.
MUITOS DISCURSOS (PS-MODERNOS)
E POUCO MODERNISMO
Colocamos no incio deste artigo duas ques-
tes fundamentais: o que signica ser moderno? e
o que signica ser moderno no Brasil?. Como
guia para as possveis respostas, tomamos o dito de
Macunama: muita sava e pouca sade, os males
do Brasil so. Com base nas consideraes at ago-
ra desenvolvidas, podemos chegar a concluses
mais gerais que nos ajudam a tentar respond-las.
J mostramos, ao longo do texto, uma varieda-
de histrica nas concepes do ser moderno e seus ge-
nerativos. H tambm variedade semntica, por ex-
tenso e por contradio: modernus, modernidade,
modernizao, ps-modernidade e ps-modernismo.
Modernizao seria um processo socioeconmico, ao
passo que modernismo denotaria um movimento es-
ttico; modernidade e ps- modernidade so, por sua
33
Em A Morte Branca do Feiticeiro Negro (1990), Ortiz estudou o caso da
umbanda como uma religio genuinamente brasileira. Cf. tambm
ORTIZ, 1975. Quanto sua discusso sobre a cultura e identidade nacio-
nal, cf. idem, 1980, 1985 e 1988.
p g y p
180 i mpulso n 29
vez, termos mais gerais e paradigmticos, dentro dos
quais as dimenses de esttica, economia e poltica,
entre outras, podem ser diferenciadas. Utilizamos os
adjetivos moderno e ps-moderno mais livremente,
sem, no entanto, deixar de reconhecer a multiplicida-
de histrica e conceitual acima mencionada.
Tambm indicamos a variedade cultural, pelo
menos no contexto ocidental representado pelas
Amricas e pela Europa. evidente que o sentido
do ser moderno e as variadas concepes de moder-
nidade se referem no somente a determinados mo-
mentos histricos, do ponto de vista cronolgico,
mas tambm a localidades e esferas distintas de ex-
presso cultural, mais evidentes do ponto de vista
geogrco. As abstraes seletivas surgem precisa-
mente por conta da falta de ateno a tais condicio-
nantes histricos e geogrcos, os quais determi-
nam a modernidade. No sem razo que marcos
de conquista territorial, como a queda de Constan-
tinopla e a descoberta da Amrica, so considera-
dos marcos histricos da modernidade.
Vimos que a viso universal que se quer pro-
pagar como positiva e prpria modernidade enco-
bre muitas vezes tal diversidade. No consegue per-
ceb-la. Por isso, devemos reconhecer algo positivo
na esttica dos discursos ps-modernos, que nos
abrem os olhos para as contingncias internas aos
contextos descritos. Isso se aplica tambm ao caso
do Brasil! Mas existem claras abstraes seletivas, j
que a discusso se limitou muitas vezes a questes
regionais que no fazem eco s reivindicaes ex-
pressas nos debates sobre a cultura popular ou a
identidade nacional. bvio que as sucessivas abs-
traes seletivas aqui apontadas no so necessaria-
mente mero resultado de eurocentrismo, xenofo-
bia, etnocentrismo ou posturas que teriam sua ori-
gem nas tenses entre culturas ou naes. De fato,
pode-se acusar o debate franco-alemo de um certo
eurocentrismo, pode-se ver a reao latino-america-
na a esse debate como um complexo de inferiorida-
de regional. E possvel ver o debate brasileiro
como resposta elitista ao esquecimento do Brasil no
cenrio internacional. Sempre h, portanto, um dis-
curso ps-moderno especco e particular, que se
volta contra uma modernidade especca. Mas em
todos os casos, bvia a limitao do debate s par-
ticularidades, sem que se d uma viso mais univer-
sal e inclusiva a evitar que algum mais que de fora.
Uma viso de universalidade se apresenta, portanto,
como grande desao, talvez inalcanvel, que nos
serviria como ideal de crtica s abstraes!
A concluso nos leva, portanto, a constatar o
perigo constante de abstraes seletivas, mesmo
quando ns, com as melhores das intenes, assu-
mimos a posio ps-moderna de valorizar a di-
menso particular e contingente. Se por um lado, do
ponto de vista internacional, essa constatao nos
mostra a existncia de vrias outras acepes de mo-
dernidade e ps-modernidade nos distintos conti-
nentes e culturas s quais nos referimos em nossa
discusso e a tantas outras s quais no zemos
referncia ,
34
por outro, ela nos leva ao mago da
questo da modernidade e da ps-modernidade no
especco contexto brasileiro. Nesse segundo caso,
somos desaados a novas e constantes reexes cr-
ticas sobre o Brasil, j que o maior problema da mo-
dernidade e dos discursos ps-modernos no Brasil
precisamente a abstrao seletiva e contraditria do
prprio objeto que deveria dar norte discusso: a
pluralidade interna da moderna cultura brasileira, j
enfatizada pelo modernismo.
Por m, justamente em vista da necessidade de
ideais que no nos deixam sucumbir tentao do
particularismo de discursos ps-modernos e que nos
tornem mais sensveis incluso, espero poder deixar
pelo menos um apelo: que os novos tempos, como o
novo milnio que se inaugura, nos levem a reetir de
modo novo sobre a modernidade, e a lutar para evitar
que seletivas abstraes mantenham o que h de pior
em trs milnios de modernidade, que a persistncia
de variadas formas de excluso. No caso do Brasil,
tais abstraes e excluses nos levam a um diag-
nstico srio: sofremos de um mal, que o moder-
nismo inconseqente, pois, apesar do progresso
real e aparente e das tentativas de integrao de v-
rias expresses como parte da identidade nacional,
perniciosas tradies de excluso ainda persistem. O
modernismo foi subsumido na percepo esttica
dos discursos ps-modernos somente de modo par-
cial, e assim no consegue perceber e revelar os per-
sistentes males do Brasil, e descobrir formas de su-
34
A mesma discusso tem se dado no contexto africano e asitico, nos
trabalhos de, por exemplo, Theo Grossberg e Gayatri Spivak.
p g y p
i mpulso n 29 181
per-los. Um dos males dos discursos ps-modernos
no Brasil ser muito ps e pouco moderno.
Referncias Bibliogrcas
ANDRADE, M. Macunama. So Paulo: Edusp, 1987.
ARANTES, O. O Lugar da Arquitetura Depois dos Modernos. So Paulo: Edusp, 1993.
BERTENS, H. The Idea of the Postmodern: a history.London: Routledge, 1995.
BEVERLEY, J. et al. (eds.). The Postmodern Debate in Latin America. Durham: Duke University Press, 1995.
BOFF, L. Igreja,Carisma e Poder. Petrpolis: Vozes, 1981.
CAMPOS, H. Metalinguagem e Outras Metas. So Paulo: Perspectiva, 1992.
CARDOSO, F.H. Autoritarismo e Democratizao. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1975.
__________. As Idias e Seu Lugar: Ensaios sobre as Teorias do Desenvolvimento. Petrpolis: Vozes, 1980.
CASTRO-GMEZ, S. Crtica de la Razn Latinoamericana. Barcelona: Puvill, 1997.
CHAMIE, M. Intertexto. So Paulo: Edio Praxis, 1970.
CHAU, M. Cultura e democracia: o discurso competente e outras falas. So Paulo: Cortez, 1989.
__________.O que Ideologia? So Paulo: Brasiliense, 1984.
__________.Conformismo e Resistncia: Aspectos da cultura brasileira. So Paulo: Brasiliense, 1986.
COELHO NETO, J.T. Moderno Ps-moderno. So Paulo: Brasiliense, 1988.
COSTA LIMA, J. Pensando nos Trpicos. Rio de Janeiro: Rocco, 1991.
De RIJK, L.M. Logica Modernorum,A Contribution to the History of Early Terministic Logic. Assen: Van Gorcum, 1968.
DESCARTES, R. Discours de la mthode. In: Oeuvres, Paris: De vrin, v. VI, 1965 (publies par Ch. Adam & P. Tamery).
DUSSEL, E. The Underside of Modernity. Atlantic Highlands: Humanities Press, 1995.
__________. tica da Libertao. Petrpolis: Vozes, 2000.
FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1974.
FREUND, W. Modernus und andere Zeitbegriffe des Mittelalters. In Neue Mnstersche Beitrge zur Geschichtsforschung.
Kln: Bhlau Verlag, 1957.
GIDDENS, A. Modernity and Self-identity: self and society in the late modern age. Stanford: Stanford University Press, 1991.
__________. Consequences of Modernity. Cambridge: Polity Press, 1990.
GILROY, P. The Black Atlantic.Modernity and Double Consciousness. Cambridge: Harvard University Press, 1993.
HABERMAS, J. Der philosophische Diskurs der Moderne. Frankfurt: Suhrkamp, 1985a.
__________. Die Neue Unbersichtlichkeit [Kleine politische Schriften V]. Frankfurt: Suhrkamp, 1985b.
__________. Theorie des kommunikativen Handelns. Frankfurt: Suhrkamp, 1981a.
__________. Kleine politische Schriften I-IV. Frankfurt: Suhrkamp, 1981b.
HALL, S. The Scientic Revolution: 1500-1800.The Formation of the Scientic Attitude. Boston: Beacon Press, 1966.
HARVEY, D. The Condition of Postmodernity. Oxford: Basil Blackwell, 1989.
HASSAN, I. The Postmodern Turn: essays in postmodern theory and culture. Columbus: Ohio University Press, 1987.
HERLINGHAUS, H. & WALTER, M. (eds.). Postmodernidad en la Periferia: enfoques latinoamericanos de la nueva teora cultu-
ral. Berlin: Langer Verlag, 1994.
HUTCHEON, L. A Poetics of Postmodernism. New York: Routledge, 1988.
p g y p
182 i mpulso n 29
JAMESON, F. Postmodernism,or the Cultural Logic of Late Capitalism. Durham: Duke University Press, 1994.
JAU, H.-R. Antiqui/Moderni. In: RITTER, J. (Hrsg.). Historisches Wrterbuch der Philosophie. Band I, Stuttgart: Schwabe,
1964.
JOHNSON, R. Literatura e cinema - Macunama: do modernismo na literatura ao cinema novo. So Paulo: T. A. Queiroz,
1982.
KAMPER, D. & Van REIJEN, W. (Hrsg.). Die unvollendete Vernunft: moderne versus postmoderne. Frankfurt: Suhrkamp, 1987.
KLINE, M. Mathematical Thought from Ancient to Modern Times. New York: Oxford University Press, 1972.
KOEHLER, M. Postmodernismus: ein begriffsgeschichtlicher berblick. Amerikastudien, 22, 1977.
KUHN, T. The Structure of Scientic Revolutions. Chicago: The University of Chicago Press, 1972.
LYOTARD, J.-F. Moralits Postmodernes. Paris: Galile, 1993.
__________. Le Postmoderne expliqu aux enfants: correspondance 1982-1985. Paris: Galile, 1986.
__________. La Condition Postmoderne: rapport sur le savoir. Paris: Minuit, 1979
MERQUIOR, J.G. From Prague to Paris: poststructuralist itineraries. London: Verso, 1983.
__________.As Idias e as Formas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1981.
__________. Modernisme et aprs-modernisme dans la littrature brsilienne. Littrature Latino-Amricaine
daujourdhui, Paris, Colloque de Crisy, 1980.
__________.O Fantasma Romntico e Outros Ensaios. Petrpolis: Vozes, 1979.
__________.Formalismo e Tradio Moderna. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1977.
__________.Arte e Sociedade em Marcuse,Adorno e Benjamin. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1969.
__________.A Esttica de Lvi-Strauss. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 1967.
MORICONI JR., I. A Provocao ps-moderna: razo histrica e poltica da teoria hoje. Rio de Janeiro: Diadorim, 1994.
NASCIMENTO, A. Rationalitt und die vielfltigen Dimensionen der Moderne. In: NASCIMENTO, A. & WITTE, K. (Hrsg.).
Grenzen der Moderne. Frankfurt: IKO Verlag, 1997.
__________. Una genealoga de la postmodernidad en el contexto latinoamericano. Disenso, 1, 1995.
__________. O Ps-moderno. Simpsio, 32, So Paulo, Arte, 1989.
NASCIMENTO, A. & SATHLER, J. Black masks on white faces: liberation theology and the quest for syncretism in the brazi-
lian context. In: BATSTONE, D. et al. (eds.). Liberation Theologies, Postmodernity and the Americas. Londres: Rou-
tledge, 1997.
OLIVEIRA, M. Filosoa na Crise da Modernidade. So Paulo: Loyola, 1989.
ORTIZ, R. A Morte Branca do Feiticeiro Negro. So Paulo: Brasiliense, 1990.
__________. A Moderna Tradio Brasileira. So Paulo: Brasiliense, 1988.
__________. Cultura Brasileira e Identidade Nacional. So Paulo: Brasiliense, 1985.
__________.A Conscincia Fragmentada.Ensaios de Cultura e Religio. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980.
__________. Du Sincretisme la Synthse: umbanda, une religion brasilienne. Archives de Sciences Sociales des Religions,
20 (4), 1975.
PAIVA, V. Paulo Freire e o Nacionalismo Desenvolvimentista. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 1980.
PERRONE, C. Seven Faces.Brazilian Poetry since Modernism. Durham: Duke University Press, 1996.
RINCN, C. La no Simultaneidad de lo Simultneo. Postmodernidad, Globalizacin y Culturas en Amrica Latina. Bogot:
EUN, 1995.
RORTY, R. Habermas and Lyotard on Postmodernity. Praxis International, 4: 1, 1984.
__________. Postmodernist bourgeois liberalism. The Journal of Philosophy, 80, 1983.
p g y p
i mpulso n 29 183
ROUANET, S.P.As Razes do Iluminismo. So Paulo: Companhia das Letras, 1987.
__________. Do ps-moderno ao neo-moderno. Tempo Brasileiro, 84, 1986a.
__________. A verdade e a iluso do ps-moderno. Revista do Brasil, 2 (5), 1986b.
__________. A Razo Cativa: as iluses da conscincia de Plato a Freud. So Paulo: Brasiliense, 1985.
SANTOS, J.F. O que Ps-moderno. So Paulo: Brasiliense, 1986.
SCHWARZ, R. Que Horas So? So Paulo: Companhia das Letras, 1989.
STEINFELS, P. The Neoconservatives.The Men who are Changing American Politics. New York: Simon & Schuster, 1979.
SUSSEKIND, F. Literatura e Vida Literria: polmicas,dirios & retratos. Rio de Janeiro: Zahar, 1985.
WELSCH, W. Unsere Postmoderne Moderne. Weinheim: Acta Humaniora, 1987.
YDICE, G. et al. On Edge: the crisis of contemporary Latin American culture. Minneapolis: University of Minnesota Press,
1992.
p g y p
184 i mpulso n 29
p g y p
i mpulso n 29 185
p g y p
186 i mpulso n 29
p g y p
i mpulso n 29 187
CORPO E
PS-MODERNIDADE
Body and Postmodernity
Resumo O texto trata, de maneira sumria, temticas relativas s mudanas na noo
de corpo no transcurso da histria ocidental, greco-judaico-crist, e de como, partindo
de tendncias da chamada ps-modernidade, podemos sugerir uma possvel leitura
sobre o tema do corpo nos dias de hoje.
Palavras-chave CORPO CULTURA PS-MODERNIDADE.
Abstract The text approaches, summarily, issues related to changes in the concept of
body in the course of the Western history Greek-Jewish-Christian and how,
through the trends of the so called postmodernity, we could suggest a possible rea-
ding on this body issue nowadays.
Keywords BODY CULTURE POSTMODERNITY.
WALTER MATIAS LIMA
Professor do Departamento de
Filosoa da Universidade
Federal de Alagoas, doutorando
em educao (losoa e
educao) pela Unicamp
waltermatias@ig.com.br
p g y p
188 i mpulso n 29
o texto que aqui segue, sero tratadas, de modo genrico,
algumas temticas relativas ao corpo no transcurso da his-
tria ocidental. Entende-se, aqui, ocidental como o que foi
constitudo pela cultura greco-judaico-crist. Alm de ou-
tros atributos, a cultura ocidental pode ser caracterizada
como uma cultura do corpo. possvel fazer uma histria
do corpo como um olhar sobre a cultura ocidental le-
vando em considerao vrios aspectos: desde uma abor-
dagem sobre o corpo com base na noo de sexualidade at uma discusso
que envolva prticas alimentares e de sade, entendendo essas prticas como
concepes do corpo.
Se considerarmos que a losoa comea na Grcia, a construo da
noo de corpo passa pela cultura helnica. Na Grcia democrtica, particu-
larmente na democracia ateniense, no perodo que vai de Scrates a Arist-
teles, a concepo de corpo gira em torno da relao entre soma e psique.
Corpo tido como um processo, mesmo que visto de maneiras diferentes pe-
los lsofos, como o caso de Plato, que privilegia a dimenso espiritual do
corpo, propondo uma das primeiras idias dualistas da vida: o corpo est em
maior relao com o efmero, isto , a diversidade de entes, uma vez que ele
pertenceria ao mundo sensvel; a alma est em maior relao com o eterno,
ou seja, a unidade do ser, j que ela pertenceria ao mundo inteligvel. No en-
tanto, mesmo na concepo platnica no h uma distncia intransponvel
entre corpo e alma, pois o homem visto como uma unidade em transfor-
mao conjuntamente com a physis e o nomos. O corpo uma totalidade
sempre em processo de totalizao, que vive as contradies da polis e as exi-
gncias da natureza.
A existncia humana, para a maioria dos lsofos dessa poca, deve ser
caracterizada pela busca da vida virtuosa e a prtica da virtude (dik) a coisa
mais preciosa para o homem. Assim, o corpo do ser humano deve transmitir
as caractersticas espirituais, morais e ticas do sujeito, sobretudo pelos se-
guintes valores: justia, prudncia e temperana adquiridos no exerccio da
razo, pois o corpo virtuoso o corpo que busca o equilbrio.
Para os gregos, havia apenas a delimitao entre corpo ativo e corpo pas-
sivo, o que lembra muito a delimitao aristotlica do ser entre atividade e
passividade. Essa denominao de ativo e passivo acaba exercendo uma in-
uncia marcante na histria do corpo na cultura ocidental. Ativo e passivo
dizem respeito, na Grcia, relao entre amante e amado, o que no signica
necessariamente uma distino de gnero no h uma delimitao precisa
de quem seria o passivo ou ativo, isto , se o homem ou a mulher, ou ainda,
uma delimitao de hetero ou homossexualidade, mas apenas no sentido de
que o ativo o amante e o passivo o amado.
As prticas do corpo, na Grcia, diluam-se naquilo que os gregos cha-
mavam economia, ertica e diettica, ou seja, o cuidado com a casa (economia),
com a vida sexual (sexualidade) e com a sade. A utilizao do phrmacon
aquilo que cura tambm aquilo que mata um exemplo do que se pode
entender como cuidado do corpo. Entretanto, nada na vida pode ser vivido
NN
N N
p g y p
i mpulso n 29 189
em excesso e o homem sadio aquele que busca a
justa medida e procura conhecer a si mesmo.
O amlgama entre as culturas grega, romana e
hebraica, que resultar na cultura crist, transforma
consideravelmente a noo de corpo valendo-se da
atribuio dos conceitos de ativo ao corpo masculi-
no e de passivo ao corpo feminino. Desse dualismo
nasce a correlao entre corpo masculino e razo,
tanto quanto a correspondncia do corpo feminino
com instintos e paixes. A mulher aparece como o
outro da razo, o sujeito que adquire a sua subjeti-
vidade por intermdio de outro sujeito, ou melhor,
do sujeito por excelncia: o homem.
a cultura crist que possibilita, a partir do s-
culo XVII, a transformao desse dualismo em uma
concepo mais abstrata e losca, com a reper-
cusso da obra de Descartes (1596-1650). Durante
o medievo,
1
o corpo que em latim signica cad-
ver (corpus, corporis) era entendido como o lugar
da alma; da a proibio, por parte da igreja catlica,
da violao de corpos aps a morte. O corpo, que
recebe a alma, instncia do sagrado, tendo em vista
que abriga a dimenso sagrada do homem a alma.
E esta entendida como a esfera da razo que con-
trola os instintos e as paixes. H, ao mesmo tempo
e paradoxalmente, um cuidado e um desprezo pelo
corpo: ele possui uma dimenso sagrada por abrigar a
instncia da eternidade a eterna alma , tanto quan-
to possui uma dimenso profana, por ser a instncia
do efmero e do temporal, pois o corpo morre.
Mesmo que essa concepo no tenha sido to
amplamente divulgada ou hegemnica nos perodos
anteriores ao Renascimento, foi a partir dele que ga-
nhou espao nos escritos ociais da tradio catlica
e em alguns da Reforma Protestante. Contudo, na
obra cartesiana que essa concepo dualista encontra
explicao mais elaborada, fundamentada no dualis-
mo psicofsico proposto por Descartes.
Descartes lana as bases da losoa moderna
e do principal paradigma da modernidade, qual seja,
o da autonomia do sujeito de razo, que consolida o
dualismo psicofsico. eternidade da alma sobre-
pe-se a efemeridade do corpo. Esse incipiente pro-
jeto de uma razo universal que conhece, domina e
controla a natureza (e encontrar efetivao no pro-
jeto do iluminismo) permitiu uma abordagem so-
bre o corpo que se torna uma das caractersticas da
modernidade pode-se ento conhecer o corpo por
dentro e por fora e esse conhecimento cientco e
vlido para toda a humanidade. Nesse momento, as
cincias da sade (a medicina, por exemplo) comea-
ro a elaborar a concepo moderna de corpo: corpo
e alma continuam a formar uma totalidade em tota-
lizao, mas agora o corpo pode ser violado (disseca-
do) para ser conhecido e para que se possa descobrir
as causas das doenas (seu mal funcionamento), me-
lhorando a qualidade de vida humana. Isso possvel
porque a alma eterna e no atingida quando se em-
brenha nas profundezas do corpo.
No transcurso da modernidade, notadamente
nos sculos XVII e XIX, os ideais iluministas de razo
universal, progresso, domnio da natureza e autono-
mia do sujeito inserem-se na dinmica do capitalis-
mo. Esse fato inuenciar o espao de ao de algu-
mas cincias, sobretudo aquelas aplicadas sade,
uma vez que a prtica da cincia estar permeada
pela tendncia positivista da neutralidade, retiran-
do-se a dimenso tica da prtica da cincia e da
tecnologia, caracterizando um distanciamento entre
o cuidado do corpo e as conseqncias morais e ti-
cas que as prticas desse cuidado poderiam ensejar.
Em outras palavras, o processo de modernizao
propicia novas tecnologias que atuaro sobre o cor-
po, ou, para dizer como Foucault, novas disciplinas
do corpo.
Se o processo de modernizao pode ser tra-
duzido como um processo de secularizao e racio-
nalizao do mundo da vida, como diria Max Weber,
a modernidade no faz nada mais do que tornar o
corpo dcil, com suas disciplinas. O corpo, total-
mente inserido no processo de produo capitalista,
aparecendo como uma mercadoria a mais, e com to-
1
Excluem-se dessa abordagem os libertinos, j que o esprito libertino
comea a se constituir no nal da Idade Mdia (como reao hegemonia
clerical), mesmo que a palavra libertino no seja comum naquela poca.
Entende-se aqui libertino como indiferente s coisas da religio, desre-
gramento de costumes, aquele que no respeita as interdies e segue as
inclinaes do corpo e do esprito, liberdade sexual, o mpio ou ateu
ou o livre-pensador. Essas denominaes de libertino vo encontrar suas
vigncias no transcorrer dos sculos XVI, XVII e XVIII, caracterizando ainda
uma transformao na concepo de corpo, pelo fato de a modernidade
ser, tambm, uma descoberta do mundo sensvel e em que o corpo
comea a ser um lugar privilegiado da sensibilidade.
p g y p
190 i mpulso n 29
das as nuances fetichistas que as mercadorias possu-
em, precisou ser domesticado (disciplinado), de
modo a poder transitar tranqilamente no mundo
industrializado e das trocas simblicas. Da a criao
de instituies disciplinares, como presdios, escolas
e hospitais, e a constituio da famlia burguesa (no-
tadamente a pequena burguesia). Essas instituies,
que nos dias de hoje se encontram em crise talvez
em declnio , foram reguladoras do corpo no oci-
dente capitalista durante os ltimos 200 anos.
A modernidade e seus modernismos so uma
experincia do espao e do tempo, do eu e dos ou-
tros, das possibilidades e dos perigos da vida par-
tilhada por homens e mulheres no mundo atual. Ser
moderno encontrar-se num ambiente que prome-
te risco, poder, alegria, crescimento e transformao
de si e do mundo, e, ao mesmo tempo, ameaa des-
truir tudo o que temos, tudo o que sabemos, tudo
o que somos. No entanto, a modernidade procurou
efetivar o projeto equivalente a um esforo intelec-
tual singular dos pensadores iluministas dos sculos
XVIII e XIX, visando a delimitar a cincia objetiva, o
campo da moralidade e os princpios universais que
regem a arte. A idia de usar o acmulo de conhe-
cimento produzido por muitas pessoas trabalhando
livre e criativamente, em busca da emancipao hu-
mana e do enriquecimento da vida diria, levou a
uma racionalizao do corpo, que exigiu, no mais
das vezes, uma obliterao da sensibilidade e da sen-
sualidade, proporcionando o avano, no dizer de
Foucault, de uma cincia da sexualidade que tece
um discurso sobre o corpo para poder evitar uma
ao sobre o corpo.
De um lado, o projeto da modernidade partia
da certeza de que o domnio cientco da natureza
levava libertao da escassez, da necessidade, e
acreditava tambm que, com a elaborao e o desen-
volvimento de formas racionais de organizao so-
cial e de maneiras racionais de pensamento, alcana-
ramos a emancipao do uso arbitrrio do poder,
em todas as suas instncias, prevalecendo, dessa for-
ma, as caractersticas universais e imutveis de toda
a humanidade. Por outro, durante os ltimos 50
anos do sculo XX, esse projeto s tem demonstra-
do que a crena avassaladora numa razo universal
(traduzida aqui como razo instrumental) no reali-
zou os princpios do projeto da modernidade. Em
primeiro lugar, a razo, entendida como esclarecedo-
ra, transformou-se em razo tecnicista; em segun-
do, tornou-se mais difcil a realizao dos principais
princpios da prpria modernidade, como autono-
mia do sujeito e dignidade tica (princpios norma-
tivos de carter universais, entre eles, os imperativos
categricos de Kant), diante dos direitos constitu-
dos pela revoluo burguesa. Revoluo essa que
no pde efetivar (na dinmica do capital e enquan-
to houver capitalismo) os direitos institudos no m-
bito da universalidade, ou seja, tornar os direitos efe-
tivos na prxis dos sujeitos historicamente situados.
Essas caractersticas da cultura moderna en-
contraram respaldo at os anos 70 do sculo XX,
quando comearam a surgir novas tendncias de
agir e pensar que despontaram das novas formas de
produo e acumulao de capital, o que j se cos-
tuma chamar acumulao exvel de capital ou mo-
delo ps-fordista, e muitas se enquadram no compli-
cado e ambguo termo ps-modernidade ou ps-mo-
dernismo. No se pode dizer de maneira satisfatria
o que sejam ps-modernismo e ps-modernidade,
pois h diferentes interpretaes dos conceitos. Ca-
racteriza-se a ps-modernidade como uma tendn-
cia na vida social e cultural, na qual no mais se v a
cidade constituda por um sistema racionalizado e
autonomizado de produo de signos e imagens.
Essa tendncia procura rejeitar a concepo de uma
cidade rigidamente estraticada por ocupao e
classe, descrevendo, em vez disso, um individualis-
mo e um empreendimentismo disseminados, em
que as marcas da distino social so conferidas em
larga medida posse e aparncia.
A tendncia ps-moderna tem levado a dis-
perso e fragmentao da produo dos servios e
do consumo, o que encontra correspondente na
cultura. Trata-se da cultura ps-moderna ou ps-
modernista, defensora do narcisismo, da aparncia
ou da superfcie das coisas e da velocidade tecnol-
gica e temporal, despedaando o espao, em suma,
a tendncia para a fragilidade da utopia. A inform-
tica, o marketing e a publicidade conjugados so
exemplos de tcnicas e tecnologias utilizadas nessa
prtica cultural, em que o corpo aparece, muitas ve-
zes, como simulacro e virtualizao, ao mesmo
p g y p
i mpulso n 29 191
tempo disperso e louvado pela sociedade de consu-
mismo.
Algumas tendncias ps-modernistas apon-
tam o desaparecimento de alguns valores e concei-
tos que zeram a modernidade: racionalismo uni-
versalista, movimento imprescindvel da histria,
contradies do modo de produo capitalista ex-
pressas nas lutas de classes e nas transformaes so-
ciais e polticas, submisso da natureza s imposi-
es do desenvolvimento da cultura, enfraqueci-
mento da noo de totalidade como categoria epis-
temolgica e abandono do projeto de radicalizao
das contradies da modernidade.
Para alguns tericos do ps-modernismo,
2
os
traos que parecem caracterizar os ltimos 30 anos
do sculo XX e o incio do sculo XXI podem ser
chamados de volteis, velozes, efmeros, fragmen-
tados e descentrados, e o ser humano caracteriza-se
por ser narcisista, inseguro, isolado e gregrio. Ca-
ractersticas essas que so paradoxais, mas que di-
zem muito do comportamento do homem e da
mulher contemporneos.
Ao suposto domnio do planejamento racio-
nal, apela-se a uma imagem da cidade como um
amlgama de estilos, em que todo sentido de hierar-
quia, e at de homogeneidade de valores, est em
vias de dissoluo. Aquele que mora na cidade no
exerce a racionalidade (como prtica de orientao
no espao e no tempo), pois a cidade parece mais
um labirinto e um teatro onde os indivduos repre-
sentam uma multiplicidade de papis. Se a vida mo-
derna est realmente permeada pelo sentido do
constante e do fugidio, do eterno e do efmero, do
composto e do fragmento, do necessrio e do con-
tingente, h algumas profundas conseqncias. A
modernidade crtica de qualquer ordem social pr-
moderna. A transitoriedade das coisas diculta a
preservao de todo sentido de continuidade hist-
rica.
Se h algum sentido na histria, h que desco-
bri-lo de dentro do turbilho da mudana, turbilho
que afeta tanto os termos da discusso como o que
est sendo discutido. A modernidade, por conse-
guinte, no apenas envolve uma implacvel ruptura
com todas e quaisquer condies histricas prece-
dentes, como tambm marcada por um intermin-
vel processo de rupturas e fragmentaes internas a
ela. Em geral, as vanguardas sempre desempenharam
um papel vital na histria do modernismo, interrom-
pendo todo sentido de continuidade mediante altera-
es, recuperaes e represses radicais. Como inter-
pretar isso, como descobrir os elementos universais
em meio a essas disrupes radicais o problema:
aqui est o paradoxo das tendncias ps-modernas,
uma vez que procuram comumente resgatar apenas
as caractersticas transitrias da modernidade, amal-
gamando em um composto ecltico a prpria frag-
mentao da cultura atual. Mesmo corpo pensado e
vivido nessa avalanche de transitoriedade e fragmen-
tao em que se encontra a cultura contempornea.
Contudo, pode-se dizer que ningum vai ao homem
seno pelo corpo.
O atual culto narcisista do corpo tem coloca-
do uma questo premente s pessoas. De um lado,
o corpo um corpo no mundo e com o mundo, um
corpo concreto, que conscientemente adota prti-
cas no s para se proteger, mas tambm para se re-
conhecer e ser reconhecido, preservar e ser preser-
vado, transcendendo como construo de sentido
por meio de diversas formas de linguagens. De ou-
tro, o narcisismo advindo dos processos atuais de
fragmentao da vida (entre outros fatores) tem le-
vado os sujeitos a uma nsia de auto-armao exa-
gerada e infantil. Essa auto-armao constitui-se
de modelos consagrados pela mdia: uma mulher
fatal, o guerreiro indestrutvel, o encanto da Cinde-
rela ou o tipo irresistvel. Assim o/a narcisista vive
substancialmente em uma condio de irrealidade,
regado pela propaganda, pelos modelitos de consu-
mo do momento. Nessa idolatria ao prprio corpo
esconde-se muitas vezes uma perigosa rejeio de si
mesmo.
3
Essa corpolatria tem uma tendncia extrema-
mente religiosa, ou melhor, guarda uma religiosida-
de anti-religiosa: se no passado, no qual imperava a
moral crist, o corpo foi entendido como o lugar do
pecaminoso, agora, h uma espcie de sacralizao
do corpo, gerando um conito entre aquilo que so-
2
COELHO, 1986; FEATHERSTONE, 1997; e HARVEY, 1992.
3
SOUZA NETO, 1996, p. 26.
p g y p
192 i mpulso n 29
mos e o que gostaramos de ser; o que temos e o
que gostaramos de possuir o corpo que somos, e
o que temos, e o corpo que gostaramos de exibir.
Neste incio de sculo, tornam-se prementes
respostas s novas situaes do corpo, do corpo que
aparece como um produto que se vende, se negocia
e, por isso mesmo, gera moda. Seja o corpo femini-
no seja o masculino, incluindo o que busca uma
identidade na diversidade em que se encontram
aqueles que continuam um exerccio de reexo
constante sobre sua prpria condio no mundo
atual, no se deixando envolver pela avalanche de
supercialidade proporcionadas pelas disperses-
fragmentaes. At chegar queles que esto aten-
tos s novas tecnologias genticas que colocaro no
mercado futuro os corpos clonados. Aqui surge a
seguinte pergunta: os clones, que podero existir
em um futuro muito breve, podero construir um
sentido prprio (antropolgico e ontolgico) para
seus corpos ou tero apenas os sentidos que seus
criadores quiserem? Ou ainda essa questo no
importar, porque eles sero apenas mais corpos-
mercadorias jogados nos fragmentos das nossas no-
vas virtualidades sociais? Teremos ns corpos ainda?
Arriscamos dizer que o corpo a primeira for-
ma de visibilidade humana e sua materialidade mul-
tissmica pode ser entendida como sntese das diver-
sas realizaes dos humanos, sntese das mltiplas
experincias existenciais. O corpo revela as mltiplas
dobras do tempo, o que exige uma atitude sobre ele
e uma atitude corporal que insista na capacidade de o
ser humano compreender-se reexivamente como
totalidade em constante processo de totalizao e, ao
mesmo tempo, situado social e historicamente, de
modo a manter a sua capacidade crtica, mas que no
abdique de atuar na atual sociedade, compreenden-
do-a como contraditria.
Referncias Bibliogrcas
CATONN, J-P. A Sexualidade,Ontem e Hoje. Trad. Michle ris Koralck. So Paulo: Cortez, 1994.
CHAU, M. Participando do debate sobre mulher e violncia. In: CARDOSO, R. et al. Perspectivas Antropolgicas da Mulher.
Rio de Janeiro: Zahar, 1985.
CODO, W. & SENNE, W. O que Corpo(latria)? So Paulo: Brasiliense, 1985.
COELHO, T. Moderno,Ps-moderno. Porto Alegre: L&PM, 1986.
FEATHERSTONE, M. O Desmanche da Cultura.So Paulo: Studio Nobel/SESC, 1997.
FOUCAULT, M. Histria da Sexualidade. V. II: O uso dos prazeres. Rio de Janeiro: Graal, 1984.
HALL, S. As Identidades Culturais na Ps-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 1997.
HARVEY, D. A Condio Ps-moderna. So Paulo: Loyola, 1992.
KUMAR, K. Da Sociedade Ps-industrial Ps-moderna: novas teorias sobre o mundo contemporneo. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 1997.
LATOUR, B. Jamais Fomos Modernos. So Paulo: 34, 1994.
LVY, P. O que o Virtual? So Paulo: 34, 1996.
NOVAES, A. (org.). Libertinos Libertrios. So Paulo: Companhia das Letras, 1996.
SANTANNA, D. B. (org.). Polticas do Corpo. So Paulo: Estao Liberdade, 1995.
SILVA, T.T. (org.). Pedagogia dos Monstros: os prazeres e os perigos da confuso de fronteiras. Belo Horizonte: Autntica, 2000.
SOUZA NETO, S. (org.). Corpo para Malhar ou para Comunicar? So Paulo: Cidade Nova, 1996.
p g y p
i mpulso n 29 193
REVISTA IMPULSO
Normas para Publicao
PRINCPIOS GERAIS
1 A Revista IMPULSO publica artigos de pesquisa e reexo acadmicas, estudos analticos e resenhas
nas reas de cincias sociais e humanas, e cultura em geral, dedicando parte central do espao de cada
edio a um tema principal.
2 Os temas podem ser desenvolvidos atravs dos seguintes tipos de artigo:
ENSAIO (12 a 30 laudas) reexo a partir de pesquisa bibliogrca ou de campo sobre determinado
tema;
COMUNICAO (10 a 18) relato de pesquisa de campo, concluda ou em andamento;
REVISO DE LITERATURA (8 a 12 laudas) levantamento crtico de um tema, a partir da bibliograa
disponvel;
COMENTRIO (4 a 6 laudas) nota sobre determinado tpico;
RESENHA (2 a 4 laudas) comentrio crtico de livros e/ou teses.
3 Os artigos devem ser inditos, vedado o seu encaminhamento simultneo a outras revistas.
4 Na anlise para a aceitao de um artigo sero observados os seguintes critrios, sendo o autor in-
formado do andamento do processo de seleo:
adequao ao escopo da revista;
qualidade cientca, atestada pela Comisso Editorial e por processo annimo de avaliao por pa-
res (peer review), com consultores no remunerados, especialmente convidados, cujos nomes so
divulgados anualmente, como forma de reconhecimento;
cumprimento das presentes Normas para Publicao.
5 Uma vez aprovado e aceito o artigo, cabe revista a exclusividade em sua publicao.
6 Os artigos podem sofrer alteraes editoriais no substanciais (reparagrafaes, correes gramati-
cais, adequaes estilsticas e editoriais).
7 No h remunerao pelos trabalhos. O autor de cada artigo recebe gratuitamente 3 (trs) exem-
plares da revista; no caso de artigo assinado por mais de um autor, so entregues 5 (cinco) exemplares.
O(s) autor(es) pode(m) ainda comprar outros exemplares com desconto de 30% sobre o preo de
capa. Para a publicao de separatas, o autor deve procurar diretamente a Editora UNIMEP.
8 Os artigos devem ser encaminhados ao editor da IMPULSO, acompanhados de ofcio, do qual constem:
cesso dos direitos autorais para publicao na revista;
concordncia com as presentes normatizaes;
informaes sobre o autor: titulao acadmica, unidade e instituio em que atua, endereo para
correspondncia, telefone e e-mail.
ESTRUTURA
9 Cada artigo deve conter os seguintes elementos, em folhas separadas:
a)IDENTIFICAO
TTULO (e subttulo, se for o caso), em portugus e ingls: conciso e indicando claramente o con-
tedo do texto;
p g y p
194 i mpulso n 29
nome do AUTOR, titulao, rea acadmica em que atua e e-mail;
SUBVENO: meno de apoio e nanciamento recebidos;
AGRADECIMENTO, se absolutamente indispensvel.
b)RESUMO E PALAVRAS-CHAVE
Resumo indicativo e informativo, em portugus (intitulado RESUMO) e ingls (denominado
ABSTRACT), com cerca de 150 palavras cada um;
para ns de indexao, o autor deve indicar os termos-chave (mnimo de trs e mximo de seis)
do artigo, em portugus (palavras-chave) e ingls (keywords).
c)TEXTO
deve ter uma INTRODUO, um DESENVOLVIMENTO e uma CONCLUSO. Cabe ao autor criar os
entrettulos para o seu trabalho. Esses entrettulos, em letras maisculas, no so numerados;
no caso de RESENHAS, o texto deve conter todas as informaes para a identicao do livro co-
mentado (autor; ttulo; tradutor, se houver; edio, se no for a primeira; local, editora; ano; total
de pginas; preo, ISBN, ttulo original, se houver). No caso de TESES, segue-se o mesmo princpio,
no que for aplicvel, acrescido de informaes sobre a instituio na qual foi produzida.
d)ANEXOS
Ilustraes (tabelas, grcos, desenhos, mapas e fotograas).
e)DOCUMENTAO
NOTAS EXPLICATIVAS:
1
sero dispostas no rodap, remetidas por nmeros sobrescritos no corpo do
texto.
CITAO com at trs linhas: deve vir no bojo do pargrafo, destacada por aspas (e no em itlico),
aps as quais um nmero sobrescrito remeter nota de rodap com as indicaes do SOBRENOME do
autor, ano da publicao e pgina em que se encontra a citao.
2
CITAO igual ou maior a quatro linhas: destacada em pargrafo prprio com recuo de quatro cen-
tmetros da margem esquerda do texto (sem aspas) e separado dos pargrafos anterior e posterior por uma
linha a mais. Ao m da citao, um nmero sobrescrito remeter nota de rodap, indicando o SOBRE-
NOME do autor, ano da publicao e a pgina em que se encontra esta citao.
3
Os demais complementos (nome completo do autor, nome da obra, cidade, editora, ano de publi-
cao etc.) constaro das REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS, ao m de cada artigo, seguindo o padro abaixo.
A lista de fontes (livros, artigos etc.) que compe as Referncias Bibliogrcas deve aparecer no m
do artigo, em ordem alfabtica pelo sobrenome do autor e sem numerao, aplicando-se o seguinte padro:
LIVROS
SOBRENOME, N.A. (nomes do autor abreviados, sem espaamento entre eles; nomes de at dois autores, separar por
&; quando houver mais de dois, registrar o primeiro deles seguido da expresso et al.). Ttulo: subttulo. Cidade:
Editora, ano completo, volume (ex.: v. 2).[No deve constar o nmero total de pginas]. Ex.:
FARACO, C.E. & MOURA, F.M. Lngua Portuguesa e Literatura. So Paulo: tica, 1997, v. 3.
FARIA, J. A Tragdia da Conscincia: tica,psicologia,identidade humana. Piracicaba: Editora Unimep, 1996.
GARCIA, E.E.C. et al. Embalagens Plsticas: propriedades de barreira. Campinas: CETES/ITAL, 1984.
GIL, A.C. Tcnicas de Pesquisa em Economia. So Paulo: Atlas, 1991.
1
Essa numerao ser disposta aps a pontuao, quando esta ocorrer, sem que se deixe espao entre ela e o nmero sobrescrito da nota. Como o empre-
gado nas Referncias Bibliogrcas, nas notas de rodap o SOBRENOME dos autores, caso necessrio, deve ser grafado em maiscula, seguido do ano da
publicao da obra correspondente a esta citao. Ex.: CASTRO, 1989.
2
FARACO & GIL, 1997, pp. 74-75.
3
FARIA, 1996, p. 102.
p g y p
i mpulso n 29 195
MAIS DE UMA CITAO DE UM mesmo autor: aps a primeira citao completa, introduzir a nova
obra da seguinte forma:
_________. Empregabilidade e Educao. So Paulo: Educ, 1997.
OBRAS SEM AUTOR DEFINIDO:
Manual Geral de Redao. Folha de S.Paulo, 2. ed., So Paulo, 1987.
PERIDICOS
NOME DO PERIDICO. Cidade. rgo publicador. Entidade de apoio (se houver). Data. Ex.:
REFLEXO. Campinas. Instituto de Filosoa e Teologia. PUC, 1975.
ARTIGOS DE REVISTA:
SOBRENOME, N.A. Ttulo do artigo. Ttulo da revista, Cidade, editora, volume (nmero/fascculo): pginas incursi-
vas, ano. Ex.:
FERRAZ, T.S. Curva de demanda, tautologia e lgica da cincia.Cincias Econmicas e Sociais, Osasco, 6 (1): 97-105,
1971.
ARTIGOS DE JORNAL:
SOBRENOME, N.A. Ttulo do artigo, Ttulo do jornal,Cidade, data, seo, pginas, coluna. Ex.:
PINTO, J.N. Programa explora tema raro na TV, O Estado de S.Paulo, 8/fev./1975, p. 7, c. 2.
10 Os artigos devem ser escritos em portugus, podendo, contudo, a critrio da Comisso Editorial, se-
rem aceitos trabalhos escritos em outros idiomas.
11 Os artigos devem ser digitados no editor de texto Word, em espao dois, em papel branco, no trans-
parente e de um lado s da folha, com 30 linhas de 70 toques cada lauda (2.100 toques).
12 As ILUSTRAES (tabelas, grcos, desenhos, mapas e fotograas) necessrias compreenso do tex-
to devem ser numeradas seqencialmente com algarismos arbicos e apresentadas de modo a garantir
uma boa qualidade de impresso. Precisam ter ttulo conciso, grafados em letras minsculas. As ta-
belas devem ser editadas na verso Word, com formatao necessariamente de acordo com as dimen-
ses da revista. Devem vir inseridas nos pontos exatos de suas apresentaes ao longo do texto. As
TABELAS no devem ser muito grandes e nem ter os verticais para separar colunas. As FOTOGRA-
FIAS devem ser em preto e branco, sobre papel brilhante, oferecendo bom contraste e foco bem n-
tido. GRFICOS e DESENHOS devem ser includos nos locais exatos do texto. No caso de aprovao
para publicao, eles precisaro ser enviados em disquete, e necessariamente em seus arquivos ori-
ginais (p. ex., em Excel, CorelDraw, PhotoShop, PaintBrush etc.) em separado. As guras, grcos
e mapas, caso sejam enviados para digitalizao, devem ser preparados em tinta nanquim preta. As
convenes precisam aparecer em sua rea interna.
13 ETAPAS de encaminhamento dos artigos: ETAPA 1. Apresentao de trs cpias impressas para sub-
misso Comisso Editorial da Revista e aos consultores. Os pareceres, sigilosos, so encaminhados
aos autores para as eventuais mudanas; ETAPA 2. Se aprovado para publicao, o artigo deve ser re-
apresentado Editora, j com as devidas alteraes eventualmente sugeridas pela Comisso Editorial,
em uma via em papel e outra em disquete, com arquivo gravado no formato Word. Devem acompa-
nhar eventuais grcos e desenhos suas respectivas cpias eletrnicas em linguagem original. Aps
a editorao nal, o autor recebe uma prova para anlise e autorizao de impresso.
p g y p
S-ar putea să vă placă și
- Brasil: Terra da Contrarrevolução – Revolução Brasileira e Classes Dominantes no Pensamento Político e SociológicoDe la EverandBrasil: Terra da Contrarrevolução – Revolução Brasileira e Classes Dominantes no Pensamento Político e SociológicoÎncă nu există evaluări
- Impulso 26Document217 paginiImpulso 26mamoeller100% (1)
- Metamorfoses do mundo contemporâneoDe la EverandMetamorfoses do mundo contemporâneoCecília Pescatore AlvesÎncă nu există evaluări
- Revista Latinoamericana Do Colégio de Filosofia Nº3Document189 paginiRevista Latinoamericana Do Colégio de Filosofia Nº3rodrigoielpoÎncă nu există evaluări
- Revista Antropolitica 25Document258 paginiRevista Antropolitica 25Bruno OliveiraÎncă nu există evaluări
- Dimensão histórica da sociologia: dilemas e complexidadeDe la EverandDimensão histórica da sociologia: dilemas e complexidadeÎncă nu există evaluări
- Sociologia IIIDocument4 paginiSociologia IIIGabriel Oliveira SilvaÎncă nu există evaluări
- A diplomacia mediatizada: Em busca do refrão de um brasil megalonanicoDe la EverandA diplomacia mediatizada: Em busca do refrão de um brasil megalonanicoÎncă nu există evaluări
- Por Uma Razão Decolonial Desafios Ético-Político-Epistemológicos À Cosmovisão ModernaDocument16 paginiPor Uma Razão Decolonial Desafios Ético-Político-Epistemológicos À Cosmovisão ModernaS. LimaÎncă nu există evaluări
- Suicídio Universitário: uma questão de identidade ou de profissionalização?De la EverandSuicídio Universitário: uma questão de identidade ou de profissionalização?Încă nu există evaluări
- Práticas Sociais, Discurso, Gênero Social: Explanações Críticas sobre a Vida SocialDe la EverandPráticas Sociais, Discurso, Gênero Social: Explanações Críticas sobre a Vida SocialÎncă nu există evaluări
- Projetos de vida e juventudes: trajetórias contemporâneas de jovens quilombolasDe la EverandProjetos de vida e juventudes: trajetórias contemporâneas de jovens quilombolasÎncă nu există evaluări
- 1313 PBDocument138 pagini1313 PBCaduRodriguesÎncă nu există evaluări
- Entrevista Renato OrtizDocument14 paginiEntrevista Renato OrtizCyda Do ÓÎncă nu există evaluări
- 2335 PBDocument178 pagini2335 PBdamiaovelosoÎncă nu există evaluări
- Mídias e História: Metodologias & Relatos de pesquisaDe la EverandMídias e História: Metodologias & Relatos de pesquisaÎncă nu există evaluări
- Pensando o Recolonial Nos Estudos Da Comunicação Reflexões A Partir Da América LatinaDocument21 paginiPensando o Recolonial Nos Estudos Da Comunicação Reflexões A Partir Da América LatinaIsabele BardÎncă nu există evaluări
- Revista Antropolitica 27Document308 paginiRevista Antropolitica 27Arthur PeciniÎncă nu există evaluări
- Estudos Culturais e Pós ColonialismoDocument26 paginiEstudos Culturais e Pós ColonialismoFelipe VieiraÎncă nu există evaluări
- Pós-Colonialismo, Descolonialidade e MarxismoDocument197 paginiPós-Colonialismo, Descolonialidade e MarxismoDebora Rodrigues AlvesÎncă nu există evaluări
- Capella - Perspectivas Teoricas Sobre o Processo de Formulação de Politicas PublicasDocument130 paginiCapella - Perspectivas Teoricas Sobre o Processo de Formulação de Politicas PublicasRaphael AndradeÎncă nu există evaluări
- 05 - Escobar, Arturo - Mundos e Conhecimentos de Outros MundosDocument21 pagini05 - Escobar, Arturo - Mundos e Conhecimentos de Outros MundosGilberto Florencio Faria100% (1)
- Monica Salomon Org Atores Nao Estatais eDocument17 paginiMonica Salomon Org Atores Nao Estatais eAniella Ramírez MaglioneÎncă nu există evaluări
- Pós-modernidade, capitalismo e educação: a universidade na crise do projeto social modernoDe la EverandPós-modernidade, capitalismo e educação: a universidade na crise do projeto social modernoÎncă nu există evaluări
- LN0 109 Completo FinalDocument352 paginiLN0 109 Completo FinalLeandro AguiarÎncă nu există evaluări
- Impulso, v. 12, N. 27Document194 paginiImpulso, v. 12, N. 27Paulo AlvesÎncă nu există evaluări
- Identidade Etnica e Os Caminhos Do ReconhecimentoDocument195 paginiIdentidade Etnica e Os Caminhos Do ReconhecimentoEmanuelle PeregrinoÎncă nu există evaluări
- Cadernos de Filosofia AlemãDocument180 paginiCadernos de Filosofia Alemãreginaldo aliçandro BordinÎncă nu există evaluări
- Impulso, v. 16, N. 40Document160 paginiImpulso, v. 16, N. 40Paulo AlvesÎncă nu există evaluări
- Entrevistas de Nildo Viana: Reflexões críticas sobre o cotidiano, a cultura e a sociedadeDe la EverandEntrevistas de Nildo Viana: Reflexões críticas sobre o cotidiano, a cultura e a sociedadeÎncă nu există evaluări
- Paris – Palestina:: Intelectuais, Islã e Política no Monde Diplomatique (2001-2015)De la EverandParis – Palestina:: Intelectuais, Islã e Política no Monde Diplomatique (2001-2015)Încă nu există evaluări
- Para Um Estudo Da Questão Do Socialismo No Brasil: Os Primórdios em Santos Através Da Publicação deDocument166 paginiPara Um Estudo Da Questão Do Socialismo No Brasil: Os Primórdios em Santos Através Da Publicação deSSM@Încă nu există evaluări
- A Revista do Brasil: Um diagnóstico para a (N)açãoDe la EverandA Revista do Brasil: Um diagnóstico para a (N)açãoEvaluare: 2 din 5 stele2/5 (1)
- UnB 2016 Sociologia Da JuventudeDocument11 paginiUnB 2016 Sociologia Da JuventudeamatobrunogabrielÎncă nu există evaluări
- 2016 - AiltonTeodoroDeSouzaPereira - Marxismo No Brasil PDFDocument229 pagini2016 - AiltonTeodoroDeSouzaPereira - Marxismo No Brasil PDFWarley NunesÎncă nu există evaluări
- Texto 1 - NOVO DICIONARIO CRITICO DO PENSAMENTO DAS DIREITAS - Volume 1Document21 paginiTexto 1 - NOVO DICIONARIO CRITICO DO PENSAMENTO DAS DIREITAS - Volume 1aimeelopes1606Încă nu există evaluări
- Artigo - em Andamento História Das MentalidadesDocument12 paginiArtigo - em Andamento História Das Mentalidadessaulo FerreiraÎncă nu există evaluări
- Dos Modernos Aos Contempor Neos Contribui EsDocument376 paginiDos Modernos Aos Contempor Neos Contribui EsEvandro O. BritoÎncă nu există evaluări
- CARVALHO JJ Os Estudos Culturais Como Um Movimento de Invoação Nas Humanidades e Nas Ciências SociaisDocument17 paginiCARVALHO JJ Os Estudos Culturais Como Um Movimento de Invoação Nas Humanidades e Nas Ciências SociaisFlávia Salazar SalgadoÎncă nu există evaluări
- Néstor García CancliniDocument13 paginiNéstor García CancliniLorena Caminhas0% (1)
- Revista. Dossiê HumanidadesDocument302 paginiRevista. Dossiê HumanidadesJean SegataÎncă nu există evaluări
- Uma Crise de Sentido, Ou Seja, de Direção - UNISINOSDocument32 paginiUma Crise de Sentido, Ou Seja, de Direção - UNISINOSU Lucas Mota DinizÎncă nu există evaluări
- Ensaio Sobre o Processo da Colonização e da Educação: Brasil e EUA: A Fase de um Mesmo Processo HistóricoDe la EverandEnsaio Sobre o Processo da Colonização e da Educação: Brasil e EUA: A Fase de um Mesmo Processo HistóricoÎncă nu există evaluări
- Boaventura Sousa Santos - Um Discurso Sobre As Ciências - Reflexão Sobre A ObraDocument14 paginiBoaventura Sousa Santos - Um Discurso Sobre As Ciências - Reflexão Sobre A ObraCristina Emília Pereira100% (2)
- Mario Pedrosa 120 AnosDocument435 paginiMario Pedrosa 120 AnosGabrielle NascimentoÎncă nu există evaluări
- O Nascimento Da Psicologia Social No BrasilDocument18 paginiO Nascimento Da Psicologia Social No BrasilJessica OlveiraÎncă nu există evaluări
- Sinais Sociais 15Document176 paginiSinais Sociais 15axiomatizadorrÎncă nu există evaluări
- Mundialização e Cultura Ricardo OrtizDocument97 paginiMundialização e Cultura Ricardo OrtizLucas YahnÎncă nu există evaluări
- Livro MÍDIA E DISCURSO A CONSTRUÇÃO DE SENTIDOSDocument102 paginiLivro MÍDIA E DISCURSO A CONSTRUÇÃO DE SENTIDOSadriano.cruzÎncă nu există evaluări
- MagnaniDocument12 paginiMagnaniPablo Sandoval LópezÎncă nu există evaluări
- Cultural Studies PDFDocument2 paginiCultural Studies PDFAna AraujoÎncă nu există evaluări
- Por Dentro Da Hist - Ria, 2Document750 paginiPor Dentro Da Hist - Ria, 2Giselle Silva0% (1)
- Ganjodossantos, EDITORIALDocument3 paginiGanjodossantos, EDITORIALLaneÎncă nu există evaluări
- A Charge No Governo LulaDocument176 paginiA Charge No Governo LulaAlexandre Wilson100% (1)
- Paul Feyerabend e Contra o Método Quarenta Anos Do Início de Uma ProvocaçãoDocument24 paginiPaul Feyerabend e Contra o Método Quarenta Anos Do Início de Uma ProvocaçãoHélio Alexandre Da Silva100% (2)
- Universidade Estadual de Campinas - UnicampDocument310 paginiUniversidade Estadual de Campinas - UnicampAndreÎncă nu există evaluări
- Jornalismo DiversionalDocument15 paginiJornalismo DiversionalJanderle RabaiolliÎncă nu există evaluări
- BAKHTIN - Pressupostos Teórico-MetodológicosDocument5 paginiBAKHTIN - Pressupostos Teórico-MetodológicosJanderle RabaiolliÎncă nu există evaluări
- Artigo - A Convergência Entre o Entretenimento e A PublicidadeDocument16 paginiArtigo - A Convergência Entre o Entretenimento e A PublicidadeJanderle RabaiolliÎncă nu există evaluări
- Artigo Investigacao Aplicada Da Identidade Da MarcaDocument28 paginiArtigo Investigacao Aplicada Da Identidade Da MarcaJanderle RabaiolliÎncă nu există evaluări
- O Cavaleiro Preso Na ArmaduraDocument2 paginiO Cavaleiro Preso Na ArmaduraJucélia Rozeira Rocha80% (5)
- A Importancia Do Recrutamento e SelecaoDocument14 paginiA Importancia Do Recrutamento e SelecaoSilvia SouzaÎncă nu există evaluări
- Modelos de Texto 15Document2 paginiModelos de Texto 15lidiane barbosaÎncă nu există evaluări
- O Conceito de Valo1Document8 paginiO Conceito de Valo1Gimo Benjamim MutacateÎncă nu există evaluări
- Prosperidade Nas Sete Áreas Da Vida - 202362 - 213949Document1 paginăProsperidade Nas Sete Áreas Da Vida - 202362 - 213949Painel MonolarÎncă nu există evaluări
- Filosofia e Teoria Do Direito - S8c0017aDocument8 paginiFilosofia e Teoria Do Direito - S8c0017aThiago BordaloÎncă nu există evaluări
- Efésios 4Document10 paginiEfésios 4Glades ChueryÎncă nu există evaluări
- A Dialética Objetivação-Apropriação o Significado e o SentidoDocument3 paginiA Dialética Objetivação-Apropriação o Significado e o SentidoAntelmoJuniorÎncă nu există evaluări
- Sophia (Homenagem A Reis)Document12 paginiSophia (Homenagem A Reis)Pedro Henrique Borges SoaresÎncă nu există evaluări
- O Pecado e Suas Consequências :: SalvaçãoDocument10 paginiO Pecado e Suas Consequências :: Salvaçãocmsp_imospÎncă nu există evaluări
- Elogio Da Maquiagem BaudelaireDocument2 paginiElogio Da Maquiagem BaudelaireCaroline CostaÎncă nu există evaluări
- Exercício de Sociologia Revisão 2024-Com Gabarito No FinalDocument8 paginiExercício de Sociologia Revisão 2024-Com Gabarito No Finalanacarolinab913Încă nu există evaluări
- Como Calcular A Data Provavel Do Parto PDFDocument2 paginiComo Calcular A Data Provavel Do Parto PDFNicoleÎncă nu există evaluări
- Reforma Psiquiátrica No Brasil - FinalDocument75 paginiReforma Psiquiátrica No Brasil - FinalCriaturinha CompactaÎncă nu există evaluări
- Gabarito PsicologiaDocument3 paginiGabarito PsicologiaJoaquim LemaneÎncă nu există evaluări
- 603 O Eterno Ao ModernoDocument336 pagini603 O Eterno Ao ModernoTiara FrançaÎncă nu există evaluări
- Sujeito e A Linguagem (Guilherme de Ockham)Document5 paginiSujeito e A Linguagem (Guilherme de Ockham)Jorge Viana de MoraesÎncă nu există evaluări
- Teste Paisagens, Áreas Protegidas e GeografiaDocument4 paginiTeste Paisagens, Áreas Protegidas e GeografiaCátia MaagÎncă nu există evaluări
- Jean Pierre Vernant - A Bela Morte e o Cadáver UltrajadoDocument32 paginiJean Pierre Vernant - A Bela Morte e o Cadáver UltrajadoRodriguesÎncă nu există evaluări
- 6 Boas Prticas para Estimular o Sentimento de Pertencimento Nos ColaboradoresDocument1 pagină6 Boas Prticas para Estimular o Sentimento de Pertencimento Nos ColaboradoresJanainaÎncă nu există evaluări
- Teoria Institucional Do DireitoDocument1 paginăTeoria Institucional Do DireitoDaniela RodriguesÎncă nu există evaluări
- Trabalho Sobre A Primeira Instrução Do Grau de Aprendiz MaçomDocument2 paginiTrabalho Sobre A Primeira Instrução Do Grau de Aprendiz MaçomJaime RomeroÎncă nu există evaluări
- ASA Sentidos Teste10 Camões LíricoDocument7 paginiASA Sentidos Teste10 Camões Líricosbpaz2197Încă nu există evaluări
- História e Metaficção No Romance A Casa Da SerpenteDocument11 paginiHistória e Metaficção No Romance A Casa Da SerpenteMaria MadalenaÎncă nu există evaluări
- Regras Do Bom e Do Mau EstudoDocument3 paginiRegras Do Bom e Do Mau EstudoandersondidoÎncă nu există evaluări
- Avaliacao Educacao Infantil1 Ingles Fase1e2 1bimestreDocument2 paginiAvaliacao Educacao Infantil1 Ingles Fase1e2 1bimestreCarolinaDeCastroCerviÎncă nu există evaluări
- GUATTARI, Félix. Revolução MolecularDocument116 paginiGUATTARI, Félix. Revolução MolecularGuilherme Malo Maschke100% (15)
- Manejo Da RaivaDocument2 paginiManejo Da RaivaCatarina OliveiraÎncă nu există evaluări
- Como Ajudar Sua Igreja A Crescer Através Da Escola Bíblica DominicalDocument5 paginiComo Ajudar Sua Igreja A Crescer Através Da Escola Bíblica DominicalRamilton Vasconcelos0% (1)
- TcleDocument5 paginiTcleRaineldes CruzÎncă nu există evaluări