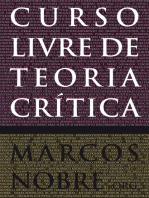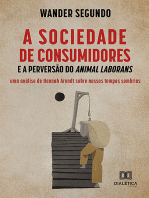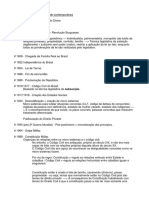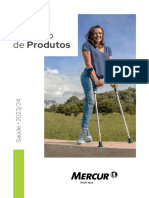Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
A Teoria Crítica - Marcos Nobre
Încărcat de
rodrigosa1832Drepturi de autor
Formate disponibile
Partajați acest document
Partajați sau inserați document
Vi se pare util acest document?
Este necorespunzător acest conținut?
Raportați acest documentDrepturi de autor:
Formate disponibile
A Teoria Crítica - Marcos Nobre
Încărcat de
rodrigosa1832Drepturi de autor:
Formate disponibile
A TEORIA CRITICA
Marcos Nobre
^ Z A H A R
F I L OS OF I A P A S S 0 - A - P A S S 0 4 7
Sumrio
I nt r oduo 7
Teoria Cr t i ca e Escola de Fr ankf ur t 12
A idia de uma Teoria Cr t i ca 21
A Teoria Crtica segundo Max Hor khei mer 34
Model os de Teoria Cr t i ca 47
Breve not a fi nal 59
Seleo de textos 61
Referncias e fontes 74
l eituras recomendadas 75
Sobre o autor 79
Introduo
Quando se diz que algum tem uma "teoria" sobre determi-
nado tema ou assunto, pretende-se com isso, na maioria das
vezes, dizer que esse algum tem uma hiptese ou um
conj unt o de argumentos adequados para explicar ou com-
preender um det ermi nado fenmeno ou uma determinada
conexo de fenmenos. Nesse sentido, a "teoria", ao preten-
der explicar ou compreender uma conexo de acontecimen-
tos, tem como intuito mostrar "como as coisas so". Em se
t ratando de uma teoria cientfica, a explicao deve ser capaz
t ambm de prever eventos futuros, ou ento de compreen-
der os eventos no mundo de tal maneira a produzir t ambm
prognsticos a partir das conexes significativas encont ra-
das. E uma teoria confi rmada ou refut ada conf or me as
previses e os pr ognst i cos se mos t r em corret os ou
incorretos.
Esse sentido de teoria se cont rape habitualmente
"prtica". Em um pri mei ro sentido dessa contraposio,
como o que se pode encontrar, por exemplo, no dizer
corrente "a teoria na prtica out ra" e em out ras expresses
semelhantes, a prtica seria uma aplicao da teoria e
mostraria que h uma distncia entre dizer "como as coisas
7
8 Marcos Nobre
so" e utilizar essa el aborao par a mani pul ar obj et os e
eventos no mundo. Alm de i ndi car que essa distncia t em
de ser super ada para que se possa "colocar em prtica" a
teoria.
Em um out r o sentido, ent ret ant o, a "teoria" se cont ra-
pe "prtica" segundo a idia de que h uma diferena
qualitativa ent re "como as coisas so" e "como as coisas
deveri am ser". Neste segundo sentido, a prtica no apli-
cao da teoria, mas um conj unt o de ideais que ori ent am a
ao, de pri nc pi os segundo os quais se deve agir para
mol dar a prpri a vida e o mundo. Na t radi o de pensa-
ment o do idealismo alemo, por exemplo, i naugurada por
I mmanuel Kant (1724-1804), esse segundo sent i do de "pr-
tica" o mai s elevado, aquele que obj et o da "filosofia
prtica", que abrange disciplinas como a moral , a tica, a
poltica e o direito.
Nesse sentido, ent ret ant o, a distncia e a diferena ent re
"o que " e "o que deve ser", ent re a teoria e a prtica, no
deve ser superada (o verbo "dever" j i ndi cando aqui que se
t rat a de uma prescrio prtica), sob pena de se dest ruir seja
a teoria, seja a prpri a prtica. Teoria e prtica t m lgicas
diferentes, e que no devem se confundi r. Em out ras pala-
vras, se fazemos teoria par a demonst r ar como as coisas
devem ser, no consegui mos most rar como de fato so; se
di zemos que as coisas devem ser como de fato so, elimina-
mos a possibilidade de que possam ser out r a coisa que no
o que so. Com isso, estabelece-se u m fosso ent re a teoria e
a prt i ca que no pode ser t ranspost o seno ao preo de
eliminar do hori zont e da reflexo a lgica prpri a de uma
A Teori a Cr ti ca 9
das duas di menses f undament ai s da vida humana: o "co-
nhecer" e o "agir".
Nesse contexto, que significado pode ter a expresso
"Teoria Crtica"? Se se t rat a de teoria, de "como as coisas
so", como seria possvel criticar esse estado de coisas no
contexto da prpri a teoria? A crtica, nesse caso, no seria
exatamente at ri but o da prtica, da perspectiva de "como as
coisas deveri am ser"? E incluir a crtica na teoria no signi-
licaria, por t ant o, abdi car da tarefa de apresent ar "as coisas
como so", no significaria abandonar o conhecer em prol
tio agir simplesmente? E agir sem conhecer no ir resultar
em uma ao cega, que no leva em cont a "como as coisas
so"?
A Teoria Crtica enf r ent ou esses quest i onament os por
meio de uma crtica distino entre teoria e prtica assim
formul ada. E isso sem abdicar seja da idia de conhecer "as
coisas como so", seja de agir segundo "como as coisas
deveriam ser". A Teoria Crtica no se bat e nem por uma
ao cega (sem levar em cont a o conheci ment o) nem por
um conheci ment o vazio (que ignora que as coisas poder i am
ser de out r o modo) , mas quest i ona o sent i do de "teoria" e
de "prtica" e a prpri a distino entre esses dois momen-
tos. Caber idia mesma de "crtica" o papel de realizar
essa tarefa.
H cert ament e mui t os sentidos de "crtica", na prpri a
11 adio da Teoria Crtica. Mas o sent i do f undament al o
tle que no possvel most rar "como as coisas so" seno a
partir da perspectiva de "como deveri am ser": "crtica"
ignifica, antes de mais nada, dizer o que em vista do que
10 Marcos Nobre
ainda no mas pode ser. Note-se, por t ant o, que no se t rat a
de um pont o de vista utpico, no sent i do de irrealizvel ou
inalcanvel, mas de enxergar no mu n d o real as suas pot en-
cialidades melhores, de compr eender o que t endo em vista
o mel hor que ele t raz embut i do em si. Nesse pri mei ro
sentido, o pont o de vista crtico aquele que v o que existe
da perspectiva do novo que ai nda no nasceu, mas que se
encont ra em germe no pr pr i o existente.
Note-se, ainda, que no se t rat a t ampouco de abdicar
de conhecer, de dizer "como as coisas so", nem de abdicar
da tarefa terica de pr oduzi r prognsticos. Ocorr e que, do
pont o de vista crtico, aquele que separa ri gi dament e "como
as coisas so" de "como devem ser" s consegue dizer como
elas so parcialmente, por que no capaz de ver que "as
coisas como devem ser" t ambm uma part e de como as
coisas so; por que no consegue enxergar na realidade pre-
sente aqueles el ement os que impedem a realizao pl ena de
t odas as suas potencialidades. Eis o segundo sent i do f unda-
ment al da crtica: um pont o de vista capaz de apont ar e
anal i sar os obstculos a serem superados par a que as po-
t enci al i dades mel hor es present es no exi st ente possam se
realizar.
Do pont o de vista crtico, port ant o, a anlise do exis-
tente a part i r da realizao do novo que se i nsi nua no
existente, mas ainda no per mi t e a apresent ao de
"como as coisas so" enquant o obstculos realizao das
suas potencialidades melhores: apresenta o existente do
pont o de vista das opor t uni dades de emancipao relativa-
ment e domi nao vigente. A tarefa pri mei ra da Teoria
A Teori a Cr ti ca 11
(Crtica , por t ant o, a de apresent ar "as coisas como so" sob
.1 forma de tendncias presentes no desenvol vi ment o hist-
i ico. E o del i neament o de tais t endnci as s se t or na possvel
i partir da pr pr i a perspectiva da emanci pao, da realiza-
d o de uma sociedade livre e justa, de modo que "tendncia"
significa, ent o, apresentar, a cada vez, em cada moment o
histrico, os ar r anj os concretos t ant o dos potenciais eman-
t ipatrios quant o dos obstculos emanci pao.
V-se j que a Teoria Crtica tem sempr e como uma de
suas mais i mpor t ant es tarefas a pr oduo de um det ermi -
inido diagnstico do t empo presente, baseado em tendncias
r st i nt urai s do model o de organizao social vigente, bem
i oi no em situaes histricas concretas, em que se most r am
tanto as opor t uni dades e potencialidades para a emanci pa-
ro quant o os obst cul os reais a ela. Com isso, t em-se u m
diagnstico do t empo presente que permi t e ento, t ambm,
produo de prognst i cos sobre o r umo do desenvolvimen-
to histrico. Esses prognsticos, por sua vez, apont am no
apenas para a nat ureza dos obstculos a serem superados e
eu provvel desenvol vi ment o no t empo, mas para aes
a pazes de super-los.
Sendo assim, a teoria crtica no pode se conf i r mar
scnflo na prtica t r ansf or mador a das relaes sociais vi-
gentes. As aes a serem empr eendi das par a a superao
ttm obstculos emanci pao const i t uem-se em u m mo-
liiriilo ila pr pr i a t eori a. Nesse sentido, o curso hi st ri co
; i" ,u on t eci ment os como resul t ado das aes empr een-
dlilris l ont r a a est r ut ur a de domi nao vigente d a
nif dul,i para a conf i r mao ou refut ao dos prognst i cos
12 Marcos Nobre
da teoria, Note-se, ent ret ant o, que a prt i ca no significa
aqui uma mer a aplicao da t eori a, mas envolve embates
e conflitos que se cost uma caracterizar como "polticos" ou
"sociais". A prt i ca um mome nt o da teoria, e os resul t ados
das aes empr eendi das a part i r de prognst i cos tericos
t or nam- se, por sua vez, u m novo mat eri al a ser el aborado
pela teoria, que , assim, t ambm u m mome nt o necessrio
da prtica.
O esquema apresent ado at aqui, com as idias de
crtica, emanci pao, tendncias, diagnstico do t empo e
prognsticos, com sua relao t o peculiar ent re teoria e
prtica, o esquema que ser r et omado em cada moment o
desta exposio a part i r de agora. De modo que, apesar de
ai nda mui t o abstrata, essa pri mei ra caracterizao da Teoria
Crtica dever servir j par a delimitar mel hor o obj et o deste
livro: a "idia" de Teoria Crtica. Mas essa idia vem ligada
a uma det er mi nada t radi o de pensament o, a u m campo
terico que congrega diferentes autores, razo pela qual
necessrio comear por uma apresentao histrica dessa
t radi o intelectual.
Teoria Cr tica e Escola de Frankfurt
A Teoria Crtica. Essa expresso, tal como conheci da hoje,
surgiu pela pri mei ra vez como conceito em um texto de Max
Hor khei mer (1895-1973) de nome "Teoria Tradicional e
Teoria Crtica", de 1937. Esse texto foi publ i cado na Zeits-
chrift fr Sozialforschung [Revista de Pesquisa Social], que
\
A Teori a Cr ti ca 13
foi editada de 1932 at 1942 pelo pr pr i o Horkhei mer. Essa
revista era a publ i cao oficial do Inst i t ut f r Sozialfor-
schung [Instituto de Pesquisa Social], f undado em 1923 na
cidade alem de Fr ankf ur t am Mai n, e que foi presidido pelo
mesmo Hor khei mer de 1930 a 1958.
A explicao sobre a ori gem da expresso "Teoria Cr-
lica" j traz consigo uma grande quant i dade de dados e
elementos a serem analisados. V-se, por exemplo, que a
I eoria Crtica est ligada a u m Instituto, a uma revista, a um
pensador que estava no centro de ambos (Horkhei mer) e a
um per odo histrico mar cado pelo nazi smo (1933-45),
pelo stalinismo (1924-53) e pela Segunda Guerra Mundi al
(1939-45). A part i r de agora, esses el ement os histricos
decisivos aparecero neste livro medi da que for necessrio
i aracterizar a Teoria Crtica em cada um dos seus moment os.
O Inst i t ut o de Pesquisa Social nasceu da iniciativa do
economista e cientista social Felix Weil (1898-1975), apoia-
do decisivamente pelo t ambm economi st a Friedrich Pol-
iock (1894-1970) e por Horkhei mer. A doao inicial que
permi t i u a criao do Inst i t uto veio do pai de Weil, u m rico
cerealista estabelecido na Argent i na no final do sculo XIX.
Nao obst ant e isso, o objetivo pri nci pal do Inst i t ut o era o de
promover, em mbi t o universitrio, investigaes cientfi-
i as a part i r da obra de Kar l Mar x (1818-1883). V-se j que
ti I co ria Crtica, desde o incio, t em por referncia o mar -
usino e seu mt odo o model o da "crtica da economi a
poltica" ( j ust ament e esse o subt t ul o da obr a mxi ma de
Marx, O Capital).
14 Marcos Nobre
Nesse contexto, preciso l embrar que o marxi smo,
exceo da ent o Uni o Sovitica, era ent o margi nal i zado
na universidade em t odo o mundo, cont ando apenas com
alguns poucos professores. Por isso, o proj et o de Weil, Pol-
lock e Horkhei mer, ent o bast ant e jovens, teria de contar,
para ser aprovado, t ant o com uma negociao com o Mi -
nistrio da Educao al emo quant o com u m acordo com
a Universidade de Fr ankf urt ( f undada em 1914), de modo
a assegurar que o di ret or do Inst i t ut o tivesse t ambm uma
cadeira como professor. Al m disso, era necessrio encon-
t rar u m nome j estabelecido na esfera universitria para
dirigir o Instituto.
O pri mei ro i ndi cado foi o economi st a e socilogo Kurt
Albert Gerlach (1886-1922), que ent ret ant o faleceu antes
que fosse expedi da a aut ori zao oficial para o f unci ona-
ment o do Instituto. A part i r de 1924, a direo coube ao
hi st ori ador Carl Gr nber g (1861-1940). Ele j editava a
i mpor t ant e publ i cao Archiv fr die Geschichte des Sozia-
lismus und derArbeiterbewegung [Arquivo para a histria do
socialismo e do movi ment o operri o], que se t or nou ent o
a publicao oficial do Instituto. Assim, a histria do socia-
l i smo e o movi ment o operri o passaram a ser o obj et o
principal de pesquisa do pr pr i o Instituto, que se t or nou
r api dament e u m dos mais i mpor t ant es arquivos para pes-
quisa sobre esses temas.
1
Em 1928, Gr nber g ficou i mpossi bi l i t ado de prosse-
guir em suas funes de professor e de di ret or do Inst i t ut o
devi do a um acidente vascular cerebral. Depoi s de gestes e
negociaes com relao aos dois postos, Hor khei mer pas-
A Teori a Cr tica 15
sou a acumul ar essas duas funes, a par t i r de 1930. Com
i sso, uma nova etapa da vida do Inst i t ut o se i ni ci ouaque-
la que ir dizer respeito mais pr opr i ament e Teoria Crtica.
Hor khei mer t raou t odo u m novo pr ogr ama de inves-
ligao e de f unci onament o do Instituto. Lanou as bases
ile um t rabal ho coletivo interdisciplinar, uma grande ino-
vao para a poca. Tratava-se de dar um sent i do positivo
.10 apr of undament o da especializao no mbi t o das cin-
i ias humanas, em que disciplinas como a economi a, o
direito, a cincia poltica e a psicologia ganhavam cada vez
mais aut onomi a e i ndependnci a. Isto foi feito de modo a,
de um lado, valorizar a especializao em seus aspectos
positivos, e, de out ro, garantir uma certa uni dade para os
resultados das pesquisas em cada um desses r amos do co-
nheci ment o. E essa uni dade era dada j ust ament e pela refe-
lncia obr a de Marx, razo pela qual essa experincia
inovadora fi cou conheci da como "mat eri al i smo interdisci-
plinar". Esse foi, por t ant o, o pri mei r o sent i do da Teoria
< Irtica tal como teorizada por Hor khei mer nesse per odo:
I >rsquisadores de diferentes especialidades t rabal hando em
regime interdisciplinar e t endo como referncia comum a
li.idio marxista. E, para espelhar a pr oduo dessas pes-
111 isas, Hor khei mer f undou uma nova publicao, a j men-
tonada Zeitschrift fr Sozialforschung.
Para que se t enha uma idia da ampl i t ude desse projeto,
hasta citar alguns dos nomes envolvidos: em economi a,
ilcm de Friedrich Pollock, Henryk Gr ossmann (1881-1950)
r A rkadij Gur l and (1904-1979); em cincia poltica e direito,
I i.mz Neumann (1900-1954) e Ot t o Ki rchhei mer (1905-
16 Marcos Nobre
1965); na crtica da cul t ura, Theodor W. Ador no (1903-
1969) que viria post er i or ment e a ser o grande parceiro
de Hor khei mer na pr oduo em filosofia , Leo Lwenthal
(1900-1993) e, alguns anos mai s tarde, Walter Benj ami n
(1892-1940); em filosofia, alm de Horkhei mer, t ambm
Her ber t Marcuse (1898-1978); e em psicologia e psicanlise,
Erich Fr omm (1900-1980).
A Escola de Frankfurt. A simples meno dos nomes citados
ant eri oment e alguns bem mai s conheci dos do que out ros
j pode provocar a pergunt a: mas esse conj unt o de
aut ores no o que se cost uma agrupar sob o nome de Escola
de Frankfurt ? De fato, foi (e ai nda em alguns crculos)
mui t o c omum referir-se a esse coletivo como Escola de
Fr ankf ur t . Mas h uma srie de probl emas nessa denomi -
nao. Em pr i mei r o lugar, a idia de "escola" passa a i mpres-
so de que se t rat a de u m conj unt o de aut ores que partilha-
vam i nt egral mente uma dout r i na comum, o que no o
caso. Ter a obra de Mar x como referncia, como hori zont e
comum, no significa part i l har dos mesmos diagnsticos e
das mesmas opinies. Pelo cont rri o, o desenvolvimento da
Teoria Crtica most ra que havia acirradas divergncias entre
os col aboradores do Instituto, no s por que a prpri a obr a
de Mar x se presta a i nt erpret aes divergentes, mas t ambm
pelo fat o de que as manei ras de se utilizar de Mar x para
compr eender o t empo presente so diversas.
Em segundo lugar, h o pr obl ema de saber quais aut o-
res devem ser includos ou excludos desse conj unt o. Tam-
bm no h critrio que t enha se demonst r ado eficaz, j que
A Teori a Cr ti ca 17
h grande divergncia de diagnsticos ent re os col aborado-
res menci onados, para no falar daqueles que no f or am
aqui l embrados. Se for t omada a colaborao na Revista do
Instituto como critrio, t em-se j o probl ema, por exemplo,
de incluir nessa classificao aut ores que no t m como
horizonte de seus t rabal hos a obra de Marx. Talvez o critrio
mais razovel fosse o do per t enci ment o ao Instituto. Mas,
m! esse critrio pode ser aplicvel nos pri mei ros anos da
dcada de 1930, ele se t or na post eri orment e de difcil veri-
h< ao, j que as sucessivas mudanas de sede do Inst i t uto
durant e o exlio i mpost o pelo nazi smo alteram bast ante a
sua composi o, o que t ambm ocorreu no per odo poste-
I ior a 1950, quando o Inst i t ut o volta a f unci onar em solo
.demo.
Sendo assim, o que significa ent o essa poderosa eti-
jiu la "Escola de Fr ankf ur t " e qual sua relao com a Teoria
i ilica? Para compr eender isso, necessrio ret omar a his-
loi i-i tio Inst i t ut o e a experincia histrica do nazismo.
A iiles de mais nada, preciso l embrar que, ao lanar as bases
ii> materialismo interdisciplinar, em seu discurso de posse
Mit direo do Instituto, em 1931, Hor khei mer j t i nha
diante de si a vertiginosa ascenso do movi ment o nazista.
Nesse c ontexto, desnecessrio l embrar os riscos que corria
um Instituto decl aradament e marxi st a e compost o em sua
II in.i. mai ori a por pesquisadores de ori gem judaica. E o
( p i i h i i di ant e da real possibilidade da t omada do poder por
Adull 11tler fez com que o Inst i t ut o inaugurasse, naquel e
mu mo ano, um escritrio em Genebra, na Sua, e t ransfe-
iMf o sen capital para a Hol anda. Desse modo, quando
18 Marcos Nobre
Hitler t orna-se chanceler do governo alemo, em janeiro de
1933, o Inst i t ut o t ransfere sua sede admi ni st rat i va quase que
i medi at ament e par a Genebr a e abandona as instalaes em
Frankfurt .
De fato, Hor khei mer acabou exonerado de suas f un-
es na Universidade j em abril de 1933 e as instalaes do
Inst i t ut o em Frankfur t f or am depredadas pelos nazistas. A
edi t ora alem da revista i nf or mou Hor khei mer de que no
poderi a mais public-la. Assim comeou o l ongo exlio do
Inst i t ut o e de seus pesquisadores, que iria dur ar at 1950,
quando de sua rei naugurao em Frankfurt .
Com a solidariedade de intelectuais franceses e ingle-
ses, o Inst i t ut o abre pequenos escritrios em Londres e em
Paris e passa a editar a revista na capital francesa. Em busca
de uma nova sede para o Instituto, Hor khei mer recebe uma
ofert a mui t o favorvel da Universidade de Col umbi a, em
Nova York, o que permi t e, j em 1934, a transferncia das
instalaes. At o incio da Segunda Guerra Mundi al , em
1939, grande part e dos col aboradores do Inst i t ut o emi gra
para os Estados Unidos. Com a t omada de Paris pelo exr-
cito nazista, em 1940, mai s uma vez a edio da revista
i nt errompi da, sendo r et omada apenas em 1942, em Nova
York, com a publicao dos seus dois l t i mos nmer os, sob
o t t ul o em ingls de Studies in Philosophy and Social Science
[Estudos de filosofia e cincia social].
Nesse contexto, preciso enfatizar que a etiqueta "Es-
cola de Fr ankf ur t " surgir apenas na dcada de 1950, aps
o r et or no do Inst i t uto Al emanha. Trata-se, por t ant o, de
uma denomi nao retrospectiva, quer dizer, que no t i nha
A Teori a Cr ti ca 19
sido utilizada at ent o e com a qual se reconst rui u em u m
det er mi nado sentido a experincia anterior. Essa caracters-
tica do rt ul o "Escola de Fr ankf ur t " t em mui t as implica-
es. Em pr i mei r o lugar, significa que o sent i do da expres-
so "Escola de Fr ankf ur t " ser em grande part e mol dado
por alguns dos pensadores ligados experincia da Teoria
Crtica, em part i cul ar aqueles que r et or nar am Al emanha
aps o final da Segunda Guerra Mundi al , j que mui t os
permaneceram nos pases em que encont r ar am abrigo da
perseguio nazista. Alm disso, t ero mais influncia na
mol dagem do rt ul o "Escola de Fr ankf ur t " aqueles intelec-
tuais que t i veram posies de direo no ps-guerra, t ant o
no Inst i t uto como na Universidade. Nesse sentido, Hor khei -
mer a figura central desse movi ment o, j que no apenas
permanece na direo do Institut o em sua rei naugurao
cm Frankfur t como t orna-se reitor da Universidade. A seu
lado, como nt i mo colaborador, est Theodor W. Adorno,
i| ue o sucedeu na direo do Inst i t ut o em 1958.
Em segundo lugar, o rt ul o "Escola de Frankfurt " teve
um i mpor t ant e papel para fortalecer e amplificar as inter-
venes (pri nci pal ment e de Ador no e de Horkhei mer ) no
debate pbl i co al emo das dcadas de 1950 e 1960. Era
prement e e indispensvel uma discusso sobre as causas e
os efeitos da experincia nazi s t acom t odas as consequn-
i ias para a Repblica Federal Al em que surgia e u m
debate sobre a nat ureza do ent o chamado "bloco sovitico"
(ao qual pert enci a uma part e da Al emanha dividida aps a
guerra, a Repblica Democrt i ca Alem). Alm disso, havia
que se t ent ar compreender a f or ma do capitalismo sob o
20 Marcos Nobre
ar r anj o social que se convenci onou chamar de "Estado de
bem-est ar social", as novas f or mas de pr oduo industrial
da cul t ura e da arte, a nat ureza das novas f or mas de controle
social e dos novos mt odos quantitativos de pesquisa social,
o papel da cincia e da tcnica, alm do t rabal ho em t or no
de t emas clssicos da filosofia e da teoria social.
Esses so alguns dos pri nci pais t emas do que se con-
venci onou chamar de "Escola de Frankfurt". Como ser
explicado adiante, este livro no t rat a em detalhe desses
t emas, mas concentra-se em apresentar a idia de uma
Teoria Crtica. Seja como for, pode-se j concluir que Escola
de Fr ankf ur t designa antes de mais nada uma f or ma de
interveno poltico-intelectual (mas no part i dri a) no
debat e pbl i co alemo do ps-guerra, t ant o no mbi t o
acadmi co como no da esfera pbl i ca ent endi da mais am-
pl ament e. E uma f or ma de i nt erveno de grande i mpor -
tncia e conseqncias, no apenas para o debate pblico e
acadmi co alemo. Compreende-se, port ant o, por que os
nomes de Hor khei mer e Ador no so sempre l embrados
como pert encent es Escola, ao passo que os demai s com-
ponent es vari am mui t o.
Nesse sentido, a riqueza da experincia da Teoria Cr -
tica at a dcada de 1950 permi t i u que se lanasse mo de
t emas e desenvolvimentos tericos os mais diversos, por
vezes at mesmo conflitantes ent re si, ao mesmo t empo em
que se afirmava perfazerem uma uni dade dout ri nri a. Com
isso, interesses tericos mui t as vezes divergentes puder am
encont rar ressonncia em pelo menos u m dos aut ores da
Escola e afirmar, assim, sua referncia a um supost o "ncl eo
A Teori a Cr ti ca 21
terico comum", legitimando, com isso, sua pretenso de
pertena Escola. Esse tipo de pr ocedi ment o levou mui t as
vezes a que, par t i ndo de uma det er mi nada obra de det ermi -
nado autor, fossem at ri bu dos aos out ros "component es" da
Escola aquela mesma posio terica. Da mesma forma,
objees dirigidas a u m ni co "component e" afetavam o
conj unt o da Escola.
Aqui parece residir j ust ament e o poder do rt ul o "Es-
cola de Frankfurt ": sua fora est exat ament e em que ine-
xiste a uni dade, ao mes mo t empo em que a uni dade
afi rmada com t odo vigor a cada vez. No h mais sentido,
ent ret ant o, em prosseguir r eaf i r mando uma uni dade dou-
trinria inexistente. por isso que ret omar a expresso
original "Teoria Crtica" significa, ent re out ras coisas, de-
marcar u m campo terico que valoriza e estimula a pl ura-
lidade de model os crticos em seu interior. Nesse sentido, a
lscola de Fr ankf ur t diz respeito a um det er mi nado momen-
to e a uma det ermi nada constelao da Teoria Crtica. A
liscola de Fr ankf ur t como denomi nao poltico-intelectual
j cumpr i u e com louvor seu papel histrico. Cabe
hoje levar adi ant e o proj et o crtico sob novas formas.
A idia de uma Teoria Cr tica
Pelo exposto at aqui, Teoria Crtica designa pelo menos trs
coisas: um campo terico, um gr upo especfico de intelec-
tuais filiados a esse campo terico e inicialment e reuni dos
cm t or no de uma instituio det er mi nada (o Instituto de
22 Marcos Nobre
Pesquisa Social) e a Escola de Fr ankf ur t . Como j justificado
h pouco, o interesse deste livro concent ra-se nos dois
pri mei ros sentidos de Teoria Crtica. O que significa, entre-
t ant o, falar em u m campo terico det ermi nado? Para que
isso seja possvel, necessrio apresent ar os critrios a part i r
dos quais possvel demarcar as front ei ras desse campo,
quer dizer, o espao terico dent ro do qual aqueles pesqui-
sadores que a ele se filiam desenvolvem suas investigaes.
Nos escritos de Hor khei mer da dcada de 1930, o campo da
Teoria Crtica t em como critrio de demarcao f undamen-
tal o seguinte: pr oduz Teoria Crtica t odo aquele que desen-
volve seu t rabal ho terico a part i r da obra de Marx.
Seguem-se da pelo menos duas caractersticas da Teo-
ria Crtica. Em pri mei ro lugar, ela designa um campo que
j existia previ ament e sua concei t uao pelo pr pr i o
Horkhei mer, isto , o campo do marxi smo. Nesse pri mei ro
sentido, Hor khei mer pret ende ter conceitualizado os ele-
ment os tericos f undament ai s que di st i nguem o campo do
mar xi smo de out ras concepes tericas. o que se pode
chamar de Teoria Crtica em sentido ampl o.
Em segundo lugar, Hor khei mer d a sua verso desses
el ement os tericos fundament ai s, quer dizer, apresenta t an-
t o a sua i nt erpret ao especfica do pensament o de Mar x
como pr ocur a utilizar-se desses parmet ros interpretativos
par a analisar o moment o histrico em que se encont ra. Di t o
de out r a manei ra, Hor khei mer apresent a a sua conceitua-
o da Teoria Crtica. E o que se pode chamar de Teoria
Crtica em sentido restrito.
A Teori a Cr ti ca 23
Assim, cada i nt erpret ao dos pri nc pi os ori ent adores
do campo da Teoria Crtica e cada t ent at i va de se utilizar
deles para a compr eenso do mome nt o presente a part i r
dos escritos de Hor khei mer da dcada de 1930 constitui-se
em Teoria Crtica em sent i do restrito. Esse sentido apare-
cer t ambm neste livro na apresent ao de modelos de
Teoria Crtica que t m essa concei t uao de Hor khei mer
como referncia central. E, como j i ndi cado na "I nt r odu-
o", t odo model o crtico t raz consigo um det er mi nado
diagnstico do t empo present e e u m conj unt o de prog-
nst i cos de possveis desenvol vi ment os, baseados em
t endnci as di scer n vei s e m cada mo me n t o hi st ri co
det er mi nado.
Como se pode ver, caracterstica f undament al da
Teoria Crtica (t ant o em sent i do ampl o como em sent i do
restrito) ser per manent ement e renovada e exercitada, no
podendo ser fixada em um conj unt o de teses imutveis. O
i| ue significa dizer, igualmente, que t omar a obra de Mar x
como referncia pri mei ra da investigao no significa
tom-la como uma dout ri na acabada, mas como um con-
junto de probl emas e de pergunt as que cabe atualizar a cada
vez, segundo cada constelao histrica especfica. Nesse
sentido, par a finalizar esta seo, sero esquemat i cament e
apresentadas al gumas das formul aes de Mar x que so
fundament ai s para a conceituao de uma Teoria Crtica, e
cm seguida os pri nc pi os f undament ai s que demar cam o
i iimpo da Teoria Crtica em sentido ampl o, com base t ant o
nos textos de Mar x quant o nos escritos de Hor khei mer da
dcada de 1930.
24 Marcos Nobre
Na seo seguinte, ser apresent ado o model o crtico
i naugural const ru do por Hor khei mer nesse per odo, com
especial nfase no j menci onado art i go "Teoria Tradicional
e Teoria Crtica". Ai nda que as formul aes de Hor khei mer
nesse texto devam mui t o aos t rabal hos do pensador mar -
xista Georg Lukcs (1885-1971), aut or do livro seminal
Histria e conscincia de classe (1923), essa i mpor t ant e refe-
rncia no ser explorada aqui, buscando-se soment e res-
saltar o v ncul o dos conceitos el aborados por Hor khei mer
com os el ement os apresent ados da obr a de Marx.
Nesse pont o surge o sent i do preciso em que ser utili-
zada pr opr i ament e a expresso "Teoria Crtica" neste livro:
t odo model o crtico const ru do a part i r do model o apresen-
t ado por Hor khei mer em seu texto de 1937. Nesse sentido,
se a obra de Mar x a referncia f undament al para a f or mu-
lao do model o de 1937, mui t os dos model os crticos
f or mul ados post eri orment e seja por out ros autores, seja
pelo pr pr i o Hor khei mer t ero por referncia f unda-
ment al no a obra de Mar x di ret ament e, mas os escritos de
Hor khei mer da dcada de 1930.
Na seo subsequent e, sero apresent ados os el emen-
tos mai s gerais de alguns desses model os de Teoria Crtica
que t m como referncia f undament al o model o desenvol-
vi do por Hor khei mer na dcada de 1930. Isso no significa
sempre bom reafi rmar que o campo mais geral da
Teoria Crtica se reduza a eles, mas sim que eles se consti-
t uem naqueles model os crticos mai s conhecidos no inte-
rior da Teoria Crtica em sentido restrito aqueles que t m
como referncia f undament al os escritos de Hor khei mer da
A Teori a Cr ti ca 25
dcada de 1930. Seguem-se a essa seo algumas breves
i onsideraes finais.
A matriz da Teoria Crtica: a anlise do capitalismo por Karl
Marx. O capitalismo uma f or ma histrica que se caracte-
i iza por organizar t oda a vida social em t or no do mercado,
lm contraste com todas as f or mas histricas anteriores, o
11 icrcado capitalista no si mpl esment e u m el ement o social
entre mui t os out ros, mas o cent r o par a o qual conver-
gem t odas as at i vi dades de pr oduo e de r epr oduo da
sociedade.
Por isso, a tarefa pri mordi al da Teoria Crtica desde sua
primeira formul ao na obra de Mar x a de compreender
ti natureza do mercado capitalista. Compr eender como se
estrutura o mer cado e de que manei ra o conj unt o da socie-
dade se organiza a part i r dessa est rut ura significa, simulta-
neamente, compreender como se distribui o poder poltico
e a riqueza, qual a f or ma do Estado, que papis desempe-
nham a famlia e a religio, e mui t as out ras coisas mais.
Di ferent ement e de t odas as f or mas histricas anterio-
res, no capitalismo t odo e qual quer art efat o um pr odut o
para ser t rocado. a lgica da troca que det ermi na o com-
port ament o dos agentes no mercado, e no quai squer ou-
11 as motivaes como valores, crenas religiosas ou deter-
minaes culturais. No se pret ende com isso dizer que no
haja valores e crenas, mas sim que, no mercado, eles devem
se subordi nar lgica da troca mercantil.
A fim de compreend-l a, preciso comear a anlise
por sua uni dade elementar, a mercadori a. Dizer que o mer -
26 Marcos Nobre
cado o cent ro em t or no do qual se organiza o conj unt o da
sociedade capitalista significa ent o dizer que, potencial-
ment e, t odo e qual quer bem deve ter um det er mi nado valor,
quer dizer, que t odo bem deve poder ser aprecivel, deve
poder assumi r a f or ma de uma mercadori a.
Foi assim por exempl o que, pela pri mei ra vez na hist-
ria, o t rabal ho huma no t or nou- se uma mercadori a. Mas,
nesse caso, o que que se vende em troca de u m salrio?
Mar x diz que no o t rabal ho enquant o tal que vendi do
mas a fora de trabalho, isto , as capacidades fsicas e
ment ai s do homem de utilizar i nst r ument os e mqui nas
para produzi r mercadori as. Isso significa, ent ret ant o, que a
fora de t rabal ho estava separada dos i nst r ument os de t ra-
bal ho que lhe per mi t i am produzi r bens; essa separao
est rut ural uma caracterstica da f or ma histrica do capi-
talismo.
Para compreender essa separao histrica do home m
de seus i nst r ument os de trabalho, necessrio inicialmente
l embrar o vertiginoso desenvol vi mento tecnolgico que
acompanha o capitalismo. A capacidade de controle dos
f enmenos naturais, os aument os de produt i vi dade do t ra-
bal ho, o desenvol vi ment o da i nfraest rut ur a de t ransport es
e de comuni caes so sempre crescentes sob o capitalismo.
Isso significa, ent ret ant o, que os i nst r ument os de t rabal ho
t or nam- se t ambm cada vez mai s sofisticados e complexos,
o que exige, por sua vez, quant i dades cada vez mai ores de
capital para se adqui ri rem as mqui nas e equi pament os
adequados a u m mer cado competitivo.
A Teori a Cr ti ca 27
Em sua ori gem, esse vertiginoso e cont nuo progresso
lcnico s foi possvel por que a riqueza da sociedade estava
acumul ada nas mos de alguns poucos que, ao empregarem
essa riqueza na aquisio de equi pament os e mqui nas
recm-inventados, fi zeram dela capital, t or nando- se eles
prpri os capitalistas. De out r o lado, a part i r do final do
sculo XV t em incio na Inglaterra o l ongo e decisivo pr o-
cesso do "cercament o" a expresso sistemtica de cam-
poneses de suas terras. Essa massa popul aci onal viu-se ent o
obrigada a mi grar para as cidades, onde, por sua vez, encon-
11 aram a novi dade das grandes indstrias, com sua pr odu-
o em larga escala e suas mqui nas. Despoj ada da terra e
de seus i nst r ument os de trabalho, s restava a essa i mensa
massa de despossu dos vender o ni co bem reconheci do
pelo mercado de que ai nda di spunha: a sua capacidade de
operar as novas mqui nas e os novos equi pament os, em
outras palavras, a sua fora de trabalho.
Ao vend-la, esses grandes cont i ngent es t or nar am- se
proletrios. No se trata mais, por t ant o, da famlia campo-
nesa que di spunha dos meios para produzi r a sua prpri a
mi Iisistncia, mas de t rabal hadores ur banos que vendem sua
fora de t rabal ho em troca de um salrio. E, ao utilizarem o
salrio recebido na compr a de mercadori as para sua prpri a
sobrevivncia, os proletrios criam t ambm o mercado in-
Iri no para o pr pr i o capital industrial.
Com isso, analisa Marx, a sociedade capitalista divide-
se est rut ural ment e em duas classes, assim caracterizadas
pela posio que ocupam por cada uma delas no processo
produtivo: capitalistas so aqueles que det m os meios de
28 Marcos Nobre
produo e que os pem em f unci onament o com a fora de
t rabal ho que compram-, e proletrios so aqueles que vendem
sua fora de t rabal ho ao capitalista em troca de um salrio.
Al m de sua f uno de troca, o mer cado funci ona
t ambm como u m mecani smo de aprofundamento das de-
sigualdades, pois, segundo as anlises de Mar x do funci ona-
ment o da economi a capitalista, a distribuio de bens se-
gundo a diviso em classes tende a pr oduzi r u m pol o de
intensa acumul ao de riqueza e um out r o pol o de crescente
pobreza.
No dessa manei ra, ent ret ant o, que o mer cado surge
na sociedade capitalista. Ele aparece como uma instituio
neut ra, cuj a lgica da troca de mercadori as de valores iguais
no favorece nem desfavorece ni ngum em particular, mas
f unci ona segundo regras que valem para t odos, i ndepen-
dent ement e de sua posio social, poltica e econmi ca. O
mer cado capitalista aparece como aquele moment o da vida
social em que a troca de mercadori as de igual valor segundo
regras que valem para t odos t ambm por isso uma troca
justa. Nesse sentido, ele pr omet e ser a instituio que garan-
te e pr omove os ideais da sociedade capitalista: a liberdade
e a igualdade para todos.
Marx, em acordo com a chamada economi a poltica
clssica inglesa essencialmente Adam Smi t h (1723-1790)
e David Ricardo (1772-1823) afi rma que, no mercado, as
mercadori as so de fat o vendidas pelo seu valor. Mas diz
t ambm que o mercado, em lugar de pr omover a igualdade
e a liberdade que promet e, per pet ua e apr of unda desigual-
dades que esto na origem do pr pr i o capitalismo, acirran-
A Teori a Cr ti ca 29
do as diferenas de poder e de ri queza ent re capitalistas e
proletrios. Mar x most r a que h uma diferena entre o
salrio que o prol et ri o recebe pela utilizao de sua fora
de t rabal ho pelo capitalista (que corresponde ao valor de
mercado da fora de trabalho) e o valor que a fora de t rabal ho
capaz de produzi r (que se agrega mercadori a produzi da).
Essa diferena ent re o que a fora de t rabal ho "vale no
mercado" e o valor mai or que ela capaz de produzi r
(chamada por Mar x de "mais-valia") apropri ada privada-
mente pelo capitalista sob a f or ma do lucro. E, para Marx,
enquant o houver lucro, no possvel realizar a liberdade e
,i igualdade promet i das pelo capitalismo.
certo que esse mecani smo per manent e e cotidiano da
promessa da liberdade e da igualdade sob relaes sociais
Capitalistas real e efetivo, mol dando de fato a conscincia
l.into de capitalistas como de proletrios. Mas o reconheci-
mento dessa iluso real produzi da pelo sistema no deve
nbscurecer o fato de que, apesar disso, a promessa de igual-
dade e de liberdade est t ambm de al gum modo inscrita
Hessa f or ma de organizao social. E no apenas isso, o
i .ipitalismo a pr i mei r a formao histrica que desenvolve
de manei ra t o vertiginosa a tcnica e a pr oduo que t or na
de fato possvel a realizao da l i berdade e da igualdade,
l i nda que sua efetiva realizao dependa, para Marx, da
destruio dessa f or ma histrica de pr oduo. E as anlises
de Marx conduzem ao prognst i co de que o capitalismo
tende a essa destruio, t ant o por sua pr pr i a lgica i nt erna
m > nt radi t ria Mar x conclui que, com o t empo, a taxa de
Itiu o t ende a cair est rut ural ment e, o que viria a provocar o
30 Marcos Nobre
colapso da lgica de f unci onament o do sistema como
pela ao consciente do prol et ari ado cont ra o poder do
capital. Nesse sentido, a dest rui o do capitalismo e a ins-
t aurao de uma sociedade de livres e iguais uma tendncia
real present e no pr pr i o sistema.
Para Marx, por t ant o, a liberdade e a igualdade s po-
dero ser realizadas com a abolio do capital. Mas i mpor -
t ant e not ar que o pr pr i o capitalismo que si mul t anea-
ment e pr omet e uma sociedade livre e igual e, no seu funci o-
nament o concreto, r ouba a cada vez a possibilidade dessa
realizao.
Di t o de out r a manei ra, a realizao da liberdade e da
igualdade depende de uma revoluo que venha a abolir o
capital e sua f or ma social. Essa revoluo obra do proleta-
riado organi zado como classe, vale dizer, do prol et ari ado
consciente de que a realizao da liberdade e da igualdade
depende da abolio do pr pr i o capital. Essa emancipao
do prol et ari ado em relao domi nao capitalista, entre-
t ant o, encont ra obstculos concretos. A conscientizao do
prol et ari ado como classe u m processo que t em de superar
t ant o as iluses reais produzi das pelo capitalismo como a
represso dos movi ment os emanci pat ri os pelo poder po-
ltico, econmi co e social do capital.
Os princpios fundamentais da Teoria Crtica. Dessa sucinta
recapitulao de alguns el ement os da anlise do capitalismo
feita por Mar x j possvel enunci ar os pri nc pi os f unda
ment ai s que di st i nguem a Teoria Crtica (em sentido anv
pi o) de out ras correntes de pensamento, demarcando, assim,
A Teori a Cr ti ca 31
0 seu campo. O esforo analtico de Mar x est f undamen-
talmente na perspectiva da superao da domi nao capi-
talista e ancor ado na realizao da liberdade e da igualdade,
que, sob o capitalismo, per manecem apenas aparent ement e
1 cais. Trata-se, por t ant o, para Marx, de dest rui r essa aparn-
c ia por mei o da efetiva realizao da l i berdade e da igualda-
de. Nesse sentido, essa perspectiva de emanci pao no
um ideal, mer ament e i magi nado pel o terico, mas uma
possibilidade real, inscrita na prpri a lgica social do capi-
talismo. Mas, se assim, t ambm a realizao dessa possibi-
lidade concreta da emanci pao, da const ruo de uma
iociedade de mul heres e homens livres e iguais, no obra
dn teoria que a descortina, mas da prtica t r ansf or mador a
que a t or na real. Assim, a Teoria Crtica s se confi rma na
Imtica t r ansf or mador a das relaes sociais vigentes.
Isso no significa, ent ret ant o, que haj a um abandono
da leoria em prol da prtica. certo que a Teoria Crtica, em
sua formul ao original em Marx, est dirigida para e pela
pi.itica t r ansf or mador a. Mas isso no quer dizer que seja
nu nos i mpor t ant e a anlise das est rut uras sociais reais em
(JUC esto inscritos t ant o os potenciais de emanci pao
quant o os obstculos concretos sua efetivao. Pelo con-
t t lio, o del i neament o de tendncias do desenvol vi ment o
histrico ganha uma ext raordi nri a i mport nci a: t ant o com
(fliH'U> ao diagnstico do t empo presente a part i r da lgica
do i apitai lgica que est rut urant e do conj unt o da
st ti iedade capitalista como com relao aos prognst i cos
jui podem ser deri vados a part i r desse diagnstico. com
h i e n a s tendncias est rut urai s da lgica social do capitalis-
32 Marcos Nobre
mo e no exame dos ar r anj os histricos concretos em que
essa lgica se expressa com base no diagnstico do
pr esent e, por t a nt o que se de s e nha m as per spect i vas
do sent i do do desenvol vi ment o histrico os prognst i -
cos, em suma que or i ent am o sent i do das aes t ransfor-
mador as por empreender.
Sendo assim, a teoria t o i mpor t ant e par a o campo
crtico que o seu sent i do se altera por inteiro: no cabe a ela
limitar-se a dizer como as coisas funcionam, mas sim anali-
sar o f unci onament o concreto delas luz de uma emanci-
pao ao mesmo t empo concretamente possvel e bloqueada
pelas relaes sociais vigentes. Com isso, a prpri a pers-
pectiva da emanci pao que t or na possvel a teoria, pois
ela que abre pela pri mei ra vez o cami nho para a efetiva
compreenso das relaes sociais. Sem a perspectiva da
emanci pao, permanece-se no mbi t o das iluses reais
criadas pela prpri a lgica i nt erna da organizao social
capitalista. Dito de out r a manei ra, a orientao para a
emancipao o que permi t e compreender a sociedade em
seu conj unt o, que permi t e pela pri mei ra vez a constituio
de uma teoria em sent i do enftico. A ori ent ao para a
emanci pao o primeiro princpio f undament al da Teoria
Crtica.
Se, port ant o, a ori ent ao para a emanci pao est na
base da teoria, como o que confere sent i do ao t rabal ho
terico, a teoria no pode se limitar a descrever o mundo
social, mas t em de exami n-l o sob a perspectiva da distncia
que separa o que existe das possibilidades mel hores nele
embut i das e no realizadas, vale dizer, luz da carncia do
A Teori a Cr ti ca 33
que frent e ao mel hor que pode ser. Nesse sentido, a ori en-
tao para a emanci pao exige que a teoria seja expresso
de um comportamento crtico relativamente ao conheci men-
to pr oduzi do sob condies sociais capitalistas e prpri a
realidade social que esse conheci ment o pret ende apreender.
Esse compor t ament o crtico o segundo princpio f unda-
mental da Teoria Crtica.
Como no caso do pri mei ro princpio, t ambm o com-
por t ament o crtico com relao ao conheci ment o e reali-
dade social no algo que o terico i nt r oduz "de fora", mas
sim um pri nc pi o inscrito no real. Pois esse compor t ament o
exat ament e aquele que caracteriza a posio social do
proletariado no processo de pr oduo social, vale dizer, a
sua posio de classe. Esse pont o de vista per mi t e identificar
as tendncias est rut urai s do desenvol vi mento histrico e
seus arranj os concretos da perspectiva das potencialidades e
dos obstculos emanci pao.
Esses dois pri nc pi os f undament ai s da Teoria Crtica
herdados de Marx, ao mesmo t empo em que caracterizam
o campo crtico, t ambm demar cam negat i vament e esse
campo, j que excluem t ant o aqueles tericos que cons-
troem model os abst rat os de sociedades perfeitas (e que
nessa vertente intelectual so chamados de utpicos ou
110 rmativistas) como aqueles que pr et endem reduzir a tare-
la da teoria a uma descrio neut ra do f unci onament o da
iociedade (chamados de positivistas). Os dois princpios
most ram a possibilidade de a sociedade emanci pada estar
inscrita na f or ma at ual de organizao social como uma
tendncia real de desenvolvimento, cabendo teoria o exa-
34 Marcos Nobre
me do existente no para descrev-lo si mpl esment e, mas
para identificar e analisar a cada vez os obstculos e as
potencialidades de emanci pao presentes em cada mo-
ment o histrico.
A Teoria Cr tica segundo Max Horkheimer
Pelo que foi apresent ado at aqui, uma anlise de "Teoria
Tradicional e Teoria Crtica" t em de most rar de que manei ra
esse texto de Hor khei mer i nt erpret a e f or mul a os dois pri n-
cpios f undament ai s da Teoria Crtica e como se utiliza deles
para fornecer um diagnstico do t empo presente. Sendo
assim, h que exami nar como Hor khei mer f or mul a nesse
texto o pri nc pi o do comportamento crtico relativamente ao
conheci ment o pr oduzi do sob condies sociais capitalistas
e prpri a realidade social que esse conheci ment o pret ende
apreender com base no pri nc pi o da orientao para a eman-
cipao que caract eri za mai s ampl ament e a perspect i va
crtica.
Nesse sentido, o conheci ment o crtico ope-se a t odo
conheci ment o que no tiver sido pr oduzi do a part i r desses
dois pri nc pi os f undament ai s. Mas, como se ver, no se
t rat a si mpl esment e de rejeitar o conheci ment o que no
di spe da perspectiva da emanci pao em sua produo;
ao cont rri o, trata-se, para a perspectiva crtica, de most r ar
pr i mei r ament e por que ele parcial, par a ent o buscar
integr-lo, sob nova f or ma, ao conj unt o do conheci ment o
crtico. E, como est ampado no pr pr i o t t ul o do artigo,
A Teori a Cr ti ca 35
esse conheci ment o pr oduzi do sob condi es sociais capi-
talistas denomi nado por Hor khei mer "Teoria Tradi-
cional".
A concepo tradicional de teoria. A concepo moder na de
i incia e de teoria cientfica estabeleceu-se como um con-
junto de pri nc pi os abstratos a part i r dos quais se t or na
possvel f or mul ar leis que explicam a conexo necessria
dos f enmenos nat urai s segundo relaes de causa e efeito.
() cientista procura aplicar os princpios e leis a f enmenos
particulares, f or mul ando hipteses que se const i t uem em
previses sobre o que t em necessariament e de ocorrer a
partir de det ermi nadas condies iniciais. A ocorrncia do
l enmeno previsto pela teoria significa a confi rmao da
previso e, nesse sentido, a confi rmao de uma prpri a
teoria. Caso cont rri o, passa a ser necessrio rever as condi -
es do experi ment o de verificao, ou algum aspecto da
prpri a teoria.
Ent endi da assim, a teoria cientfica coloca como tarefa
11 n icamente o estabeleciment o de vnculos necessrios ent re
os fenmenos nat urai s a part ir de leis e princpios mais
gerais. Com isso, o cientista aquele que observa os fen-
menos e estabelece conexes objetivas ent re eles, quer dizer,
conexes que se do na natureza i ndependent ement e de
qualquer i nt erveno de sua parte. Para t ant o, t em de abs-
i i .1 ir das qualidades concretas dos obj et os e do sentido que
possam ter no cont exto das relaes sociais, para conside-
l los uni cament e como elementos de uma cadeia causai
necessria. Essas so as caractersticas mai s gerais do que
36 Marcos Nobre
Hor khei mer denomi na concepo tradicional de teoria, a
Teoria Tradicional.
O que acontece, ent ret ant o, quando esse model o de
cincia t ranspost o par a o est udo do home m em sociedade,
par a as hoj e denomi nadas "cincias humanas"? Como
possvel, nesse caso, mer ament e observar os f enmenos e
estabelecer conexes causais objetivas entre eles, quando o
obj et o em quest o (as relaes sociais) um pr odut o da ao
humana? Alm disso, o que significa ent o u m "f enmeno"
social? Pode- se t r at - l o c omo se fosse u m event o da
nat ureza?
Para que seja possvel essa t ransposi o do model o
tradicional de teoria das cincias nat urai s para as cincias
humanas, t orna-se necessrio antes de mais nada separar o
cientista social do agente social que ele t ambm , ou seja,
diferenciar o observador de relaes sociais do membr o de
uma sociedade concreta. Para t ant o, preciso distinguir
ri gi dament e a observao da sociedade de uma avaliao da
observao feita, ou seja, necessrio separar, de um lado,
a descrio de como f unci ona a sociedade, e de outro, os
valores prpri os a cada cientista como agente social.
Di t o de out ra manei ra, se, no caso do est udo da socie-
dade humana, o sujeito (o cientista) t ambm simultanea-
ment e o objet o da investigao (como agente social), ou
seja, se a sociedade resultado da ao humana de que
part i ci pa aquele que pret ende ent end-l a, preciso separar
essas duas facetas do mesmo i ndi v duo de modo que no se
conf undam ou mi st ur em. Para isso, necessrio estabelecer
u m mtodo cientfico ( manei ra das cincias naturais) que
A Teori a Cr tica 37
impea que o cientista social, consciente ou inconsciente-
mente, dirija a investigao dos f enmenos sociais para uma
mera confi rmao de seus valores pessoais.
Em out ras palavras, esse mt odo cientfico t em de
separar ri gi dament e o que do dom ni o do conhecimento e
0 que pert ence ao dom ni o da ao. Dessa perspectiva t ra-
dicional de teoria, no cabe ao cientista qual quer valorao
do objeto est udado, mas to soment e a sua classificao e
explicao segundo os parmet ros neut r os do mt odo.
Na concepo tradicional, port ant o, a teoria no pode
em nenhum caso ter por objetivo a ao, no pode ter u m
objetivo prt i co no mundo, mas t o soment e apresentar a
conexo dos f enmenos sociais tais como se apresent am a
um observador isolado da prtica. Do cont rri o, o observa-
dor deixa de ser um cientista e passa a ser um agente social
1 orno qual quer out ro, i mbu do de uma det ermi nada con-
i epo de mundo, de um det er mi nado conj unt o de valores
cm nome dos quais age.
A part i r de tais critrios, a concepo tradicional de
teoria t ambm estabelece uma especializao da atividade
do cientista social anloga quela do cientista da natureza.
Sendo possvel circunscrever um r a mo de investigao da
sociedade apar t ado de t oda e qual quer valorao de seu
objeto (ou seja, sendo possvel circunscrever um campo de
investigao que se estabelea i ndependent ement e de t oda
> qualquer concepo de mundo part i cul ar), t em-se uma
di-.iiplina cientfica. Foi assim que surgi ram disciplinas
11' Mtficas como a sociologia, a ant ropol ogi a social e a cin-
l,i poltica, sendo que esses parmet ros vi eram t ambm a
38 Marcos Nobre
reori ent ar disciplinas j existentes, como a histria, a psico-
logia e o direito, por exemplo. A concepo t radi ci onal de
teoria est i mul ou o sur gi ment o de disciplinas particulares e
uma crescente especializao no mbi t o de cada disciplina
em particular.
A atitude crtica. Segundo Horkhei mer , a perspectiva t radi -
cional de teoria, pr et endendo si mpl esment e explicar o f un-
ci onament o da sociedade, t ermi na por adapt ar o pensa-
ment o realidade. Em nome de uma pretensa neut ral i dade
da descrio, a Teoria Tradicional resigna-se f or ma hist-
rica present e da domi nao. Em uma sociedade dividida em
classes, a concepo t radi ci onal acaba por justificar essa
diviso como necessria.
Mas, pelo que foi visto at agora, seriam essas crticas
aceitveis? Afinal, no necessrio resguardar a cincia da
confuso com concepes de valor? No necessrio sepa-
rar "conhecer" e "agir" como di menses radi cal ment e dis-
tintas, se h i nt eno de alcanar o aut nt i co conheci ment o
cientfico da realidade?
O pr obl ema est, diz Horkhei mer, em que o conheci-
ment o da realidade social u m moment o da ao social
assim como esta u m moment o daquele. No se trata de
negar que conhecer e agir sejam distintos, mas de reconhe-
cer que t m de ser consi derados conj unt ament e. Se a reali-
dade social o resultado da ao humana, esta se d, por sua
vez, no cont exto de est rut uras histricas det ermi nadas, de
uma dada f or ma de organizao social. Desse modo, o
pr i mei r o passo o de investigar essas est rut uras, de manei ra
A Teori a Cr ti ca 39
H descobrir quais so as condi es histricas em que se d a
ao.
Ao fixar a separao entre conhecer e agir, entre teoria
r prtica, segundo u m mt odo estabelecido a partir de
I '.i rmet ros da cincia nat ural moder na, a teoria tradicional
rs pulsa do seu campo de reflexo as condi ci onant es hist-
i h ,is do seu pr pr i o mt odo. Se t odo conheci ment o pr odu-
/H lo , ent ret ant o, hi st ori cament e det er mi nado (mutvel no
tempo, por t ant o) , no possvel i gnorar essas condi ci onan-
tes seno ao preo de permanecer na superfcie dos fenme-
nos, sem ser capaz, port ant o, de conhecer por inteiro suas
if.us conexes na realidade social. Em out ras palavras, na
i ouccpo t radi ci onal de teoria, o mt odo t r ansf or mado
<iu uma instncia at emporal , de manei r a a t ent ar eliminar
o t erne histrico que lhe , ent ret ant o, constitutivo.
(l ont ra isso insurge-se o comportamento crtico, que
pi rl cnde conhecer sem abdicar da reflexo sobre o carter
histrico do conheci ment o produzi do. Sendo o capitalismo
iini.i forma social histrica que t em como centro organiza-
do) o mercado, trata-se, antes de mais nada, de reconhecer
ijiu ,i pr oduo de mercadori as o foco a part i r do qual se
f i t i ut ur a a sociedade. E, como j visto, a organizao da
m tedade em f uno da pr oduo de mercadori as e do
lUero est rut ura a sociedade capitalista em classes. Desse
Htodo, qual quer concepo de cincia que no t enha como
Jiffssii posto a diviso da sociedade em classes e que no seja
f i paz de reconhecer o exerccio da cincia como um dos
moment os dessa sociedade pr odut or a de mercadori as esta-
t i i itdo, como concepo de cincia, parcial.
40 Marcos Nobre
O compor t ament o crtico pr et ende most r ar duas coi-
sas si mul t aneament e. Por um lado, que a pr oduo cien-
tfica de extrao t radi ci onal parcial, por que, ao i gnorar
que essa pr oduo t em uma posi o det er mi nada no
f unci onament o da sociedade, acaba por const rui r uma
i magem da mes ma que fica no nvel da aparncia, no
consegui ndo at i ngir os objetivos que ela pr pr i a se colocou
como teoria. Por out r o lado, ent ret ant o, que essa aparnci a
qual se limita a Teoria Tradicional t ambm aquela
pr oduzi da pela pr pr i a lgica ilusria do capital, que
pr omet e a l i berdade e a igualdade que j amai s poder o ser
realizadas sob o capitalismo. Nesse sentido, a parcialidade
da concepo t radi ci onal de t eori a t ambm real: ela
expressa a parci al i dade pr pr i a de uma sociedade dividida
em classes.
Cabe, por t ant o, Teoria Crtica eliminar essa parciali-
dade da Teoria Tradicional. Mas isso no significa afastar ou
negar a Teoria Tradicional sem mais. Como diz Horkhei -
mer, trata-se de dar a ela a conscincia concreta de sua
limitao; quer dizer, preciso considerar seus resultados
no contexto mais ampl o da sociedade pr odut or a de merca-
dorias, ent end-l os em vista da posio social especfica da
Teoria Tradicional. S assim ela pode superar sua f uno de
legitimao da domi nao, assumi da por ela desde o mo-
ment o em que se ps como tarefa exami nar os f enmenos
sociais de manei r a objetiva e neut ra.
Mas, se assim, a Teoria Crtica no se compor t a
cri t i cament e apenas em relao ao conheci ment o produzi -
do sob condies capitalistas, mas i gual ment e em relao
A Teori a Cr ti ca 41
pr pr i a r eal i dade que esse c onhe c i me nt o pr et endeu
.1preender. Ou seja, a at i t ude crtica no se volta apenas para
o conheci ment o, mas par a a prpri a realidade das condies
sociais capitalistas. E isso por que o compor t ament o crtico
tem sua font e na orientao para a emancipao relativa-
mente domi nao vigente.
Nesse sentido, a Teoria Crtica ir i nt erpret ar todas as
rgidas distines em que se baseia a Teoria Tradicional
(como "conhecer", "agir", "cincia", "val or" e tantas outras)
como indcios da incapacidade da concepo tradicional de
compreender a realidade social em seu todo. O mt odo
tradicional, ao t omar essas cises como dadas e no como
produt os histricos de uma formao social, no capaz de
explicar sat i sfat ori amente por que elas seriam, afinal, neces-
srias. A Teoria Crtica, ao contrrio, most ra que tais divi-
Kes rgidas so caractersticas de uma sociedade dividida,
.linda no emanci pada.
Sendo assim, a perspectiva da emanci pao, da ins-
taurao de uma sociedade reconciliada, que i l umi na a
presente situao de no emanci pao e permi t e Teoria
Crtica compreender o real sent i do das cises no justifica-
das da Teoria Tradicional. a uni dade f ut ur a, na sociedade
emancipada, dos el ement os que se encont r am cindidos sob
tl domi nao capitalista, a font e de luz que instaura a pers-
pectiva crtica sobre o existente. O compor t ament o crtico
lorna-se possvel por que f undado em uma ori ent ao para
a emanci pao da sociedade, para a realizao da liberdade
e ila igualdade que o capitalismo ao mes mo t empo possibi-
lita e bloqueia.
42 Marcos Nobre
O materialismo interdisplinar. H uma grande diferena
ent re a situao da pr oduo cientfica no t empo de Marx
(1818-1883) e aquela que foi t eori zada por Hor khei mer em
1937. No havia nem de longe, no t empo de Marx, o nmer o
de disciplinas cientficas e de especialidades que se desen-
volveram post eri orment e. Nesse sentido, Hor khei mer tem
de lidar com u m el ement o novo em relao ao quadro
terico f or mul ado por Marx. Mas isso no u m obstculo.
Como j visto, caracterstica da Teoria Crtica a per manen-
te renovao, o debruar-se sobre um conj unt o de proble-
mas e pergunt as que cabe atualizar a cada vez, segundo cada
situao histrica particular.
O par met r o da relao da Teoria Tradicional com a
Teoria Crtica aquele da economi a poltica clssica com as
formul aes do pr pr i o Mar x (que prat i cou a crtica da
economi a poltica, como j menci onado) . Mas a economi a
poltica clssica t em u m parentesco r emot o com o que hoj e
se ent ende como cincia econmi ca e nem r emot ament e
corresponde lgica da especializao atual, sendo diferen-
te t ambm da cincia econmi ca tal como praticada na
dcada de 1930 nos pases centrais.
pri mei ra vista, o processo de acelerada especializao
poderi a parecer i nt ei rament e cont rri o ao model o de an-
lise do capitalismo el aborado por Marx, j que se basearia
em uma f r agment ao da realidade social prejudicial
apreenso do t odo pret endi da pela perspectiva crtica. A
compreenso do conj unt o da lgica social a part i r da com-
preenso da lgica de valorizao do capital poderi a parecer
prej udi cada pela proliferao de perspectivas disciplinares.
A Teoria Cr ti ca 43
i r , entretanto, o compor t ament o crtico t em de dar s
ir.ilizaes da Teoria Tradicional um t r at ament o tal que
permita a sua i ncorporao Teoria Crtica, esse procedi-
mento t em de valer t ambm para o processo de especializa-
o cientfica crescente.
Dessa f or ma Hor khei mer no pr et ende se distanciar
Ia especializao, mas quer dar a ela u m sent i do crtico.
Isso possvel, pr i mei r ament e, na medi da em que a
f rescente especializao do conheci ment o compr eendi da
r m seus condi ci onament os hi st ri cos e em seu sent i do
iocial. Ainda assim, necessrio ter claro que, ao f r agmen-
i.ii cada vez mais o obj et o de est udo (a sociedade) em
mltiplas perspectivas, a especializao da Teoria Tradi-
i ional t or na cada vez mais difcil a compr eenso da socie-
dade em seu conj unt o, com sua diviso em classes e sua
organizao em t or no da valorizao do capital. Deste
modo, a pr oduo cientfica encerra-se cada vez mais na
Mistificao da or dem existente.
Em vista disso, Hor khei mer pret ende encont rar um
sentido positivo para o movi ment o em direo crescente
ispecializao, a f i m de ori ent -l o no sent i do crtico. Para
tanto, l anou as bases do j menci onado materialismo inter-
disciplinar, em que pesquisadores t r abal hando em diferen-
tes reas do conheci ment o t m como hor i zont e comum a
teoria de Marx. Economi st as, cientistas sociais, psiclogos,
tericos do direito e da poltica, filsofos e crticos de arte
colaboram para, em cada disciplina particular, i nt erpret ar
Os resultados da Teoria Tradicional em vista de uma i magem
da sociedade capitalista em seu conj unt o, si mul t aneament e
44 Marcos Nobre
organizada em t or no da valorizao do capital e revelando
potenciais de superao em relao domi nao do mesmo.
Foi essa experincia interdisciplinar que permi t i u a
Hor khei mer f or mul ar o seu diagnstico do t empo presente,
de manei ra a identificar as t endnci as do desenvolvimento
histrico naquel e moment o. Como j visto ant eri orment e,
a Teoria Crtica constitui-se no dupl o exerccio de interpre-
tao do pensament o de Mar x e de utilizao desses par-
met ros interpretativos par a analisar o mome nt o histrico
presente. Foi esse dupl o exerccio que Hor khei mer fez nos
seus escritos da dcada de 1930, i naugur ando o que se
chamou aqui de Teoria Crtica em sent i do restrito.
Diagnstico do tempo presente. So trs os el ement os f unda-
ment ai s que caracterizam o diagnstico do t empo presente
de Hor khei mer em seu texto "Teoria Tradicional e Teoria
Crtica". Todos eles deri vam direta ou i ndi ret ament e de
t rabal hos realizados no mbi t o do Inst i t ut o de Pesquisa
Social na dcada de 1930 e em grande medi da divergem com
relao ao di agnst i co apr esent ado or i gi nal ment e por
Marx.
O pri mei ro el ement o i mpor t ant e t em sua origem nas
anlises econmi cas de Friedrich Pollock, aut or j mencio-
nado ant eri orment e. Segundo os escritos de Pollock da
dcada de 1930, as t endnci as aut odest rut i vas do capitalis-
mo no se encont ravam acirradas, apesar da Revoluo
Russa de 1917 e da crise econmi ca sem precedentes ocor-
rida em 1929. 0 capitalismo passou de uma fase concorren-
cial para uma nova, a monopol i st a na qual uma alta e
A Teori a Cr ti ca 45
Bi scent e concent rao do capital em uns poucos conglo-
merados econmi cos acabou por exigir intervenes pro-
fundas do Estado na economi a com o objetivo de estabilizar
M relaes de mercado. Com isso, t or nou- se necessrio
repensar as relaes ent re Estado e capital, j que, segundo
h prognstico original de Marx, a possibilidade de uma
Interveno per manent e do Estado para estabilizar e orga-
niza r o mercado levaria a um colapso da pr pr i a lgica de
valorizao do capital.
O segundo el ement o i mpor t ant e do diagnstico de
I lorkheimer pr ovm dos est udos emp ri cos sobre a classe
trabalhadora al em realizados na pr i mei r a met ade da
cada de 1930. A part i r deles, Hor khei mer concl ui u que
tinha ocorri do uma i mpor t ant e di ferenci ao social no
Interior do pr pr i o prol et ari ado. Essa di ferenci ao seria,
tlli pri mei ro lugar, econmi ca. Ao cont r r i o da previso
de um empobr eci ment o crescente do prol et ari ado, obser-
vou-se o sur gi ment o de uma aristocracia operri a e uma
melhoria das condi es de vida de part e do operari ado.
Em segundo lugar, o pr pr i o peso da classe t rabal hadora
lio processo econmi co se alterou em razo dessa di feren-
ciao social, no sendo mai s possvel i dent i fi car simples-
mente um grande pol o de pobreza e u m out r o pequeno
polo de ri queza na sociedade, mas di ferent es nveis e
. amadas sociais.
O terceiro el ement o i mpor t ant e do diagnstico de
I lorkheimer, t ambm obj et o de pesquisa do Instituto,
lepresentado pela ascenso do nazi smo e do fascismo. Esse
elemento most ra no s que a capacidade de resistncia da
46 Marcos Nobre
classe t rabal hador a domi nao capitalista t i nha sido su-
perest i mada, mas que a sua possvel reorganizao sob a
brut al represso nazista era mui t o improvvel. preciso
l embrar t ambm que a ascenso do nazi smo e do fascismo
veio acompanhada de u m ext raordi nri o desenvolvimento
dos mei os de comuni cao de massa, da pr opaganda e da
i ndst ri a do ent ret eni ment o o que aument ou a eficcia
do cont role espiritual das massas.
Ao exami nar esses trs el ement os em conj unt o, pos-
svel ent ender por que Hor khei mer considerava que os
potenciais de emanci pao da domi nao capitalista encon-
t ravam-se bl oqueados naquele moment o: estabilizao dos
el ement os aut odest rut i vos do capitalismo, integrao das
massas ao sistema e represso a t odo movi ment o de con-
testao. Com isso, era a prpri a ao t r ansf or mador a, a
prpri a prtica que se encontrava bl oqueada, no restando
ao exerccio crtico seno o mbi t o da teoria.
Mas se, nesse diagnstico, o nazi smo pode ser conside-
rado um el ement o histrico conj unt ur al e felizmente der-
rot ado, o diagnstico de Hor khei mer do bl oquei o da prtica
cont i nha t ambm el ement os est rut urai s divergentes relati-
vament e ao quadr o terico estabelecido por Marx, como a
estabilizao dos el ement os aut odest rut i vos do capitalismo
em sua fase monopol i st a e o surgi ment o de novos mecanis-
mos de integrao das massas ao sistema. Em 1937, esses
el ement os est rut urais apont avam para a necessidade de
uma reviso mai s pr of unda de alguns dos pilares da teoria
de Marx, sem, ent ret ant o, realiz-la. Esse conf r ont o mais
i nt enso com a teoria de Mar x seria realizado post eri ormen
A Teori a Cr ti ca 47
te, t ant o pelo pr pr i o Hor khei mer como por out ros pensa-
dores da Teoria Crtica.
Seja como for, pode-se supor que a compl exi dade e o
ilto grau de di fi cul dade de leitura de "Teoria Tradicional e
loria Crtica" devam-se em grande medi da a essa convi-
vncia em um mes mo texto de el ement os tericos nem
l empr e pl enament e conciliveis. Mas talvez seja t ambm
exatamente por isso que esse seja o texto i naugural do que
chamado aqui de Teoria Crtica em sent i do restrito, j que
sua tentativa de mant er uni dos elementos tericos de difcil
conciliao permi t e leituras e perspectivas de i nt erpret ao
bastante divergentes. No sendo possvel, ent ret ant o, no
unbito deste livro t rat ar em detalhe de t odas essas diferentes
perspectivas interpretativas, de t odos os aut ores que se rei-
vindicam dessa concepo, nem das diferentes fases de suas
obras, pr ocur ou- se concent rar esforos na apresentao da
iileia de Teoria Crtica e de sua formul ao original no texto
de Hor khei mer de 1937, de modo a fornecer ao leitor os
elementos f undament ai s para se i nt roduzi r no universo da
loria Crtica e de seus autores. Ainda assim, a prxi ma
seo t ent ar apresent ar em suas grandes linhas dois mode-
los de Teoria Crtica que t m como referncia central essa
i onceituao original realizada por Horkhei mer.
Modelos de Teoria Cr tica
l i ma lista apenas indicativa dos autores que t m o texto de
I lorkheimer de 1937 como referncia incluiria os nomes j
48 Marcos Nobre
menci onados de Adorno, Marcuse, Lwent hal e, na gerao
seguinte, Jrgen Haber mas (nascido em 1929). At onde sei,
no se dispe ainda de est udos mai s det al hados das obras
de Kirchheimer, Neumann e Fr omm (at 1939, quando ele
se afasta do Inst i t ut o), de modo a verificar se e em que
medi da or i ent am seus t rabal hos segundo os parmet ros
especficos da concei t uao de Hor khei mer . O caso de
Walter Benj ami n t ambm , nesse contexto, excepcional, j
que ele const ri u m model o de Teoria Crtica prpri o e
ant eri or ao de Horkhei mer, t endo grande influncia nas
formul aes de Ador no e do pr pr i o Hor khei mer posterio-
res a 1940 ano de sua mor t e na tentativa de fuga da
perseguio nazista.
V-se j por que, no contexto deste vol ume, no seria
possvel apresent ar t odos esses aut ores e as diferentes fases
de suas obras. O objetivo pri mei ro deste livro o de fornecer
os el ement os f undament ai s para que o leitor possa se intro-
duzir nessa t radi o intelectual e, assim, estar em condies
de se dedicar leitura e ao est udo daqueles autores de seu
interesse.
possvel, ent ret ant o, fornecer al gumas indicaes de
como esse prossegui ment o da leitura de aut ores da Teoria
Crtica poderi a se dar. Apresento a seguir, de manei ra esque-
mtica, em suas grandes linhas, dois model os de Teoria Cr-
tica: o do livro Dialtica do Esclarecimento, de Hor khei mer e
Adorno, e o model o comuni cat i vo de Jrgen Habermas.
O model o da Dialtica do Esclarecimento. Publ i cado em livro
pela pri mei ra vez em 1947, o t rabal ho a quat ro mos de
A Teori a Cr ti ca 49
I lorkheimer e de Ador no foi escrito dur ant e o exlio nor t e-
unericano do gr upo do Inst i t ut o de Pesquisa Social. Trata-
se de uma obr a de est rut ura peculiar, com u m ensaio inicial
("O conceito de esclarecimento"), sucedi do por dois "excur-
sos", u m ensaio sobre a i ndst ri a cultural, e uma anlise do
antissemitismo, encerrando-se com uma srie de pequenos
textos e fragment os sobre temas variados.
Nesse livro, Hor khei mer e Ador no abandonam o mo-
delo do mat eri al i smo interdisciplinar da dcada de 1930, o
que significa, sob mui t os aspectos, abandonar t ambm al-
guns elementos decisivos da Teoria Crtica tal como apre-
sentada em 1937 por Horkhei mer. Ai nda que a colaborao
entre as diferentes especialidades tericas t enha sido man-
tida de al guma f or ma, a economi a poltica deixou de ocupar
o centro do ar r anj o interdisciplinar. Isso se coaduna com o
novo diagnstico que fizeram, segundo o qual o capitalismo
tinha se t r ansf or mado de tal manei ra que no mais produzi a
a possibilidade concret a da realizao da igualdade e da
liberdade. Desse modo, em "Teoria Tradicional e Teoria
(mtica", a possibilidade da prtica t r ansf or mador a encon-
(rava-se bl oqueada hi st ori cament e pela represso e pela
propaganda nazista, permaneci a ai nda no hori zont e a idia
de que as possibilidades de interveno t r ansf or mador a no
mundo poder i am se reabrir com a derrot a do nazismo. Esse
no foi, ent ret ant o, o diagnstico de Hor khei mer e Ador no
.t partir do incio da dcada de 40. A vitria das t ropas
Aliadas no significou, para eles, a rest aurao das possi-
bilidades revolucionrias. Pelo cont rri o, o diagnstico do
t empo presente que desenvolveram na Dialtica do Esclare-
50 Marcos Nobre
cimento foi o de u m bloqueio estrutural da prtica t ransfor-
mador a.
Esse diagnstico estava calcado em anlises econmi -
cas (de Friedrich Pollock mais uma vez, a quem foi dedi cado
o livro de 1947) que apont avam para uma mudana estru-
t ural do f unci onament o do capitalismo, na qual a interven-
o do Estado na organizao da produo, distribuio e
consumo t i nha adqui ri do o carter de u m verdadei ro pla-
nej ament o. Isso al t erou radi cal ment e os t er mos em que
Mar x havia estabelecido suas anlises. Essa nova f or ma do
capitalismo foi denomi nada por Pollock "capitalismo de
Estado", sendo que, na Dialtica do esclarecimento, Horkhei -
mer e Ador no el aboraram uma verso pr pr i a dessa con-
ceituao de Pollock, que chamar am de "capitalismo admi -
ni st rado" ou " mundo administrado".
As fases ant eri ores do capitalismo (a "liberal" ou "con-
correncial", e a "monopol i st a") t i nham a caracterstica mar -
cante de apont ar em par a alm de si mesmas, descort i nando
em si mesmas o campo de ao capaz de abolir o capital e
i nst aurar a sociedade justa. O capitalismo admi ni st rado, ao
contrrio, u m sistema que se fecha sobre si mesmo, que
bl oquei a est rut ural ment e qual quer possibilidade de supe-
rao vi rt uosa da injustia vigente e paralisa, port ant o, a
ao genui nament e t r ansf or mador a.
Isso ocorre por que o velho par adi gma do capitalismo
liberal o da aut orregul ao do mer cado no mais se
aplica, e o novo mecani smo que o subst i t uiu ainda mais
opaco. O sistema econmi co no capitalismo admi ni st rado
cont rol ado de fora, politicamente. No ent ant o, esse con-
A Teori a Cr ti ca 51
(role no exercido de manei ra t ransparent e, mas sim
hurocraticamente, segundo a racionalidade prpri a da bu-
locracia que se chama, na linguagem de Hor khei mer e
Adorno, "i nst rument al ": trata-se de uma racionalidade que
pondera, calcula e aj ust a os mel hores mei os a fins dados
exteriormente ao agente.
Hi st ori cament e, ent ret ant o, o grande projet o de eman-
i ipao da razo huma na esteve sempre colocado na deter-
minao racional dos fins, ou seja, no debat e e na efetivao
daqueles valores julgados belos, justos e verdadeiros. No
capitalismo admi ni st rado, a razo se v reduzida a uma
capacidade de adapt ao a fins previ ament e dados de cal-
cular os mel hores meios para alcanar fins que lhe so
estranhos. Essa racionalidade domi nant e na sociedade no
apenas por mol dar a economi a, o sistema poltico ou a
burocracia estatal, ela t ambm faz part e da socializao, do
processo de aprendi zado e da formao da personalidade.
Por isso, Hor khei mer e Ador no empr eender am, na
/ >ialtica do Esclarecimento, uma investigao sobre a razo
humana de ampl o espectro. Seu objetivo foi o de buscar
compreender por que a racionalidade das relaes sociais
humanas, ao invs de levar i nst aurao de uma sociedade
de mul heres e homens livres e iguais, acabou por produzi r
um sistema social que bl oqueou est rut ural ment e qual quer
possibilidade emanci pat ri a e t r ansf or mou os i ndi v duos
em engrenagens de um mecani smo que no compr eendem
e no domi nam e ao qual se submet em e se adapt am,
impotentes. Esse pr obl ema mais geral se t r aduz na tarefa de
compreender como a razo humana acabou por restringir-
52 Marcos Nobre
se hi st ori cament e sua f uno i nst rument al , cuj a f or ma
social concreta a do mundo admi ni st rado.
Traduzi do nos t er mos do artigo "Teoria Tradicional e
Teoria Crtica", seria como dizer que a f or ma de pensament o
ilusria e parcial prpri a da Teoria Tradicional no apenas
domi nant e, mas t ambm a nica f or ma possvel de racio-
nal i dade sob o capitalismo admi ni st rado. Sendo assim, a
racionalidade como u m t odo reduz-se a uma f uno de
adapt ao realidade, pr oduo do conf or mi smo diante
da domi nao vigente. Essa sujeio ao mu n d o tal qual
aparece no mais, por t ant o, uma iluso real que pode ser
superada pelo compor t ament o crtico e pela ao t ransfor-
mador a. Ela uma sujeio sem alternativa, por que a racio-
nalidade prpri a da Teoria Crtica no encont ra mai s anco-
r ament o concreto na realidade social do capitalismo admi -
nistrado, uma vez que no so mai s discernveis as t endn-
cias reais da emanci pao. A domi nao total e compl et a da
racionalidade i nst rument al sobre o conj unt o da sociedade
capitalista resulta ent o no menci onado bl oquei o est rut ural
da prtica.
Mas, se assim, t ambm o pr pr i o exerccio crtico
encont ra-se em uma aporia: se a razo i nst rument al a
f or ma nica de racionalidade no capitalismo admi ni st rado,
bl oqueando qual quer possibilidade real de emanci pao,
em nome de que possvel criticar a raci onal i dade i nst ru-
mental? Hor khei mer e Ador no assumem consci ent ement e
essa apori a, di zendo que ela , no capitalismo admi ni st rado,
a condi o de uma crtica cuj a possibilidade se t or nou
ext remament e precria.
A Teori a Cr ti ca 53
O modelo comunicativo de Jrgen Habermas. O pont o de
partida da f or mul ao de Haber mas da Teoria Crtica ser
j ust ament e a si t uao da teoria tal como descrita na Dial-
tica do Esclarecimento. Haber mas pret ende criticar o diag-
nstico desse livro de Hor khei mer e Ador no e, para isso,
retoma, sob mui t os aspectos, o model o crtico presente em
"Teoria Tradicional e Teoria Crtica".
Para Haber mas, apoi ar consci ent ement e a possibilida-
de da crtica em uma apori a (como fizeram Hor khei mer e
Adorno) significa colocar em risco o pr pr i o proj eto crtico.
Pois tal aporia fragiliza t ant o a possibilidade de um com-
por t ament o crtico relativamente ao conheci ment o quant o
a ori ent ao para a emanci pao. evidente, ent ret ant o,
que Hor khei mer e Ador no chegaram a tal posio terica
levados pela exigncia mesma da Teoria Crtica de analisar
o moment o histrico sem retoques ne m concesses, ou seja,
pela exigncia de pr oduzi r um diagnstico do moment o
presente capaz de apresent ar com rigor as t endnci as estru-
turais do capitalismo admi ni st rado.
Sendo assim, de modo a se cont r apor a essa posio
aportica de Hor khei mer e Adorno, Haber mas pr ops u m
diagnstico do mome nt o presente divergente daquel e apre-
sentado na Dialtica do Esclarecimento. Nem por isso, entre-
tanto, dei xam de existir algumas convergncias i mport ant es
entre os dois diagnsticos. Part i ndo da constatao de que
o capitalismo passou a ser regulado pelo Estado, Haber mas
concluiu que as duas tendncias f undament ai s para a eman-
cipao presentes na teoria marxista a do colapso inter-
no, em razo da queda tendencial da taxa de lucro, e aquela
54 Marcos Nobre
da organizao do prol et ari ado cont ra a domi nao do
capital t i nham sido neutralizadas.
Em boa medi da, esses el ement os esto presentes t am-
bm no diagnstico f or mul ado por Hor khei mer e Ador no
em seu livro. A diferena est, ent ret ant o, em que Haber mas
no conclui da que as opor t uni dades para a emanci pao
t enham sido est rut ural ment e bloqueadas, mas sim que
necessrio repensar o pr pr i o sentido de emanci pao da
sociedade tal como ori gi nal ment e f or mul ado por Mar x e
t ambm por Hor khei mer em "Teoria Tradicional e Teoria
Crtica".
Nesse sent i do trata-se, para Haber mas, de constatar
que, par a enfrent ar as tarefas clssicas da pr pr i a Teoria
Crtica, preciso hoj e ampl i ar seus t emas e encont rar um
novo paradi gma explicativo. Pois, se os par met r os originais
da Teoria Crtica l evaram a que, na Dialtica do Esclareci-
mento, fosse post a em risco a prpri a possibilidade da crtica
e da emanci pao, so esses parmet ros mesmos que t m de
ser revistos, sob pena de se perder exat ament e o essencial
dessa t radi o de pensament o. Para Haber mas, port ant o,
so as prpri as formul aes originais de Mar x que t m de
ser abandonadas. Isso no por que Haber mas pret enda abrir
mo da crtica, mas porque, para ele, os conceitos originais
da Teoria Crtica no so mais sufi ci ent ement e crticos fren-
te realidade atual.
A Dialtica do Esclarecimento t i nha por obj et o pri nci -
pal de investigao a razo humana e as f or mas sociais da
racionalidade, concl ui ndo dessa investigao que a razo
i nst rument al consistia na f or ma est rut urant e e nica da
A Teori a Cr ti ca 55
racionalidade social no capitalismo admi ni st rado. Isso re-
sultava em uma situao aportica do compor t ament o cr-
tico e em um bl oquei o est rut ural da prt i ca t ransformadora.
Sendo assim, para se cont rapor a esse diagnstico de Hork-
hei mer e Ador no, Haber mas f or mul ou u m novo conceito
de racionalidade.
Para ele, a raci onal i dade i nst r ument al identificada por
Hor khei mer e Ador no como a ni ca domi nant e e, por isso,
obj et o por excelncia da crtica no deve ser demoni zada,
mas preciso, di ferent ement e, i mpor - l he freios. Para tanto,
Haber mas ir f or mul ar uma teoria da racionalidade de
dupl a face, em que a i nst rument al convive com um out ro
t i po de raci onal i dade que ele denomi na "comunicativa".
Essa teoria f or mul ada em t ermos de uma teoria da ao,
que Haber mas apresent ou de manei r a mai s detalhada em
seu livro Theorie des Kommunikativen Handelns (Teoria da
ao comuni cat i va, sem t raduo para o port ugus), de
1981. (Uma pri mei ra formul ao das teses que viriam a ser
defendi das nesse livro encont ra-se no artigo "Tcnica e
cincia como ' ideologia' ", de 1968.)
Assim, ao cont rri o de Hor khei mer e Adorno, que
apresent am uma teoria do desenvol vi ment o da racionalida-
de humana que cul mi na em um preval eci ment o da razo
i nst rument al como f or ma nica da racionalidade, Haber-
mas pret ende most r ar que a evoluo histrico-social das
formas de raci onal i dade leva a uma progressiva diferencia-
o da razo huma na em dois tipos de racionalidade a
instrumental e a comunicativa.
A ao i nst rument al aquela ori ent ada para o xito, em
que o agente calcula os mel hores mei os par a atingir fins
56 Marcos Nobre
det ermi nados previ ament e. Esse tipo de ao aquele que
caracteriza par a Haber mas o t rabal ho aquelas aes
dirigidas domi nao da nat ureza e organi zao da socie-
dade que visam pr oduo das condies mat eri ais da vida
e que per mi t em a coordenao das aes, isto , possibilitam
a reproduo material da sociedade.
Em contrast e com esse t i po de racionalidade, surge
aquela prpri a da ao de t i po comuni cat i vo, quer dizer,
ori ent ada para o entendimento e no para a mani pul ao de
objetos e pessoas no mu n d o em vista da r epr oduo mat e-
rial da vida ( como o caso da racionalidade i nst rument al ).
A ao ori ent ada para o ent endi ment o aquela que permi t e,
por sua vez, a r epr oduo simblica da sociedade.
Segundo Haber mas, a f or ma social pr pr i a do capita-
lismo cont empor neo aquela em que a ori ent ao da ao
para o ent endi ment o encont ra-se presente no pr pr i o pro-
cesso de f or mao da i dent i dade de cada indivduo, nas
prpri as instituies em que ele socializado e nos proces-
sos de aprendi zado e de constituio da personal i dade. A
racionalidade comuni cat i va encont ra-se assim, par a Haber-
mas, efetivament e inscrita na realidade das relaes sociais
cont emporneas.
Sendo um t i po de ori ent ao da ao efetivamente
presente na realidade das relaes sociais, a ori ent ao para
o ent endi ment o s possvel, ent ret ant o, por que projeta
condies ideais em que no haveria qual quer obst cul o
plena comuni cao ent re os interlocutores. Nesse sentido,
diz Habermas, tais condies ideais so, por paradoxal que
A Teori a Cr ti ca 57
possa parecer, condi es de comuni caes reais no mundo.
Para eles, se no fosse assim, no seria sequer possvel falar
em uma ao ori ent ada para o ent endi ment o, em uma ao
comunicativa.
A ao comuni cat i va se caracteriza por pressupor a
cada vez uma srie de condies como: que no haj a assi-
metrias de poder, di nhei ro ou posio social ent re os sujei-
los que pr et endem se entender, que os sujeitos s se deixem
convencer pelo mel hor argument o; ou que no haj a distr-
bios psicolgicos que at rapal hem a comuni cao. Salta aos
olhos, ent ret ant o, que condies como essas jamais se cum-
prem no mundo real das relaes sociais, em que as assime-
trias e dissimetrias ent re os sujeitos so a regra e no a
exceo. Mas esse j ust ament e o ar gument o de Habermas:
ao ori ent ar sua ao para o ent endi ment o, os sujeitos ante-
cipam necessariamente tais condies ideais, pois sem elas
no seria possvel uma ao comunicativa; si mul t aneamen-
Ie, ent ret ant o, tais condi es necessrias no so cumpri das,
o que permi t e, por sua vez, que sejam detectadas todas as
distores da comuni cao aqueles obstculos que i mpe-
dem a cada vez a pl ena real i zao de u ma ao comuni ca-
tiva.
Para que a comuni cao possa se dar, essas condies
ideais t m de ser antecipadas em situaes reais de ao, o
que significa que essa antecipao encont ra-se inscrita na
vida social concreta. Com isso, Haber mas pode si mul t anea-
mente fornecer uma soluo para o ancor ament o real da
emancipao na confi gurao social atual e estabelecer um
58 Marcos Nobre
par met r o crtico para avaliar t ant o o conheci ment o pro-
duzi do quant o situaes sociais concretas, j que o potencial
comunicativo inscrito na vida social j amai s se realiza plena-
ment e.
Com Haber mas, surge a idia de uma racionalidade
dplice, em que a raci onal i dade i nst rument al e a comuni -
cativa se most r am ambas no apenas necessrias pr oduo
e r epr oduo da vida em sociedade, como t ambm comple-
mentares. Fundament al para Haber mas que cada uma
dessas racionalidades no extrapole seus dom ni os pr-
prios. Quando isso acontece, t emos o que ele denomi na
patologia social. Tambm aqui, a teoria comporta-se critica-
mente em relao realidade social, na medi da em que
capaz de detectar essas patologias e dispe de parmet ros
crticos para apont ar a ao concreta a ser empreendi da para
elimin-las.
grande a distncia, ent ret ant o, a separar essas f or mu-
laes de Haber mas da enunci ao original dos princpios
f undament ai s da Teoria Crtica tal como realizada por
Marx. Ent re outras, uma das conseqncias mai s imediatas
dessa reformul ao dos par met r os crticos por Haber mas
a de que "emanci pao" deixa de ser si nni mo de "revo-
luo", de abolio das relaes sociais capitalistas pela ao
consciente do prol et ari ado como classe. O que ter como
cont rapart i da, por exemplo, uma valorizao dos potenciais
emanci pat ri os presentes nos mecani smos de participao
prpri os do Estado democrt i co de direito, que o principal
obj et o de investigao dos t rabal hos de Haber mas a partir
da dcada de 1990.
A Teori a Cr ti ca 59
Breve nota fi nal
Este vol ume de i nt roduo ter sido j bem-sucedi do se
t i ver sido capaz de estimular a leitura dos vrios aut ores aqui
menci onados. Nesse sentido, ter at i ngi do seu objetivo se
essa not a final significar um comeo: o da tentativa de
decifrar nos vrios aut ores da Teoria Crtica os model os que
propem. Dessa perspectiva, a idia de uma escola (como a
Escola de Frankfurt ) parece redut ora di ant e de uma expe-
rincia mui t o mais interessante e rica, que a da pluralidade
de model os no campo da Teoria Crtica, t ant o em seu
sentido ampl o como no sent i do restrito daqueles que t m
por referncia as formul aes de Hor khei mer em seus es-
i ritos da dcada de 1930.
Mas esta not a final t ambm u m comeo no sentido
de que a t radi o intelectual da Teoria Crtica no se con-
tenta em analisar cont ri bui es de seu pr pr i o campo
maneira de uma classificao de fsseis. Cada exame de cada
modelo crtico vem carregado t ambm de novos probl emas
perguntas, exat ament e no esprito de per manent e renova-
d o e atualizao que caracteriza essa teoria:
Ser que os pri nc pi os f undament ai s da Teoria Crtica
tais como f or mul ados ori gi nal ment e por Mar x so, ainda
hoje, suficientes para demarcar o campo crtico? Se ainda o
(Ao, ser que o sent i do da orientao par a a emanci pao e
ilo compor t ament o crtico diante do conheci ment o e da
realidade social deve permanecer o mesmo, ou devemos
tilribuir novos sent i dos a esses princpios? Nesse caso, qual
ler ia o seu novo cont edo e que campo t eri co ele demar -
60
Marcos Nobre
caria? Se a posio no i nt eri or do campo for a da Teoria
Crtica em sent i do restrito, ser que a conceituao elabo-
rada por Hor khei mer na dcada de 1930 ai nda deve perma-
necer a referncia central?
Tentar responder a essas pergunt as e probl emas levar
a Teoria Crtica adiante, e no si mpl esment e encont rar para
ela u m lugar andi no no arquivo mor t o da histria do
pensament o.
Seleo de textos
Para os sujeitos do comport ament o crtico, o carter discre-
pante cindido do t odo social, em sua figura atual, passa a ser
contradio consciente. Ao reconhecer o modo de econo-
mia vigente e o t odo cultural nele baseado como produt o
do trabalho humano, e como a organizao de que a huma-
nidade foi capaz e que imps a si mesma na poca atual,
aqueles sujeitos se identificam, eles mesmos, com esse t odo
c o compreendem como vontade e razo: ele o seu prprio
mundo. Por out ro lado, descobrem que a sociedade com-
parvel com processos naturais extra-humanos, meros me-
canismos, porque as formas culturais baseadas em luta e
opresso no a prova de uma vontade autoconsciente e
unitria. Em outras palavras: este mundo no o deles, mas
sim o mundo do capital. Alis a histria no pde at agora
ser compreendida a rigor, pois compreensveis so apenas
os indivduos e grupos isolados, e mesmo esta compreenso
no se d de uma f or ma exaustiva, uma vez que eles, por
fora da dependncia interna de uma sociedade desumana,
so ainda funes merament e mecnicas, inclusive na ao
consciente. Aquela identificao port ant o contraditria,
pois encerra em si uma contradio que caracteriza todos
os conceitos da maneira de pensar crtica. Assim as catego-
rias econmicas tais como trabalho, valor e produtividade
61
62 Marcos Nobre
so para ela exatamente o que so nesta ordem [social], e
qualquer outra interpretao no passa de mau idealismo.
Por outro lado, aceitar isso simplesmente aparece como
uma inverdade torpe: o reconhecimento crtico das catego-
rias dominantes na vida social contm ao mesmo tempo a
sua condenao. O carter dialtico desta autoconcepo do
homem contemporneo condiciona em ltima instncia
tambm a obscuridade da crtica kantiana da razo. A razo
no pode tornar-se, ela mesma, transparente enquanto os
homens agem como membros de um organismo irracional.
Como uma unidade naturalmente crescente e decadente, o
organismo no para a sociedade uma espcie de modelo,
mas sim uma forma aptica do ser, da qual tem que se
emancipar. Um comport ament o que esteja orientado para
essa emancipao, que tenha por meta a transformao do
todo, pode servir-se sem dvida do trabalho terico, tal
como ocorre dentro da ordem desta realidade existente.
Cont udo ele dispensa o carter pragmtico que advm do
pensamento tradicional como um t rabal ho profissional
socialmente til.
Max Horkheimer,
"Teoria Tradicional e Teoria Crtica"
Contradies
Uma moral como sistema, com princpios e concluses,
uma lgica frrea e a possibilidade de uma aplicao segura
a todo dilema moral eis a o que se pede aos filsofos. Em
geral, eles responderam a essa expectativa. Mesmo quando
no estabeleceram nenhum sistema prtico ou uma casus-
A Teori a Cr ti ca 63
tica elaborada, eles consegui ram deduzi r do sistema terico
a obedincia aut ori dade. Na mai ori a das vezes, voltaram
a fundament ar, val endo-se dos recursos da lgica, da intui-
i o e da evidncia, t oda a escala dos valores tal como j a
sancionara a prtica pblica. "Honr ai os deuses com a
religio legada por vossos ancestrais", diz Epi curo e o pr-
prio Hegel secundou-o. Quem hesita a se pronunci ar nesse
sentido ser solicitado ai nda mai s energi cament e a fornecer
um pri nc pi o universal. Se o pensament o no se limita a
ratificar os preceitos vigentes, ele dever se apresentar de
manei ra ainda mais segura de si, mais universal, mais aut o-
ritria, do que quando se limita a justificar o que j est em
vigor. Ser que voc considera i nj ust o o poder domi nant e?
Quem sabe voc quer que i mpere o caos e no o poder? Voc
est criticando a uni formi zao da vida e o progresso? Ser
que, noi t e, a gent e deve vol t ar a acender velas de cera?
Ser que o fedor do lixo deve voltar a empest ear nossas
cidades, como na Idade Mdia? Voc no gosta dos mat a-
douros, ser que a sociedade deve passar a comer legumes
crus? Por mais absur do que seja, a resposta positiva a essas
questes encont ra ouvidos. O anarqui smo poltico, a reao
cultural baseada no artesanato, o vegetarianismo radical, as
seitas e part i dos excntricos t m o chamado apelo publici-
trio. A dout r i na s precisa ser geral, segura de si, universal
e imperativa. O que intolervel a tentativa de escapar
disjuntiva "ou isso ou aquilo", a desconfi ana do princ-
pio abstrato, a firmeza sem dout ri na.
" Wilhelm Nestle (org.), Die Nachsokratiker. Iena, 1923. Vol. I, 72a,
I-.195.
64 Marcos Nobre
Dois jovens conversam:
A Voc no quer ser mdico?
B Por causa da profisso, os mdi cos esto sempre
l i dando com os mor i bundos, e isso endurece as pessoas.
Depois, com a institucionalizao crescente, os mdi cos
passam a represent ar em face do doent e a empresa com sua
hi erarqui a. Mui t as vezes, ele se v t ent ado a se apresentar
como o admi ni st r ador da mor t e. Ele se t or na o agente da
grande empresa em face dos consumi dores. Quando se trata
de aut omvei s, isso no t o grave assim, mas quando os
bens admi ni st rados so a vida e os consumi dores so pes-
soas que sofrem, trata-se de uma situao em que no
gostaria de me encont rar. A profisso do mdi co de famlia
talvez fosse mais inofensiva, mas ela est em decadncia.
A Voc acha que no deveria mai s haver mdi cos e
que deveramos voltar aos charlates?
B No disse isso. S t enho hor r or de me t ornar
mdico, e sobret udo u m desses di ret ores-mdi cos com po-
der de comando sobre u m hospital pblico. Apesar disso,
acho que melhor, nat ural ment e, que haj a mdi cos e hos-
pitais do que deixar os doent es morrer. Tambm no quero
ser ne nhum pr omot or pblico, mas acho que dar liberdade
aos assaltantes seria u m mal mui t o mai or do que a existncia
dessa corporao que os pe na cadeia. A justia racional.
No sou cont ra a razo, s quero enxergar a f or ma que ela
assumi u.
A Voc est se cont radi zendo. Voc se aproveita o
t empo t odo dos servios dos mdi cos e dos juizes. Voc
t o cul pado quant o eles prpri os. S que voc no quer se
dar ao t rabal ho de fazer o que os out ros fazem por voc. Sua
A Teori a Cr ti ca 65
prpria existncia pressupe o pri nc pio a que voc gostaria
cie escapar.
B No nego isso, mas a cont radi o necessria. Ela
uma resposta cont radi o objetiva da sociedade. Quando
a diviso do t rabal ho to diferenciada como hoj e em dia,
possvel que em dado lugar se mani fest e u m hor r or res-
ponsvel pela culpabilidade de todos. Se esse hor r or se
di fundi r, se pelo menos uma pequena part e da humani dade
se t or nar consciente dele, talvez os mani cmi os e as peni -
tencirias se t or nem mais humanos e os t ri bunai s acabem
se t or nando suprfl uos. Mas no absol ut ament e por isso
que eu quero ser escritor. Eu s queria ver com mai or clareza
a situao terrvel em que t udo se encont ra hoj e em dia.
A Mas se t odos pensassem como voc, e ni ngum
quisesse suj ar as mos, ent o no haveria nem mdi cos nem
juizes, e o mundo pareceria ai nda mais horrvel.
B Mas j ust ament e isso que me parece questionvel,
pois, se t odos pensassem como eu, espero, no apenas os
remdios cont ra o mal i am diminuir, mas o pr pr i o mal. A
humani dade ai nda t em out ras possibilidades. Eu no sou a
humani dade inteira e no posso si mpl esment e t omar o seu
lugar em meus pensament os. O preceito mor al que diz que
cada uma de mi nhas aes deveria poder ser t omada como
uma mxi ma universal mui t o probl emt i co. Ele ignora a
histria. Por que mi nha averso a ser mdi co deveria eqi-
valer opi ni o de que no deve haver mdicos? Na verdade,
h t ant as pessoas a que podem ser bons mdi cos e t m mais
de uma chance de vir a ser mdicos. Se eles se compor t ar em
mor al ment e dent r o dos limites t raados at ual ment e para
66 Marcos Nobre
sua profisso, tero mi nha admi rao. Talvez cheguem mes-
mo a mi nor ar o mal que descrevi par a voc; talvez, ao
contrrio, agravem-no ai nda mais, apesar de t oda a sua
compet nci a tcnica e t oda a sua moral i dade. Mi nha vida,
tal como a imagino, meu hor r or e mi nha vont ade de conhe-
cer par ecem- me t o justificados como a prpri a profisso
de mdico, mesmo que eu no possa aj udar di ret ament e a
ni ngum.
AMa s se voc soubesse que voc poderi a, se estudas-
se par a mdico, vir a salvar a vida de uma pessoa amada, vida
que ela perderi a com t oda a certeza, no fosse por voc, voc
no se dedicaria i medi at ament e ao est udo da medicina?
B Provavelmente, mas voc mes mo est vendo que,
com seu gosto por uma coerncia inexorvel, voc acaba
t endo de recorrer a u m exempl o absurdo, enquant o eu, com
mi nha teimosia sem ne nhum sent i do prtico e com mi nhas
contradies, no me afastei do bom-senso.
Esse dilogo se repete sempre que uma pessoa no quer
abrir mo do pensament o em benefcio da prtica. Ela vai
sempre encont rar a lgica e a coerncia no lado contrrio.
Quem for cont ra a vivisseco no deve mais fazer nenhum
movi ment o respiratrio, por que isto pode custar a vida a
um bacilo. A lgica est a servio do progresso e da reao,
ou, em t odo caso, da realidade. Mas, na poca de uma
educao radi cal ment e realista, os dilogos t or nar am- se
mais raros, e o i nt erl ocut or neurt i co B precisa de uma fora
sobr e- humana para no ficar so.
Max Hor khei mer e Theodor Adorno,
Dialtica do Esclarecimento
A Teori a Cr ti ca 67
At a met ade do sculo XIX, o modo de pr oduo capitalista
se i mps a tal pont o, na Inglaterra e na Frana, que Mar x
pde reconhecer o quadr o institucional da sociedade nas
relaes de pr oduo e, ao mesmo t empo, criticar o f unda-
ment o de legitimao da troca dos equivalentes. Ele elabo-
rou a crtica da ideologia burguesa em f or ma de economia
poltica: sua teoria do valor do t rabal ho dest rui u a aparncia
de liberdade, na qual a relao de violncia social, subjacente
relao do t rabal ho assalariado, t ornara-se irreconhecvel
pela instituio j ur di ca do livre cont rat o de trabalho. Ora,
o que Marcuse critica em Max Weber o fat o de que, sem
ter levado em cont a a viso penet rant e de Marx, ele se fixa
a u m conceito abst rat o de racionalizao que no enuncia
o cont edo de adapt ao do quadr o institucional especfico
a cada classe, adapt ao aos subsistemas progressivos do
agir raci onal -com-respei t o-a-fi ns, mas que mais uma vez os
esconde. Marcuse sabe mui t o bem que a anlise marxista
no pode mais ser aplicada sem restries s sociedades do
capitalismo em fase t ardi a que Max Weber j t em em vista.
Mas ele queria most rar, t omando Max Weber como exem-
plo, que o desenvol vi ment o da sociedade moder na no qua-
dro de u m capitalismo regulado pelo Est ado escapa aos
conceitos, se o capi t al i smo liberal no f or pr evi ament e
conceitualizado.
Desde a l t i ma quar t a part e do sculo XIX nos pases
capitalistas mais avanados, duas tendncias de desenvolvi-
mento podem ser not adas: (1) u m acrscimo da atividade
intervencionista do Estado, que deve garant i r a estabilidade
68 Marcos Nobre
do sistema, e (2) uma crescente i nt erdependnci a ent re a
pesquisa e a tcnica, que t r ansf or mou a cincia na pri nci pal
fora produt i va. Ambas as t endnci as per t ur bam aquela
constelao do quadr o institucional e dos subsistemas do
agir raci onal -com-respei t o-a-fi ns, pela qual se caracterizava
o capitalismo desenvolvido dent ro do liberalismo. Com
isso, caem por t erra relevantes condies de aplicao da
economi a poltica, na f or mul ao que, t endo em vista o
capitalismo liberal, Mar x lhe deu a justo ttulo. Creio que a
chave para a anlise da constelao modi fi cada se encont ra
na tese bsica de Marcuse, segundo a qual tcnica e cincia
hoj e assumem t ambm o papel de legitimar a domi nao.
A regulao a longo prazo do processo econmico pela
interveno do Estado ori gi nou-se da defesa cont ra as dis-
funes que ameaavam o sistema de um capitalismo aban-
donado a si mesmo, cuj o desenvol vi mento efetivo cont ra-
riava t o obvi ament e a sua pr pr i a idia de uma sociedade
burguesa que se emanci passe da domi nao e neutralizasse
o poder. A ideologia bsica da troca justa, que Mar x conse-
guiu desmascarar t eori cament e, fracassou na prtica. A for-
ma de valorizao do capital na economi a pri vada s podi a
ser mant i da pelos corretivos estatais de uma poltica socioe-
conmi ca que estabilizava a circulao. O quadr o institu-
cional da sociedade foi repolitizado. Ele hoj e no mais
coincide i medi at ament e com as relaes de pr oduo, ou
seja, com uma or dem de direito pri vado que garant a a
circulao da economi a capitalista, e com as corresponden-
tes garantias gerais de or dem do Estado burgus. Com isso,
alterou-se a relao ent re o sistema econmi co e o sistema
A Teori a Cr ti ca 69
de domi nao: poltica no mais apenas um f enmeno de
superest rut ura. Se a sociedade no cont i nua mais a se au-
torregular "de manei r a aut noma" como uma esfera subja-
cente ao Estado e por ele pressuposta e essa era a verda-
deira novi dade do modo capitalista de pr oduo , a so-
ciedade e o Estado no esto mai s numa relao que a teoria
marxista det er mi nou como relao ent re a base e a superes-
t rut ura. Mas, ento, uma teoria crtica da sociedade t ambm
no pode mais ser f or mul ada exclusivamente em t ermos de
uma crtica da economi a poltica. Um modo de teorizao
que isole met odi cament e as leis econmi cas de movi ment o
da sociedade s pode ter a pret enso de compreender a
cont ext ura da vida da sociedade nas suas categorias essen-
ciais, enquant o a poltica for dependent e da base econmi ca
e essa l t i ma, inversamente, no tiver que ser compreendi da
t ambm como uma f uno da atividade do Estado e dos
conflitos que se resolvem politicamente. Segundo Marx, a
crtica da economia poltica s se constitua em teoria da
sociedade burguesa enquant o era uma crtica da ideologia.
Mas, se a ideologia da troca justa desmor ona, o sistema de
domi nao t ambm no pode mais ser criticado imediata-
mente a part i r das relaes de produo.
Depoi s do desmor onament o dessa ideologia, a domi -
nao poltica requer uma nova legitimao. Ora, como o
poder exercido i ndi ret ament e sobre o processo de troca
por sua vez cont r ol ado pela domi nao organi zada pr-
estatalmente e institucionalizada ao modo de um Estado, a
legitimao no pode mai s ser derivada de uma or dem no
poltica, das relaes de produo. Nessa medi da, renova-se
70 Marcos Nobre
a presso, existente nas sociedades pr-capitalistas, no sen-
t i do da legitimao direta. Por out r o lado, o restabelecimen-
t o da domi nao poltica i medi at a ( numa f or ma tradicional
da legitimao baseada sobre a t radi o cultural) t or nou- se
impossvel. Por u m lado, as tradies j esto de qual quer
manei ra enfraquecidas; por out ro, nas sociedades i ndus-
t ri al ment e desenvolvidas, os resultados da emanci pao
burguesa com respeito domi nao poltica i medi at a (os
direitos f undament ai s e o mecani smo das eleies gerais) s
podem ser plenamente ignorados nos perodos de ao. A
dominao formal ment e democrtica nos sistemas do capi-
t al i smo regulado pelo Estado est sujeita a uma exigncia de
legitimao que no pode mai s ser satisfeita pelas ret omadas
da f or ma de legitimao pr-burguesa. Por isso surge, no
lugar da ideologia da troca livre, um programa de substitu-
tivos, que no mais ori ent ado pelas conseqncias sociais
da i nst i t ui o do mer cado, mas pelas conseqnci as so-
ciais de uma atividade de Estado que compensa as di sfun-
es da troca livre. Ela conj uga o moment o da ideologia
burguesa do r endi ment o (que desloca, ent ret ant o, do mer-
cado para o sistema escolar, a at ri bui o de status conf or me
a medi da do r endi ment o individual) com a garantia do
m ni mo de bem-est ar social, a perspectiva de segurana do
lugar de trabalho, bem como a estabilidade dos venci men-
tos. Esse pr ogr ama de substitutivos obriga o sistema de
domi nao a preservar as condies de estabilidade de um
sistema global que garant a a segurana social e as chances
de ascenso pessoal, e a prevenir os riscos do crescimento.
Isso exige u m espao de mani pul ao para as intervenes
A Teori a Cr ti ca 71
do Estado que, ao preo de uma restrio das instituies
de direito privado, assegurara a f or ma pri vada da valoriza-
o do capital e vinculam a fidelidade das massas a essa forma.
Na medi da em que a atividade do Est ado dirigida para
a est abi l i dade e o c r e s c i me nt o do s i s t ema econmi co,
a poltica assume u m carter negativo peculiar: ela visa a
eliminar as di sfunes e evitar os riscos que ameacem o
sistema, por t ant o, no para a realizao de objetivos prticos
mas para a soluo de questes tcnicas. Isso foi most r ado
claramente por Claus Offe, na sua cont ri bui o para o Dia
dos Socilogos de Fr ankf urt (Frankf urt er Soziologentag)
deste ano: Nessa est rut ura da relao ent re a economi a e o
Estado, a ' poltica' degenera num agir que segue numerosos
e sempre novos ' i mperat i vos que dizem respeito ao que deve
ser evitado', ao mes mo t empo que a quant i dade de i nf or ma-
es sociolgicas diferenciadas, injetadas no sistema social,
possibilita o r pi do reconheci ment o das zonas de risco, bem
como o t r at ament o das ameaas efetivas. O que novo nessa
est rut ura ... o fat o de que os riscos da estabilidade i ncor-
por ados no mecani smo de valorizao do capital nos mer -
cados al t ament e organi zados da economi a privada, riscos
que, todavia, so manipulveis, prescrevem aquelas aes e
medi das preventivas que devem ser aceitas na medi da em
que se quer que elas sej am harmoni zadas com a ofert a de
legitimao existente (com pr ogr ama de substitutivos)".*
* Claus Offe, "Zur Klassentheorie und Herrschaftsstruktur im staatlich
regulierten Kapitalismus" (manuscrito).
72 Marcos Nobre
Offe v mui t o bem que a atividade do Est ado restrin-
gida por essas orientaes de ao preventiva a tarefas tc-
nicas admi ni st rat i vament e solveis, de modo que as ques-
tes prt i cas so deixadas de lado. Os contedos prticos so
eliminados.
A poltica de estilo antigo, j pela pr pr i a f or ma de
legitimar a domi nao, era levada a se det er mi nar em rela-
o aos fins prticos: as i nt erpret aes do "bem-vi ver" eram
dirigidas para as cont ext uras de interao. Isso vale t ambm
para a ideologia da sociedade burguesa. Por out r o lado, o
pr ogr ama de substitutivos hoj e domi nant e vol t ado to
soment e para o f unci onament o de um sistema dirigido. Ele
exclui as questes prticas e, com isso, a discusso sobre
aceitao de padres que s seri am acessveis a uma f or ma-
o democrt i ca da vont ade. A soluo de tarefas tcnicas
no depende de discusso pblica. Discusses pbl i cas po-
deri am, antes, probl emat i zar as condies de cont or no do
sistema, dent ro das quais as tarefas da atividade do Estado
se apresent am como tcnicas. A nova poltica de i nt erven-
ci oni smo do Estado exige, por isso, uma despolitizao da
massa da popul ao. Na medi da em que as quest es polti-
cas so excludas, a opi ni o pblica poltica per de a sua
funo. Por out r o lado, o quadr o institucional da sociedade
continua ainda a ser distinto do agir raci onal -com-respei t o-
a-afins. Tal como antes, sua organizao uma quest o da
prxis ligada comuni cao e no apenas da tcnica, como
quer que ela seja dirigida cientificamente. Port ant o, a ten-
dncia de pr a prxis ent re parnteses, ligada nova f or ma
de domi nao poltica, no se compreende por si s. O
A Teori a Cr ti ca 73
pr ogr ama de substitutivos que legitima a domi nao deixa
sem legitimao u m pont o i mport ant e: como fazer com que
a despolitizao das massas se t orne plausvel para elas
prprias? Marcuse poder i a responder a isso: fazendo com
que tcnica e cincia assumam tambm o papel de uma
ideologia.
Jrgen Habermas, "Tcnica e cincia
enquant o ' ideologia' ", seo V.
S-ar putea să vă placă și
- Homem e Sociedade - CARDOSO, Fernando Henrique IANNI, OctavioDocument332 paginiHomem e Sociedade - CARDOSO, Fernando Henrique IANNI, OctavioRafael Santos100% (6)
- Historia e Perspectiva Thompsom COMPLETADocument444 paginiHistoria e Perspectiva Thompsom COMPLETADouglas FáveroÎncă nu există evaluări
- DUMONT, L. O Individualismo - Uma Perspectiva Antropológica Da Ideologia Moderna PDFDocument55 paginiDUMONT, L. O Individualismo - Uma Perspectiva Antropológica Da Ideologia Moderna PDFRafael RodriguesÎncă nu există evaluări
- A Sociedade de Consumidores e a Perversão do Animal Laborans: uma análise de Hannah Arendt sobre nossos tempos sombriosDe la EverandA Sociedade de Consumidores e a Perversão do Animal Laborans: uma análise de Hannah Arendt sobre nossos tempos sombriosÎncă nu există evaluări
- Ensaio Sobre o HomemDocument201 paginiEnsaio Sobre o HomemMateus Domingues100% (1)
- O Prouni e o Projeto Capitalista de Sociedade: Educação da "Miséria" e Proletarização dos ProfessoresDe la EverandO Prouni e o Projeto Capitalista de Sociedade: Educação da "Miséria" e Proletarização dos ProfessoresÎncă nu există evaluări
- Marxismo e Teoria CriticaDocument293 paginiMarxismo e Teoria CriticaJoaoricardoatm100% (2)
- Ontologia e Crítica Do Tempo PresenteDocument306 paginiOntologia e Crítica Do Tempo Presenteeditoriaemdebate100% (4)
- LOWY, M. Método Dialético e Teoria PolíticaDocument15 paginiLOWY, M. Método Dialético e Teoria Políticaaline2tatianeÎncă nu există evaluări
- 2000 - Dore Soares - Gramsci, o Estado e A Escola PDFDocument490 pagini2000 - Dore Soares - Gramsci, o Estado e A Escola PDFGiuliana de Sá100% (1)
- O Indivíduo Urbano: cotidiano, resistência e políticas públicas em pequenas cidadesDe la EverandO Indivíduo Urbano: cotidiano, resistência e políticas públicas em pequenas cidadesÎncă nu există evaluări
- FERNANDES, Florestan - em Busca Do SocialismoDocument131 paginiFERNANDES, Florestan - em Busca Do SocialismoAnderson Silva100% (1)
- Jurgen Habermas - O Discurso Filosófico Da Modernidade PDFDocument339 paginiJurgen Habermas - O Discurso Filosófico Da Modernidade PDFChristian Chagas100% (2)
- Teoria crítica, neoliberalismo e educação: Análise reflexiva da realidade educacional brasileira a partir de 1990De la EverandTeoria crítica, neoliberalismo e educação: Análise reflexiva da realidade educacional brasileira a partir de 1990Încă nu există evaluări
- 11.12 - Claude Lefort - Direitos Do Homem e PolíticaDocument18 pagini11.12 - Claude Lefort - Direitos Do Homem e PolíticaCharlotte Harris100% (1)
- CHASIN, José - A Miséria Brasileira - 1964-1994 - Do Golpe Militar À Crise SocialDocument177 paginiCHASIN, José - A Miséria Brasileira - 1964-1994 - Do Golpe Militar À Crise SocialJCVictorÎncă nu există evaluări
- Discurso religioso como projeto político: Respeito ou afronta ao Estado laico?De la EverandDiscurso religioso como projeto político: Respeito ou afronta ao Estado laico?Încă nu există evaluări
- Teoria Sociológica - NICHOLAS S. TIMASHEFF PDFDocument417 paginiTeoria Sociológica - NICHOLAS S. TIMASHEFF PDFEduardo GuedesÎncă nu există evaluări
- Gaudêncio Frigotto - Um intelectual crítico nos pequenos e nos grandes embatesDe la EverandGaudêncio Frigotto - Um intelectual crítico nos pequenos e nos grandes embatesÎncă nu există evaluări
- Habermas - o Discurso Filosofico Da ModernidadeDocument275 paginiHabermas - o Discurso Filosofico Da ModernidadeWeslley MatosÎncă nu există evaluări
- Linguagens da Identidade e da Diferença no Mundo Ibero-americano (1750-1890)De la EverandLinguagens da Identidade e da Diferença no Mundo Ibero-americano (1750-1890)Încă nu există evaluări
- Jacques Derrida - GramatologiaDocument197 paginiJacques Derrida - GramatologiaRobson Malacarne100% (3)
- A Destruição Da RazãoDocument803 paginiA Destruição Da RazãoWagner Jr Oliveira100% (2)
- Nem Tudo É Relativo - Hilton JapiassuDocument63 paginiNem Tudo É Relativo - Hilton Japiassunelson_santos3779100% (1)
- Origens Da Dialética Do Trabalho - José Arthur GiannottiDocument350 paginiOrigens Da Dialética Do Trabalho - José Arthur GiannottiVirgínia Felipe ManoelÎncă nu există evaluări
- ADORNO, Theodor. Introdução À SociologiaDocument182 paginiADORNO, Theodor. Introdução À SociologiaLinda Mara Fraga100% (2)
- Modernização Reflexiva - GiddensDocument31 paginiModernização Reflexiva - Giddenstahcorrea0% (1)
- O Futuro Da DemocraciaDocument164 paginiO Futuro Da DemocraciaWelington LimaÎncă nu există evaluări
- A Situação Da Classe Operario Na InglaterraDocument363 paginiA Situação Da Classe Operario Na InglaterraJairo Laranjeira67% (3)
- Lecourt, D. para Uma Crítica Da EpistemologiaDocument9 paginiLecourt, D. para Uma Crítica Da EpistemologiaiunouruÎncă nu există evaluări
- Livro Sociologia para Educadores PDFDocument82 paginiLivro Sociologia para Educadores PDFCatatau100% (7)
- Alvaro Vieira PintoDocument16 paginiAlvaro Vieira Pintolilourencato0% (1)
- Teoria Do Agir ComunicativoDocument56 paginiTeoria Do Agir ComunicativoSara Santos100% (4)
- GIDDENS. A Constituição Da SociedadeDocument252 paginiGIDDENS. A Constituição Da SociedadeCarlos HenriqueÎncă nu există evaluări
- Nem Tudo É Relativo, Pois Hilton JapiassuDocument63 paginiNem Tudo É Relativo, Pois Hilton JapiassuAndre MR100% (1)
- LYOTARD, Jean-François - A Condição Pós-ModernaDocument78 paginiLYOTARD, Jean-François - A Condição Pós-ModernaCleber Araújo Cabral100% (2)
- BOITO JR, Armando. Política Neoliberal e Sindicalismo No BrasilDocument126 paginiBOITO JR, Armando. Política Neoliberal e Sindicalismo No BrasilRaphael Dal Pai100% (1)
- SAFATLE, Vladimir. 2012. A Esquerda Que Não Teme Dizer Seu NomeDocument89 paginiSAFATLE, Vladimir. 2012. A Esquerda Que Não Teme Dizer Seu Nomeallangmoreira100% (2)
- PAULANI, Leda Brasil DeliveryDocument74 paginiPAULANI, Leda Brasil DeliveryforaslanÎncă nu există evaluări
- Cronobibliografia de LukácsDocument4 paginiCronobibliografia de LukácsNatan OliveiraÎncă nu există evaluări
- Hochman, Gilberto Marta, Arretche - Políticas Públicas No BrasilDocument388 paginiHochman, Gilberto Marta, Arretche - Políticas Públicas No BrasilMatheus D Antonio Saraiva RenomiereÎncă nu există evaluări
- Max Weber Sociologia - COHN, GabrielDocument86 paginiMax Weber Sociologia - COHN, Gabrielsles22100% (2)
- Georg Lukács - para A Ontologia Do Ser Social - Obras de G. Lukács 14 (2018, Coletivo Veredas)Document730 paginiGeorg Lukács - para A Ontologia Do Ser Social - Obras de G. Lukács 14 (2018, Coletivo Veredas)Frederico Lambertucci100% (2)
- IANNI, Octavio - Pensamento Social BrasileiroDocument76 paginiIANNI, Octavio - Pensamento Social BrasileiroDarlan CamposÎncă nu există evaluări
- LIVRO Topicos Da Filosofia Da EducacaoDocument24 paginiLIVRO Topicos Da Filosofia Da EducacaoPaulo LopesÎncă nu există evaluări
- Gabriel Cohn. Crítica e Resignação.Document86 paginiGabriel Cohn. Crítica e Resignação.João Gabriel Messias100% (4)
- 3 - Sociologia Da Educação - RODRIGUES, Alberto TosiDocument42 pagini3 - Sociologia Da Educação - RODRIGUES, Alberto Tosiadanievski100% (13)
- Andery - para Compreender A CiênciaDocument437 paginiAndery - para Compreender A Ciênciasaraurrea071894% (32)
- A Ciência É InumanaDocument47 paginiA Ciência É InumanaRosano Freire100% (1)
- Wright Mills - 1959 - Do Artesanato IntelectualDocument18 paginiWright Mills - 1959 - Do Artesanato IntelectualValcilon Silva100% (2)
- Epistemologia Das Ciencias SociaisDocument176 paginiEpistemologia Das Ciencias Sociaistrick2Încă nu există evaluări
- OLIVEIRA Francisdo de Os Direitos Do Antivalor PDFDocument232 paginiOLIVEIRA Francisdo de Os Direitos Do Antivalor PDFMonica Brandao100% (2)
- Rodrigo Mascarados v1Document1 paginăRodrigo Mascarados v1rodrigosa1832Încă nu există evaluări
- Resol 168Document4 paginiResol 168rodrigosa1832Încă nu există evaluări
- Resol 044 ConsolidDocument18 paginiResol 044 Consolidrodrigosa1832Încă nu există evaluări
- Resol 080Document148 paginiResol 080rodrigosa1832Încă nu există evaluări
- A Filosofia Da UspDocument14 paginiA Filosofia Da UspMateus ToledoÎncă nu există evaluări
- Resol 135Document107 paginiResol 135rodrigosa1832Încă nu există evaluări
- Auditoria Cidadã FolhetoDocument2 paginiAuditoria Cidadã Folhetorodrigosa1832Încă nu există evaluări
- Declaração Sobre A Política Do PCBDocument20 paginiDeclaração Sobre A Política Do PCBrodrigosa1832Încă nu există evaluări
- 57306-Texto Do Artigo-72708-1-10-20130624 PDFDocument7 pagini57306-Texto Do Artigo-72708-1-10-20130624 PDFrodrigosa1832Încă nu există evaluări
- Notícia FundamentalDocument11 paginiNotícia Fundamentalrodrigosa1832Încă nu există evaluări
- Papel Da MoedaDocument10 paginiPapel Da Moedarodrigosa1832Încă nu există evaluări
- O Papel Do Direito Na Sociedade BurguesaDocument2 paginiO Papel Do Direito Na Sociedade Burguesarodrigosa1832Încă nu există evaluări
- O Problema Filosófico de Deus Na Filosofia de Gabriel MarcelDocument11 paginiO Problema Filosófico de Deus Na Filosofia de Gabriel Marcelrodrigosa1832Încă nu există evaluări
- Carlos Vainer Ippur Cidade de Excecao Reflexoes A Partir Do Rio de JaneiroDocument15 paginiCarlos Vainer Ippur Cidade de Excecao Reflexoes A Partir Do Rio de JaneiroLuiz Felipe CandidoÎncă nu există evaluări
- 2013 JoelPinheiroDaFonsecaDocument148 pagini2013 JoelPinheiroDaFonsecarodrigosa1832Încă nu există evaluări
- A Batalha Dos PoderesDocument199 paginiA Batalha Dos Poderesrodrigosa183260% (5)
- Mudanças Na Reforma Tributária de TrumpDocument4 paginiMudanças Na Reforma Tributária de Trumprodrigosa1832Încă nu există evaluări
- Desenvolvimentismo Como SimulacroDocument6 paginiDesenvolvimentismo Como Simulacrorodrigosa1832Încă nu există evaluări
- Relação JurídicaDocument2 paginiRelação Jurídicarodrigosa1832Încă nu există evaluări
- PFL e SarneyDocument41 paginiPFL e Sarneyrodrigosa1832Încă nu există evaluări
- O Estado É Racista, Mas Se Falo Isso É MimimiDocument6 paginiO Estado É Racista, Mas Se Falo Isso É Mimimirodrigosa1832Încă nu există evaluări
- Nao Banalizar Risco de GolpeDocument5 paginiNao Banalizar Risco de Golperodrigosa1832Încă nu există evaluări
- Modelo CV Estagiario TraineeDocument1 paginăModelo CV Estagiario TraineeJúnior QueirozÎncă nu există evaluări
- 2013 JoelPinheiroDaFonsecaDocument148 pagini2013 JoelPinheiroDaFonsecarodrigosa1832Încă nu există evaluări
- O Que É Financeirização IIDocument6 paginiO Que É Financeirização IIrodrigosa1832Încă nu există evaluări
- Modelo CV Estagiario TraineeDocument1 paginăModelo CV Estagiario TraineeJúnior QueirozÎncă nu există evaluări
- Trabalho FinalDocument8 paginiTrabalho Finalrodrigosa1832Încă nu există evaluări
- O Papel Do Direito Na Sociedade BurguesaDocument2 paginiO Papel Do Direito Na Sociedade Burguesarodrigosa1832Încă nu există evaluări
- O Papel Do Direito Na Sociedade BurguesaDocument2 paginiO Papel Do Direito Na Sociedade Burguesarodrigosa1832Încă nu există evaluări
- CriminologiaDocument2 paginiCriminologiarodrigosa1832Încă nu există evaluări
- Gabarito - Lista de Exercícios - Unidade - 2 PDFDocument4 paginiGabarito - Lista de Exercícios - Unidade - 2 PDFGabrielle MarquesÎncă nu există evaluări
- Activies Charges 2ºB 9ºDocument1 paginăActivies Charges 2ºB 9ºVictor Heder MacielÎncă nu există evaluări
- Funcao Social Da Escola SlidesDocument15 paginiFuncao Social Da Escola SlidesManuela Pires Weissböck EcksteinÎncă nu există evaluări
- DENIS Uma Introducão À História Do DesignDocument238 paginiDENIS Uma Introducão À História Do DesignANA OLIVEIRAÎncă nu există evaluări
- Manual de AprovaçãoDocument5 paginiManual de AprovaçãoEvelyn MotaÎncă nu există evaluări
- Invasões Francesas em PortugalDocument2 paginiInvasões Francesas em PortugalAlexandra SantiagoÎncă nu există evaluări
- BacteriofagosDocument11 paginiBacteriofagosAMINA PEDROÎncă nu există evaluări
- Redação Michael JordanDocument2 paginiRedação Michael JordanadasadasÎncă nu există evaluări
- Termo de Responsabilidade de Utilizacao de Veiculo Da EmpresaDocument3 paginiTermo de Responsabilidade de Utilizacao de Veiculo Da Empresaudia100% (1)
- Catalogo Saude Mercur 2023-2024Document88 paginiCatalogo Saude Mercur 2023-2024Poupemais PopularÎncă nu există evaluări
- O Messias Na Ótica Judaica PDFDocument239 paginiO Messias Na Ótica Judaica PDFHelio Dos Santos SouzaÎncă nu există evaluări
- Exercicios de Direito Processual PenalDocument17 paginiExercicios de Direito Processual Penalandreza marquesÎncă nu există evaluări
- A Teoria Dos Sistemas Sociais em Niklas Luhmann PDFDocument5 paginiA Teoria Dos Sistemas Sociais em Niklas Luhmann PDFSirley Coppi PereiraÎncă nu există evaluări
- Literatura 2 Série 2010Document35 paginiLiteratura 2 Série 2010Morena NeryÎncă nu există evaluări
- Planificação de Emergência e Atendimento de CatástrofesDocument5 paginiPlanificação de Emergência e Atendimento de CatástrofesIago FilipeÎncă nu există evaluări
- Lázaro Barbosa de SousaDocument4 paginiLázaro Barbosa de SousaMarcelo GomesÎncă nu există evaluări
- Manual WContDocument30 paginiManual WContAraujo saÎncă nu există evaluări
- Manuals Style Hci Isoflex Safety Valves Iom Crosby BP PT BR 7244434Document20 paginiManuals Style Hci Isoflex Safety Valves Iom Crosby BP PT BR 7244434EngenfabioÎncă nu există evaluări
- Alienação e IdeologiaDocument3 paginiAlienação e IdeologiaAlfredo RebelloÎncă nu există evaluări
- CIF - Conceitos Preconceitos ParadigmasDocument8 paginiCIF - Conceitos Preconceitos ParadigmasCarla Ganço100% (1)
- Dieta Ian SmithDocument1 paginăDieta Ian SmithIvamara Miranda0% (1)
- M.A.P.A. Proj. Urb. e Meio Amb.Document8 paginiM.A.P.A. Proj. Urb. e Meio Amb.RomariodaSilvaÎncă nu există evaluări
- Esfiha Aberta Tipo Habib'sDocument1 paginăEsfiha Aberta Tipo Habib'sAna Pedro De Souza BarbosaÎncă nu există evaluări
- História Do Tocantins - AtualizadoDocument139 paginiHistória Do Tocantins - AtualizadoJossivaldo Morais50% (2)
- A Lei Do Detetive Particular e A Investigação Criminal DefensivaDocument4 paginiA Lei Do Detetive Particular e A Investigação Criminal DefensivaLeon FrazaoÎncă nu există evaluări
- Iniciacao A Estetica - Ariano Suassuna (Cap. 18 - Cap. 19) PDFDocument15 paginiIniciacao A Estetica - Ariano Suassuna (Cap. 18 - Cap. 19) PDFRobassÎncă nu există evaluări
- A Tomada Do Brasil Pelos Maus B - Percival Puggina PDFDocument296 paginiA Tomada Do Brasil Pelos Maus B - Percival Puggina PDFDiego RamonÎncă nu există evaluări
- Plano de Ação Do Trabalho Docente - FGB - CHS - HistóriaDocument1 paginăPlano de Ação Do Trabalho Docente - FGB - CHS - HistóriaDaniela SousaÎncă nu există evaluări
- E-Book de Oportunidades MITRE Parcerias MaioDocument38 paginiE-Book de Oportunidades MITRE Parcerias Maioanna karla BernardesÎncă nu există evaluări
- SENAI - Contabilidade BásicaDocument46 paginiSENAI - Contabilidade BásicaPaulinho Teixeira100% (1)
- University of Chicago Press Fall 2009 Distributed TitlesDe la EverandUniversity of Chicago Press Fall 2009 Distributed TitlesEvaluare: 1 din 5 stele1/5 (1)
- University of Chicago Press Fall 2009 CatalogueDe la EverandUniversity of Chicago Press Fall 2009 CatalogueEvaluare: 5 din 5 stele5/5 (1)