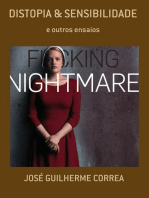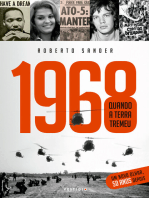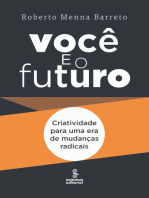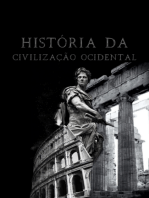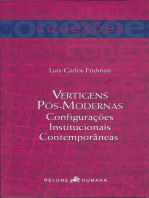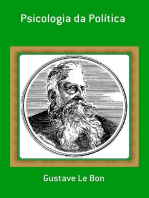Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Olgaria Matos
Încărcat de
PhilobloemDrepturi de autor
Formate disponibile
Partajați acest document
Partajați sau inserați document
Vi se pare util acest document?
Este necorespunzător acest conținut?
Raportați acest documentDrepturi de autor:
Formate disponibile
Olgaria Matos
Încărcat de
PhilobloemDrepturi de autor:
Formate disponibile
Ao Arqueólogo do Futuro
Carta de Olgária C. F. Matos
Olgária C. F. Matos*
Caro Arqueólogo do Futuro,
Entre os séculos XIX e XXI não se acreditava mais em Deus. A emancipação do homem seria
obra sua. E Victor Hugo, em Os Miseráveis, sob o império do otimismo científico, dava a
palavra ao estudante Enjolras: “Cidadãos, o século XIX é grande, mas o século XX será
feliz”. Falava-se no término da sociedade organizada em condições dolorosas de trabalho e,
com suas tecnologias, estava apta a passar “do socialismo científico ao socialismo utópico”.
Porém, os resultados anti-humanos da tecnologia – as catástrofes da energia nuclear civil, a
indústria bélica, a exploração produtivista da Natureza, a escassez de recursos morais para
“fazer dela o seu ‘órgão’” –, bem como a decepção diante dos gigantescos desenvolvimentos
da técnica não convirem ao aprofundamento das democracias políticas, questionaram a fé no
progresso. Mas a ele sucedeu a crença no destino – o fetichismo econômico. Com o que essa
época diluiu a questão existencial e metafísica das incertezas da vida e da história pelo elogio
da insegurança e do medo. Muitos consideravam a crise do futuro e sua heurística da
desesperança.
O “mercado” passou a determinar todas as esferas da vida. Sociólogos, antropólogos,
comunicadores faziam suas contas: em alguns países, era preciso mais tempo de trabalho do
que em outros para adquirir o mesmo bem – o que permitia conhecer a geografia das riquezas
e da miséria dos povos. Em 2006, por exemplo, um habitante de Nairobi precisava de 193
minutos de trabalho para consumir um hambúrguer Big Mac, 117 em Caracas, apenas 9 para
um habitante de Chicago ou de Tóquio, 21 em Bruxelas ou Paris. Procuravam a “precisão”
em cifras e números, estatísticas e gráficos; calculava-se tudo – o que resultava,
freqüentemente, em aberrações. Assim, se em um determinado período o crescimento
demográfico registrava um decréscimo do número de nascimentos, dizia-se que as mulheres
tinham 4,3 filhos em média.
Eram os anos 2000. As determinações econômicas aceleravam o tempo através dos
mecanismos de mercado. Fascinados, dirigentes empresariais buscavam o lucro em curto
prazo, tinham obsessão pela performance e pelo desempenho produtivo anfetamínico; este
levava os capitais ao deslocamento ininterrupto, de bolsa de valores em bolsa de valores, de
país em país, onde permaneciam por prazos cada vez mais curtos. O novo espírito do
capitalismo era o do “excesso”: falta de trabalho e desemprego, para muitos; transbordamento
de tarefas, para outros. Por volta dos anos 1980, quando se falava em tempo de trabalho,
diversamente dos anos 2000, era para reduzir suas horas semanais, na seqüência de lutas
históricas dos trabalhadores do mundo todo para conquistar tempo livre. No século XIX,
quando a ocupação nas cidades chegou a 16 horas diárias, seu aumento tanto absoluto quanto
relativo era uma espécie de tortura: “durante um longo período as pessoas tentaram uma
resistência desesperada contra o trabalho noturno ligado à industrialização. Trabalhar antes do
amanhecer ou depois do pôr-do-sol era considerado imoral”, observava Robert Kurz. À
maneira dos mercados financeiros, o homem não devia dormir nunca.
Predominava o sentimento de não mais se ter tempo – percepção paradoxalmente também
encontrada entre os desempregados. Na década de 1990, desaparecia a discussão pública
sobre a redução das horas de trabalho e ingressava o aumento dos anos de trabalho ao longo
da vida. A lógica contábil alegada nessa ocasião era a estabilidade atuarial da previdência
social e eliminou completamente a questão de que, com os ganhos de produtividade pela
automação e informatização, se o trabalhador fazia em uma hora o que antes fazia em duas,
não precisava continuar a trabalhar duas. Ao que parece, a derrota mundial das esquerdas com
a queda das ditaduras comunistas facilitou o esquecimento da questão.
A atividade sem trégua do modo de produção capitalista tornou-a desmedida, não tolerando o
tempo livre, sequer o noturno de repouso, passividade ou contemplação. A economia exigiu a
extensão e a intensificação da atividade até os últimos limites físicos e biológicos dos
indivíduos. Prometia felicidade pelo consumo de bens materiais, mas frustrava a promessa
porque produzia artificialmente a escassez para manter o mercado em funcionamento.
A temporalidade era patológica e se exprimia na ansiedade de “matar o tempo” – porque ele
esvaziava-se de significado – e instituiu-se o stress como ideal. Esse tempo era também o da
exaustão. Diferia a exaustão do cansaço. Se neste os indivíduos ainda eram capazes de
pensamento e imaginação, na exaustão não havia possibilidade de pensar, apenas
hiperatividade vazia e, com freqüência, destrutiva. Abulia e sofreguidão, embora
aparentemente diversos, implicavam, ambas, a “reificação de si”, a percepção de si como vida
sem valor. Não se podia deliberar acerca do trabalho ou dos usos que se poderia fazer do
tempo, as pessoas eram mais agidas que agentes: “a atividade tornara-se uma variante da
passividade e mesmo onde as pessoas se cansam até o limite (…); ela tomou a forma de uma
atividade, mas para nada – isto é, uma inatividade”, anotava Gunther Anders.
O tempo era monótono e preenchido por esportes radicais, obesidade mórbida, anorexias,
bulimia, terrorismos e guerras. Essa “agitação permanente” era a expressão do
desencantamento psíquico e da cultura, da perda de significado da vida – de onde a
“desvalorização de todos os valores”, a incapacidade de criar ou reconhecer valores.
No século XX, nada era realmente proibido e, no entanto, nada era realmente possível porque
não havia laços estáveis em nada e a monotonia era tanto mais terrível quanto menos se
vislumbrava um futuro. Vivia-se pressionado por “urgências”. Por isso, um filósofo escrevera
que “as rugas em nosso rosto são as assinaturas das grandes paixões que nos estavam
destinadas, mas nós, os senhores, não estávamos em casa”. É claro que ninguém estava
obrigado a viver dessa maneira, mas as pessoas se habituaram a obedecer sem mesmo ser
necessário obrigá-las.
Mas, caro Arqueólogo do Futuro, houve momentos disruptivos que prenunciavam o porvir. O
ano de 1968 parisiense cunhou a divisa: “não mude de emprego, mude o emprego de sua
vida”. E ainda: “vivre sans temps morts, jouir sans entraves” (viver sem horas mortas, fruir
sem entraves). Em 2006, novamente, jovens franceses – que haviam descoberto sua força
social, intelectual e política – recusavam uma lei considerada humilhante sobre como
conseguir um “primeiro emprego”. Desfilaram, aos milhares, com toda a população da cidade,
partindo da Praça da Bastilha – onde começara a Revolução Francesa, em 1789 – e dirigiram-
se a Montmartre, onde hoje se encontra o Sacre Coeur. Aí foram fuzilados os communards e
as esperanças revolucionárias em 1871. Lá os estudantes ergueram a faixa com a inscrição:
“1789-2006”. Essa lei, caso tivesse sido aprovada, enterrava, definitivamente, a República
Francesa, sua paixão pela igualdade, pela liberdade, a douceur de vivre e o sentido do bem
comum.
Os jovens preferiram um princípio estético em vez do pragmatismo e da adaptação às
condições impostas pelo mercado mundial. Recusaram o destino. Recusaram o realismo
político e seu gosto pelo status quo. Contra o princípio do desempenho, preferiam o literário.
Diziam: “chega de atos, queremos palavras”. Por seu irrealismo, jovens estudantes
promoveram a crítica radical do presente, quando se perdia o tempo e a vida. A imaginação
foi, nesses anos – 1871, 1968, 2006 –, a verdadeira força produtiva, desalienou o tempo e
reabriu o futuro.
Transformação radical, a “revolução” dos jovens estudantes reuniu poesia e revolução e,
nesse tempo, a “ação foi irmã do sonho”.
* Professora de Filosofia Política do Departamento de Filosofia da FFLCH-USP e autora, entre outros, de
“Os arcanos do inteiramente outro – A Escola de Frankfurt, a melancolia e a revolução”.
S-ar putea să vă placă și
- O novo tempo do mundo: E outros estudos sobre a era da emergênciaDe la EverandO novo tempo do mundo: E outros estudos sobre a era da emergênciaÎncă nu există evaluări
- Você e o futuro: Criatividade para uma era de mudanças radicaisDe la EverandVocê e o futuro: Criatividade para uma era de mudanças radicaisÎncă nu există evaluări
- Marxismo e Socialismo RealDocument6 paginiMarxismo e Socialismo RealcgonzagaaÎncă nu există evaluări
- A identidade envergonhada: Imigração e multiculturalismo na França hojeDe la EverandA identidade envergonhada: Imigração e multiculturalismo na França hojeÎncă nu există evaluări
- O longo caminho para a utopia: Uma história econômica do século XXDe la EverandO longo caminho para a utopia: Uma história econômica do século XXÎncă nu există evaluări
- Resgatar a função social da economia: uma questão de dignidade humanaDe la EverandResgatar a função social da economia: uma questão de dignidade humanaÎncă nu există evaluări
- Vertigens pós-modernas: Configurações institucionais contemporâneasDe la EverandVertigens pós-modernas: Configurações institucionais contemporâneasÎncă nu există evaluări
- Futuros em gestação: cidade, política e pandemiaDe la EverandFuturos em gestação: cidade, política e pandemiaGuilherme WinsnikÎncă nu există evaluări
- A volta do Estado planejador: neoliberalismo em xequeDe la EverandA volta do Estado planejador: neoliberalismo em xequeÎncă nu există evaluări
- A Humanidade e o Seu Mundo - Göran TherbornDocument5 paginiA Humanidade e o Seu Mundo - Göran TherbornMarcus ViniciusÎncă nu există evaluări
- CIBERPERFORMANCE Revista Outras Fronteiras Fabiana Mitsue NajimaDocument20 paginiCIBERPERFORMANCE Revista Outras Fronteiras Fabiana Mitsue NajimaFabiMitsueÎncă nu există evaluări
- Da Política Dos Estados À Política Das Empresas - Milton SantosDocument18 paginiDa Política Dos Estados À Política Das Empresas - Milton SantosPaiva RafaÎncă nu există evaluări
- Schwarz Ao Vencedor As Batatas Roberto Schwarz PDFDocument23 paginiSchwarz Ao Vencedor As Batatas Roberto Schwarz PDFAline AmorimÎncă nu există evaluări
- O indivíduo abstrato: Subjetividade e estranhamento em MarxDe la EverandO indivíduo abstrato: Subjetividade e estranhamento em MarxÎncă nu există evaluări
- O tempo de Keynes nos tempos do capitalismoDe la EverandO tempo de Keynes nos tempos do capitalismoÎncă nu există evaluări
- O Mito Do ProgressoDocument15 paginiO Mito Do Progressotelo_machadoÎncă nu există evaluări
- Decolonialidade a partir do Brasil - Volume IVDe la EverandDecolonialidade a partir do Brasil - Volume IVÎncă nu există evaluări
- Aula 2 - Histria e SociologiaDocument4 paginiAula 2 - Histria e SociologiaMarina LemosÎncă nu există evaluări
- Indivíduo AvulsonDocument20 paginiIndivíduo AvulsonGilson VedoinÎncă nu există evaluări
- A Grande Transformação. de Karl PolanyiDocument9 paginiA Grande Transformação. de Karl PolanyiLucia Mesquita BleasbyÎncă nu există evaluări
- Economia do individuo: O legado da escola austríacaDe la EverandEconomia do individuo: O legado da escola austríacaÎncă nu există evaluări
- SCHWARZ, Roberto. As Ideias Fora Do LugarDocument23 paginiSCHWARZ, Roberto. As Ideias Fora Do LugarAlckmar Luiz Dos SantosÎncă nu există evaluări
- Ensaios sobre o capitalismo no século XXDe la EverandEnsaios sobre o capitalismo no século XXÎncă nu există evaluări
- Vivianehis,+14 +2020 1Document19 paginiVivianehis,+14 +2020 1Anderson de paulaÎncă nu există evaluări
- O Capitalismo Deu Certo PARTE 1Document4 paginiO Capitalismo Deu Certo PARTE 1Francisco 7Încă nu există evaluări
- O Novo Humanismo: Paradigmas Civilizatórios Para o Século XXI a Partir do Papa FranciscoDe la EverandO Novo Humanismo: Paradigmas Civilizatórios Para o Século XXI a Partir do Papa FranciscoÎncă nu există evaluări
- Aula - Características Da Pós-ModernidadeDocument6 paginiAula - Características Da Pós-ModernidadeCarlos SouzaÎncă nu există evaluări
- O populismo reacionário: ascensão e legado do bolsonarismoDe la EverandO populismo reacionário: ascensão e legado do bolsonarismoEvaluare: 5 din 5 stele5/5 (1)
- Texto 05 Pags 108-123 Cipriano-LuckesiDocument16 paginiTexto 05 Pags 108-123 Cipriano-LuckesiAbiru1902Încă nu există evaluări
- As Farpas: Chronica Mensal da Politica, das Letras e dos Costumes (1878-01)De la EverandAs Farpas: Chronica Mensal da Politica, das Letras e dos Costumes (1878-01)Încă nu există evaluări
- SANTOS, Milton - Polita Das Empresas Politica Dos EstadosDocument12 paginiSANTOS, Milton - Polita Das Empresas Politica Dos EstadosGabriel PelaquinÎncă nu există evaluări
- A Sociedade Capitalist A e A Mentalidade BurguesaDocument7 paginiA Sociedade Capitalist A e A Mentalidade BurguesaisaacdiasÎncă nu există evaluări
- Ilya Prigogine - Carta para As Futuras GeraçõesDocument6 paginiIlya Prigogine - Carta para As Futuras GeraçõesN. BaumgratzÎncă nu există evaluări
- A filosofia do fracasso: ensaios antirrevolucionáriosDe la EverandA filosofia do fracasso: ensaios antirrevolucionáriosÎncă nu există evaluări
- AmostraDocument10 paginiAmostraBIANCA CANTOÎncă nu există evaluări
- Capital e Trabalho - 1947 - Dom Antônio Almeida Morais JúniorDocument183 paginiCapital e Trabalho - 1947 - Dom Antônio Almeida Morais JúniorPereira LucianoÎncă nu există evaluări
- Ideal e Luz: Pensamento, espiritualidade, mundo unidoDe la EverandIdeal e Luz: Pensamento, espiritualidade, mundo unidoÎncă nu există evaluări
- Direito, Estado e Sociedade: intersecções: Volume 5De la EverandDireito, Estado e Sociedade: intersecções: Volume 5Încă nu există evaluări
- A Era Da IntolerânciaDocument322 paginiA Era Da IntolerânciaAdemarcos Almeida Porto100% (1)
- A grande regressão: um debate internacional sobre os novos populismos — e como enfrentá-losDe la EverandA grande regressão: um debate internacional sobre os novos populismos — e como enfrentá-losEvaluare: 4 din 5 stele4/5 (1)
- Subdesenvolvimento E O Problema Da PobrezaDe la EverandSubdesenvolvimento E O Problema Da PobrezaÎncă nu există evaluări
- A Moral Burguesa (Século XIX)Document4 paginiA Moral Burguesa (Século XIX)fernandomorariÎncă nu există evaluări
- A Moral Comunista PDFDocument18 paginiA Moral Comunista PDFfernandomorariÎncă nu există evaluări
- Uma Nova Forma de Pensar - Movimento Zeitgeist - Cap. 3. Buscando SoluçõesDocument9 paginiUma Nova Forma de Pensar - Movimento Zeitgeist - Cap. 3. Buscando SoluçõesfernandomorariÎncă nu există evaluări
- Genealogia - Vida e Valor em NietzscheDocument16 paginiGenealogia - Vida e Valor em NietzschefernandomorariÎncă nu există evaluări
- Pierre Clastres - Arqueologia Da Violência - Antropologia Politica PDFDocument223 paginiPierre Clastres - Arqueologia Da Violência - Antropologia Politica PDFSarah Schimidt Guarani Kaiowá100% (5)
- "O Socialismo É Uma Doutrina Triunfante" - Antônio CândidoDocument17 pagini"O Socialismo É Uma Doutrina Triunfante" - Antônio CândidofernandomorariÎncă nu există evaluări
- Olgária Matos - A Escola de Frankfurt - Luzes e Sombras Do Iluminismo PDFDocument129 paginiOlgária Matos - A Escola de Frankfurt - Luzes e Sombras Do Iluminismo PDFfernandomorari100% (1)