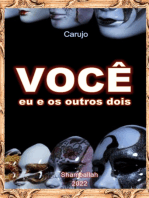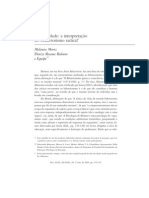Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
O Autoconhecimento, O Narrador Onisciente, A Vida Comum
Încărcat de
manabivskDrepturi de autor
Formate disponibile
Partajați acest document
Partajați sau inserați document
Vi se pare util acest document?
Este necorespunzător acest conținut?
Raportați acest documentDrepturi de autor:
Formate disponibile
O Autoconhecimento, O Narrador Onisciente, A Vida Comum
Încărcat de
manabivskDrepturi de autor:
Formate disponibile
ARTIGO O AUTOCONHECIMENTO, O NARRADOR ONISCIENTE, A VIDA COMUM
O AUTOCONHECIMENTO, O
NARRADOR ONISCIENTE, A
VIDA COMUM1
Waldomiro José da Silva Filho (UFBA)
waldojsf@ufba.br
Resumo: este texto investiga algumas dificuldades que o Externalismo Se-
mântico apresenta para a idéia de “autoconhecimento” e “autoridade da
primeira pessoa”. Defendo que essas dificuldades nascem, principalmente,
do fato de que os argumentos externalistas, frequentemente, recorrem a
experimentos mentais construídos na perspectiva de um narrador onisciente.
Creio que “autoconhecimento” e “autoridade da primeira pessoa” devem
ser pensados não do ponto de vista da epistemologia, mas das nossas ca-
pacidades práticas ordinárias de avaliarmos, ponderarmos, criticarmos,
julgarmos nossos pensamentos, atitudes e ações, principalmente quando
queremos dar uma prova, planejar algo, conversar com outras pessoas, jus-
tificar, explicar, enfim, quando queremos oferecer razões.
Palavras-chave: autoconhecimento, externalismo, narrador onisciente
1. Sinto como se estive andando em círculos. Por que eu
ainda não me decidi sobre qual o melhor argumento filosófico
para responder à pergunta sobre a possibilidade ou impossibi-
lidade de conhecermos nossa própria mente? Alguém poderia
dizer: “A filosofia é muito difícil”. Talvez. Talvez, no fundo, eu
não tenha entendido alguma coisa. Estou ora agitado, ora apá-
tico e gasto mais tempo lendo livros e artigos sobre esse tema
do que seria razoável para uma pessoa comum como eu, que se
interessa por outros assuntos da vida e não apenas pela filoso-
Philósophos 11 (2) : 287-303, ago./dez. 2006 287
Waldomiro José da Silva Filho
fia. Mas onde eu errei para chegar hoje, depois de tantos anos,
a ter uma dúvida dessa natureza? Se não estudasse filosofia, eu
teria essa dúvida?
Quando escrevia esse texto, lembrei-me o quanto é em-
baraçosamente engraçada e absurda a situação do personagem
Vitangelo Moscarda, do romance Um, Nenhum e Cem Mil, de
PIRANDELLO (2001): numa certa manhã, sua mulher, Dida,
faz um comentário despretensioso sobre seu nariz – que era leve-
mente torto para a direita (Ibid., p. 19); Vitangelo, ao constatar
que nunca percebera aquele seu singelo defeito facial, se dá conta
de que nunca soube nem sabe qualquer coisa sobre si. Ele brada:
Como suportar em mim este estranho? Este estranho que eu mesmo era
para mim? Como não ver? Como não o conhecer? Como ficar sempre
condenado a levá-lo comigo, em mim, à vista dos outros e no entanto
invisível para mim?. [itálicos do autor] (Ibid.,p. 34)
Isso não passaria de um simples jogo cômico numa peça
literária fantasiosa, caso não existissem argumentos filosóficos
importantes que se opõem às nossas crenças não-filosóficas e
filosóficas, sobre o conhecimento certo e garantido dos conteú-
dos dos nossos próprios estados mentais. E, de fato, esta é uma
dúvida à qual podemos chegar se acompanharmos o raciocínio
de alguns filósofos externalistas. Eles dizem que o conteúdo de
nossos estados mentais intencionais está relacionado com o mun-
do externo, e que “os significados não estão na cabeça” (PUT-
NAM, 1996, p. 13). Grosso modo, para o externalismo, o que
é pensado, o que é objeto da experiência e o que é objeto da
fala depende, ao menos em parte, do mundo exterior à mente
do sujeito, ou ainda, é causado pelo mundo exterior. Ou seja,
os estados mentais não poderiam existir tal como os descreve-
mos comumente, caso o sujeito não exista num mundo exte-
rior; as atitudes proposicionais, como crenças, desejos, intenções,
288 Philósophos 11 (2) : 287-303, ago./dez. 2006
ARTIGO O AUTOCONHECIMENTO, O NARRADOR ONISCIENTE, A VIDA COMUM
pensamentos, não poderiam ser corretamente caracterizadas e
individualizadas sem os objetos e o mundo no qual a pessoa
está situada temporal e espacialmente.
Recorrendo a elaboradíssimos experimentos mentais
(notadamente o experimento das “Terras Gêmeas” e suas
variações), os externalistas demonstraram que, se o entorno
físico (por exemplo, a composição química dos objetos) ou
social (por exemplo, a convenção lingüística) do sujeito se
modifica em certos aspectos, necessariamente, o conteúdo dos
pensamentos e crenças do sujeito também se modificará2. Para
eles, fatos, objetos e acontecimentos que se dão no entorno,
no meio ambiente físico-social do indivíduo, têm um papel na
individualização dos conteúdos dos seus pensamentos.
Ora, se para o externalista o que um sujeito pensa
depende do seu entorno e, em particular, de fatos como o da
composição química das substâncias e da prática lingüística de
uma comunidade, então isso deve sugerir que o externalismo
implica num resultado contra-intuitivo, segundo o qual o
sujeito pode conhecer o conteúdo do seu próprio pensamento
apenas investigando a composição química das substâncias
ou a prática lingüística da comunidade. Também podemos
ser induzidos a pensar que, aquilo que tradicionalmente é
chamado de “conhecimento introspectivo”, “conhecimento dos
próprios estados mentais”, a “autoridade da primeira pessoa”,
simplesmente não é o caso – ao falarmos de nós mesmos estaríamos
aplicando as palavras “saber” e “conhecer” indevidamente3.
2. Mas alguns filósofos externalistas, entre eles Donald
DAVIDSON (1987) e Tyler BURGE (1998b), argumentam
que não apenas a idéia de “autoconhecimento” não é contrária
ao externalismo, como, na verdade, essa noção tem um papel
crucial para nossa compreensão da racionalidade e da objetivi-
dade dos pensamentos, crenças e ações humanas comuns.
Philósophos 11 (2) : 287-303, ago./dez. 2006 289
Waldomiro José da Silva Filho
Mas não parece óbvio? Se tivermos uma crença ou um
pensamento, não seria uma condição necessária saber que temos
essa crença ou esse pensamento? Faria algum sentido dizer que
tenho uma crença, mas não sei que a tenho ou o que significa?
Devemos evitar certas confusões e perceber que há uma
diferença aqui: de um lado, o conteúdo de um pensamento de
primeira-ordem, de fato, em parte, depende do entorno e tem
como objeto algo que se refere à cadeia causal entre mente
e mundo; um exemplo disso é o pensamento “há água neste
copo”. Do outro lado, o status epistêmico específico de um
juízo ou pensamento de segunda-ordem sobre o conteúdo do
pensamento de primeira-ordem não tem os mesmos critérios de
verdade em relação ao entorno; um exemplo é “penso que há
água no copo”. Esses juízos e pensamentos seriam caracteristi-
camente autoverificáveis, já que ter tais juízos e pensamentos faz
com que seja verdadeiro dizer que os têm e, mais ainda, disser
que sabe que os têm e o que eles significam.
Embora certas condições externas devam comparecer
para que os pensamentos sejam o que são e tenham um
conteúdo específico, conhecer que o pensamento ocorre (que
temos um pensamento com um conteúdo específico) não
depende de conhecer todas as condições que possibilitam nossos
pensamentos e juízos, inclusive as condições externas, de modo
absoluto4.
O fato de que não podemos recorrer a investigações em-
píricas para discriminar nossos pensamentos de outros pensa-
mentos que poderíamos ter se estivéssemos em outro entor-
no, não mina nossa habilidade de conhecer o que são nossos
pensamentos. Nós individualizamos nossos pensamentos ou
os discriminamos de outros pensamentos, exatamente pensan-
do aquele pensamento e não outro, auto-atributivamente (Cf.
BURGE, 1998a, p 119).
290 Philósophos 11 (2) : 287-303, ago./dez. 2006
ARTIGO O AUTOCONHECIMENTO, O NARRADOR ONISCIENTE, A VIDA COMUM
Por outro lado, do mesmo modo, os casos paradigmá-
ticos de autoconhecimento são essencialmente pessoais; eles
dependem de que o juízo realize-se simultaneamente do pró-
prio ponto de vista da primeira pessoa e sobre o ponto de
vista da primeira pessoa. Quando eu julgo: “Eu estou pen-
sando que escrever requer concentração”, o tempo do juízo e
o tempo do pensamento que está sendo julgado são os mes-
mos; e a identidade do pronome da primeira pessoa assinala
e identifica o ponto de vista entre o juízo e o pensamento
sobre algo.
3. O filósofo brasileiro Paulo Faria, porém, no texto
“Memória e inferência”, apresentou uma séria dificuldade para
a solução que autores como Burge e Davidson pensam ter en-
contrado para o problema do “autoconhecimento” e da “auto-
ridade da primeira pessoa”. Paulo não deixa passar despercebi-
do que, entre outros aspectos, a defesa do autoconhecimento
autoverificável está restrita ao tempo presente, ou seja, “aos pen-
samentos cuja expressão característica é a primeira pessoa no
tempo presente, no modo indicativo, em seu uso assertórico”
(FARIA, 2005, p. 11). É claro que podemos perguntar: seria
isso suficiente para garantir a racionalidade? O que dizer de
um pensamento que ocorre numa seqüência temporal e que
envolve não apenas o estado atual, mas também a preservação
de conteúdos semânticos pela memória – como ocorre com a
maioria dos nossos pensamentos e crenças?
Parece que a coberta é curta: cobrimos a cabeça e des-
cobrimos os pés, já que salvar o conhecimento imediato, no
presente, em pouco ou quase nada resolve o problema da pre-
servação dos conteúdos proposicionais nem salva de um ceti-
cismo radical a racionalidade da nossa conduta cognitiva que,
na vida comum, é dinâmica e transcorre no tempo.
Philósophos 11 (2) : 287-303, ago./dez. 2006 291
Waldomiro José da Silva Filho
No engenhoso experimento mental da “jarra chinesa”,
de Paulo Faria, um sujeito via todos os dias uma jarra numa
loja e pensava em comprá-la em tempo oportuno. Porém, a
loja dispunha de inúmeros vasos iguais que substituíam os
exemplares da vitrine. Esse sujeito, quando pensa naquela jarra
chinesa, não sabe disso. Esse experimento denuncia que um
dos elementos centrais da “autoridade da primeira pessoa” – a
capacidade de discriminar os conteúdos das próprias atitudes
proposicionais – não é satisfeito.
Vejam como a situação é constrangedora: posso pensar
ou acreditar que “Há água no copo”; o conteúdo do pensa-
mento é que há água no copo, e é verdadeiro se há água no
copo. Mas mesmo que esse pensamento seja verdadeiro, não
sei que há água no copo porque há a possibilidade de eu estar
iludido ou ter sido transportado para a Terra-Gêmea e, assim,
não poder distinguir a ilusão ou o novo contexto; consequen-
temente, não posso distinguir o conteúdo do meu pensamento
(Cf. BAR-ON, 2004, p. 430-1). Ora, se sei que tenho certos
pensamentos, mas não posso discriminar os conteúdos desses
pensamentos, “não sei, em um sentido perfeitamente intui-
tivo, que pensamento pensei” (FARIA, 2005, p. 13). Com o
caso da jarra chinesa, a “vulnerabilidade da memória” torna-se
um problema, pois, nas palavras de Paulo, “dada certa concep-
ção pelo menos plausível sobre a constituição dos conteúdos
intencionais, alterações do conteúdo conceitual da memória,
seguidamente inacessíveis à detecção pelos próprios sujeitos,
devem constituir uma fonte amplamente disseminada, e tão
disseminada quanto despercebida, de irracionalidade” (Ibid.,
2005, p. 1-2)5.
4. Não discutirei uma possível solução de Burge para
esse problema no recurso à análise da analogia entre anáfora e
292 Philósophos 11 (2) : 287-303, ago./dez. 2006
ARTIGO O AUTOCONHECIMENTO, O NARRADOR ONISCIENTE, A VIDA COMUM
memória preservativa (Cf. BURGE, 1998c). Até onde consigo
compreender – e muita coisa realmente me escapa –, concordo
com a argumentação de Paulo naquele texto, inclusive com sua
conclusão, quando fala que desafios nascidos dessa dificuldade
do externalismo toca o nervo da própria tarefa da filosofia que
é – como a vida, acrescento eu – um trabalho sem garantias (Cf.
Ibid., p. 20)6.
Mesmo assim, eu gostaria de acrescentar minha própria
opinião não-filosófica sobre o assunto: não creio que as provas
lógicas da vulnerabilidade, da falibilidade da autoridade da
primeira pessoa ameacem realmente o autoconhecimento, a
racionalidade e objetividade das nossas crenças e ações. Se me
recordo bem, boa parte da reflexão epistemológica nos diz que
em todos os casos que envolvem conhecimento – se é que co-
nhecemos –, não estamos plenamente garantidos e imunes ao
erro; não seria de esperar que estivéssemos imunes em ques-
tões de autoconhecimento.
5. Em minha opinião, a suspeita de que o autoconheci-
mento não é o caso tem dependido, necessariamente, de uma
imagem muito dramática das precariedades e incapacidades
reivindicadas para o homem. A idéia de “estar enganado”, por
exemplo, no debate epistemológico, notadamente externalista,
extrapola em muito o sentido comum de erro e engano. O
“erro”, o “engano”, a “vulnerabilidade” de que tanto se fala
e que tanto estrago tem causado, depende não apenas que per-
cebamos que erramos aqui e acolá ou de que alguém nos diga
isso, mas de algo que tenho chamado de perspectiva do narrador
onisciente,7 que arquiteta armadilhas lógicas e, ao nos perguntar
se o conhecimento de si é o caso, retira-nos do contexto usual
do pronome “eu”, da “dúvida” e das atitudes comuns do tipo
“eu sei que”, “eu acredito que”. Pensamos a possibilidade e im-
Philósophos 11 (2) : 287-303, ago./dez. 2006 293
Waldomiro José da Silva Filho
possibilidade de nossas crenças terem os conteúdos que têm,
de nossas palavras terem o significado que têm, de pensarmos
nossos pensamentos e pensarmos sobre nós mesmos de um
ponto de vista de outra pessoa que conhece mais sobre nós e sobre
nosso entorno do que nós mesmos.
Quando falo de um “narrador onisciente”, não estou fa-
lando de um novo experimento mental ou de um novo perso-
nagem que vem compor os experimentos mentais comuns aos
argumentos externalistas. Os experimentos mentais têm inva-
riavelmente a mesma estrutura narrativa: demonstram que os
nossos estados mentais estão relacionados com o entorno, mas
que muitas vezes desconhecemos o verdadeiro conteúdo desse es-
tado mental, porque desconhecemos a coisa-matéria que compõe
o mundo onde habitamos atualmente ou desconhecemos a refe-
rência das palavras que usamos. Ou não podemos discriminar
as condições em que os nossos pensamentos e palavras têm o
conteúdo que supomos ter.
Mas por que, nesses casos, se afirma que há um desconhe-
cimento? A razão é muito simples: esquecemo-nos que estamos
tratando de uma situação na qual o filósofo ou um escritor
constrói o experimento mental e assume a posição de um nar-
rador que sabe de antemão a natureza dos objetos do entorno
(sua essência), o significado real das palavras, a referência pre-
cisa dos pensamentos – um conhecimento que necessariamente,
enquanto sujeitos não-oniscientes, não temos.
Do ponto de vista de um narrador subjetivo, pessoal e
contingente – como somos, suponho –, pensamos que a água é
um líquido e sacia a sede. Mas se mudamos para a perspectiva
do narrador onisciente – que não é Deus nem o gênio maligno
– logo imaginamos a situação na qual o mundo não é como
correntemente pensamos que ele é; uma situação na qual não
é com este mundo – nosso mundo – que nós interagimos.
294 Philósophos 11 (2) : 287-303, ago./dez. 2006
ARTIGO O AUTOCONHECIMENTO, O NARRADOR ONISCIENTE, A VIDA COMUM
Como ele – esse narrador onisciente – sabe? Como che-
gou a essas conclusões? Quem disse a ele? Como saber que
Terra, que Terra-Gêmea? Lendo o jornal? Conversando com
amigos?8
6. Creio que, fora das filosofias da consciência modernas,
não há sentido em perguntar se conhecemos o mundo exterior,
outras mentes ou a própria mente. Como sugere DAVIDSON
(2001a; 2001b e 2004), devemos abandonar a epistemologia
no estilo cartesiano, uma epistemologia que é dependente
de uma certa concepção da mente e do conhecimento, que é, ao
mesmo tempo, subjetivista, pois supõe que o mundo de cada
pessoa é construído a partir de um material disponível à sua
consciência, e individualista, já que reporta à experiência singu-
lar, isolada e irreprodutível de um indivíduo.
Fora desse quadro de referências, podemos pensar nos-
so pensamento (e outros estados mentais) num “envolvimen-
to ordinário, cotidiano com o mundo” (MALPAS, 2005, p.
51). Devemos abandonar a idéia de que o mundo é qualquer
coisa além do que é dado no e através do nosso envolvimento
contínuo e cotidiano com as coisas ou que as nossas crenças
podem estar baseadas em alguma outra coisa que não seja
esse envolvimento cotidiano. Cada um de nós, como nar-
radores, intérpretes e agentes contingentes, empíricos, faz
perguntas do tipo: “Será que está chovendo lá fora?”, mas
raramente “Conheço o mundo exterior?”; ou pergunta “Por
que você está tão triste ultimamente?”, mas quase nunca
“Conheço as mentes das outras pessoas – caso elas tenham
mentes?”. Eu mesmo me perguntei várias vezes nos últimos
dias “Será que eu deveria apresentar este texto para a revista
Pholósophos?”, mas eu não me lembro de ter me perguntado
“Conheço minha mente?”
Philósophos 11 (2) : 287-303, ago./dez. 2006 295
Waldomiro José da Silva Filho
Um homem pode fazer uma pergunta (sabemos disso
porque no final da sua frase há uma interrogação) – e mesmo
assim não saber do que trata a pergunta ou não esperar que al-
guém lhe responda? Tenho agora uma dúvida (mas parece que
o sinal de interrogação não está depois de uma frase, mas depois
de um pensamento) – posso não saber do que trata esta dúvida
ou não esperar dissipar a interrogação?
7. Um narrador onisciente, é claro, não é um narrador con-
tingente nem participa da comunicação contingente. O narrador,
o intérprete, o agente contingente é qualquer um de nós que fala
do ponto de vista que tem – em virtude de alguma descoberta
científica, da conversa com um amigo ou da leitura do jornal – e
não sabe de antemão nada além do que pode aprender, experi-
mentar, ou refletir. Sim, eu disse “refletir”; e o uso desse termo
não poderia ser algo estranho. Se não me engano, a argumenta-
ção de Burge a favor de nossa “pretensão legítima” (“entitlement”)
ao autoconhecimento e à autoridade da primeira pessoa trata de
algo que é constitutivo da nossa atitude mental cotidiana e não é
uma “mera curiosidade filosófica” (BURGE, 1998b, p. 241). No
dia-a-dia, formulamos juízos cujos objetos são nossos próprios
estados, crenças, pensamentos, e nisso está implicada tal capa-
cidade de refletir e reivindicar razões. Parece-me que para ele,
todos nós, mesmo os céticos, concebem a prática de reconhecer
e efetivamente empregar um raciocínio crítico ou recorrer a ra-
zões e raciocínio. Não é tão raro assim avaliarmos, ponderarmos,
criticarmos, julgarmos nossos pensamentos, atitudes e ações,
principalmente quando queremos dar uma prova, planejar algo,
conversar com outras pessoas, justificar, explicar, enfim, quando
queremos oferecer razões – no sentido trivial, não-filosófico, de
“ter razões”. Para Burge, isso claramente requer uma habilida-
de de segunda-ordem para pensar sobre os conteúdos dos nossos
296 Philósophos 11 (2) : 287-303, ago./dez. 2006
ARTIGO O AUTOCONHECIMENTO, O NARRADOR ONISCIENTE, A VIDA COMUM
pensamentos ou proposições de primeira-ordem (Cf. Ibid., p. 246);
numa palavra, isso envolve autoconhecimento.
Burge, ademais, considera necessário para a prática do
raciocínio crítico não apenas o autoconhecimento básico no
presente do indicativo, mas também a memória preservativa,
pois ela nos provê de um conhecimento dos nossos estados
e pensamentos passados (Cf. BURGE, 1995; 1998b; 1998c e
2000). A tal “pretensão legítima” permanece constante, mes-
mo diante da possibilidade de mudanças no meio-ambiente
ou de conteúdos conceituais que ignoramos como pensadores
e falantes contingentes.
Pensemos na situação corriqueira da conversa, da in-
terlocução, da disputa: ela não é possível sem que concebamos
que quando um falante diz, em referência a si mesmo, que tem
uma crença, desejo ou intenção, existe uma presunção de que
ele não se engana quanto a isso.
8. É possível estarmos enganados em relação aos nos-
sos pensamentos e crenças? Podemos conceber que este meu
pensamento não é meu, que isso que digo não é o que quero
dizer, que não sei se acredito nesta minha crença? Sim, é claro.
E isso é freqüente – é desagradável, incômodo, perturbador,
mas ocorre. Quando isso ocorre, quando o autoconhecimento
falha, falha também nossa capacidade de racionalidade (Cf.
BURGE, 1998b, p. 261), de reflexão, de crítica. Dizemos: isso
é irracional. Mas por que o drama? Sim, às vezes somos racio-
nais – e não somos menos humanos porque somos tão vulne-
ráveis. É claro que a filosofia não precisa preocupar-se com isso
afinal, como Freud dizia no artigo “O ego e o id”:
Para muitas pessoas que foram educadas na filosofia, a idéia de
algo psíquico que não seja também consciente é tão inconcebível
Philósophos 11 (2) : 287-303, ago./dez. 2006 297
Waldomiro José da Silva Filho
que lhes parece absurda e refutável simplesmente pela lógica.
(FREUD, 1976, p. 25)
Abstract: This text investigates some difficulties that Semantic Externalism
presents for the idea of “self-knowledge” and “first person authority”. I
would like to defend that those difficulties originate mainly from the fact
that externalist arguments often fall back on mental experiments construed
in the perspective of an omniscient narrator. I believe that “self-knowledge”
and “first person authority” should be thought of not from the viewpoint
of epistemology, but our normal practical capacities to evaluate, ponder,
criticize, judge our thoughts, attitudes and actions, especially when we want
to give proof, plan something, talk with other people, justify, explain, in
short, when we want to offer reasons.
Key-words: self-knowledge, externalism, omniscient narrator
NOTAS
1. Texto apresentado no XII Encontro Nacional de Filosofia
da ANPOF, realizado entre 23 a 27 de outubro de 2006,
em Salvador, Bahia. Alguns pontos desse texto foram de-
senvolvidos no ensaio “Externalismo, autoconhecimento
e ceticismo” (SILVA FILHO, 2006), apresentado no XI
Encontro Nacional sobre Ceticismo em maio do mesmo
ano. Agradeço às críticas e sugestões de Paulo Faria, Eduar-
do Barrio, Plínio Smith e André Porto. Apesar de algumas
modificações, foi mantido o tom oral da exposição.
2. A propósito da importância e das conseqüências filosófi-
cas dos experimentos das Terras Gêmeas, ver A. PESSIN e
S. GOLDBERG (1996).
3. Entre os textos mais influentes que afirmam que há uma
incompatibilidade entre externalismo e autoconhecimento,
encontramos BOGHOSSIAN (1989, 2000) e MCKINSEY
(1998; 2000).
298 Philósophos 11 (2) : 287-303, ago./dez. 2006
ARTIGO O AUTOCONHECIMENTO, O NARRADOR ONISCIENTE, A VIDA COMUM
4. Entre os textos que apresentam um argumento que defen-
de que há compatibilidade entre externalismo e autoco-
nhecimento, encontramos: BILGRAMI (1996), McLAU-
GHLIN e TYE (1998), FALEY (2000).
5. Sobre esse ponto ver também FARIA (2001, p. 113-28).
6. Nas palavras de Faria: “Eu também gostaria de sugerir (mas
isso não estou preparado para demonstrar; não por enquan-
to, em todo caso) que esse problema não pode ser resolvido
por nenhum argumento a priori, ou, a propósito, por ne-
nhum argumento – que esse é um exemplo da espécie de
problema que a filosofia pode (e deve, é sua tarefa própria)
identificar e expor, mas não pode resolver. Se eu estiver certo,
a preservação de conteúdos proposicionais e, com eles, da ca-
pacidade de inferir corretamente (a preservação da verdade)
é uma tarefa a ser empreendida, por assim dizer, sempre de
novo, e sem garantias: é, para falar como Kripke, uma tarefa
de risco. Nenhum argumento pode nos assegurar contra esse
risco; supor o contrário é uma forma de auto-engano que,
não por ser amplamente disseminada em filosofia, é menos
perniciosa. Com essa espécie de dificuldade, em suma, a gen-
te lida como pode.” (FARIA, 2005, p. 20)
7. A expressão “narrador onisciente” pode ser encontrada
em Teoria Literária, principalmente na discussão sobre
“foco narrativo” e modalidades de narrativa. Norman Frie-
dman, num influente artigo de 1955, intitulado “Point of
View in Fiction: The Development of a Critical Concept”
(FRIEDMAN, 1955, p. 1160-84), fala, entre outros estilos
de narrativa, de um “editorial omniscience” e de um “neu-
tral omniscient narrator”.
8. O Prof. Eduardo Barrio tem uma séria objeção ao meu argu-
mento. Ele me escreveu: “Há algum tempo nós dois temos
uma preocupação parecida: como se pode argumentar cor-
Philósophos 11 (2) : 287-303, ago./dez. 2006 299
Waldomiro José da Silva Filho
retamente para estabelecer a verdade de uma tese modal e,
por sua vez, respeitar a idéia de que devemos adotar um pon-
to de vista plausível a partir do qual estabelecer as premissas.
Deuses, falantes oniscientes, falantes com poderes ilimita-
dos não convencem nem a mim nem a você. O problema é
que as teses modais têm de ser verdadeiras em toda situação
possível. Essa é a melhor idéia de verdade necessária que te-
mos. O outro problema é que, se a filosofia é uma disciplina
cujas teses são conceituais, analíticas, a priori, pareceria que
suas teses têm que ser necessárias (e não meramente univer-
sais). Uma generalização universal (uma lei empírica) não é
suficiente para adquirir o status de tese filosófica. Bem, aqui
tem de aparecer os experimentos mentais! Assim como na
ciência empírica os experimentos são os recursos que têm os
cientistas para testar suas teses, do mesmo modo, na filoso-
fia, para que se estabeleça um tese modal, os experimentos
mentais são o mecanismo apropriado.
“No teu texto há o seguinte argumento: 1) as teses externa-
listas têm caráter modal; 2) o estabelecimento da verdade
das teses modais se realiza através de experimentos men-
tais; 3) os experimentos mentais pressupõem uma pers-
pectiva onisciente; 4) a perspectiva onisciente faz com que
sempre seja possível que o significado seja um XYZ que
esteja além daquilo com o que temos um contato epistêmi-
co. E você infere que há um choque entre duas intuições:
o auto-conheicmento e o externalismo.
“Eu – continua Barrio – sugeri que o máximo que se pode
generalizar quando se adota uma perspectiva, ainda que
seja onisciente, é acerca do concebível. Mas, então, o ar-
gumento externalista pressupõe um salto do concebível ao
possível. Uma coisa é dizer que é concebível que XYZ seja
o significado de água e outra é que seja possível.”
300 Philósophos 11 (2) : 287-303, ago./dez. 2006
ARTIGO O AUTOCONHECIMENTO, O NARRADOR ONISCIENTE, A VIDA COMUM
REFERÊNCIAS
BAR-ON, Dorit. Externalism and self-knowledge: content, use,
and expression. Noûs, v. 38, n.º 3, p. 430–55, 2004.
BILGRAMI, A. Can externalism be reconciled with self-know-
ledge. In.: PESSIN, Andrew; GOLBERG, Sanford (eds.). The
twin earth chronicles: twenty years of reflection on Hilary
Putnam’s “The meaning of ‘meaning’”. New York, London :
M. E. Sharpe, p. 362-93, 1996.
BOGHOSSIAN, Paul A. Content and self-knowledge. Philoso-
phical Topics, n. 17, p. 5-26, 1989.
____. What the externalism can know a priori. In: WRIGHT,
Crispin; SMITH, Barry C.; MACDONALD, Cynthia (eds.).
Knowing our own minds. Oxford: Clarendon Press, p. 271-
83, 2000.
BURGE, Tyler. Content Preservation. Philosophical Issue, v. 6,
p. 271-300, 1995.
____. Individualism and self-knowledge. In: LUDLOW, P.;
MARTIN, N. (eds.). Externalism and self-knowledge. Stan-
ford: CSLI Publications, p. 111-27, 1998a.
____. Our entitlement to self-knowledge. In: LUDLOW, P.;
MARTIN, N. (eds.), Externalism and self-knowledge. Stan-
ford: CSLI Publications, p. 239-63, 1998b.
____. Memory and Self-knowledge. In: LUDLOW, P; MAR-
TIN, N (eds.). Externalism and self-knowledge. Stanford:
CSLI Publications, p. 351-70, 1998c.
Philósophos 11 (2) : 287-303, ago./dez. 2006 301
Waldomiro José da Silva Filho
BOGHOSSIAN, Paul A. Reason and the first person. In:
WRIGHT, Crispin; SMITH, Barry C.; MACDONALD, Cyn-
thia (eds.). Knowing our own minds. Oxford: Clarendon
Press, p. 243-69,
DAVIDSON, Donald. Knowing one’s own mind. Proceedings
and Addresses of the American Philosophical Association, n.º 60, p.
441-58, 1987.
____. The Myth of the Subjective. In: Subjective, objective,
intersubjective. Oxford: Clarendon Press, p. 39-51, 2001a.
____. Externalism. In: KOTAKO, P.; PAGIN, P.; Segal, G.
(eds.). Interpreting Davidson. Stanford: CSLI Publications, p.
1-16, 2001b.
____. The Problem of Objectivity. In: Problems of rationality.
Oxford: Clarendon Press, p. 3-18, 2004.
FALEY, Kevin. The compatibility of anti-individualism and
privileged access. Analysis, n.º 60.1, p. 137-42, 2000.
FARIA, Paulo. Discriminação e Conhecimento de Si. In: PI-
NHEIRO, U; RUFINO, M; SMITH, P. J. (orgs.). Ontologia,
conhecimento e linguagem. Rio de Janeiro: Mauad, p. 113-28,
2001.
____. Memória e Inferência, Mimeo., 23 p., 2005.
FREUD, Sigmund. O ego e o id. In: Edição Standard Brasi-
leira das obras completas de Sigmund Freud. vol. XIX. Trad.
Jayme Salomão. Rio de Janeiro: Imago, p. 11-83, 1976.
FRIEDMAN, Norman. Point of view in fiction: the develop-
ment of a critical concept. PMLA, v. 70, n.º 5, p. 1160-84,
1955.
302 Philósophos 11 (2) : 287-303, ago./dez. 2006
ARTIGO O AUTOCONHECIMENTO, O NARRADOR ONISCIENTE, A VIDA COMUM
MALPAS, J. Não renunciar ao mundo. Trad. C. Bacelar. In:
SMITH, P. J.; SILVA FILHO, W. J. (orgs.). Significado, inter-
pretação, verdade: Davidson e a filosofia. São Paulo : Loyola,
p. 51-65, 2005.
McKINSEY, Michael. Anti-individualism and privileged ac-
cess. In: Ludlow, P; Martin, N. (eds.). Externalism and self-
knowledge. Stanford: CSLI Publications, 1998.
McKINSEY, Michael. Form of externalism and privileged ac-
cess. Philosophical Perspectives, n. 16, p. 199-224, 2000.
McLAUGHLIN, Brian P.; TYE, Michael. Is content-externa-
lism compatible with privileged access?. The Philosophical Re-
view, n. 107, p. 349-380, 1998.
PESSIN, A.; GOLDBERG, S. (eds.). The twin earth chron-
icles: twenty years of reflection on Hilary Putnam’s “The
meaning of ‘meaning’”. New York, London: M. E. Sharpe,
1996.
PIRANDELLO, Luigi. Um, nenhum e cem mil. Trad. Maurí-
cio S. Dias. São Paulo: Cosac & Naify, 2001.
PUTNAM, H. The Meaning of ‘Meaning’. In: ANDREW, Pes-
sin; GOLDBERG, Sanford (eds.). The twin earth chronicles:
twenty years of reflection on Hilary Putnam’s “The meaning of
‘meaning’”. New York, London: M. E. Sharpe, p. 3-52, 1996.
SILVA FILHO, Waldomiro J. Externalismo, autoconhecimento
e ceticismo. In: SILVA FILHO, Waldomiro J. e SMITH, Plínio
(orgs.). Ensaios sobre Ceticismo. São Paulo: Alameda, 2006.
Philósophos 11 (2) : 287-303, ago./dez. 2006 303
S-ar putea să vă placă și
- Sentimento de Si.Document12 paginiSentimento de Si.Stephanie MottaÎncă nu există evaluări
- Teoria Do Conhecimento - Texto-BaseDocument15 paginiTeoria Do Conhecimento - Texto-BaseJosé Aristides S. GamitoÎncă nu există evaluări
- O Que É ConhecimentoDocument9 paginiO Que É ConhecimentobetobetinhoÎncă nu există evaluări
- Objetivismo: Introdução à epistemologia e teoria dos conceitosDe la EverandObjetivismo: Introdução à epistemologia e teoria dos conceitosÎncă nu există evaluări
- O InconscienteDocument10 paginiO InconscienteAnna FreudÎncă nu există evaluări
- Subjetividade, Corpo e ContemporaneidadeDocument9 paginiSubjetividade, Corpo e ContemporaneidadeMônica PernyÎncă nu există evaluări
- As Condições Do Pensamento - Donald DavidsonDocument5 paginiAs Condições Do Pensamento - Donald DavidsonSelect LudoÎncă nu există evaluări
- ARENHART Ser No Mundo e Consciência de SiDocument506 paginiARENHART Ser No Mundo e Consciência de Siprisissi100% (1)
- 2 Folha de Aula FILOSOFIA DA MENTE 22 de Fevereiro 2023Document9 pagini2 Folha de Aula FILOSOFIA DA MENTE 22 de Fevereiro 2023maria.mormano209Încă nu există evaluări
- A Filosofia e A Sua EspecificidadeDocument3 paginiA Filosofia e A Sua EspecificidadeThiago Augusto da SilvaÎncă nu există evaluări
- Descobrindo A Psicologia - Módulo 1Document50 paginiDescobrindo A Psicologia - Módulo 1Carlos Alberto100% (4)
- Apostila - Inteligência EmocionalDocument25 paginiApostila - Inteligência EmocionalLeticia CostaÎncă nu există evaluări
- Peirce, Charles SandersDocument23 paginiPeirce, Charles SandersMaria CarolinaÎncă nu există evaluări
- 1 Folha de Aula FILOSOFIA DA MENTE 15 Fev 2023Document10 pagini1 Folha de Aula FILOSOFIA DA MENTE 15 Fev 2023maria.mormano209Încă nu există evaluări
- Sentimento de Si PDFDocument16 paginiSentimento de Si PDFLeti MouraÎncă nu există evaluări
- Ser e Conhecer - Olavo de CarvalhoDocument31 paginiSer e Conhecer - Olavo de CarvalhoMateus Carvalho100% (1)
- O Existencialismo e A Personalidade - CorpoDocument69 paginiO Existencialismo e A Personalidade - CorpoBárbara Figueiredo100% (1)
- O Ato de FilosofarDocument4 paginiO Ato de FilosofarJosé ManuelÎncă nu există evaluări
- Ser e ConhecerDocument27 paginiSer e Conheceredson prandoÎncă nu există evaluări
- Outeiral 11Document7 paginiOuteiral 11thiagosilva26Încă nu există evaluări
- LOGOTERAPIADocument18 paginiLOGOTERAPIAMarcelo RechÎncă nu există evaluări
- 2023 - Primeiro Bimestre - Guia Filosofia Geral e JurídicaDocument56 pagini2023 - Primeiro Bimestre - Guia Filosofia Geral e JurídicaLuana PriscilaÎncă nu există evaluări
- Aula Cof 146Document6 paginiAula Cof 146Diego VillelaÎncă nu există evaluări
- O Que É Filosofar - ResumoDocument3 paginiO Que É Filosofar - ResumoCaio Lins100% (1)
- Psicanálise - A Razão, Desde FreudDocument2 paginiPsicanálise - A Razão, Desde FreudPaula Adriana AleixoÎncă nu există evaluări
- John Locke e A SensibilidadeDocument14 paginiJohn Locke e A SensibilidadeCésar RikidōÎncă nu există evaluări
- Schopenhauer e Mudança de VidaDocument6 paginiSchopenhauer e Mudança de VidaPollyanna Lavinia Lima RibeiroÎncă nu există evaluări
- Lógica e Interpretação de DadosDocument59 paginiLógica e Interpretação de DadosSamaraSantiago100% (1)
- SANTOS, Ariel. Resumo Sobre Freud e Skinner.Document5 paginiSANTOS, Ariel. Resumo Sobre Freud e Skinner.sly。Încă nu există evaluări
- PCP - 1Document3 paginiPCP - 1Gabrieel de JesusÎncă nu există evaluări
- Bases Filosóficas e Antropológicas Da Psicomotricidade - Aula 1Document57 paginiBases Filosóficas e Antropológicas Da Psicomotricidade - Aula 1Tainã XavierÎncă nu există evaluări
- Pet 04 - 3º Ano emDocument23 paginiPet 04 - 3º Ano emProf. Luiz FelipeÎncă nu există evaluări
- 03 AutoconhecimentoDocument7 pagini03 AutoconhecimentoBruno WuoÎncă nu există evaluări
- Aula Cof 125Document4 paginiAula Cof 125Diego VillelaÎncă nu există evaluări
- Subjetividade - A Interpretação Do Behaviorismo RadicalDocument17 paginiSubjetividade - A Interpretação Do Behaviorismo RadicalIsabella MartinsÎncă nu există evaluări
- AULA COF 153 - Educação Dos FilhosDocument11 paginiAULA COF 153 - Educação Dos FilhosDiego VillelaÎncă nu există evaluări
- Pet 4 - 3º Ano - FiloDocument23 paginiPet 4 - 3º Ano - FiloMARCOS SANTOSÎncă nu există evaluări
- Continuação FilosofiaDocument5 paginiContinuação FilosofiaEricka SantosÎncă nu există evaluări
- REVELLES, C. Convicções NativasDocument11 paginiREVELLES, C. Convicções NativasChrystian Revelles GattiÎncă nu există evaluări
- 9439 51849 1 PBDocument8 pagini9439 51849 1 PBPauloOliveiraXavierÎncă nu există evaluări
- 659-Texto Do Artigo-1740-4-10-20181109Document14 pagini659-Texto Do Artigo-1740-4-10-20181109yurislvaÎncă nu există evaluări
- A Teoria Do DesejoDocument83 paginiA Teoria Do DesejoCamila GrassoÎncă nu există evaluări
- Autoconhecimento e Resiliência - ProjetoDeVida - 1ºano PDFDocument6 paginiAutoconhecimento e Resiliência - ProjetoDeVida - 1ºano PDFGleide SouzaÎncă nu există evaluări
- Ser e Conhecer Por Olavo de CarvalhoDocument6 paginiSer e Conhecer Por Olavo de CarvalhoSandro BoschettiÎncă nu există evaluări
- Mente, Self e SociedadeDocument205 paginiMente, Self e SociedadeYang Encarnação50% (2)
- Origem Do ConhecimentoDocument11 paginiOrigem Do ConhecimentoMilton ChiluvaneÎncă nu există evaluări
- Aula Cof 82Document12 paginiAula Cof 82Diego VillelaÎncă nu există evaluări
- Resposta e FenomenologiaDocument14 paginiResposta e FenomenologiaJulia FantauzziÎncă nu există evaluări
- Aproximação À Filosofia ADocument5 paginiAproximação À Filosofia AaninhafpiccoliÎncă nu există evaluări
- Viveiros de Castro (Entrevista) PDFDocument17 paginiViveiros de Castro (Entrevista) PDFZedaniÎncă nu există evaluări
- Entre A Ciência e Sapiência RESUMODocument3 paginiEntre A Ciência e Sapiência RESUMOCapitao Malária100% (1)
- Felipe Rocha L. Santos - Vícios Intelectuais e Redes SociaisDocument26 paginiFelipe Rocha L. Santos - Vícios Intelectuais e Redes SociaismanabivskÎncă nu există evaluări
- Livro - As Consequências Do CeticismoDocument1 paginăLivro - As Consequências Do CeticismomanabivskÎncă nu există evaluări
- Livro - Crença, Verdade, Racionalidade: Ensaios de Filosofia Analítica (2014)Document15 paginiLivro - Crença, Verdade, Racionalidade: Ensaios de Filosofia Analítica (2014)manabivskÎncă nu există evaluări
- Halitose Como ResolverDocument1 paginăHalitose Como ResolvermanabivskÎncă nu există evaluări
- Mente, Mundo e Autoconhecimento: Uma Apresentação Do ExternalismoDocument18 paginiMente, Mundo e Autoconhecimento: Uma Apresentação Do ExternalismomanabivskÎncă nu există evaluări
- Externismo Sem DogmasDocument19 paginiExternismo Sem DogmasmanabivskÎncă nu există evaluări
- Esclarecer A Natureza Do MundoDocument10 paginiEsclarecer A Natureza Do MundomanabivskÎncă nu există evaluări
- Apostila Completa - Terminologia Judô e TraduçãoDocument13 paginiApostila Completa - Terminologia Judô e Traduçãomanabivsk100% (5)
- Peter Singer - Igualdade e ImplicacoesDocument27 paginiPeter Singer - Igualdade e Implicacoesmanabivsk50% (2)
- Tecnologia e Psicopedagogia - Por Felipe RochaDocument26 paginiTecnologia e Psicopedagogia - Por Felipe RochamanabivskÎncă nu există evaluări
- Introdução À Filosofia Da LinguagemDocument15 paginiIntrodução À Filosofia Da LinguagemJosé Aristides da Silva GamitoÎncă nu există evaluări
- Psicologia Cognitiva - Teoria de SchemasDocument8 paginiPsicologia Cognitiva - Teoria de SchemasDora AlmeidaÎncă nu există evaluări
- Tema 01 - O ConflitoDocument15 paginiTema 01 - O ConflitoLudimila AndradeÎncă nu există evaluări
- Felicidade em Ação - Renata LivramentoDocument57 paginiFelicidade em Ação - Renata LivramentoHumberto TonioloÎncă nu există evaluări
- OLIVEIRA, M. Reviravolta Linguístico PragmáticaDocument214 paginiOLIVEIRA, M. Reviravolta Linguístico Pragmáticalorenamf100% (1)
- RESENHA - Livro Analise de Discurso Critica - Viviane Resende e v. RamalhoDocument17 paginiRESENHA - Livro Analise de Discurso Critica - Viviane Resende e v. RamalhoRichardson SilvaÎncă nu există evaluări
- Workbook Inteligencia EmocionalDocument26 paginiWorkbook Inteligencia EmocionalElianaReyssÎncă nu există evaluări
- Historico UnipDocument2 paginiHistorico UnipAlan FariasÎncă nu există evaluări
- Resumo de Funções PsíquicasDocument11 paginiResumo de Funções PsíquicasPaulo ReisÎncă nu există evaluări
- TransformersDocument33 paginiTransformersRogério Moreira CardosoÎncă nu există evaluări
- APOSTILA LinguisticaaplicadaaoensinodoportuguesDocument76 paginiAPOSTILA LinguisticaaplicadaaoensinodoportuguesKelly MendesÎncă nu există evaluări
- Michelle Castro - Cap Com Leticia Correa - Educação e Docência Tecnologias, Inclusão e Desafios - Volume 4Document166 paginiMichelle Castro - Cap Com Leticia Correa - Educação e Docência Tecnologias, Inclusão e Desafios - Volume 4lima82Încă nu există evaluări
- Sumayya GCDocument17 paginiSumayya GCNinguém J. Mohamed SimpsonÎncă nu există evaluări
- UFCD 4365 - Técnicas de VendaDocument88 paginiUFCD 4365 - Técnicas de VendaPedro Cabral100% (1)
- 2014 Ufpr Port Artigo Marcio Roberto Neves PadilhaDocument17 pagini2014 Ufpr Port Artigo Marcio Roberto Neves PadilhaRogério Pinto de SousaÎncă nu există evaluări
- Manual Linguagem Jurídica PetriDocument3 paginiManual Linguagem Jurídica Petriorlando virginioÎncă nu există evaluări
- Aba IiDocument18 paginiAba IiJordane CardosoÎncă nu există evaluări
- Manual UFCD Comunicação Interpessoal e AssertivaDocument46 paginiManual UFCD Comunicação Interpessoal e AssertivaAna Oliveira100% (1)
- Psicologia Do Desenvolvimento - A Gestalt Aplicada À Educação Das CriançasDocument3 paginiPsicologia Do Desenvolvimento - A Gestalt Aplicada À Educação Das CriançasnatalineÎncă nu există evaluări
- Ensino e Aprendizagem de Lingua Inglesa Na Contemporaneidade Os Efeitos Das Metodologias de Ensino de Línguas Nas Práticas Da Sala de AulaDocument11 paginiEnsino e Aprendizagem de Lingua Inglesa Na Contemporaneidade Os Efeitos Das Metodologias de Ensino de Línguas Nas Práticas Da Sala de AulasoniaÎncă nu există evaluări
- Plano de Ensino: Projeto: Disciplina: Carga HoráriaDocument3 paginiPlano de Ensino: Projeto: Disciplina: Carga HoráriaFelipe KanarekÎncă nu există evaluări
- Ebook Psicogênese Das Linguagens Oral e EscritaDocument32 paginiEbook Psicogênese Das Linguagens Oral e EscritaNatália BrandesÎncă nu există evaluări
- Manual Normas AtendimentoDocument40 paginiManual Normas AtendimentoIsabel GrazinaÎncă nu există evaluări
- Psicologia GeralDocument16 paginiPsicologia Geralhermenegildo100% (1)
- Normasdo Cubosde CorsiparapopulaoadultaDocument11 paginiNormasdo Cubosde CorsiparapopulaoadultaedgarÎncă nu există evaluări
- Artigo de Ana Lúcia NeuropsicologiaDocument14 paginiArtigo de Ana Lúcia NeuropsicologiaAna Lucia CiancioÎncă nu există evaluări
- O Desenvolvimento Mental Da Criança - PiagetDocument16 paginiO Desenvolvimento Mental Da Criança - PiagetLeni Barros100% (3)
- Fci S1Document8 paginiFci S1benildeÎncă nu există evaluări
- Livro 1 - Neuropsicopedagogia - Pós Uniateneu Volume 1Document80 paginiLivro 1 - Neuropsicopedagogia - Pós Uniateneu Volume 1Juliana Santos100% (2)
- Ficha de Trabalho Nº11Document10 paginiFicha de Trabalho Nº11lulu laranjeiraÎncă nu există evaluări