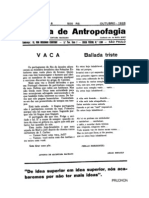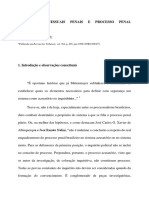Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
KHEL, Maria Rita. Muito Além Do Espetáculo
Încărcat de
clownmunidadeTitlu original
Drepturi de autor
Formate disponibile
Partajați acest document
Partajați sau inserați document
Vi se pare util acest document?
Este necorespunzător acest conținut?
Raportați acest documentDrepturi de autor:
Formate disponibile
KHEL, Maria Rita. Muito Além Do Espetáculo
Încărcat de
clownmunidadeDrepturi de autor:
Formate disponibile
- .
f
1>
o
"1
a
a@
O ESPETCULO
MARIA RITA KEHL
OHM:\ IS<:< 1LIIIIJll por Adauto Novaes para mais um ciclo de confern-
cias da Artepensamento no poderia ser mais atual. Em primeiro lugar,
a ell.lJresso "muito alm do espetculo" parece questionar se a idia do
filsofo Guy Debord,
1
de que vivemos em uma sociedade do espetcu-
lo, ainda vlida hoje, quando a cultura da televiso e da publicidade
vem sendo rapidamente substituda pela da internet, dos games on-line,
do sexo virtual. As novas tecnologias introduzem um novo paradigma?
Ou so apenas uma intensificao das mesmas condies que c;u-acteri-
zam a sociedade do espetculo?
A velocidade vertiginosa em que novas tecnologias de mdia eletr-
nica so lanadas no mercado, cada qual com a pretenso de tornar ob-
soletas todas as anteriores, faz com que muitos tericos dessa rea
considerem tambm obsoletos os conceitos utilizac;los para pensar a
sociedade contempornea. No compartilho da crena nessa obso-
lescncia dos conceitos. Por um lado, ela me parece um efeito de alie-
nao: sentimos que nossos recursos crticos ficam obsoletos na medida
em que a propaganda dos poderes da tecnologia faz com que acredite-
mos que cada nova inveno realmente capaz de arrasar todo o passa-
do e nos projetar em direo a um futuro absoluto. Ns, pensadores e
crticos da sociedade contempornea, somos tambm pres"as desse te-
mor de nos tornarmos obsoletos, de ver as categorias de nosso pensa-
mento ser . ultrapassadas pela velocidade das inovaes tecnolgicas.
Por outro lado, no devemos nos esquecer de que uma das caracte-
rsticas da modernidade, que se exacerbou em nossa hipermodernidade,2
justamente o fato de que diferentes temporalidades, marcadas por
diferentes modos de insero dos indivduos no lao social - recursos
materiais, formaes ideolgicas, referncias culturais, etc. -, convi-
1
Guy Debord, A sociedade do espelmlo (Rio de Janeiro: Contr.lponto, 1997).
' .A expresso foi cunhada pelo filsofo. Gilles Lipovetsky para sustentar, contra o conceito de
a idia de que ainda vivemos dentro dos paradigmas da modernidade, que
nao termmaram, mas simplesmente se mtens1ficaram a partir das inovaes tcnicas e
comportamentais iniciadas na segunda metade do sculo XX. \
236
vem sem se anular. Essa imensa tolerncia das sociedades hipermodernas
no , como parece, uma abertura para o novo, e si m prova do triunfo
do illdillidllali51110 de 111errado. Diferentes manifestaes do mesmo con-
vivem pacificamente no mundo contemporneo sob uma mesma for-
ma dominante: a forma mercadoria.
Nesse se ntido, cu no diria que o conceito de cultura de massa este-
Ja superado, por exemplo, embora talvez j no represente a forma
predominante da cultura contempornea. Ainda existem as massas, que
talvez j no ocupem mais o espao pblico na forma da adeso a gran-
des comcios c convocaes de lderes polticos ou religiosos, tal como
analisadas por Freud e Canetti. As massas de hoje mobilizam-se auto-
maticamente quando convocadas a se reunir sob a batuta dos Djs de
grandes 5/JQ/115 musicais patrocinados por marcas publicitrias: Sl.:ol Bca/5,
Tini Fcstil'al, Hoii)'II'Qod Rocl.:. No seguem ordens de um fiihrer, o que
no deixa de ser um avano, mas perseguem com igual fanatismo o
fascnio das marcas.
Tambm as mercadorias da indstria cultural adorniana ainda circu-
lam, demarcando os modos de insero social dos indivduos isolados e
annimos; elas convocam as massas ao consumo oferecendo amparo
insegurana que a prpria sociedade de massas produz. Os grandes
meios de comunicao, entre os quais se destaca a televiso comercial,
que, por suas peculiaridades tcnicas e econmicas, precisam dirigir-se
ao maior nmero possvel de pessoas, constitue/li 1111111 1/lilssa no 1/IOIII CII IO
da recepo de suas illlage11s.
a imagem (televisiva, publicitria, jornalstica, etc.) que co/lstitui a
lllilSsa no .insta/l/e da recepo, pois, para atingir as multides em sua
sidade e em sua complexidade, precisa tab11la rasa das diferenas.
As imagens e enunciados caractersticos da cultura de massas preci sa m
ser os mais vagos, os mais genricos, os mais vazios' possveis, para
J Uma imagem ,,az ia no aquela que no nada, c sim a que ccnha uma forma lo
c incspccfica, que comporte o nmero de significados possvel. "O significante
do m1to se de uma maneira ambgua: simultaneamente scluido c forma, pleno de
um lado, vaz1o de outro". Roland Banhes, Mitologias, trad. Rita Buongcrmino, Pedro de Souza
& ReJaneJanowitzcr (So Paulo: Difel, 2002). Um corao vermelho, por exemplo, embora
uma ao ser tr.;msformado em mito, torna-se significante vazio a ser preenchido de
vanos sentidos - no caso, todos de forte apelo afetivo -, associado a praticamente qualquer
produto cultural.
Mui! o olm do espelculo ( _ __ _,__.:__.:_ __________ _____,------< 237
nivelar todos os espectadores sob um denominador comum que os
mantenha li gados na programao comercial das emissoras de tev e de
rdio, nas chamadas das capas de revi stas e, sobretudo, nos apelos pu-
blicitrios onipresentes nas ruas de todas as cidades. So essas imagens
(ainda quando sejam construdas com palavras) que apelam a um con-
junto indiferenciado de pessoas, anulando as diferenas pela via das
identificaes e apagando o lugar e as condies de sua enunciao.
Imagens enunciadas por "ningum" e dirigidas a "todos" so hoje o
principal produto da cultura de massas.
O problema maior da cultura de !11assas o imperativo mercado-
lgico que a sustenta. ele que diferencia o "bom" e o "mau" produto
cultural, de acordo com critrios de audincia e lucro. de que impe
uma lgica tirnica , excluindo todas as experincias e e>-.-presses pouco
rentveis de circulao, sob o imperativo da novidade predominante na
sociedade contempornea, que mascara uma extrema intolerncia a tudo
o que no se rege pela dinmica veloz do consumo.
Nesse sentido que tambm continua vlido o conceito de socieda-
de do espetculo; a circulao veloz e abrangente das imagens/merca-
dorias nos faz ver que o espetculo segue a todo o vapor, recobrindo
todo o planeta com imagens sedutoras, cuja forma predominante e mais
eficiente em matria de produo de. subjetividade a imagem da marca
publi citria.
.,,
ALM DO ESPETCULO, AINDA o ESPETCULO
\'
; ' \ \. p-
A formulao "muito alm do espetculo" nos provoca, pois questio-
na o que pareceria bvio: o que se situa alm do espetculo dever ser
a vida. Mas, em nossa sociedade, a vida no est alm do espetculo. O
espetculo abarca toda a superfcie da vida. Foi o que o filsofo Guy
Debord escreveu em 1967, antecipando os efeitos da expanso da tele-
viso, veculo privilegiado da indstria cultural nas sociedades ocidentais:
h quase quatro dcadas, Debord j escrevia que a vida contempornea
; toda mediada pelo espet culo. Mas no qualquer espetculo; a di-
menso do espetculo, hoje, no se compara, por exemplo, ao papel
catrtico da tragdia grega ou do circo romano. "N osso" espetculo
- :t ..
abarca toda a extenso da vida social, porque se traduz na forma de
imagens industria lizadas; imagens que so mercadorias, portanto, fun-
cionam socialmente como fetiches. . . . .- . _ .. . "\ . . .. , . . :. :
. -, . . .. : l. .... - :. _. :
/'lm:iis velha social, a do poder,
espet: cul". Assim, ocspcr:culo uma atividade especializ.1da que responde por todas
as outras. a representao diplomtica da sociedade hierrquica dia1l!e de si mesma,
na qual toda outra fala lianida. No caso, o mais moderno tamlx'm o mais arcaico.'
Na sociedade espetacular, a "mais velha especializao do poder"
expande-se a ponto de abarcar tod:ls as relaes eJJtrc os homens. O
que um outro modo de dizer que todas as nossa/ rebes, so
mediadas pelo fetiche da mercadoria/imagem.
A definio mais simples do fetichismo da mercadoria a de que ele
resultado de uma operao que oculta, sob a aparente equivalncia
objetiva das mercadorias, as diferenas - sob as formas de domin:lo e
explorao - entre os homens que as produziram. Cada mercadoria
que circula no mundo capitalista e que pode ser trocada por outras,
equivalentes em seu valor - equivalncia que veio a ser simbolizada
pela mercadoria mais abstrata de todas, o dinheiro -, traz em si mesma
a histria de um capitalista c de um operrio; de um que comprou a
fora de trabalho e de outro que a vendeu sem saber ao certo o quanto
de seu tempo estava sendo cedido reproduo do capital. A riqueza
que a mercadoria concentra extrada do tempo de vida que um sujei-
to, despossudo de qualquer outro bem, teve de entregar "livremente"
ao capitalista para garantir sua sobrevivncia, e assim continuar ven:..
dendo seu tempo e produzindo mais mercadorias.
_ podeLde.e.o_cobcir_o ..
que .O.u ( de_.e;xp_lorao ) ..
estabelecida no que tambm so manei -
' ras de encobrir a dimenso da falta, inerente condio humana. S
que, na sociedade das imagens, no s o trabalhador explorado na
produo da imagem. Ns, espectadores e consumidores, tambm contribumos
inconscientemwte para sustentar o brilho das imagens.
Guy Dcbord, A soedadr do r.<p<trulo, cit., p. 20.
,.
___ do operrio analisado por Marx:
uma parte de nosso tempo de vida cedida acumulao do capital,
pela via do consumo das imagens, sem FJUe ns
ou seja, uma parte de nosso tempo de vida cedida para a acu-
mulao do capital, pela via do consumo das imagens, enquanto ns
pensamos que estamos apenas nos divertindo e usufruindo do "exces-
so" de liberdade de escolhas que nos oferecido. No nos damos conta
de que todas essas escolhas so n 1/JeSIIJn cscol/w, e qu_c. nossa liberdade se
limita liberdade de nos deixar seduzir pela paixo da servido. A alie-
. nao, no modo de produo do capitalismo avanado que , predomi-
nantemente, produo de imagens, abarca a todos t;a medida em que as
imagens convocam a todos, sem exceo.
O apelo das imagens publicitrias dirige-se a um cidado genrico;
no dizer de Eugnio Bucci, o personagem/sujeito da publi cidade um
sujeito "automtico", que se acredita nico, especial (este o discurso
da publ icidade), ao mesmo tempo que est identificado com todos os
outros que se identificam com a mesma imagem. Ele ao mesmo tem-
po um indivduo nomeado como nico e, sob o apelo genrico que o
torna substituvel por qualquer outro consumidor, no ningum.
H uma passagem do texto de Theodor Adorno sobre a indstria
cultural, escrito vinte anos antes do livro de Debord, que ilustra bem o
: que quero dizer:
.i
. . . ' . . - - . .
o princpio impe que todas as' lhe sejam apresentadas coni podendo
ser satisfeitas pela indstria cultural, mas, por outro lado, que essas necessidades
sejam de antemo organizadas de tal sorte que ele se veja nelas unicamente como l1m
eterno consumi<;Jor, COI)10 objeto ,da
' . - ,. - ...
O que Adorno antecipa, aqui, sobre o que vai ser desenvolvido de
maneira radical no texto de Guy Debord, o efeito da produo de
mercadorias culturais (ou espetaculares) sobre a subjetividade. Estes
sujeitos cujas necessidades j so organizadas pela indstria cultural de
' Thcodor Adorno, "A indstri> cultur.l", em Thcodor W. Adorno & M:ox Horkhcimcr, Dialitita
do mlaruimtllto, trad. Cuido Antonio de Almeida (Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985), p. 133
240)
modo que su:1 demanda de satisfao volte-se sempre para os obj etos
que esta mesma indstri a lhes oferece, estes suj eitos, que se reconhe-
ce m socialmente apenas como consumidores, no pe rcebem que s.io,
tambm eles, inseridos na \ida socia l como objetos.
Para Adorno, a passividade uma das caractersticas mais
da condi:o dos homens sob o domnio da indstria cultural.
Tambm Debord, os suj eit os es to todos sub-
metidos <.l o espetculo.
O c1rrcr fundamcnt :lllli Cilt C tautol gico do csf->ctkulo decorre do de
seus tnci os scrc1n , :10 tncstno tctnpo, seu fi111 . o sol que JlUilCJ st: pc no i1nprio
lltodrma. Recobre toda a snfJC,rfkic do lllLJildO c csd inddlnid.1 1llCilt c
illlfll"Cgmdo de s u.1 flrc\flria glri a_'
Podemos entender as passagens desses dois autores como indi ca-
es de que o consumo dos obj etos da indstria cultural, sob a forma
predominante do espetculo, inclui-nos a todos em_ urn mes mo pro-
cesso de alienao.
A alienao, conceito comum s te_orias de Marx e Freud, diz res-
peito impossibilidade de os sujeitos (agentes produtvos em um caso,
psquicos em outro) alcanarem o processo que est na ori gem do que
os subjetiva. Em Freud, a alienao diz respeito 3 condio humanJ . A
transformao do ifa/ls em sujei to decorre de se u atravessamento pela
dimenso da lin guagem, que o ultrapassa desde a origem. O suj eito
freudiano nunca senhor de si, nunca est de posse das condies de
sua existncia, que por definio uma existncia no lao social.
Em Marx, os trabalhadores, sob o modo de produo modernJ ,
supostamente livres para negociar a venda de sua fora de trabalho, 11o
sabem que em ser e>.:p ropri ados de uma parte de seu tempo de
trabalho a favor do lucro do capitalista. Essa forma de alienao e>.."j)an-
de- se, na sociedade do espetculo, de modo que abarque t ambm a
posio dos consumidores de mercadorias; o gozo que o espetculo
nos oferece no nos pertence; ele cedido lgica que
' Guy Dcbord, A ;ocirdndr do r.<pcrmlo, cit., p. 17.
Muit o olm do espel culo
rege a acumulao d capital. o espetculo a positivao desse acon-
tecimento abstrato (fase invisvel do poder) que a acumulao de ca-
pital. Ele torna o engajamento subjetivo cada vez mais consistente, na
medida em que cada vez mais inconsciente.
O outro engano a que nos entregamos, seduzidos pelo fetiche da
tJlcrodoria, a iluso de que vivemos em uma sociedade rica. Mas a
()Ualltidade de mercadorias em circulao no igual riqueza social. A
r,iqueza, para Marx, no se mede pela quantidade de produtos (valores
c!e troca) <:m circulao, c sim p<:la expanso das foras e capacidades
que uma sociedade capaz de promover. A mercadoria enco-
bre o empobrecimellto humano que o capital produz. Faz-nos esquc-
er a scia! que se perde no mundo capitalista.
Duas afirmaes de Guy Debord a compreender me-
lhor a relao entre a expanso do capital, a alienao e o empobreci-
mento humano:
O espetculo na sociedade corresponde a uma fabricao c0ncreta da alienao. A
e>;panso econmica , sobretudo, a e:--:panso dessa produo industrial especfica.'
O homem separado de seu produto produz, cada vez mais e com mais fora, todos os
detalhes do seu mundo. Quanto mais sua vida se torna produto, mais ele se separa da
vida!
H uma categoria de profissionais que trabalham para produzir iden-
tificao entre a abundncia de mercadorias e a plenitude da vida do
esprito. As propriedades do fetiche retornam dos objetos, investidas
sobre os corpos de alguns humanos - ou melhor, para as imagens de
alguns corpos humanos Os operrios dessa fbrica de esquecimento
so os dolos de massa: suas imagens so mercadorias dotadas do mximo
valor de feti che. O trabalho dos dolos de massa consiste em viver uma
vida glamorosa (to empobrecida quanto a de todos ns) e oferecer seu
mais-valor de humanidade para nosso consumo em forma de imagem.
Q uanto mais banais se tornam os homens comuns, mais espetacular
a representao da vida que a indstria do entretenimento lhes oferece.
1
lbid., p. 24
8
lbid . , P:..tS
. '
241
242 r-----------------------------------
Muito olm do espetculo
A vedete do espetculo, representao espetacular do homem vivo, ao conccmrar em
si a imagem de um papel possvel, concentra, pois, essa banalidade.''
Como vedete, o agente do espetculo levado cena o oposto do indivduo,[ .. . ]
Aparecendo no espet:wlo como modelo de idL'tltillcao, ele renunciou a toda
qualidade autnoma para idemitlcar-se com a lei geral de obedincia ao desenrolar
das coisas.'"
A !uno dos dolos de na do espetculo viver o
simulacro de vida plena que nos continuam<:nte COIIIIJ se
no fossem, eles tambm, nela. "O consumo alienado toma-
se as um dever suplementar produo alienada".
11
Assim que a sociedade do espetculo vive obcecada pela tma. O
espetculo promove a afirmao da vida humana como visibi lidade:
existir, hoje, "estar na imagem", segundo uma estranha lgica da visi-
bilidade que que, "o que bom aparece/o
que aparece bom". Nem mesmo nossos br'eves momentos de revolta
escapam ao fascnio da imagem, de modo que as condies de mudana
da vida parecem completamente apartadas da ao dos sujeitos.
" aceitao dcil de tudo o que existe pode juntar-se a revolta pura-
iiiente espetacular:- isso mostra que a prpria insatisfo se tornou
mercadoria. "
12
O que essa lgica da. visibilidade exclui da vida social? Tudo aquilo
que no se d a ver, mas parte essencial de nossa humanidade': a falta,
p enigma, o campo simblico, que so exatamente as condies do pen-
samento. A sociedade do espetculo no reprime o pensamento, mas
torna-o dispensvel; a excluso dessa condio essencial da subjetivida-
pe deixa os homens desamparados, desgarrados de uma dimenso .es-
senci al de si mesmos.
Os indi vduos annimos, isolados entre si e separados dos produ-
fOS de seu trabalho - o que um modo de ser separados de uma parte
de suas vidas - buscam amparo na referncia dos
' Jbid., p. 40.
"' l bid., pp. 40-41.
11
lbid., p. 31.
" lbid., pp. 39-40 ..
M
produtos da indstria cultural. A lgica do mercado, na hipermo-
dernidade, tla mai s alto do que a do Estado, da Igreja, da tradi o. A
isso devemos, em parte, as condies de nossa li berdade, mas tambm
de nosso desamparo e de nossa alienao: j no sabemos onde est o
Senhor que nos escraviza. Gillcs Lipovctsk.-y, em entrevista Folha de
S .Paulo, refere-se a "um sentimento de excrescncia, de ultrapassagem
dos limites, em que as coisas caminham cada vez mais rapidamente
porque os lilnitcs da tradio - Estado, - se
Esse sentimento de desamparo c ultrapassagem dos limites conheci-
dos justamente o que sempre levou os agrupamentos humanos a in-
vemar seus mitos, de modo que sejam dotadas de sentido as novas formas
da ordem social. Ocorre que nossos mitos hoje so prodzidos indus-
trialmente, ou hiperindustrialmente. Para onde quer que se voltem os
homens, na sociedade do espetculo, ho de deparar sempre com ima-
gens que buscam represent-los para si prprios. A cultura cl,ixa de ser
referncia de alteridade para tornar-se espelho do que nos mais nti-
mo e familiar - s que essa familiaridade vem-nos de fora da subjetivi-
dade, fora das relaes com nossos semelhantes. Vem-nos de nossa
relao com as coisas, com as marcas dos produtos, com as mercadorias,
de modo que, quanto mais confortveis nos sentimos nesse mundo co-
nhecido, mais fundo mergulhamos na alienao e no desamparo.
Esse o desamparo do trabalhador e:>.:propriado de seu tempo de
vida, assin.; como o do consumidor expropriado de suas referncias, j
que o espetculo apaga a relao com o tempo (no sentido da hi stria)
e com a origem. Tambm este o sentimento de inutilidade dos ho-
mens como agentes da vida social; no mundo em que tudo presente,
tudo novo, tudo imediato, as tentativas de modificar a ordem social
podem ser rapidamente absorvidas como mais uma "novidade" inte-
ressante e divertida, "mais do mesmo" a conservar o que Debord cha-
mou de inconscincia das mudanas das condies de existncia.
Em resposta a essa passividade, intil exagerar a intensidade de
nossas manifestaes de descontentamento, pois nesta sociedade tudo
JJ Entrevisu de Gilles Lipovetsky a Marcos Flamnio Peres, em Folha de S.Paulo, Mais! , So .
Paulo, 14-3-2004. - . '
"hper", como escreve Lipovetsh:y. O espetculo ali menta-se d;ts tn-
tensi dadcs; a violncia no lhe hostil, nem estranha. Ao contrrio, a
violnci;1 o combustvel e a cocana que abastecem o show busiuess -
por isso os suj eitos/espectadores esto cada vez m;tis adaptados a ela .
Sob o imprio do gozo, mal nos damos coma da violncia que se encer-
ra na proposta de uma vida de hipcrdiverso, toda voltada para a novi-
dade, a ultrapassagem dos limites, a eterna juventude.
A cultura do excesso ultrapassa os indivduos e ameaa a todos de
rp ida obsolescncia. S as mercadori as, em sua juventude renovada,
protegem o consumidor contra a velhice, a caduquice, a insignifi cncia,
o esquecimento. Voltemos a Debord:
Onde se insta lou o consumo abund,llHC, aparece entre os papi s ilusrios, em pri-
meiro plano, uma cspctacu br emre a juventude c os adu ltos: porque no
existe nenhum adu lto, dono da prpria vida, e a juve ntude, a mudana daquilo que
existe, no de modo algum propri edade desses homens que agora so j ovens, mas
si m do sistema econmico, o dinamismo do capitalismo. So as coisas que reinam e
que so j ovens, que se excluem e se subst ituem sozinhas-"
ESPETCULO E A CENA INCONSCIENTE
Por fim, tambm nos vemos apartados de' nosso prprio sabe r irl-
. .
\
consctente, que contmuamente ex-propri ado pelas tcnicas avanad;ls
das pesquisas de 111arketing e devolvido na forma de apelos
O inconsciente no individual -como "discurso do Outro", cena erh
que se representa o desejo que "desej o do desejo do Outro", o irl- .
consciente forma-se no lao social. "O inconsciente a poltica", disse
Lacan, sua maneira provocativa e enigmtica. Mas, como efeito da
relao com o Outro, o inconsciente di z respeito aos sujeitos, ur1 a
um. O "sujeito do inconsciente" exatamente esse que se manifes ta
em cada indivduo, de manei ra singular, fazendo com que ele, de um
modo ou de outro (com ou sem o recurso a uma psicanlise), impli-
que-se com as causas de seu desejo. Esse "saber inconsciente" esteio
da subj etividade. Q uando a publi cidade se apropria das representaes
" Guy Debord, A >ordadt do t>p<lwlo, cit., p. 42.
do inconsciente e as devolve sociedade na forma de enunciados obje-
tivos, imagens sedutoras, propostas convidativas que parecem esclare-
cer o enigma do "desejo do Outro", o inconsciente deixa de dizer respeito
aos indivduos, um a um. A subjetividade subordina-se ao espetculo
de maneira radical.
Todo esse desamparo favorece a adeso s formaes imaginrias
que se oferecem como suporte para "resolver" o enigma de nosso lu-
gar na sociedade, de nosso valor como indivduos, e do prprio sentido
de sua vida. Nossa sociedade ctica, que aparentemente no acredita
em mais nada, acredita cegamente nas imagens que se oferecem como
suporte para o ser. Nas palavras de Eugnio Bucci, somos a nica civi-
li zao que acredita no que os olhos vem.
Na sociedade hiperindustrial contempornea, a dimenso simblica
do Outro toda recoberta pelo imaginrio produzido pela indstria do
espetculo. essa produo que torna a ordem social no apenas su-
portvel , mas, at onde isso possvel, desejvel. Tornar desejveis a
opresso, a explorao e todas as formas de dominao resultado das
contemporneas de socializao e incluso na ordem social:
no mais operam a partir de instituies repressivas e de uma moral
que valoriza a renncia ao gozo, mas pela seduo e oferta de gozo.
Nesse sentido devemos compreender a afirmao de Slavoj Zizek
de que a ideologia no uma falsificao da realidade, mas a prpria
realidade social subjetivada. A ideologia opera fazendo-nos desejar que
as coisas sejam como so, ou impedindo-nos de imaginar que exista
outro modo de viver. A ideologia no uma falsificao da vida social,
mas sua natllralizao. O engano no est no modo pelo qual percebe-
mos a vida, mas na convico de que as coisas "so como so"; o apaga-
mento da hi stria e da compreenso simblica das relaes (abstratas)
entre os homens nos faz perceber as condies do presente como eter-
na repetio de uma "natureza humana" transcendental e imutvel. A
vida contempornea mediada pelo espetculo apresenta-se aos indiv-
duos como uma fico totalitria porque o espetculo produz adeso
inconsciente ordem social que ele traduz em imagens. Este o sentido
de nossa radical ali enao, hoje: o inconsciente trabalha para os modos
mais abstratos de reproduo e concentrao de capital.
A eficincia do no em reprimir as outras tl;s, .
mas em torn-las indesejveis, inconvenientes diante das promessas de
gozo que o espetculo no cessa de" produzir. Por meio delas, 0 poder
tnstab-se no corao dos homens. O ttulo do livro mais recente de
Slavoj Zizek, Bellt-l'illdos ao deserto do real,
15
uma frase tomada do filme
dos irmos Wachowski. Lembra a passagem em que os prota-
gonistas despertam da realidade virtual controlada pela Matrix, c enca-
ram a realidade em que viviam sem saber. Ao se confrontarem com 0
"deserto do Real", livres da iluso em que estavam mergulhados, a rea-
o dos heris de Matrix no de libertao: de horror. Para Zizek,
este o paradigma da seduo operada pela ideologia: ela nos faz desejar
a dom111ao c repudiar o alto preo cobrado pela liberdade. A
contrap:mida da eficcia da ideologia manifesta-se no que 0 filsofo
denomina (com Alain B:1diou) pai\o pelo Rnaf So' q .- 1 R 1
.\
. ' . ue patxao pe o ca ,
a meu ver, no o avesso da ideologia: a fora propulsora das forma-
es imaginrias que todos os aspectos da vida que no po-
demos compreender. E precisamente do imaginrio que se alimenta a
A violncia da ideologia advm dessa totalizao do imagin-
no como representao "fiel" do Real.
GRANDE OLHO DA TELEVISO
Dcbord escreveu seu livro em er.a da d;
a televi_so como o mais importante meio da sociedade do espe-
1
taculo. OmsCJente, onipresente, onipotente, ocupa na vida social 0 lu- .
gar que, at pouco mais de dois sculos atrs, era ocupado pela i!T1agem ..
de Deus. Se Deus ou os deuses foram, em todas as culturas anteriores'
nossa, figuras imaginrias do Outro, capazes de unificar em to;no de
sua_ representao e seus desgnios as condies do lao social, hoje a
laica; muitas pessoas ainda acreditam em algum Deus, muitas
rebgies existem e at se expandem, mas Deus j no UM, j no
1
tem o poder de concentrar as representaes imaginrias do Outro e
'dar consistncia s determinaes simblicas da ordem social.
"SI . z k B aVOJ IZC ' t/11-VIIIdo.< ao deserto do real: uco msaios <obre o 11 de <et.,,b,o (Sa"o Paulo Bo"t 2003).
. 1 cmpo,
Muito alm do espetculo (
247
A tev ocupa o lugar de Deus como emissora permanente de dis-
cursos que podem ser entendidos como um saber sobre o mundo, a
vida social e os sujeitos em particular; por ser ao mesmo tempo do-
mstica e pblica, ela estabelece uma ponte entre o pblico e o privado;
um veculo capaz de se dirigir a cada um e a todos, e de nomear o que
deseja dos agentes sociais - que sejam consumidores, claro. Alm
disso, que instrumento mais eficiente para ficcionar diariamente a
vida social do .que a tel eviso' Domstica lmpada, cotidiana
como o po, onipresente e onisciente como Deus, a televiso tecnica-
mente capaz de fabricar, para cada fato da vida cotidiana, sua dose de
fantasia. Nos crditos dos telejornais deveria estar escrito o que antiga-
mente vinha estampado nas garrats de coca-cola: "ma rca de fantasia ".
A televiso produz mitos para a vida moderna na velocidade em que o
McDonald's produz hambrgueres. Produz e reproduz fico poltica
com tal eficincia que se torna capaz de recobrir todo o campo .de for-
as em que se jogam os interesses "reais" que afetam diretamente nos-
sas vidas.
A tev de fato um grande olho que nos v enquanto a vemos. Seus
enunciados podem ser entendidos como formulaes do desejo do
Outro. Desse modo, participa da subjetividade desde a fonte , desde as
primeiras articulaes do desejo, que se formam em torno da pergunta
sobre o desejo do Outro: o que (o Outro) quer de mim'
Uma prova curiosa de que a televiso ocupa no psiqu.ismo um lugar
equivalente ao lugar de Deus (como figura imagi nria do Outro) a
freqncia com que os delrios psicticos persecutrios constroem-se
em torno dos "superpoderes" da televiso. Nos hospitais psiquitricos
encontram-se internos que,' nos momentos de surto, tentam destruir
os aparelhos de tev. Acreditam que os locutores dos telejornais lhes
do ordens, que os personagens das novelas os perseguem e as publici-
dades contm mensagens cifradas que lhes dizem respeito. De certa
maneira, esto certos: as mensagens - no cifradas, mas explcitas - da
publicidade, de foto lhes dizem respeito no apenas enquanto consumido-
res em potencial, mas enquanto suj eitos do (desejo) inconsciente, ao
qual elas se dirigem.
Apesa r da diversidade dos programas tel evisivos , todas as emisso-
ras comerciais so niveladas pelo discurso ni co da publi cidade.
Para Fredric Jameson, "a televiso colonizou o tnconscieme ". Pode-
mos esquemati za r essa coloni zao em trs operaes bastante claras.
Primeira operao: ocupar o lugar imaginri o do Outro. Segunda: enun-
ciar o desejo do Outro como imperativo de gozo. Terce ira: oferecer
imagens que rcpresclllelll as reprcsc11tacs recalcadas do gozo.
O sujeito que se reconhece no personage m publicitrio c;1paz de
ab;ncr a socos, no do cas:tmemo, os simpticos convid:1dos que ou-
sujar com tinta branca a lataria do seu Pcugeot (ou qualquer que
seja a est diante da oferta de rcprescmaes inconscientes, at
ento recalcadas (proibidas), aut ori zadas socialmente c tornadas positi-
vas no discurso da publicidade. Ele para o espetculo da propa-
ganda na medida em que se rccon hcce nessas representaes, mas no
percebe que elas lhe foram ex-propriadas.
MITO INDUSTRIALIZADO
Nesse ponto possvel estabelecer uma relao entre espetculo e
mito, promovendo um dilogo entre as idias de Guy Debord e de
Roland Barthes.
11
'
A genialidade de Banhes foi ter percebido a particularidade da relao
entre a produo de mitos, as necessidades expressivas da sociedade e o
poder, no contexto das sociedades industriais modernas. Barthes no defi-
ne o mito moderno como uma narrativa; ele pode estar concentrado em
uma frase ou mesmo em uma imagem. A imagem at mais efici ente:
( ... J a imagem certamente mais imperat iva do que a escrita , impondo a significa
de uma vez s, se m di spers-la. Mas isso j no uma diferena constitutiva. A
imagem se transforma numa escrita, a partir do momento em que significativa:
como a escrita, ela exige uma lexis.
17
O que define o mito seu poder de recortar um aspecto da realidade
social de modo que lhe seja emprestada uma signifi cao indi scutvel. A
" Roland Banhes, Mil ologio;, cir.
" lbid., p. 201.
_M_ui_lo_ol_m __
matria-prima da mensagem mtica pode ser uma foto, uma frase, uma
marca. O que as diferencia o recorte que lhes fixa o sentido. " [ ... ]
desde o momento em que so captadas pelo mito, reduzem-se a uma
pura funo significante: o mito v nelas apenas uma mesma matria-
prima; a sua unidade provm do fato de serem todas reduzidas ao sim-
ples estatuto de linguagem".
1
H
Reduzidas ao "simples estatuto de linguagem", as mensagens mticas
ganham a capacidade de fixar um sentido imperativo e indiscutvel, como
se a verdade enunciada emanasse naturalmente de sua prpria enun-
ciao. A forma do mito afasta toda a riqueza- a diversidade, a histria,
as contradies - que preexiste ao momento em que um recorte da
realidade fo,i transformado em imagem/linguagem. Para que tal efeito
seja possvel, preci so que o significante do mito seja pleno e vazio ao
mesmo tempo. Pleno de sentido socialmente atribudo - como o cora-
o vermelho emprestado a tantas mensagens publicitrias - e vazio de
especificidade, de histria, de experincia social. Por isso ele se presta a
condensar quaisquer significaes, emprestando-lhes sempre o mes-
mo sentido, um sentido "universal" (o amor, a emoo), vago- torna-
do indiswtvel, porm, pelo efeito das identificaes que capaz de
promover.
Banhes define o mito moderno como uma fala "roubada".
que o mito uma fala ro11bada e restittlda. Simplesmente, a fala que se restitui no
a mesma que foi roubada: de volta, no foi colocada no seu lugar exato.
esse breve roubo, esse momento furtivo de falsificao, que constitui o aspecto
transpassado da fala mtica."
A falsificao consiste na transformao do "sentido em forma".
Mas as falas do mito foram roubadas de onde? Das falas emergen-
tes, geradas pelas relaes horizontais entre os humanos . Por quem?
Pelos agentes do poder- no caso, o poder do capital, que no coincide
necessariamente com o poder poltico. Para que este roubo se efetue,
18
lbid., p. 205.
" Ibid., p. 217.
250}---
Muito alm do espetculo
.. . ..
n necessrio que esses agentes do poder saibam, maquiavelicamcnte,
o que esto fazendo. Sabem, apenas, que as falas emergentes numa
sociedade expressam necessidades e anseios tambm emergentes, que
ainda n:i? encontraram seu "objeto" no campo da poltica. Assim, essas
tlas roubadas so restitudas a um CJIItro lugar: o lugar dos cdigos esta-
belecidos c "naturalizados", que contribuem para estabilizar o lao so-
ci:J! , dot:1ndo de consistncia imaginria aquela parcela de renncia exigida
de C:llh sujei to que participa de uma sociedade.
operao que nutre o espetculo e alimenta a produo de
imagens que representam nosso desejo para ns ntestnos. As falas que
compem nossa mitologia so "roubadas" das prticas tlantcs que se
estabelecem por ensaio e erro, tentando dar conta das "mudanas nas
condies da existncia". Mas, acima de tudo, elas s;io expropriadas das
do inconsciente.
Os mitos so, tradicionalmcllte, formaes do inconsciente. Mas o
sujeito do inconsciente, no caso das narrativas antigas, manifesta-se
coletiva ou individualmente no seio da prpria sociedade que produz o
, mito. J no caso do mito industrializado, as tcnicas de marketng, cada
vez mais aperfeioadas c com o auxlio da teoria psicanaltica, "roubam"
as expresses emergentes na sociedade e as devolvem na forma de
imagens que convidam identificao: "eu sou este que deseja o carro
x". O mito, na atualidade, construdo por uma classe de profissionais
especializados no uso de tcnicas capazes de detectar as formaes do
inconsciente de modo que elas sejam devolvidas a essa mesma socieda-
de na forma de imagens/mercadorias. nessa operao que o consumi-
dor de imagens se aliena.
Na sociedade hipermoderna a tecnologia da ibagem torna o mit,o
mais eficiente. As imagens tm mais poder de criar significao do que
as palavras porque parecem a transposfO direta dos fatos sem mediao
: da linguagem. O "efeito de real" criado pela imagem mais convincen-
te do que aquele criado pelas palavras. AJm disso, a imagem menos
dialt ica, ma1s capaz de encobrir a contradio e apresentar a realidade
social como se fosse unvoca, no branco". Nesse sentido, o es-
petculo , no dizer de Debord, "uma viso de mundo que se objetiva".
Mesmo nos casos em que as image?s sejam construdas com
'I
r-.
Muilo alm do espelculo
_ __
dessa forma que, na modernidade, o mito compe a ideologia, no
sentido de que colabora para naturalizar as determinaes (humanas,
histricas) da vida social. O mito contemporneo, diferena do que
ocorria em sociedades pr-modernas, no promove a referncia a uma
tntasia da origem dos tempos que explicava e justificava a ordem pre-
sente. O mito hoje uma produo C011t1111a do presente, o apagamento da
histria das significaes, que dessa maneira nos so apresentadas inge-
nuamente como se emanassem d prpria essncia da
vida. Parece que a sociedade do espetculo, que depende
da obsolescncia acelerada de todas as representaes , de todos os
anseios e da prpria idia de origem, seja capaz de uma tal estabilidade
no campo da ideologia. que a produo contnua do presente, a
obsolcscncia programada das mercadorias, do gosto, das modas e das
representaes produzem como pano de fundo o sentimento e a con-
vico de que todas as coisas so a mesma coisa. Se todas as trocas
sociais seguem a lgica da circulao das mercadorias, as quais so todas
medidas pelo mesmo equivalente simblico - o dinheiro -, tambm
entre ns todas as prticas, todas as falas, todas as representaes se
equivalem. Nossa paixo pelas "novidades" esttiqs e tecnolgicas
lanadas dia a dia pela indstria do entretenimento funciona para apagar
as diferenas, e no para acentu-las.
Isleide Fontenelle, em texto apresentado no Seminrio Margem
na USP, referiu-se ao fato de que o ixico amoroso empres-
tou seu vocabulrio ao apelo das mercadorias. Ela cita Melinda Davis,
considerada uma das grandes pesquisadoras de tendncias de consumo
na atualidade, a qual concluiu que o marketiug contemporneo "precisa
estabelecer uma relao emocional com o consumidor, j que o que se
busca hoje so emoes, so satisfaes intangiveis que produzem rea-
es sensoriais".
20
O vocabulrio da publicidade busca seus verbetes no dicionrio da
vida emocional. Quando voltam origem - as relaes entre as pessoas -,
os vocbulos amorosos vm contaminados pela lgica mercantil. Na
, lslcidc Fontcncllc, Humauidadt t spna(u/ar: tmaupacio ou awodtslruio vinual?, texto apresenta-
do em seminrio no Departamento de Histria da FFLCH-USP, So Paulo, 28 de maio de
2004.
Muilo olm do espet c ulo
252
verdade, o amor j um significante bastante gasto. O lxi co amo roso
foi o emprstimo da subjetividade s propagandas "antigas", isto , dos
anos 1950-1960. Produtos eram vendidos em nome do amor de me,
de marido, de esposa. No nego que o amo r at hoje seja capaz de
vender alguns produtos. N esse ano de 2004 descobrimos que o frigor-
fico Sadia h sessenta anos est vendendo amor. O McDon::dd's seduz
cli emes para seus hambrgueres com base na de adolesce n-
tes que dizem "a mo muito tudo isso". O ape lo vago proposital: pode-
se preencher a expresso "tudo isso" com uma di vers idade de imagens
capazes de alcanar os mais diversos tipos de consumidor.
Mas o uso abusivo do apelo ao amor termina por enfraquec-lo;
hoje seu lugar majoritri o est se ndo ocup:tdo, na publicidade, pelo
apelo ertico. Do "cu amo" ao "cu desejo", passa mos rapidamente ao
"eu gozo", com a evocao de representaes associadas s pul scs de
morte. Em uma ve rtente irnica, os sete pecados capitais- gula, inveja,
preguia, ira, etc. - so efi cientes promotores de vendas. No terreno
das "reaes sensoriai s" evocadas por Melinda - em que tam-
bm se instaura o gozo-, temos da pura c simples "emoo" at
significantes de "velocidade", "adrenalina", "excitao", "novas sensa-
es" e o singelo (a essa altura do campeonato) "prazer".
No entanto, o desgas te dos signi ficante s publicitrios apontado
por Jeremy Rifkin:
O capitalismo enfrenta um novo desatio: no h mais nada a comprar ... rest am
po ucos valores psquicos que se podem tirar ao se ter dois ou trs automveis, meia
dzia de televisores e aparelhos de todo ti po para suprir todas as necessidades e desejos
possveis. nessa conjuntura que o capitalismo est fazendo sua transio final para '
o capitalismo cultural plenamente desenvolvido, apropriando no s os significa dores
da vida cultural e das formas artst icas de comunicao que interpre tam esses
significadores, mas da experincia vivida tambm [ ... Jl
1
verdade que na sociedade brasileira poucas pessoas tm "dois ou
trs automveis, meia dzia de televisores ... ", etc., mas o que interessa
no trecho citado acima a constatao de Rifkin de que restam poucos
" Jcremy Rifkin, apud Islcidc Fontcncllc, Hw11a11idade espelamlar ... , cit. , p. 11.
____________________________________________
valores psquicos a ser e>.:plorados pela publicidade. O que ele quer dizer)
Que o sujeito do inconsciente j foi todo virado do avesso, que todas as
falas que representam os sujeitos j foram roubadas e transformadas
na mitologia publicitria?
A indstria do espetculo ter, daqui em diante, a tarefa de nos ven-
der a possibilidade de constituir de novo um lugar para o inconsciente?
Algo semelhante j tinha sido detectado por Adorno, quando ele
escreveu, sobre sua experincia de exlio nos Estados Unidos, que na-
quele pas a dimenso da vida do esprito estava perdida porque tudo se
tornou cultura. Constatao que no contradiz nada do que o filsofo j
havia escrito sobre a indstria cultural. A saturao de mensagens, sig-
nos, estmulos estticos, imagens fez com que a cultura deixasse de ser
o campo da alteridade, do que faz exceo banalidade do cotidiano.
Nesse sentido os atuais pesquisadores de mercado detectaram que
preciso reinserir artificialmente a alteridade na cultura pela via da ven-
da de "novas experincias". Inconsciente e "cultura", como duas mani-
festaes do discurso do Outro, precisam ser reinventados na
hipermodernidade.
Resta saber quem os inventar.
'
S-ar putea să vă placă și
- WILLIAMS, Tennessee - O Grande JogoDocument33 paginiWILLIAMS, Tennessee - O Grande JogoDaniel AurelianoÎncă nu există evaluări
- WILLIAMS, Tennessee. O Quarto EscuroDocument7 paginiWILLIAMS, Tennessee. O Quarto EscuroclownmunidadeÎncă nu există evaluări
- Um Bonde Chamado Desejo Tennessee WilliamsDocument90 paginiUm Bonde Chamado Desejo Tennessee WilliamsGel AndradeÎncă nu există evaluări
- Revista Teologia Brasileira 93Document61 paginiRevista Teologia Brasileira 93ClaudioÎncă nu există evaluări
- C 6-20 - Grupo de Artilharia de CampanhaDocument232 paginiC 6-20 - Grupo de Artilharia de CampanhaAlessandro Urenda100% (1)
- Oftalmologia Veterinária PDFDocument59 paginiOftalmologia Veterinária PDFCarla Fabi100% (1)
- Sistema de Aquisição de Dados Utilizando o Módulo Esp8266 NodemcuDocument44 paginiSistema de Aquisição de Dados Utilizando o Módulo Esp8266 NodemcumarceloestimuloÎncă nu există evaluări
- Vozes de Família (Harold Pinter)Document17 paginiVozes de Família (Harold Pinter)argentronicÎncă nu există evaluări
- WILLIAMS, Tennessee. FugaDocument5 paginiWILLIAMS, Tennessee. FugaclownmunidadeÎncă nu există evaluări
- PLNM B1 B2Document117 paginiPLNM B1 B2rita_psiÎncă nu există evaluări
- As 5 SabedoriasDocument10 paginiAs 5 SabedoriasWanderson Wannfer100% (1)
- PINTER, Harold. Um para o CaminhoDocument7 paginiPINTER, Harold. Um para o CaminhoclownmunidadeÎncă nu există evaluări
- WILLIAMS, Tennessee. E Contar Tristes Histórias Da Morte Das BonecasDocument19 paginiWILLIAMS, Tennessee. E Contar Tristes Histórias Da Morte Das BonecasclownmunidadeÎncă nu există evaluări
- Palco e Platéia, N. 5, Jan.-Fev. 1987Document90 paginiPalco e Platéia, N. 5, Jan.-Fev. 1987clownmunidadeÎncă nu există evaluări
- Revista de Antropofagia, Ano 1, N. 04, Ago. 1928 PDFDocument9 paginiRevista de Antropofagia, Ano 1, N. 04, Ago. 1928 PDFclownmunidadeÎncă nu există evaluări
- 060013-25 CompletoDocument2 pagini060013-25 CompletoMelissa LoureiroÎncă nu există evaluări
- 060013-18 CompletoDocument2 pagini060013-18 CompletoTazio ZambiÎncă nu există evaluări
- Revista de Antropofagia, Ano 2, N. 07, Maio 1929 PDFDocument2 paginiRevista de Antropofagia, Ano 2, N. 07, Maio 1929 PDFclownmunidadeÎncă nu există evaluări
- 060013-15 CompletoDocument2 pagini060013-15 CompletoTazio ZambiÎncă nu există evaluări
- Revista de Antropofagia, Ano 1, N. 05, Set. 1928 PDFDocument9 paginiRevista de Antropofagia, Ano 1, N. 05, Set. 1928 PDFclownmunidadeÎncă nu există evaluări
- Revista de Antropofagia, Ano 1, N. 02, Jun. 1928 PDFDocument9 paginiRevista de Antropofagia, Ano 1, N. 02, Jun. 1928 PDFclownmunidadeÎncă nu există evaluări
- WILLIAMS Tennessee. A Mulher Do GordoDocument13 paginiWILLIAMS Tennessee. A Mulher Do GordoRicardo Augusto Cioni Engracia GarciaÎncă nu există evaluări
- Revista de Antropofagia, Ano 1, N. 08, Dez. 1928 PDFDocument9 paginiRevista de Antropofagia, Ano 1, N. 08, Dez. 1928 PDFclownmunidadeÎncă nu există evaluări
- WILLIAMS, Tennessee. Obrigada, Bom EspíritoDocument8 paginiWILLIAMS, Tennessee. Obrigada, Bom EspíritoclownmunidadeÎncă nu există evaluări
- ESSAPROPRIEDADEDocument8 paginiESSAPROPRIEDADECarlos Alberto MorenoÎncă nu există evaluări
- Artigo MÉTODOS DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM UMA ANÁLISE HISTÓRICA PDFDocument20 paginiArtigo MÉTODOS DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM UMA ANÁLISE HISTÓRICA PDFJúlia MatosÎncă nu există evaluări
- Novo Ensino MedioDocument152 paginiNovo Ensino MedioUEDSON FELIX RODRIGUESÎncă nu există evaluări
- Read More Produtividade Archicad Eixo Escola de Archicad 2022Document26 paginiRead More Produtividade Archicad Eixo Escola de Archicad 2022Jhennifer KavaÎncă nu există evaluări
- A Derrota Do Jeca' Na Imprensa Brasileira - Nacionalismo, Civilização e Futebol Na Copa Do Mundo de 1950Document398 paginiA Derrota Do Jeca' Na Imprensa Brasileira - Nacionalismo, Civilização e Futebol Na Copa Do Mundo de 1950GustavoPiraÎncă nu există evaluări
- 2 Lista de Espera Convocacao Sisu-2023-2Document108 pagini2 Lista de Espera Convocacao Sisu-2023-2Isabella Barreto FrozÎncă nu există evaluări
- "Gerenciamento" Dos Resultados Contábeis - Estudo Empírico Das Companhias Abertas Brasileiras. Tese de DoutoradoDocument167 pagini"Gerenciamento" Dos Resultados Contábeis - Estudo Empírico Das Companhias Abertas Brasileiras. Tese de Doutoradogutoinfo2009Încă nu există evaluări
- Filosofia Da Psicologia de WitgensteinDocument109 paginiFilosofia Da Psicologia de WitgensteinigorÎncă nu există evaluări
- EricaUmbelino InfográficoMulheresNaCiência FilosofiaDocument2 paginiEricaUmbelino InfográficoMulheresNaCiência FilosofiaErica Paulo UmbelinoÎncă nu există evaluări
- Espinha de Peixe No FutebolDocument5 paginiEspinha de Peixe No FutebolMestre Diogo DuarteÎncă nu există evaluări
- 4-Teste de Poder de InclusãoDocument16 pagini4-Teste de Poder de InclusãoIsaac EliasÎncă nu există evaluări
- Atividade Discursiva Empreendedorismo InovaçãoDocument2 paginiAtividade Discursiva Empreendedorismo Inovaçãopdanilo429Încă nu există evaluări
- PGE Pesq 2024-Calendário Quinto AnoDocument2 paginiPGE Pesq 2024-Calendário Quinto Anopedro.ribeiroÎncă nu există evaluări
- Unigranrio Ap5 IntroduçaoDocument11 paginiUnigranrio Ap5 IntroduçaoHMI Construserv e serviços ConstruservÎncă nu există evaluări
- Manual de Aplicação Do CPIDocument213 paginiManual de Aplicação Do CPILuisa OliveiraÎncă nu există evaluări
- Aula 04 - Metodos DFXDocument18 paginiAula 04 - Metodos DFXAndreLF77Încă nu există evaluări
- As Primeiras CivilizaçõesDocument15 paginiAs Primeiras CivilizaçõessamukaelsoncastroÎncă nu există evaluări
- Tour Das Fronteiras v1.1Document12 paginiTour Das Fronteiras v1.1GilmaÎncă nu există evaluări
- Contrato Mei SuporteDocument3 paginiContrato Mei SuporteComercial MM softwaresÎncă nu există evaluări
- 【ASSISTIR EM】▷ Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis 【2021】 Dublado Filme Online Grátis HD PortuguêseDocument8 pagini【ASSISTIR EM】▷ Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis 【2021】 Dublado Filme Online Grátis HD Portuguêsedonnettaf25Încă nu există evaluări
- Complicaes Crnicas e Agudas Do Diabetes Mellitus PDFDocument52 paginiComplicaes Crnicas e Agudas Do Diabetes Mellitus PDFAlexander Rodrigues SantosÎncă nu există evaluări
- HistoriaDocument2 paginiHistoriaGislayne MariaÎncă nu există evaluări
- Ged 11849Document65 paginiGed 11849Macacha XlxlxÎncă nu există evaluări
- Vibra Energia NF 000895088Document17 paginiVibra Energia NF 000895088pauloocidenav10Încă nu există evaluări
- Plano de Ação (Modelo 5W1H Ou 5W2H)Document1 paginăPlano de Ação (Modelo 5W1H Ou 5W2H)Mario CostaÎncă nu există evaluări
- Sistemas Processuais PenaisDocument23 paginiSistemas Processuais PenaisArsenio Augusto MachaiaÎncă nu există evaluări