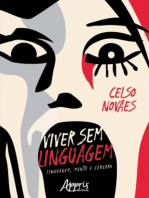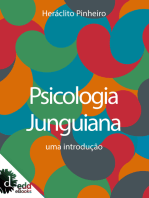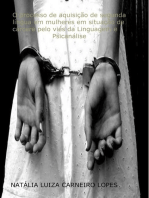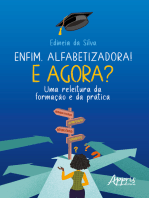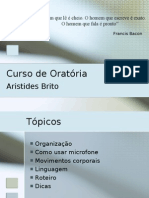Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Anais I Ebime
Încărcat de
Genis SchmaltzTitlu original
Drepturi de autor
Formate disponibile
Partajați acest document
Partajați sau inserați document
Vi se pare util acest document?
Este necorespunzător acest conținut?
Raportați acest documentDrepturi de autor:
Formate disponibile
Anais I Ebime
Încărcat de
Genis SchmaltzDrepturi de autor:
Formate disponibile
1
Anais & Resumos Expandidos
MCN: C31ZC-3VTYS-BTAVZ.
copyright UTC 2014
All Rights Reserved
2
3
Sumrio
Apresentao -------------------------------------------------------------------------------- 07
Prlogo -----------------------------------------------------------------------------------------08
Abertura dos Trabalhos -------------------------------------------------------------------- 09
Resumos simples ------------------------ ----------------------------------------------------- 11
Resumos expandidos ------------------------------------------------------------------------ 28
Fechamento dos trabalhos ----------------------------------------------------------------- 238
4
I ENCONTRO BRASILEIRO DE IMAGINRIO E ECOLINGUSTICA
Presidente
Elza Kioko Nakayama Nenoki do Couto
Comisso Organizadora
Ezequiel Martins Ferreira
Genis Frederico Schmaltz Neto
Henrique Silva Fernandes
Lorena Arajo de Oliveira Borges
Ludmila Pereira de Almeida
Marcos Paulo de Melo Ramos
Ricardo Sena Coutinho
Samuel de Sousa Silva
Zilda Dourado Pinheiro
5
FACULDADE DE LETRAS
Diretor
Prof. Dr. Francisco Jos Quaresma de Figueiredo
Vice-Diretor
Jamesson Buarque
Coordenadora do Programa de Ps-Graduao
Profa. Dra. Maria Cristina Faria Dalacorte Ferreira
Coordenadora dos Cursos de Letras: Portugus, Estudos Literrios e Lingustica
Prof. Dra. Tnia Ferreira Rezende
Chefe do Departamento de Estudos Lingusticos e Literrios
Profa. Dra. Eliane Marquez da Fonseca Fernandes
Chefe do Departamento de Lnguas e Literaturas Estrangeiras
Profa. Dra. Patrcia Roberta Castro
Chefe do Departamento de Letras Libras
Hildomar Jos de Lima
Coordenador do Centro de Lnguas
Antn Corbacho Quintela
6
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIS
REITORIA
Reitor
Prof. Dr. Edward Madureira Brasil
Vice-Reitor
Prof. Dr. Eriberto Francisco Bevilaqua Marin
PR-REITORIAS
Graduao
Profa. Dra. Sandramara Matias Chaves
Pesquisa e Ps-Graduao
Profa. Dra. Divina das Dores de Paula Cardoso
Extenso e Cultura
Prof. Dr. Anselmo Pessoa Neto
Administrao e Finanas
Prof. Dr. Orlando Afonso Valle do Amaral
Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos
Prof. Ms. Jeblin Antnio Abrao
Assuntos da Comunidade Universitria
Economista Jlio Csar Prates
7
APRESENTAO
O I Encontro Brasileiro de Imaginrio e Ecolingustica (EBIME) tem o objetivo de divulgar
os avanos cientficos nos estudos que relacionam a antropologia do imaginrio de Gilbert
Durand - que estuda a simbologia das representaes humanas a partir do psiquismo,
biologismo, organizao social e linguagem - aos estudos de Ecolingustica - que estuda a
relao entre populao, lngua e meio ambiente natural, mental e social.
O Encontro Brasileiro de Imaginrio e Ecolingustica (EBIME) uma realizao do Ncleo
de Estudos de Ecolingustica e Imaginrio (NELIM/CNPq) que h cinco anos desenvolve
pesquisas promovendo o dilogo entre a antropologia do imaginrio e outras linhas de estudo,
neste caso, a Ecolingustica que vem sendo desenvolvida atualmente na UnB. O dilogo entre
essas duas linhas de estudo propicia uma viso holstica do ser humano em interao com o
seu imaginrio, grupo social e meio ambiente. Da a crescente relevncia das temticas para
os estudos da linguagem e da sociedade.A atualidade da discusso sobre a relao que o
homem estabelece com o meio ambiente tambm entra como importante justificativa para
esse evento, dada efervescncia nos estudos sobre a natureza e a universalidade entre o
homem e o seu meio natural, mental e social.
Os anais esto divididos em duas sees: na primeira se encontram os resumos de todas
as apresentaes que aconteceram no evento; segunda, resumos expandidos.
8
PRLOGO
Aqui esto alguns dos principais trabalhos apresentados durante o I Encontro
Brasileiro de Imaginrio e Ecolingustica (I EBIME), realizado na Universidade Federal de
Gois, Goinia, nos dias 5 e 6 de dezembro de 2013. O encontro foi em homenagem a Maria
Thereza de Queiroz Guimares Strngoli, que pronunciou a palestra de abertura, intitulada
Revisitando as Estruturas de Regimes do Imaginrio, seguida da de Hildo Honrio do Couto,
sobre Anlise do Discurso Ecolgica (ADE). No Brasil, a antropologia do imaginrio foi
introduzida nos estudos lingusticos por Maria Thereza e a ecolingustica por Hildo. Uma das
principais contribuies dela foi a proposta de um regime crepuscular, que deveria ser
acrescentado aos dois previstos por Gilbert Durand, ou seja, o diurno e o noturno. Alm
disso, ela formou muitos alunos na PUC-SP, entre eles Elza Kioko N. N. do Couto. Quanto a
Hildo, ele o introdutor da ecolingustica em nosso pas, tendo sido chamado de o pai da
ecolingustica no Brasil pelo boletim da UnB chamado UnB Hoje, disponvel tambm online.
Hildo j foi homenageado no ano de 2013 com o livro Da fonologia ecolingustica:
Ensaios em homenagem a Hildo Honrio do Couto (Braslia: Thesaurus, 2013), organizado
por seus parceiros de pesquisa Elza Kioko Nakayama Nenoki do Couto, Davi Borges de
Albuquerque e Gilberto Paulino de Arajo. O livro formado por ensaios de amigos
brasileiros e estrangeiros com os quais o homenageado tem interagido ao longo de sua
carreira acadmica. Incialmente temos trs depoimentos sobre ele, seguidos de trs ensaios de
fonologia (rea em que atuou por mais de 20 anos na UnB), cinco de contato de lnguas e
crioulstica (rea em que publicou artigos e ensaios, alm de ter criado a revista de crioulstica
Papia), oito de ecolingustica e seis resenhas de livros seus, alm de um prefcio sobre sua
vida acadmica.
Como j foi dito, em 6 e 7 de julho de 2012, foi realizado na Universidade de Braslia
o I Encontro Brasileiro de Ecolingustica (I EBE), do qual temos uma seleo de trabalhos
publicados na revista Cadernos de linguagem e sociedade 14(1), 2013, disponvel em papel e
online. O I EBIME foi inspirado por ele, inclusive no nome. Nossa inteno que o EBE se
realize nos anos pares e o EBIME nos anos mpares. O primeiro tem suas razes na UnB,
enquanto que o segundo surgiu na Universidade Federal de Gois, Goinia.
O I EBIME teve como objetivo fomentar os estudos e a produo cientfica com enfoque na
relao homem, ambiente natural, mental e social, sustentada pela antropologia do imaginrio,
promovendo um amplo debate sobre a relao entre metfora, ecolingustica e imaginrio.
O I EBIME abriu espao, em sua primeira edio, para uma frutfera interao entre
pesquisadores das duas linhas de pesquisa, antropologia do imaginrio e ccolinguistica. Os
resumos mantm a nfase no dilogo entre as duas linhas. O evento teve participantes de
vrios estados do Brasil, como Distrito Federal, So Paulo, Bahia, Rio de Janeiro. Ele foi
aberto por Elza do Couto com as seguintes palavras:
9
ABERTURA DOS TRABALHOS DO I EBIME
Elza do Couto:
5 e 6 de dezembro de 2013
Bom dia a todos.
com muito prazer que cumprimento o professor Dr. Francisco Jos Quaresma de
Figueiredo, diretor desta faculdade, a professora Dra. Eliane Marquez, chefe do Departamento
de Estudos Lingusticos e Literrios desta Faculdade, a professora Dra. Maria Thereza de
Queiroz Guimares Strngoli da PUC-SP e o professor Dr. Hildo Honrio do Couto da UNB,
cujas presenas engrandecem este evento e, com certeza, a ampliao e aperfeioamento de
nossas pesquisas e de nosso saber. Sejam, pois, benvindos e aceitem nosso profundo
agradecimento.
A vocs presentes, sejam bem-vindos ao I Encontro Brasileiro de Imaginrio e
Ecolingustica,1 EBIME. Em nome da Faculdade de Letras e do Ncleo de Estudos de
Ecolingustica e Imaginrio, NELIM, agradeo a participao de todos.
Drummond escreveu: Gastei uma hora pensando um verso que a pena no quer escrever. No
entanto ele est c dentro inquieto e vivo. Ele est c dentro e no quer sair, mas a poesia
deste momento inunda minha vida inteira.
Parafraseando Drummond eu digo: gastei bastante tempo pensando em minha fala para hoje,
justamente na hora em que o computador no quis mais escrever. No entanto ela estava dentro
de mim, inquieta e viva, e s ontem ela foi tomando corpo e vida. Como ocorreu tal
retomada? Foi relembrando a histria do NELIM. Vou contar a vocs rapidamente essa
histria.
No final de 1995, na PUC-SP, tendo como lder a professora Dra. Maria Thereza de Queiroz
Guimares Strngoli formalizou-se o Ncleo de Pesquisa: Lngua, imaginrio e narratividade,
NUPLIN, que tinha como base os estudos da semitica greimasiana e da antropologia do
imaginrio durandiano. Em 2005 comecei a atuar como vice-lder deste ncleo e em 2006
com a sada da lder do ncleo (por aposentadoria) e depois com a minha vinda para a UFG, o
ncleo ficou sem base. Assim, para lhe dar continuidade, pensei na transferncia deste ncleo
para a UFG. Entretanto, legalmente no possvel tal transferncia, pois o ncleo pertence
apenas universidade onde foi concebido. Ento, criei em agosto de 2008 com a professora
Maria Thereza, na UFG, o NELIM, ento denominado, Ncleo de estudos de linguagem e
imaginrio, grupo que daria continuidade s pesquisas e trabalhos sobre o imaginrio e a
semitica greimasiana realizados pelo antigo ncleo, o Nuplin.
Em 2009 iniciei meu ps-doutoramento na UNB com o professor Dr. Hildo Honrio do
Couto, trabalhando com os ciganos kalderash de Aparecida de Goinia. Assim o NELIM
continuou com a mesma sigla, mas devido a meus novos estudos passou a ser chamado de
Ncleo de Estudos: Linguagens, Lnguas Minoritrias e Imaginrio. Concludo meu ps-
doutoramento, passei a pesquisar tambm na rea da Ecolingustica, e o NELIM foi,
novamente, redenominado: Ncleo de Ecolingustica e Imaginrio, passando a ter como base
a interao dos estudos da Ecolingustica com os do Imaginrio. Nessa condio dever
substituir o Nelim em sua catalogao anual no Centre de Recherches Internationales sur
lImaginaire, Frana.
10
O imaginrio, como percebem, sempre esteve e estar presente em meus estudos, pois mais
que uma linha de pesquisa, um estilo de vida que tambm ensina sobre o mundo e a vida,
pois, como afirma Durand nada do que humano estranho. A ecolingustica, sobretudo
sua variante, anlise do discurso ecolgica (ADE), enfatiza que se deve sempre buscar no
apenas a harmonia dos ecossistemas, mas sobretudo o cuidadoso zelo em preservar tambm a
vida de todos os seres e espcies de modo a afastar tudo o que possa trazer sofrimento. Assim,
o NELIM tem por objetivo geral fomentar os estudos, a produo cientfica com enfoque na
relao homem, ambiente natural, mental e social, sustentada pela antropologia do imaginrio,
a fim de constituir uma famlia acadmica, cujo esprito pontifica unio, proteo, lealdade e
humildade. No constitui apenas o lugar das discusses acadmicas, mas uma irmandade com
mltiplos laos de afeto, com potencialidade para dar apoio emocional angstia da
passagem do tempo e s vrias e diferenciadas mortes, no apenas as biolgicas.
Eu gostaria de usar uma metfora que sintetize o NELIM, como o grupo centrado na alma,
mente e corpo, sintetizado no mito do ouroboro, simbolo da evoluo das ideias em
movimento e da auto fecundao ou seu eterno retorno. A mente se movimenta em termos do
imaginrio e da ecolingustica, representados, nesta mesa, respectivamente, pelos professores
Dra. Maria Thereza de Q. G. Strngoli e Dr. Hildo Honrio do Couto, assim como pelo
entusiasmo e pronta operacionalidade dos integrantes do ncleo, seja Avelar, Ezequiel, Fred,
Henrique, Lorena, Ludimila, Marlia, Marcos, Ricardo, Samuel e Zilda.
Agradeo, antecipadamente, a presena e a contribuio de todos os que, envolvidos na
discusso e enriquecendo suas reflexes, motivam-me a recorrer a um trecho do poema de
Ceclia Meireles que a lio do que devemos vivenciar aqui nesses dois dias.
11
RESUMOS SIMPLES
(Por ordem alfabtica de autores)
AS IMAGENS RUPESTRES SO UMA METFORA DA HISTRIA DA
HUMANIDADE?
Adriano da Costa Silva - UEFS
Naiara Bernardo dos Santos - UEFS
Este trabalho tem como objetivo apresentar um estudo sobre as imagens rupestres numa
perspectiva filosfica e cientfica, com o intuito de fazer uma leitura das variadas pinturas
encontradas nos stios arqueolgicas espalhadas pelo mundo, tentando fazer uma construo
da narratividade histrica da humanidade. Trataremos tais imagens como um meio de
comunicao, representao mental e imaginativa do homem da prhistria alm de
identificar e analisar a linguagem visual feita h milhares de anos. Para isso aprofundaremos
nossas anlises nos estudos sobe uma perspectiva filosfica da linguagem propriamente
humana. Nosso trabalho focou mais na locuo no verbal, dos desenhos rupestres, que
consiste em fazer com que o indivduo faa a interpretao de um signo presente. Alm dos
pressupostos tericos sobre o estudo da semitica e da teoria da comunicao, que abalizam
como esses elementos podem nos ajudar a fazer uma anlise da arte rupestre. Tudo isso como
base as pinturas encontradas em cavernas e grutas, nos stios arqueolgicos de Iraquara na
regio da Chapada Diamantina na Bahia.
Palavras-Chave: Imagens rupestres, linguagem, narratividade.
A CIDADE E O IMAGINRIO: AS VIELAS COMO COMRCIO,
EXPRESSO DE ARTE E VESTGIOS DE PROMISCUIDADE
Alessandra Pereira Egea - UFG IESA
Gabriel Ramos Paiva - UFG IESA
A cidade vive de seus traos, formas, cores, avenidas, vielas, cheiros. Tudo isso est no
imaginrio da cidade e das pessoas que a vivem e a percebem. A cidade o pano de fundo,
onde ocorrem estas aes cotidianas. Para tanto, neste artigo, ser apresentado o projeto
12
estrutural da cidade de Goinia-GO, conforme o plano urbanstico do arquiteto Attlio Corra
Lima de 1933, com enfoque no Setor Central de Goinia. O destaque deste setor so os pontos
de escoamentos e passagens rpidas (as vielas) de pessoas. Ao tratar a cidade com sua histria
e funo, utilizaremos Spsito (1996) e Ferrara (2000). Como referncia ao assunto cidade e
identidade, Pesavento (1999). E em relao ao tema imaginrio da cidade, Catal (2011). O
objetivo da pesquisa mostrar as vielas do Setor Central como espao de mltiplas
funcionalidades, dentre elas: o comrcio, a cultura e espaos que muitos utilizam para efetuar
atos libidinosos e promscuos. Na execuo da pesquisa foram realizadas anlises em artigos e
textos referentes ao assunto, trabalhos de campo ao setor especificado acima e captura de
imagens das vielas em estudo. Como o projeto inicial das vielas do Setor Central de Goinia,
era ser de passagem rpida de pessoas, vimos que aps setenta anos, essa
funo praticamente inexistente. Com isso, s vielas foram agregadas outras funes como
comrcio, expresso de arte e vestgios de atos sexuais.
Palavras-chave: Imaginrio, Goinia, Vielas.
ECOSSISTEMA VIRTUAL DA LNGUA: REPRESENTAO, IMAGINRIO E
MEDIAO EM JOGO.
Alessandro Borges Tatagiba
Desde as novas abordagens lingusticas surgidas aps a conceituao do termos "langue
ecology" e "ecology of language" por Haugen (1972), passando pelos trabalhos fundadores de
Fill (1993) e Makkai (1993), at as publicaes e difuso dos estudos de Couto (2007;2013), a
disciplina Ecolingustica, apesar de jovem, apresenta relevantes inovaes cientficas para os
estudos lingusticos. Entre esses avanos, destaca-se a compreenso holstica a respeito das
interaes lingusticas nos respectivos ecossistemas natural, mental e social. Abrem-se, por
conseguinte, possibilidades de levar a cabo investigaes ancoradas em fundamentos tericos
lingusticos menos fragmentados ou parciais. Considerando, portanto, o crescente de
evidncias empricas a respeito das interelaes lingusticas no ecossistema virtual, o trabalho
tem por objetivo apresentar e discutir o ecossistema como conceito integrante e fundador do
"Modelo terico metodolgico para mediao de representaes lingusticas
multidimensionais (MERLIM)", pesquisa de interesse do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Ansio Teixeira (Inep) e registrada junto ao Programa de Ps-
13
Graduao da Universidade de Braslia. Para tal, com base nos autores mencionados e nos
estudos de Bronckart (2012), Souza (1991), Lvy (1996, 1999), Thompson (1995), Borges
(2013), buscamos discutir conceitos e terminologias que caracterizam o ecossistema
virtual com a perspectiva de contribuir para as novas fronteiras de estudos alavancadas
pela ecolingustica.
Palavras-chave: Ecossistema Virtual. Mediao. Ecossistema Fundamental da Lngua.
A PINTURA RUPESTRE E A PAISAGEM NATURAL DA CHAPADA DIAMANTINA
Cidalia Oliveira Barbosa Pinto - UEFS
Ilana Benne falco Maia - UEFS
Karolini Batzakas de Souza Matos - UEFS
O presente trabalho trar os elementos fundamentais dispersos na Chapada Diamantina. Essa
regio tem uma cultura muito rica, como veremos no decorrer do nosso artigo. Os principais
pontos trabalhados sero: as pinturas rupestres e o contato do homem com a natureza. Neste
ltimo tema trataremos da sociedade contempornea e das catstrofes por ela trazidas. A arte
estar presente em todos os aspectos da Chapada Diamantina, seja na vegetao ou nas
pinturas; a arte est resumida dentro do simbolismo, ou seja, dentro do seu sentimento, a arte
no se limita a anlise, mas a contemplao.
Palavras-chave: Pintura rupestre, arte, natureza, homem.
HISTRIAS EM QUADRINHOS E O SEU MODO DE REFLETIR A SOCIEDADE
Clare Laurelin Nunes Neumann - UFG
As histrias em quadrinhos sempre fizeram uso de metforas em suas narrativas para
aproximar o leitor de suas histrias, e acontecimentos reais frequentemente serviram de
inspirao para tal. Em particular as guerras serviram como grande fonte de inspirao para
vrios personagens, como a Mulher Maravilha e Super Homem, que serviram como
inspirao para o pblico norte-americano durante o esforo de guerra durante as duas
Guerras Mundiais. O uso da metfora neste meio continua existindo e funcionando para
14
evidenciar problemas sociopolticos como a discriminao e racismo, mesmo apesar destes
problemas ainda serem presentes na sociedade.
Palavras-chave: quadrinhos, simbologia, metfora.
A PRESENA DA FAUNA E FLORA NA LITERATURA ORAL DE TIMOR-LESTE:
UMA ANLISE ECOLINGUSTICA
Davi Borges de Albuquerque UNB
A presente comunicao consiste em uma introduo anlise das narrativas orais
tetunfonas, seguindo uma abordagem ecolingustica. Sero discutidas algumas questes
referentes coleta de dados de narrativas orais, assim como caractersticas bsicas da
literatura oral em Timor-Leste, enfatizando a literatura em lngua Tetun, lngua oficial do pas
ao lado da lngua portuguesa. Na literatura oral tetunfona ser analisada especificamente a
presena recorrente de algumas espcies biolgicas da fauna e flora locais, como: macaco,
cachorro, crocodilo, para a fauna; e banana e arroz, para a flora. Por meio da viso
ecolingustica, sero apontadas diferentes formas que o meio ambiente retratado nessas
manifestaes lingustico-literrias.
BILINGUISMO DE MEMRIA COMO GNESE PARA A RESSIGNIFICAO E
FORTALECIMENTO DO ECOSSISTEMA BSICO DO POVO INDGENA
CHIQUITANO
Ema Marta Dunck Cintra UFG
Um povo pode, por meio de um bilingismo de memria, ressignificar o seu lugar de
pertencimento? Esta questo nos remeteu a revisitar a histria do povo Chiquitano para
entender como uma etnia que estava invisvel na sociedade brasileira em virtude do processo
de colonizao espanhola e portuguesa (DUNCK-CINTRA, 2005) e em meio a um fervilhar
de ataques diversos, reaparece no cenrio brasileiro. Em 2005, durante o intenso processo de
acordar do silncio, surge uma escola na comunidade. Diferentemente do que ocorreu com
outros povos, de uma escola que veio para a aldeia para catequizar, integrar o ndio
sociedade noindgena etc., esta vem da necessidade da reafirmao da identidade tnica e
territorial e tem, num bilinguismo de memria, um importante espao dialgico para
15
mobilizao e resistncia. Revisitando a literatura na perspectiva da Etnoecologia Lingustica,
com os conceitos trazidos por Haugen (1972b), Fill (1987, 1993), Makkai (1972, 1979, 1993),
Couto (2007, 2009), Nenoki do Couto (2012, 2013a, 2013b), Tuan (2013) pretende-se
discorrer sobre a relao entre lngua e meio ambiente, descrevendo o que significou ao povo
indgena chiquitano ter sido subjugado em seu territrio, proibido de interagir em sua lngua
materna e o que esto fazendo atualmente, por meio de um bilinguismo de memria, na
tentativa de fortalecer seu ecossistema bsico: territrio(T), povo (P) e lngua (L) (Haugen,
1972b). O trabalho consequente de pesquisa de campo e estudos bibliogrficos.
Palavras-chave: Ecolingustica, Etnoecologia lingustica, Bilinguismo de Memria.
INTERAES COMUNICATIVAS NO FACEBOOK: UMA VISO ECOSSISTMICA
Fernanda Franco Tiraboschi - UFG
Dentre as redes sociais disponveis na internet, o Facebook vem se popularizando
exponencialmente nos ltimos anos. Essas redes sociais podem formar comunidades virtuais,
entendidas por Recuero (2005) como agrupamentos humanos que surgem no ciberespao.
Segundo Couto (2013, p. 44) o espao tem um papel decisivo no processo de interao
comunicativa. Na mesma direo, Recuero (2009) enfatiza a natureza interacional do
ciberespao, uma vez que este proporciona ambientes que favorecem o estabelecimento de
relaes sociais, atravs de conexes entre os mais diversos atores. Desse modo, este trabalho
objetiva refletir sobre os sistemas complexos e integrados que compem tal comunidade
virtual no intuito de compreender de uma forma diferente o ecossistema virtual da interao
comunicativa. Para tanto, em um primeiro momento, o fenmeno observado a partir de uma
viso holstica, uma vez que para uma anlise conjuntural, o todo e as partes so essenciais
para a compreenso de um fenmeno. Em seguida, trata-se das teias de interaes
comunicativas que se do no interior da rede social supracitada. Dessa forma, este estudo se
apoia nas perspectivas da Ecologia Profunda de Capra (1997 e 2005), do pensamento
ecologizado e complexo de Morin (2002) e da Lingustica Ecossistmica de Couto (2007).
Palavras-chave: Interaes. Ecossistema virtual. Sistemas complexos.
IMAGINAO E REALIDADE: AS METFORAS DOS DESENHOS RUPESTRES
NA FORMULAO DE NARRATIVAS
16
Gemicr do Nascimento Silva - UEFS
Luciana Santos Siqueira - UEFS
A criatividade um dos elementos que estabelece uma ponte para materializar o imaginrio
ao mundo real. O desenho uma amostra dessas possibilidades de linguagem metafrica,
onde os signos podem assumir diversos significados diante do olhar do observador
convidando-o a libertar o seu pensamento, muitas vezes engessado em frmulas clssicas de
leitura. O desenhista vale-se das formas, cores, propores, planos de representao para
transmitir sua mensagem que pode ou no ser identificada por quem as contempla visto que
esse tem seu prprio modo de ver e parte das suas referncias e experincias para interpretar o
que v. Esse artigo versa sobre o olhar imaginativo das primeiras manifestaes das narrativas
grficas deixadas por artistas nas cavernas ainda num tempo
pretrito, visando aproximar-se da subjetividade desses artfices rupestres e de sua forma de
comunicao visual. O ato de comunicar com smbolos, uma construo da nossa identidade
grfica, solicita um olhar cuidadoso sobre esses ancestrais, suas tradies e valores, e
permitem hoje trilharmos paisagens e memrias remotas, no de superficialidade mais das
nossas origens simblicas, oriundas das heranas desses povos, que contam tambm com suas
aventuras histricas, na difcil arte de sobreviver e evoluir enquanto ser humano, esse legado
compe um valioso celeiro de informaes imagticas e narrativas ainda a serem exploradas.
Uma experincia visual humana, apoiada pela memria e por relaes sociais, sem dvida o
mais antigo registro da histria. Se faz essencial nessa trajetria despir-se de (pr)conceitos e
lanar-se no mundo da experimentao, contemplao, silncio e fundamentao filosfica,
peas fundamentais nesse aprendizado, para compreender a natureza das coisas, o meio
ambiente e como reagir a eles. Tendo como apoio diversos autores como Dondis, Morin,
Senet, Childe dentre outros, validando esse estudo sobre os primeiros narradores. O sentido
verdadeiro dos desenhos no poder ser desvendado com a preciso cientfica exigida pelas
normas acadmicas, mas percebida pelos elementos metafricos presentes nos traos, linhas,
pontos, formas e cores propostos pelos artistas rupestres naquele momento criativo, o que eles
queriam nos dizer? O que essas formas nos revelam? Quais as mensagens presentes nesses
traos? A metodologia aplicada fundamentou-se na anlise de um Desenho, supostamente a
uma cena de parto, encontrada no stio arqueolgico localizado no municpio de Iraquara
Chapada Diamantina na Bahia. A anlise dos elementos que compem a cena, as cores e as
dimenses dos personagens alm da subjetividade presente na escolha precisa do local do
17
desenho so elementos reais passveis de interpretao capazes de indicar as ambiguidades e
linguagens simblicas presente nesse signo. O resultado obtido conduz a uma reflexo a cerca
do papel do ser feminino enquanto smbolo da fertilidade, genitora e guardi da vida. Essa
representao se faz presente na maioria das culturas e pode ser associada metaforicamente
me-terra. A localizao do desenho no painel em relao aos elementos naturais da caverna
simboliza a cavidade uterina, desempenhando papis anlogos em relao cavidade da
gruta, que tal qual o tero, abriga e protege os que nela se encontram.
Palavras chave: Narratividades, desenhos rupestres e metfora.
AS INTER-RELAES ENTRE LNGUA E MEIO AMBIENTE COM BASE NO
CONHECIMENTO ETNOBOTNICO KALUNGA
Gilberto Paulino de Arajo - UNB/NELIM
O presente artigo tem por objeto de estudo o conhecimento etnobotnico da comunidade
Kalunga (Engenho II, Vo de Almas e Vo do Moleque), com base em conceitos da
Ecolingustica (Couto, 2007-2009-2010). O lxico central na lngua, pois sem palavras no
haveria estrutura fonolgica, morfolgica nem sinttica. Ao levarmos em considerao que as
palavras pertencem a um sistema aberto e que estas representam cognitivamente o mundo
com o qual interagimos, percebemos que as diferentes comunidades precisam cada vez mais
ampliar seu repertrio de signos lexicais para designar a realidade da qual tomam conscincia,
e, ao mesmo tempo, dar conta das noes contidas na cultura da qual fazem parte. Com base
no conhecimento etnobotnico da comunidade Kalunga (Engenho II, Vo de Almas e Vo do
Moleque), este trabalho aborda de que forma os signos utilizados na nomeao das plantas
apresentam-se como elementos constitutivos da lngua responsveis pela integrao entre o
mundo da linguagem e o mundo extralingustico, possibilitando ao mesmo tempo a
comunicao e a interao dos pares, bem como uma melhor compreenso do mundo do qual
fazem parte. Dentre os resultados, percebemos que o vocabulrio Kalunga referente flora
carrega em sua essncia uma concepo de signo de carter tridico, melhor dito, no processo
de denominao das plantas est presente alm do significante e do significado, a referncia
cultural ao mundo real. Muito mais que isso, o processo de nomeao das plantas pelos
indivduos da comunidade Kalunga evidencia mais que a simples identificao das espcies
presentes no meio em que vivem, demonstra o surgimento de um vocabulrio estritamente
18
relacionado ao seu conhecimento etnobotnico, revelando a prpria identidade da
comunidade. Cabe frisar que no processo de nomeao das plantas pela comunidade Kalunga,
o conhecimento etnobotnico no se caracteriza pelo simples repasse e memorizao destas
palavras, este conhecimento ocorre por meio da inter-relao entre os pares, de acordo com as
necessidades presentes em seu cotidiano, num contexto de interao comunicativa. Desse
modo, a linguagem deve ser concebida como atividade social, histrica e cognitiva, mas
levando em considerao as atividades ou aes praticadas entre os indivduos que a
conhecem. Em sntese, uma concepo de signo que leve em considerao os aspectos da
interao comunicativa.
FORMAS EXPLCITAS E IMPLCITAS DE SEXUALIDADE NA MSICA
NACIONAL
Grazyane Santa Clara - UEFS
Juliana Ramos de Arajo - UEFS
O presente trabalho se prope a fazer um anlise das metforas sexuais presentes nas msicas
brasileira bem como uma abordagem de como a mdia explora este tipo especfico de letra e
desenvolve o interesse do pblico muitas vezes abordando de modo pejorativo e,
consequentemente, diminuindo o respeito figura feminina. Realizamos uma pesquisa na
Msica Popular Brasileira (MPB) e na msica baiana, escolhemos esta ltima pelo fato de
possuir um acervo repleto de composies de vrios estilos musicais, seguindo uma linha de
pensamento: a sexualidade. A realizao desse trabalho busca abrir novas abordagens sobre o
que definimos como msica popular brasileira e suas entrelinhas. importante ressaltar que
desde tempos atrs aos atuais fazem menes ao que o ser humano ainda tem chamado
instinto.Todas as letras citadas no presente artigos geram vrias contradies ao que vem a ser
o "sensato" para a criao de msicas, pela censura imposta pela sociedade, no entanto a
necessidade de expressar desejos sexuais est presente no imaginrio de todos.
Palavras-chave: Sexualidade, Metfora, Msica
LNGUA INTERAO: UMA METFORA CONCEPTUAL
Jssica Brbara T. Neves UERJ.
19
Ludmila Pereira de Almeida UFG.
De acordo com a teoria das metforas conceptuais proposta por Lakoff e Jhonson (1980), a
metfora conceptual um aparato cognitivo estruturador do pensamento e da experincia.
Com base nessa teoria, o objetivo deste trabalho analisar o aspecto metafrico da
Lingustica Ecossistmica, ou seja, trata-se de uma anlise lingustica de um texto terico da
prpria lingustica. Surge frequentemente nos espaos de debate da L.E. a discusso sobre
essa teoria tomar ou no os conceitos da Ecologia como metforas no sentido de Lakoff e
Jhonson. O principal terico da rea, professor Hildo do Couto nega este uso metafrico dos
conceitos. Neste estudo, ao voltar o olhar para a forma como o conhecimento da Lingustica
Ecossistmica organizado pelo terico Hildo do Couto, da perspectiva de que se trata de um
indivduo organizando uma ideia abstrata, que a teoria, e utilizando para esse estudo os
pressupostos da Teoria das Metforas Conceptuais, possvel dizer que a LE possui como
base, uma metfora conceptual (bem como outras teorias cientficas). O fato de Hildo do
Couto negar a metfora e esse trabalho confirm-la justificado por se tratar de perspectivas
diferentes de anlise da metfora conceptual.
Palavras chave: Metfora conceptual - Ecossistema - Lingustica Ecossistmica.
O FIM DO MUNDO EM VERSO E PROSA ...
A idia de finitude e caos parte estruturante do imaginrio coletivo. Cantada em verso e
prosa reconstri em nossa realidade o arqutipo da morte projetado no anseio coletivo de
mudana. Na era dos efeitos especiais, na sociedade do escndalo (Lima; 2013), a morte
inevitvel deve seguir de forma apotetica qual o grito de uma Valquria, a morte em glria.
Mobilizado pelo mercado do entretenimento: games, cinema, documentrios, literatura,
noticirios. Narrativas so criadas versando sobre o aniquilamento total; de Gilgamesh ao
Apocalipse no Antigo Testamento a idia de que "O fim est prximo" mescla realidade e
fico, gira economias e formata ideologias que hoje vivenciamos como aspecto da cultura da
civilizao ps moderna. Historicamente tais mitos emergem diante de um processo pelo qual
o arqutipo da morte acionado coletivamente no inconsciente cultural (Jung;1916) em
sistemas culturais com estrutura decadente ou em crise. Recriamos mitos (Campbell;1986) e
recontamos histrias que acompanham a saga da humanidade. A violncia social, decadncia
econmica, instabilidade poltica, ruptura dos padres ideolgicos, crise e mudanas de
20
ecossistemas fomentam o reaparecimento das narrativas sobre o fim dos tempos e a paranoia
coletiva. Tais narrativas se travestem em discursos e ganham fora coletiva pelo medo. A
emoo que quando manipulada transcende do ser para o social. Da ecologia a religio, da
economia ao mercado dos seguros e armamentos, observamos a implementao e o jogo
social em discursos que fomentam a idia de proteo (Bauman; 2001), construdas para
evitar o fim apotetico. As narrativas que hoje tem discurso cientfico, ao mesmo tempo tem
ideologia mtica, um fato que para ns significativo. A mistura pelo imaginrio de cincia e
fico cientfica em embasamento programtico, que se torna ideologia. Ressalto que
observamos narrativas que no so mais aleatrias, elas misturam o imaginrio realidade, a
fico cincia e tem sentido econmico especfico. Neste sentido no descaracterizo a
necessidade primordial de preservao, que advm de fora instintiva, pelo instinto de auto-
preservao. O deus Eros j havia sido descrito por Jung em 1912 no livro Metamorfoses e
Smbolos da Libido (Smbolos de Transformao) e posteriormente reconfiguraria a
psicanlise de Freud 1920 em sua teoria de Eros e Thanatos. A primeira e segunda Guerra
Mundial e a Guerra Fria com adventos da bomba atmica criao da bomba de Hidrgenio
tornariam a percepo da finitude da vida humana plausvel. Podemos morrer por um
cataclismo ou nos auto aniquilar, o que para os mercados da indstria blica em partes ocorreu
em duas grandes guerras e mais uma dzia de conflitos armados com milhares de dizimados.
O sentimento de medo ecoa na fragilidade humana e em nossa finitude. Nossa violncia
urbana e social retroalimentam mercados que segmentam-se na existncia confinada de
condomnios de luxo (Bauman; 2001), ou no espelhamento das ideologias religiosas pela
aquisio de vagas para salvao ou na venda de terreno no cu. At Marte pode ser habitado
em uma futura colnia para a sobrevivncia da espcie. As crises do meio ambiente, embora
reais, acabam por nutrir se do discurso do fim que est prximo. Toda sorte de arautos do
apocalipse manifestam se isolados ou coletivamente em grupos de ideologia segmentada.
Comunidades afetcuais (Maffesoli; 2006) so criadas tendo como cimento o pnico ou a luta
pela sobrevivncia. No cerne de toda temtica vivenciado o arqutipo da morte que
desdobra-se em vrias formas de narrativa. A inexistncia de um smbolo especfico no
destitui as vivncias de sua significao. E aqui, como descrito por Durand, temos o cenrio
Dionisaco com elementos noturnos que se segmentam imageticamente. A potica parnasiana
na idolatria da morte reconstruda na ps-modernidade e o sofrimento, alvo de mstica e
reflexo. o que antagonicamente nos torna mais vivos, resgata o sentido perdido de existir.
Paradoxalmente os mercados envolvidos alimentam-se e retroalimentam tais idias visando
especificamente os lucros, em uma objetivao do cenrio do medo que povoa igrejas, lana
21
condomnios isolados e seguros, revende aplice de seguros, comercializa armas e ressignifica
hbitos alimentares, recria produtos para a sade e realimenta a indstria farmacutica,
promovendo a indstria do entretenimento, chegando at a reconfigurar a poltica e seus
discursos. Mercados que fazem narrativas de felicidade e auto- realizao, configurando em
produtos. Particularmente observo por meus estudos e observaes que advm da rea
analtica, na prtica da psicoterapia, que todo este cenrio dinmico. Pela morte damos
sentido a existncia, ressignificamos o processo de individuao e questionamos nosso
destino(Hillman 1996). O confronto com a morte e sua fora arquetpica assim uma ponte
para a individuao. uma representao imagtica que nos convida a pensar na
transcendncia, uma crise que retira o indivduo ps-moderno de seu comodismo e de seu
materialismo consumista.
O UNIVERSO SUBJETIVO DE CLARICE LISPECTOR: REFLETINDO SOBRE SI,
SOBRE A EXISTNCIA E SOBRE "DEUS"
Kamilla Marra de Moraes PUC - GO
Naiara Sousa Vilela- UFU
O artigo evidencia questes referentes ao aspecto intersubjetivo e fantstico explorado no
romance a paixo segundo G.H. da autora Clarice Lispector, bem como buscar uma
compreenso a respeito da intencionalidade, abertura da conscincia para o mundo exterior, o
eu- e o no eu, a indissolvel unidade do sujeito e do objeto, a nostalgia do inatingvel,
universo da coisa em si, alm do mundo do fenmeno presentes no livro. Tem como objetivo
principal analisar o espao ordenado do quarto da empregada o qual reflete a ordem interior
que G.H. procurava em seu modo de ser. No ambiente quarto abordado com nfase pela autora
explora-se o fluxo de conscincia a fim de levar as ltimas consequncias e a experincia da
personagem ao depara-se com o diferente e inusitado no quarto: uma simples barata, um
encontro com a vida real. A viso reflexiva da protagonista em busca de um sentimento
existencial se traduz por meio de comentrios, perguntas e interpretaes sobre Deus, a beleza
a linguagem, a arte, a vida entre outros temas. Dessa forma, h uma repetio do fantstico da
passagem de uma situao de caos para o cosmos, ou seja, um mundo de G.H. sendo
destrudo e recriado sincronicamente. Consideramos que este artigo poder colaborar com os
desdobramentos referentes a literaturas que abordam o fantstico apresentando-o como uma
forma de pensar o espao, tempo, personagem e mito, uma narrao que cria seu prprio
22
mundo, no qual absorva-se os significados mais ocultos, que num romance tradicional no
surtiria tamanhos efeitos.
Palavras-chave: mundo exterior - romance o fantstico
TOPONMIA: A NOMEAO DOS LUGARES SOB A ORDEM DO IMAGINRIO
Knia Mara de Freitas Siqueira - UEG
A denominao dos lugares resulta de inmeros fatores que concorrem, em diversos nveis,
para que se escolha um nome especfico para determinado lugar. A despeito do termo
imaginrio demandar certo esforo conceitual (no explorado aqui), pode-se verificar um
problema terico que est diretamente relacionado aos fatos que, por ventura, venham a
contribuir para a escolha de um nome entre tantos e em detrimento dos demais para nomear
um objeto; a saber: os fatos apontados como motivadores para a consolidao de dado
topnimo so de ordem real ou advm, maneira escolstica, de sentimentos internos,
capazes de conservar traos (descritivos, histricos, culturais, ecossistmicos) dos objetos
nomeados, representados sob a forma de imagens? Nessa perspectiva, dados toponmicos cuja
motivao se aloja nos j distantes movimentos do homem sobre o percurso de sua histria
podem ser analisados como frutos da imaginao, construindo repertrio coletivo (ou
individual) de imagens que, provavelmente, aludem s relaes do povo com o ambiente em
que vive de forma manifesta (memria) ou em forma latente (mitos, imaginrio), pois alguns
processos de nomeao apresentam matizes pouco transparentes acerca da motivao
subjacente escolha do designativo do lugar, o que, em consonncia com Durant (2012), tem
tambm uma riqueza de tonalidades elementares muito mais vasta do que as consideradas
pelas taxionomias de ndole fsica e de natureza antropocultural . O estudo segue
procedimentos de pesquisa qualitativo interpretativo, buscando elucidar as provveis causas
para a escolha dos respectivos topnimos, para tanto, pode-se considerar os critrios
onomasiolgicos de anlise do topnimo aliados ao mtodo de convergncia, enfocando o
carter de semanticidade que est na base do ato de nomear para assim verificar at que ponto
os locativos podem ser encarados como smbolos que constelam pelo desdobramento de um
mesmo tema arquetipal.
Palavras-chave: topnimo, motivao, imaginrio, convergncia.
23
J ORGE AMADO E ROGER BASTI DE: PERMEANDO QUESTES I DENTI TRIAS
SOBRE I DEAL NACI ONALI STA
Luana Signorelli Faria da Costa UNB/TEL
Rogrio da Silva Lima UNB/TEL
Intelectuais, pensadores de si prprios e de seus pases, o cone brasileiro Jorge Amado foi
amigo do francs Roger Bastide. Compartilharam um entusiasmo pelas culturas local e
nacional, pela construo dos costumes de um povo edificado, consolidado por meio de
prticas que estruturam o imaginrio coletivo. Do cruzamento entre esses estudiosos, surgem
ideologias tericas acerca de questes identitrias, nacionais, valorizando toda uma literatura
oral, tradicional. J na obra de estreia de Jorge Amado, O Pas do Carnaval (1930), encontra-
se o problema do mestio, dessa identidade brasileira que no somente negra, branco ou
indgena. O Brasil no um pas nico todo o Brasil muito Brasil. Jorge Amado aponta,
junto de seu companheiro Roger Bastide, vrias faces particulares de intercmbios simblicos
e culturais. Com este trabalho tenta-se provar, portanto, que a nacionalidade herana
identitria e/ou o sentimento adquirido, responsvel por arraigar caractersticas diversas em
um s corpo e um s esprito.
Palavras-chave: identidade, cultura, nacional, Amado, Bastide.
DISCUSSES SOBRE A SITUAO LINGUSTICA DO POVO INDGENA TAPUIA
DO CARRETO-GO
Maria de Lurdes Nazrio - PG/UFG
Discute-se aqui sobre a situao lingustica do povo indgena Tapuia do Carreto,
considerando fundamentos da Ecolingustica que ajudam a compreender o seu Ecossistema
Fundamental da Lngua. Em 1788 chegou ao Aldeamento D. Pedro III no Carreto cerca de
3.000 Xavantes, tendo recebido ainda outras etnias (Caiap, Karaj, Xerente e Java)
(ALENCASTRE, 1979). J no sculo XIX, somente duas ndias havia sobrevivido (Maria
Raimunda, Xavante-Java, e Maria do Rosrio, Caiap), as quais se casaram com dois negros
de fazendas prximas, surgindo da o Tapuia (LIMA, 2012). Sobre a prtica de aldeamento,
sabe-se que tinha uma finalidade poltica, econmica, religiosa e, tambm, lingustica. O
24
aprendizado da LP pelos ndios civilizados (e descendentes) foi uma estratgia importante de
civilizao portuguesa. E no caso dos descendentes indgenas do Carreto, h um
monolinguismo em LP, apesar de haver notcias de conhecimento de lngua indgena ainda
pela ndia Maria do Rosrio no sculo XX, mas esta no falava a mesma com ningum
(LIMA, 2012). Os Tapuia ento so descendentes indgenas que no falam a lngua de seus
antepassados, diferentemente dos Karaj e dos Av-Canoeiro em Gois. So ento
questionados sobre sua origem, sendo visto como no indgenas por no falarem uma lngua
indgena e no possurem um fentipo dessa raa. Considerando o EFL dos Tapuia, tem-se um
Povo que permanece no Territrio de seus antepassados, mas no conserva a Lngua destes,
sendo isto o motivo da identidade tnica desse povo ser questionada por no ndios e por
alguns ndios goianos. Essa situao no prototpica de comunidades indgenas evidencia a
complexidade de todo e qualquer Ecossistema, sendo preciso situ-lo no contexto scio-
histrico para compreender sua configurao.
A PRTICA PEDAGGICA NO ENSINO SUPERIOR E SUA IMPORTNCIA NA
CONSTRUO DO CONHECIMENTO CIENTFICO E CULTURAL
Julio Firmo de Queiroz - UEFS
Melline Cardoso de Lima - UEFS
Ainda que os legados de Paulo Freire e Cia sejam amplamente discutidos e adotados pelos
educadores e demais profissionais da rea, os gestores da educao brasileira parecem no se
darem conta ou negarem importncia percepo de quo fatdica pode ser uma sala de aula,
sobretudo em um momento em que todo o entorno e as tecnologias existentes parecem seduzir
de crianas a adultos. Nesse sentido, esse trabalho consiste em um relato de experincia
pedaggica da perspectiva de aspirantes a docentes que se preocupam com a pouca
importncia dada didtica de ensino acadmica. Desse modo, tem-se por objetivo
disseminar uma prtica de construo de conhecimento efetiva a fim de que outros
profissionais dela se apropriem, a reinventem e possam alcanar resultados to satisfatrios
quanto os aqui relatados. Para isso, alm do relato de experincia, esse trabalho desvela as
tcnicas afortunadamente utilizadas trazendo como principais pilares tericos Clestin
Freinet, Jean-Ovide Decroly e Moarcir Gadotti.
Palavras-chave: Prtica pedaggica. Aula-passeio. Cultura Material.
25
PAISAGEM SONORA EM PENTGONO DE HAHN, DE OSMAN LINS
Poliana Queiroz Borges UFG
Na narrativa Pentgono de Hahn, da obra Nove, novena Lins inicia o texto com uma
imagem que a fuso de duas figuras pertencentes ao sistema grfico musical. O autor, ento,
aponta que entrar por um sistema de representao que ir ultrapassar o sistema grfico da
lngua portuguesa, transpondo limites. Somam-se a isso, inmeros outros elementos
constituintes de uma paisagem sonora, como entendido por Murray Schafer, como os sons
fundamentais da gua, da pedra, da madeira e da luz. Considera-se a hiptese de que em
Pentgono de Hahn os smbolos musicais, geomtricos e alqumicos esto configurados em
uma rede sinestsica, que extrapola as fronteiras das artes, marcando o fazer literrio
caracterstico do autor. O objetivo dessa pesquisa buscar uma perspectiva de leitura que
considere a paisagem sonora nesse texto osmaniano a partir da perspectiva do Regime
Noturno Sinttico da Imagem, de Gilbert Durand, pois, os elementos que a constituem
apresentam-se com a funo de harmonizar os contrrios, complementando-se.
Palavras-chave: Osman Lins; Pentgono de Hahn; Paisagem sonora.
O MUNDO QUE EST NA CIDADE E OS SUJEITOS QUE ESTO NO MUNDO:
IMAGINRIO DA CIDADE DE GOINIA
Marcos Piter Lopes
Renatha Cndida da Cruz
Quando mencionamos a cidade muitos elementos nos vem mente. A sensibilidade, a
imaginao e a memria constituem um trip articulado que nos auxiliam em difcil tarefa:
ver e pensar a cidade. As imagens pedem o olhar. Para Bachelard o imaginrio perpassa o
percurso da imaginao, a formao e deformao de imagens, a relao com os smbolos, a
imaginao simblica e o mito potico. Nesse sentido, o significado tem valor mais
importante do que o fato em si. Para tanto, esse ensaio visa um passeio pelo imaginrio
urbano de Goinia. No um simples caminhar pela cidade, mas uma reflexo sobre os sujeitos
que so invisveis no ambiente goianiense. Nessa rdua tarefa destacamos a Regio Noroeste
26
como uma comunidade que tornou-se sujeito/produto de uma ideologia que tambm perpassa
o imaginrio social. Nesse caminhar organizamos nossos objetivos: descortinar os elementos
da modernidade e a cidade, conversar com os poetas que pensam Goinia por intermdio da
literatura, pensar sobre os sujeitos invisibilizados na capital goiana, destacando uma
comunidade apenas e iniciar um dilogo entre pensadores que alguns smbolos na cidade.
Alguns questionamentos nos balizaram na busca dessas contribuies: como pensar a cidade
moderna? Qual o panorama da formao das cidades? Como Goinia est nesse contexto?
Como a Goinia na leitura dos poetas? Qual a relao desses elementos com o imaginrio
sobre a Regio Noroeste? Qual a funo dessa cidade para os sujeitos invisibilizados? Quem
so esses sujeitos? Qual a relao do Anhanguera com a pedra? Essas questes so
trabalhadas na perspectiva do imaginrio da cidade. Mas, longe de esgotar o assunto, ao
contrrio, abriremos questes para futuros debates e novas discusses acerca dos sujeitos, a
literatura e o imaginrio.
A METFORA E A ARTE NA COMUNICAO VISUAL
Valdelice Cerqueira Ferreira Maria Lima
Este artigo trata da arte e da metfora. Coloca a importncia do pensamento de Johnson e
Lakoff, que consideram a metfora como a maneira simples de organizar as definies das
nossas informaes fsicas. Porm, as pesquisas s fazem meno s metforas orais. O
trabalho tem seu enfoque nas metforas visuais, e como as metforas na comunicao visual
so diferentes das metforas na comunicao verbal, alocando como referncia as figuras
rupestres encontradas em stios arqueolgicos. A arte exige reflexo e refletir , pelo menos,
to exigente e sutil quanto o pensamento adquirido. A maior parte das pessoas veem a arte
como uma coisa simples, um processo sensvel ou algum tipo de aptido, mas no de
imaginao. Entendia-se o pensamento essencialmente como a manipulao de reprodues
(ou smbolos) intelectuais do fato. As reprodues no precisavam ser verbais; podiam ser
desenvolvidas em alguma mdia, at mesmo imagens visuais. Lakoff e Johnson tm uma
variante importante, pois observam a metfora como a maneira pela qual dispomos as
definies das nossas vivencias corporais. Na ltima dcada, ressurgiu o interesse em
metforas, estimulado alm disso por alguns autores, mas a maioria a respeito de metforas
verbais. Percebemos que muito pouco foi documentado sobre a natureza de metforas visuais
ou de metforas em meios de comunicao social alm da linguagem. Portanto, o presente
27
trabalho enfoca as metforas visuais, pois eu, em particular, interesso-me em saber se e
como as metforas visuais so diferentes de metforas verbais.
Palavras-chave : Metfora; Arte; Figuras Rupestres.
REPRESENTAES SIMBLICAS E PERTENCIMENTO UM ESTUDO
ECOLINGUSTICO DOS PESCADORES DO ANGARI, RIBEIRINHOS DO SO
FRANCISCO
Vera Lcia Santos Alves - UNEB
Josemar da Silva Pinzoh - UNEB
Sob a linha de abordagem discursiva de Eni Orlandi, a Teoria Semiolingustica da Anlise do
Discurso, foi realizada a anlise semiolgica dos recursos discursivos dos pescadores da
comunidade do Angari, Colnia de pescadores artesanais situada na cidade de Juazeiro, serto
da Bahia, s margens do rio So Francisco. Caracteriza essa proposta a utilizao dos
conceitos de Ecolingustica de Einar Haugen e Semiologia Saussureana na relao entre
saberes, linguagens, simbologias e imaginrio estes ltimos sob a luz de Gilbert Durandd e
Juracy Marques , observando-se, tambm, os atores, nesse universo ecolgico, em suas
representaes quanto ao carter de pertencimento ao seu contexto scio-cultural-ambiental.
Focaliza-se o carter lxicoestrutural do discurso revelador das experincias socioculturais e
interacionais dos falantes. A base metodolgica deste trabalho se deu atravs de entrevistas
semiestruturadas, seguindo-se anlise qualitativa- culminando no registro polifnico dos
implcitos, os quais revelaram anseios, desejos, lutas, perdas e conquistas dos pescadores e
suas famlias ao longo de mais de um sculo de constituio da Colnia. A concluso
demonstrou, alm da problematizao do cotidiano da comunidade, sobretudo, como os
elementos discursivos fortalecem a percepo de como a identidade do Angari est firmada na
memria e nos smbolos culturais passados a cada gerao, preservada na relao com a
pesca, com o rio, com o sagrado do rio.
Palavras-chave: Simbologia. Ecolinguagem. Pescadores.
28
RESUMOS EXPANDIDOS
(por ordem alfabtica de autores)
Ecossistema Virtual: mediao, representao e imaginrio em jogo.
Alessandro Borges Tatagiba
1
Das novas abordagens lingusticas surgidas aps a conceituao dos termos "langue ecology"
e "ecology of language" por Haugen (1972), passando pelos trabalhos fundadores de Fill
(1993) e Makkai (1993), s publicaes e difuso dos estudos de Couto (2007;2013), a
disciplina Ecolingustica, apesar de jovem, apresenta relevantes inovaes cientficas para os
estudos lingusticos. Entre estes avanos, destaca-se a compreenso holstica a respeito das
interaes lingusticas nos respectivos ecossistemas natural, mental e social. Abrem-se, por
conseguinte, possibilidades de levar a cabo investigaes ancoradas em fundamentos tericos
lingusticos menos fragmentados ou parciais. Considerando, portanto, o crescente de
evidncias empricas a respeito das interaes no espao ciberntico (Lvy, 1999), o trabalho
tem por objetivo apresentar o Ecossistema Virtual (Borges, 2013b) como uma inovao para
os estudos ecolingusticos. Para tal, com base nos autores mencionados e nos estudos de
Alzamora (2006); Borges (2013a; 2013b); Couto (2007;2013); Hildebrand e Oliveira (2009);
Wittgenstein (1968); Souza (1991); Lvy (1998); Santos Boaventura (2007; 2009);
(Thompson (2004); e Halliday (2001), buscamos discutir conceitos e terminologias que
caracterizam o Ecossistema Virtual com a perspectiva de contribuir para as novas fronteiras
de estudos alavancadas pela Ecolingustica.
Palavras-chave: Ecossistema Virtual. Lingustica Ecossistmica. Espao Ciberntico.
1. Dos discursos anteriores ao discurso da introduo
Ecossistema Virtual: mediao, representao e imaginrio em jogo significa uma
proposta de inovao para os estudos da Ecologia da Interao Comunicativa (Couto, 2013).
Por se tratar de conceitos que esto "em jogo" Wittgenstein (1968), j partilhamos de
1
Pesquisador-Tecnologista em Informaes e Avaliaes Educacionais do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Ansio Teixeira (Inep). Docente da Secretaria de Estado de Educao do Distrito
Federal. Mestre em Gesto e Avaliao pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Mestrando em
Lingustica pela Universidade de Braslia (UnB). E-mail: alessandro.tatagiba@inep.gov.br .
29
determinadas ideias e conhecimentos relacionadas s interaes lingusticas (Couto, 2013),
World Wide Web Berners-Lee (1999), ao ciberespao (Lvy, 1999). Portanto, para que
possamos dialogar sobre a apresentao de uma proposta de inovao para os estudos
ecolingusticos, o Ecossistema Virtual, podemos consideramos as ideias a seguir no como
simples ponto de partida ou de chegada, mas como uma conexo para nossas interaes.
Isto posto, a proposta dialgica deste texto remete-nos, de imediato, a um dos pontos
de que interessam ao arcabouo terico do Ecossistema Virtual, ou seja, o mediao. O
conceito de "mediao face a face" (Thompson, 2004) implica que podemos interagir, como
nesta comunicao oral, durante o I Encontro Brasileiro de Imaginrio e Ecolingustica (I
EBIME), com interlocutores especficos: voc, eu, ns, portanto, em contexto de co-presena,
com referencial espao-temporal comum e com multiplicidade de deixas simblicas.
Imaginemos, todavia, que passamos ao dilogo em separao dos contextos e
disponibilidade estendida no tempo e no espao e com limitao das possibilidades de deixas
simblicas. Neste caso, devemos estar cientes de que ser uma "interao mediada"
(Thompson, 2004), por exemplo, por e-mail.
Por outro lado, ao final do I EBIME, poder ocorrer que a comunicao oral se
transforme em um texto escrito e compartilhado, inclusive, na rede mundial de computadores,
a internet. O meu e-mail constar do trabalho escrito e haver, nesse caso, uma grande chance
de que este trabalho represente o que Thompson chamou de "quase interao mediada",
realizado com separao dos contextos e disponibilidade estendida no tempo e no espao,
com limitao das possibilidades de deixas simblicas e orientado para um nmero indefinido
de receptores potenciais de forma unidirecional.
Mais do que a distino entre os conhecidos conceitos de mediao de Thompson,
abordados nesta introduo, chama-me a ateno o prprio termo "mediao" porque parece
que nunca acessamos o outro diretamente. Marshall McLuhan dizia, j na dcada de sessenta,
que nosso contato com o mundo mediado por alguma coisa, que no temos contato direto
com ele: The medium is the massage. Quando acreditamos alcanar o outro, pode ocorrer que
a estejamos j em "comunho virtual", ou seja, no sentido de nos encontramos imbudos de
"uma espcie de solidariedade que mantm a coeso de um grupo social, de qualquer tamanho
que ele seja. Se h um grupo de pessoas juntas, a comunho aquele estado de esprito que
consiste na conscincia de estarem em sintonia, em harmonia." (Couto, 2001, 2009, 2013).
Guiado pela comunho, a proposta do Ecossistema Virtual surgiu durante as aulas do
Prof. Dr. Hildo Honrio do Couto, no curso de Ecolingustica, no segundo semestre de 2013.
Logo aps o Prof. Hildo expor o detalhamento do Ecossistema Fundamental da Lngua
30
natural, mental e social , coloquei em discusso a proposta do Ecossistema Virtual da lngua,
isto , o estudo das inter-relaes da lngua em seu Ecossistema Virtual. O professor Hildo
considerou que fosse pertinente abordar, para o desenvolvimento das ideias, a ecologia
integral de Boff (2012). Claro que, inicialmente, este conceito possuiu uma referncia clara ao
de Ecolingustica de Haugen (1972, p.325). Posteriormente, o Prof. Hildo observou que o
conceito de Ecossistema Virtual seria mais amplo por abranger aspectos culturais, inclusive.
Como visto, o conceito do Ecossistema Virtual nasceu em dilogo que,
posteriormente, levou-me a tomar conhecimento que Fernanda Franco apresentaria um
trabalho sobre o Ecossistema Virtual da Interao Comunicativa. Desta forma, com base na
discusso das ideias a seguir, reitero o convite inicial para aprofundarmos o dilogo.
2. Das semioses originrias imortalidade em 2045
Ao invs de tomar a palavra, gostaria de ser envolvido por ela e
levado bem alm de todo comeo possvel. (Foucault, 1970).
...noite, dia, noite, dia, crepsculo, noite, dia...ao, reao, interao: da natureza, dos corpos,
dos lugares. Em um exerccio de imaginao livre, uma imagem mental para alm das
pinturas e das gravuras rupestres: pegadas e traos registrados na areia, no barro, entre o mais
voltil e menos etreo, as silhuetas de carvo, os primeiros traos... Significado, expresso,
significado, expresso...formas de registro icnico, grfico, formas de mediao e
representao in absentia, in presentia...da interao para alm dos corpos face a face:
instanciao da potncia do virtual semitico...
Lvy (1999: 105) entende que possvel que a linguagem humana tenha aparecido
simultaneamente sob o oral, gestual, musical, icnica, plstica, num continuum semitico,
atingindo tanto mais as potncias do esprito por atravessar os corpos e os afetos. Nessa
perspectiva, na abordagem peirceana, conforme Alzamora (2006) destaca, mediao
sinnimo de transformao aprimorada de um signo em outro e como um signo s se
completa no posterior e este no seguinte, infinitamente mediao seria a funo sgnica
primordial .
Ao concordar com o continuum semitico, entre
todas as possibilidades, imagino neste exerccio
livre um membro do ncleo familiar que mostra
pequena criana a sua arte rupestre como forma de
comunicar sua ausncia. A criana, nas semioses
31
plsticas da parede da caverna, apropriou-se dessa arte e com ela estabeleceu suas prprias
semioses com o mundo, com seus ancestrais, com seu ncleo familiar e consigo mesma. A
partir da j no era mais o plano apenas da frao do mundo observado e do significado, pois,
a partir da, comeou a existir o plano da representao lingustica. Por conseguinte, dada a
relao de construo semitica com a subjetividade, as primeiras semioses passaram a
representar as aes, reaes e interaes como forma de repraesentare, isto , tornar
presente em potncia, portanto virtual tanto a frao do mundo observado como o
significado em contnuo processo de construo.
Sim, nesta esteira de raciocnios, apresento a ideia de que j as primeiras semioses, ou
seja, a mediao virtual originria, constituram-se ao longo da histria em um fato que no
podemos negar: diante de uma obra de arte, ressentirmos junto com o autor, sobre o instante
da sua presena e sua perenidade ali representada esteticamente. Com este mesmo intuito, o
contnuo desenvolvimento das formas semiticas e dos registros escritos alcanou a
sensibilidade de Horcio para que em suas Odes o poeta refletisse que a sua arte, a sua poesia
proporciona sua cota de imortalidade.
Depois de refletir, ainda que no exaustivamente, sobre as semioses originrias, a
linguagem e o signo lingustico como o que h de virtual nas interaes dos seres humanos
entre eles mesmos e com o mundo, devemos reiterar que "a lngua a interao" (Couto,
2013). Se, por um lado, a lngua pode ser entendida como o que h de originariamente virtual,
por outro lado, na perspectiva da interao propriamente dita, no podemos esquecer que a
lngua nos ala ideia de mediao em Peirce por englobar as operaes semiticas de
representao e pressupe transmisso, atualizao e associao de informaes. Dessa
maneira, a diversificao dos processos de mediao social observvel na internet favorece o
desenvolvimento da mediao sgnica defendida por Peirce e, consequentemente, o
aprimoramento dos processos comunicacionais tecnicamente mediados Alzamora (2006).
Ao encontro dessa perspectiva, Souza (1991) coloca o conceito hodierno de virtual
como "Mediado ou potencializado pela tecnologia; produto da externalizao de construes
mentais em espaos de interao cibernticos". Obviamente, a despeito da perspectiva deste
autor focalizar o mental para os espaos cibernticos, poderamos, neste paralelo, afirmar que
a mediao virtual originria se tratou de uma mediao potencializada pela tecnologia
possvel poca como resultado das interaes a cujos registros ainda hoje temos acesso. Em
consequncia desses raciocnios, novamente com base na pesquisa de Souza (1991), apresento
igualmente o conceito de virtualidade Souza (1991) como necessrio para caracterizar o
Ecossistema Virtual uma vez que a virtualidade implica o alto grau de extrapolao do
32
concreto, de rompimento com as formas tradicionais de ser e acontecer e que esto
usualmente associadas s mediaes tecnolgicas.
Nesse sentido, pensar o Ecossistema Virtual requer uma
caracterizao e reflexo profunda a respeito das extenses
tecnolgicas. Em relao s mediaes tecnolgicas, das tabuletas de
argila, de 3.500 a.C, com os primeiros registros de escrita, aos tablets
com acesso internet, no sculo XXI, h registros de variadas
tecnologias e formas de mediao igualmente semiticas. Contudo, mais do que inovaes
tecnolgicas, criamos formas de mediar as prprias relaes
humanas bem como destas com o mundo, em um crescente de
semioses e seus respectivos gneros textuais, orais, escritos,
hbridos e multimodais. Este meu entendimento apoia-se na
afirmao de Berners-Lee (1999, p. 133) citado por Crystal
(2001): a internet mais uma criao social do que tecnolgica.
Como visto, as formas de interao mediada (Thompson, 2004) e de representao
semitica, surgidas a partir da inveno da escrita verbal h mais de 3.500 atrs, sempre
ocorreram e parecem continuar a pleno vapor, principalmente, agora, impulsionadas pelas
novas Tecnologias da Informao e Comunicao, ou seja, as novas TIC. Ao encontro dessa
ideia, as pesquisadoras Yates e Orlikowski (1992, p. 299) afirmam que mudanas como
essas no so sem precedentes, pois, ao longo da histria, o papel e a natureza das
comunicaes sempre envolvem os atores e as instituies.
J no final do sculo XIX e comeo do XX, o surgimento dos memorandos como
gnero textual, nos Estados Unidos, conforme Yates e Orlikowski (1992, p. 311), propiciaram
a emergncia de uma nova e reconhecida ideologia para a Administrao: a necessidade
definida administrativamente de documentar as interaes internas no papel. Entendo que a
fixidez observada nos modos e nos registros de interao semiticas a partir da inveno de
Gutenberg ocupou, quase de forma onipresente, vrios espaos at meados do sculo XX.
Nas instituies, a interao mediada por meio da tecnologia do papel receber o
primeiro golpe em 1960: o Pentgono dos Estados Unidos uniu, pela primeira vez,
computadores situados em regies geogrficas distantes com base em solues tecnolgicas
desenvolvidas pelo Arpanet, Advanced Research Projects Agency Network (Ewa Jonsson,
1997). O Apanet serviu de fonte de inspirao para, em 1984, o primeiro registro da palavra
33
ciberespao (Gibson, 1984) e o desenvolvimento da World Wide Web, em 1989, por Berners-
Lee.
Ao discutir sobre a arte e a arquitetura do ciberespao, Lvy (1999) considera que,
mais do que significar os novos suportes de informao, ciberespao designa os modos
originais de criao, de navegao no conhecimento e de relao social. Desta forma, hoje,
para caracterizar o Ecossistema Virtual devemos entender que o ciberespao, palavra j
recepcionada no Vocabulrio Ortogrfico da Lngua Portuguesa, remete-nos a ideias e
conceitos como hipertexto, multimdia interativa, simulao e realidade virtual, telepresena,
realidade aumentada, groupwares, programas neuromimticos, vida artificial. Todos termos
amplamente relacionados s novas formas de mediao e representao que significam que,
em maior ou menor grau,
no silncio do pensamento, j percorremos hoje as avenidas
informacionais do ciberespao, habitamos as imponderveis casas
digitais, difundidas por toda parte, que j constituem as subjetividades
dos indivduos e dos grupos. O Ciberespao: nmade urbanstico,
gnio informtico, pontes e caladas lquidas do saber. (Lvy, 1999:
104-105).
Como resultado das novas e potenciais formas de mediao da informao, numa
conferncia realizada em 2010, o CEO do Google, Erick Schimidt afirmou que, a cada dois
dias, ns criamos tanta informao quanto a humanidade foi capaz de criar dos primrdios da
civilizao at 2003. No por acaso, no mesmo ano dessa declarao do CEO da empresa
Google, ocorreu em 2003 a primeira das duas Cpulas Mundiais sobre a Sociedade da
Informao, promovidas pela ONU. O Compromisso da Tunsia (2005), fruto dos trabalhos
que pr-estabelecidos em Genebra 2003, ao reconhecer a relevncia das novas Tecnologias da
Informao e Comunicao, reitera o desejo e o compromisso de construir uma sociedade da
informao centrada na pessoa, inclusiva e orientada para o desenvolvimento (WSIS, 2005,
s.p.). O Compromisso da Tunsia, contudo, no impediu que em 2013 relaes diplomticas
de inmeros pases com os Estados Unidos se estremecessem devido a denncias de
espionagem virtual empreendidas por este pas sobre aqueles demais. A aluso ao episdio
serve tambm para alertar que os discursos tecnolgicos promovidos pela ONU poderiam
dialogar com os discursos ecolgicos amparados, em outros contextos, pela mesma entidade.
34
Nesse sentido, devemos levar em considerao tambm o efeito das dimenses
objetiva e subjetiva
2
do Ecossistema Virtual. Ou seja, as interaes no Ecossistema Virtual
podem reverberar efeitos nefastos, inclusive, nos outros ecossistemas, situando-os distantes
do ideal da gora virtual de Pierre Lvy ou do acordado pelo Compromisso da Tunsia.
Recentemente, por exemplo, noticiou-se em revista nacional de grande circulao os casos de
suicdio de mulheres que tiveram a intimidade expostas no mundo virtual.
De acordo com o explicitado, contata-se que a sociedade contempornea j convive
com formas de simbiose que integram de forma crescente o ser humano e as novas
tecnologias. Por um lado, h uma intergeneregicidade incontestvel entre os textos escritos e
orais que circulam em todos os ecossistemas lingusticos, inclusive o virtual, por outro lado,
todavia, serve para alertar que os gneros digitais significam uma evidncia emprica e uma
forma de se estudar as interaes lingusticas no Ecossistema Virtual . Com a velocidade em
que ocorrem as interaes no Ecossistema Virtual, as evidncias empricas relacionadas
criao de gneros textuais e diversificao das formas de mediao sugerem que a criao e
a renovao das tradies configuram-se como processos cada vez mais interligados ao
intercmbio simblico virtual mediado. Nesse sentido, j se observam postulados futursticos,
de vis marcadamente mais tecnolgico e mercadolgico, como, por exemplo, a Iniciativa
2045, que visa a
to create technologies enabling the transfer of a individuals
personality to a more advanced non-biological carrier, and extending
life, including to the point of immortality. We devote particular
attention to enabling the fullest possible dialogue between the worlds
major spiritual traditions, science and society.
3
. (2045 Initiative)
Muitos institutos e pessoas de renome encontram-se envolvidas na Iniciativa 2045
para travar novos intercmbios simblicos com a promessa de uma realizao plena da
integrao ubqua, isto , simbiose e naturalizao da relao ser humano-mquina-mundo
(Borges, 2013a). Por hora, sem me deter em questes mais profundas relacionadas a estes
ltimos exemplos, devo reafirmar claramente que entendo os primeiros registros de mediao
2
Incorporei as dimenses objetiva e subjetiva proposta do Ecossistema Virtual , aps dilogos com a
pesquisadora do Inep Anarcisa Freitas (Inep). A pesquisadora entende que o que entendemos por virtual remete-
nos a duas dimenses: uma objetiva e outra subjetiva. Portanto, aquela relacionadas s tecnologias que servem
mediao e outra, a subjetiva, ancorada no fsico voc, eu, ns.
3
criar tecnologias que permitam a transferncia da personalidade de um indivduo a um transportador
(andride) no biolgico mais avanado, prolongando a vida, inclusive ao ponto de imortalidade. Dedicamos
especial ateno em permitir o mximo possvel de dilogo entre as mais importantes tradies espirituais,
cientficas e sociais do mundo. (Iniciativa 2045; traduo e grifo nosso). Disponvel em:
http://2045.com/ideology/. Acesso em: 11 de maro de 2013.
35
semitica, a mediao originria virtual, representou o exerccio do imaginrio primordial
para que no sculo XX pudssemos naturalizar e conviver com o conceito de realidade
virtual. Nesse sentido, s podemos afirmar que, sobretudo hoje, as tecnologias e suas
respectivas extenses que mudaram radicalmente as aes, reaes e interaes no que hoje
podemos chamar de Ecossistema Virtual.
3. Do discurso localmente situado s interconexes desterritorializadas
The notion of territory as a symbol for the community of speakers of
the several languages in the world may disappear through the
increasing globalization process of culture and communication
4
.
(Couto, Nova York, Janeiro de 1998).
At o sculo XIX o discurso cientfico prendia-se forma objetiva, cartesiana e linear
de representar o mundo. Cientistas como Galileo e Newton, entre outros, representavam, de
forma localmente situada, o mundo por meio de clusulas como acontecimentos que podem
ser experimentados e, por conseguinte, reconstrudo em frases nominais, como um mundo de
coisas simbolicamente fixas, passveis de serem observadas, medidas, calculadas e postas em
ordem (Halliday, 2001).
Ao encontro deste autor, Hildebrand e Oliveira (2009) anota que as formas de
representao, outrora apoiadas no ponto fixo, baseavam-se em unidades discretas de espao e
tempo, na identidade dos objetos e dos sujeitos, dos conceitos e dos fenmenos. Concordo
com Hildebrand e Oliveira no sentido de que, hoje, as formas de representao do lugar
virtualidade das redes, multiplicidade de conexes que so determinadas pela grande
variedade de dispositivos sensrios que produzimos s diferentes formas de compreender o
espao-tempo e ao conceito de identidade que transforma o sujeito cartesiano em um sujeito
descentrado, mediado pela linguagem e percebido pelos seus modos de subjetivao.
Deste feixe, destaco a relevncia do conceito central da ecologia que, conforme
destaca Couto (2013), o de ecossistema que consta de uma populao (P) de organismos,
convivendo em seu habitat (bitopo, nicho, meio, meio ambiente, entorno) ou territrio (T),
juntamente com as inter-relaes ou interaes (I) que se do (a) entre organismos e T, bem
como (b) entre quaisquer dois organismos. Nessa trilha em que caminhamos, as interaes
comunicativas se do no ecossistema natural, o mental, social e virtual, nas figuras a seguir.
4
A noo de territrio como um smbolo para a comunidade de falantes de vrias lnguas no mundo
pode desaparecer devido ao incremento do processo de globalizao da cultura e da comunicao.
36
P
1
P
2
P
3
/ \ / \ / \
L
1
----T
1
L
2
----T
2
L
3
----T
3
Fig. 2a Fig.2b Fig. 2c
Ecossistema Ecossistema Ecossistema
Natural da Mental da Social da
Lngua Lngua Lngua
MNL P
1
T
1
MML P
2
T
2
MSL P
3
T
3
(povo,territrio) (mente, crebro) (coletividade, sociedade)
Cientes, previamente, das interconexes entre todos ecossistemas lingusticos, bem
como o conjunto possvel para a Lingustica Ecossistmica, poderamos talvez , em tempo e
espao oportunos, problematizar, discutir e chamar, ainda que provisoriamente, esse conjunto
possvel de Poliecossistema com base e dos estudos das Ecolingustica e da perspectiva da
Lingustica Sistmico Funcional de Michael Halliday.
Retomo, todavia, ao eixo central do nosso dilogo para, a seguir, destacar outra
perspectiva igualmente importante o Ecossistema Virtual, ou seja, um dos componentes
centrais da Lingustica Ecossistmica a viso de linguagem como a ecologia da interao
comunicativa (Couto, 2013). Nesse sentido, enfatizamos as interaes no interior de um
ecossistema lingustico na perspectiva da Lingustica Ecossistmica para caracterizar o
Ecossistema Virtual ao encontro da Lingustica Ecossistmica apresentada por Couto (2013),
Aqui no se trata de lngua, de povo nem de territrio especficos, mas
de modo geral, como quando dizemos que para que haja um lngua
necessrio que pr-exista um povo que a fale, com toda a sua cultura,
e que esse povo s ter essa lngua se conviver em determinado
territrio, sem especificar quais so esse povo, essa lngua/cultura ou
esse territrio. (Couto, 2013: 297).
Nesse sentido, conforme o autor aponta, o C est para cultura, a totalidade daquilo
que significa alguma coisa para os membros da comunidade. tudo aquilo que faz parte de
seu meio e que no s um dado natural, mas construdo ou apropriado pela comunidade
como parte de seu acervo de signos. Portanto, deste ponto de vista mais amplo para ancorar o
Ecossistema Virtual , em Couto (2013, p. 298) temos
37
Concordamos, portanto, com Lvy (1999), no sentido de que as interaes provocadas
pelo advento das hipermdias, dos hipertextos, do espao ciberntico, da realidade aumentada,
dos ambientes virtuais de aprendizagem, da ecologia dos saberes (Boaventura Santos, 1997)
podem nos levar a territrios sem fronteiras, do espao dos saberes e das interconexes
coletivas.
Nesse sentido, o espao desterritorializado e metamrfico (Lvy, 1999) do
Ecossistema Virtual seria um espao sem fronteiras. Desta forma, com base na ecologia das
relaes espaciais apresentada por Couto (2012), podemos, oportunamente, discutir as
preposies relacionadas ao Ecossistema Virtual. Por hora, ao encontro das interconexes
entre os ecossistemas como j afirmamos aqui anteriormente, entendo que, apesar de
desterritorializado e metamrfico, o Ecossistema Virtual no prescinde de duas dimenses
bsicas: da subjetiva, o ser integral, e da objetiva, tecnologias para suportar tanto o virtual
com a virtualidade da interao em redes.
4. Das redes de pescar na Galileia s redes no Ecossistema Virtual .
(Mateus, 4: 18-19)
No mar da Galileia, durante o ofcio de pescador, as redes que Pedro e Andr usavam
eram tangveis, concretas, feitas com os recursos e tecnologias disponveis poca. Depois de
aceitarem o convite para se tornarem "pescador de homens", abandonaram as primeiras para
38
com redes intangveis deixarem marcas geogrficas, territoriais, sociais, polticas e
lingusticas na histria das civilizaes e do pensamento, ocidental e oriental, inclusive na
lngua e na cultura japonesa, como se v, inclusive, pelo trecho bblico transcrito acima.
O convite pode ser comparado ao efeito borboleta, conceito incorporado pela "teoria
do caos" que ganhou evidncia nos anos 80 e cujas sementes foram lanadas por Edward
Lorenz em 1969. Para caracterizarmos o Ecossistema Virtual, o conceito do efeito borboleta
torna-se bastante til para lembrarmos que pequenas alteraes nas variveis pode causar
grandes mudanas.
Se, anteriormente, marcas culturais, lingusticas durante muito sculos formaram-se
lenta e gradualmente, sobretudo hoje, a velocidade das informaes do mundo contemporneo
impactam profundamente as formas de pensar, ser e sentir catalisadas sobretudo pelo
fenmeno das redes do Ecossistema Virtual. Impacto este que levam autores como Castells
(1996; 1997; 1998) e Drucker (2004), entre outros, a discorrerem obras intereiras a respeito da
sociedade da informao/conhecimento como uma forma de chamar a ateno para o elevado
grau do volume e da velocidade de produo, disseminao e consumo de informaes e
conhecimentos. Todavia, devemos observar que, na obra Os media na sociedade em rede,
Cardoso (2006) apud Borges (2013a:74) ressalta que embora a rede mundial de computadores
promova estas redes construdas a partir dos projectos espontneos
que surgem na sociedade, constituindo-se na plataforma tecnolgica
mais adequada sua afirmao, tambm verdade que o exerccio da
autonomia no depende apenas da Internet. Cardoso (2006, p. 44)
Como dissociar, portanto, as semioses das redes interconexes fsicas, mentais,
sociais, virtuais? O nosso entendimento que os Ecossistemas Natural, Mental e Social e
Virtual realizam-se, sempre, de forma interconectada. O que sugere, portanto, uma complexa
rede de interaes da lngua. Abrem-se, por conseguinte, na perspectiva do Ecossistema
Virtual, um campo frtil para pesquisas Ecolingusticas.
Este promissor campo de pesquisa possui vrias implicaes dada a amplitude e
crescimento das interaes que ocorrem neste espao desterritorializado (Lvy, 1999) que o
espao ciberntico cujas caractersticas de virtual e a virtualidade (Souza, 2001) nos levam a
mais questionamentos tambm. Portanto, sem esgotar toda a profundidade que o tema requer,
passemos seo final deste trabalho com base nos pressupostos apresentados ao longo do
trabalho e licenciados tambm pela liberdade do nosso imaginrio.
39
5. Do imaginrio representao do Ecossistema Virtual
pela imaginao que passa a doao do sentido e que funciona o
processo de simbolizao, por ela que o pensamento do homem se
desaliena dos objectos que a divertem, como os sonhos e os delrios
que a pervertem e a engolem nos desejos tomados por realidade
(DURAND, 1984a, p. 37, 1979b Apud Arajo e Teixeira, 2009, p. 8).
At o momento, em todas as sees do trabalho, os ttulos de cada tpico procuraram
expressar movimento, processo. Por se tratar de uma nova proposta inovadora, h riscos e
perspectivas. H o risco e no poderia ser diferente porque so conceitos que esto em jogo de
formulao. H tambm perspectivas de avanarmos com as pesquisas lingusticas para
observarmos determinados fenmenos com o aparato terico metodolgico que o fenmeno
exigir.
Essa perspectiva relevante porque seria possvel reconhecer fenmenos e delimitar
objetos de pesquisa ancorados teoricamente nos pressupostos da Lingustica Ecossistmica e
do Ecossistema Virtual. Por exemplo, podemos citar, entre todas possibilidades que nossos
interlocutores podem levantar, um estudo, por exemplo, a respeito da dependncia patolgica
do Ecossistema Virtual dos hikikomoris
5
, na perspectiva Lingustica Ecossistmica, conforme
Couto (2013). Outra possibilidade de estudo lingustico diz respeito s metforas
intercambiantes entre os ecossistemas lingusticos, inclusive o virtual. Por exemplo, Em uma
das raras declaraes de uma pessoa que vive como hikikomori, observamos o emprego de
metforas tecnolgicas para expressar sentimentos humanos como "um fio se quebrou dentro
de mim". O inverso tambm acontece e pode ser melhor estudado na perspectiva da
ecolingustica como em enunciados do tipo "Aqui voc encontra portes inteligentes". Se
estas metforas j se tornaram presentes no cotidiano, h portanto que pensarmos seriamente
nas categorias de caracterizao do Ecossistema Virtual.
Nesse sentido, sem esgotar a discusso, com base nas categorias tericas apresentadas,
finalizamos esta seo com a apresentao de a proposta de representao mnima do
Ecossistema Virtual, na Fig. 4 logo a seguir.
5
Hikikomori (, lit. isolado em casa) um termo de origem japonesa que designa um comportamento
de extremo isolamento domstico. Os hikikomori so pessoas geralmente jovens entre 15 a 39 anos que se
retiram completamente da sociedade, evitando contato com outras pessoas. Uma psicopatologia grave neste
grupo se refere dependncia patolgica da internet.
40
Fig. 4 Ecossistema Virtual Unidade Mnima de Anlise 05/12/2013
Hoje, devido ao avano das extenses tecnolgicas e considerando as novas formas de
mediao e representao multissemitica (l) no espao ciberntico ubquo e metamrfico
(c), devemos lembrar que, conforme Borges (2013a), a ubiquidade j designava a
naturalizao e simbiose da relao homem-mquina-mundo. Nesse sentido, podemos
entender a Fig. 4 como um recorte possvel dentro do Ecossistema Virtual em que ser humano
(p) mortal e (p) delatvel interagem de forma multissemitica (Kress & van Leuwen, 2006)
em espaos cibernticos ubquos metamrficos. Por se tratar de uma unidade de anlise
mnima possvel, outras formas de representao podem ser construdas, obviamente, entre (p)
mortal e (p) mortal tambm.
Conceitos aqui tratados como mediao, representao, virtual, virtualidade, espao
desterritorializado, ciberespao, Lingustica Ecossistmica, efeito borboleta, entre outros,
significam apenas o ponto de partida da proposio do Ecossistema Virtual requer. Claro que,
inicialmente, a articulao destes conceitos possa parecer complexa de tal forma que sejamos
impelidos ao dilema de escolher posies para o dilogo cientfico em relao ao qual o
prprio Saussure afirma:
Vejo-me diante de um dilema: ou expor o assunto em toda a sua
complexidade e confessar todas as minhas dvidas, o que no pode
convir para um curso que deve ser matria de exame, ou fazer algo
simplificado, melhor adaptado ao auditrio de estudantes que no so
lingistas. (SAUSSURE, 1975, p. XVII).
A abordagem exemplificativa, no exaustiva, dos exemplos e conceitos relacionados
ao Ecossistema Virtual deixa claro o entendimento de que existe um campo de investigao
Unidade Mnima de Anlise
41
altamente complexo e fascinante ao mesmo tempo. Por acreditar tanto na qualidade e
interesse dos interlocutores a respeito dos avanos em curso nos estudos ecolingusticos, optei
pela articulao mais complexa, porm necessria s discusses em jogo a respeito do
Ecossistema Virtual.
Referncias
Alzamora, Geane Carvalho. Da semiose miditica semiose hipermiditica: jornalismos
emergentes. Disponvel em: http://www.intercom.org.br/premios/geane_alzamora.pdf>.
Acesso em 30 de novembro de 2013.
ARAUJO, Regina Borges. Computao ubqua, princpios, tecnologias e desafios. In: XX
SIMPSIO BRASILEIRO DE REDES DE COMPUTADORES, 17 a 20 novembro 2009,
Florianpolis. Anais do XX Simpsio Brasileiro de Redes de Computadores. Florianpolis,
2009, p. 45-114.
BBLIA. Portugus. Bblia sagrada. Traduo de Padre Antnio Pereira de Figueredo. Rio de
Janeiro: Encyclopaedia Britannica, 1980. Edio Ecumnica.
BORGES, Alessandro Tatagiba. Gesto da Informao e Gesto do Conhecimento:
Desafios, Abordagens e Perspectivas do Inep. Dissertao de Mestrado. Programa de Ps-
Graduao em Gesto e Avaliao da Educao Pblica, Universidade Federal de Juiz de
Fora, Juiz de Fora, 2013 a.
BORGES, Alessandro Tatagiba. Mediao das Representaes Lingusticas
Muldimensionais. Projeto de Tese (Doutorado em Lingustica) Programa de Ps-
Graduao em Lingustica, Universidade de Braslia, Braslia, 2013 b.
COUTO, H. H. . Ecolingustica. Comunicao Oral. The Place of Place in Creole Genesis,
New York, January, 1998.
COUTO, H. H. . Ecolingustica. Cadernos de Linguagem e Sociedade, v. 10, p. 125-149,
2009.
COUTO, H. H. Ecologia das relaes espaciais - as preposies do crioulo guineense. Papia
(Braslia), v. 17, p. 80-111, 2007.
COUTO, H. H. . Ecolingustica. Cadernos de Linguagem e Sociedade, v. 14, n. 1 (2013).
CARDOSO, Gustavo. Os media na sociedade em rede. Lisboa: Fundao Calouste
Gulbenkian, 2006.
CASTELLS, Manuel. The Rise of the Network Society, The Information Age: Economy,
Society and Culture Vol. I. Cambridge, MA; Oxford, UK: Blackwell, 1996. v. 1.
______. End of Millennium, The Information Age: Economy, Society and Culture.
Cambridge, MA; Oxford, UK: Blackwell, 1998. v. 3.
42
______. A era da informao: economia, sociedade e cultura, V. 1: Sociedade em Rede. So
Paulo: Paz e Terra, 1999, v.1.
______. Prefcio. In: CARDOSO, Gustavo. Os media na sociedade em rede. Lisboa:
Fundao Calouste Gulbenkian, 2006.
CRYSTAL, David. Language and the Internet. Cambridge: Cambridge University Press,
2001.
FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. Trad. Laura Sampaio. 9.ed. So Paulo: Loyola,
2003.
GAUR, Albertine. A History of Writing. London: The British Library, 1992.
HALLIDAY, Michael Alexander Kirkwood; HASAN, Ruqaiya. Language, context and
text: aspects of language in a social-semiotic perspective. Oxford: Oxford university Press,
1989.
HILDEBRAND, Hermes Renato ; OLIVEIRA, Andreia Machado . Do ponto de fuga s
conexes das redes (18.ANPAP). In: http://www.anpap.org.br/, 2009, Salvador. 18 Encontro
Nacional da ANPAP: Transversalidades nas Artes Visuais. Salvador: Salvador, 2009. v. 1. p.
50-55.
JONSSON, Ewa. Electronic Discourse. On Speech and Writing on the Internet. Lule
University of Technology. Department of Communication and Languages, 1997. Disponvel
em: <http://www.ludd.luth.se/users/jonsson/D-essay/ElectronicDiscourse.html
KRESS, G. VAN LEEUWEN, T. Reading images: the grammar of visual design. London;
New York: Routledge, 2006.
MacLuhan, Marshall and Q. Fiore. 1967. The medium is the massage. New York: Bantam
Books.
SANTOS, Boaventura de Sousa. Para alm do Pensamento Abissal: Das linhas globais a
uma ecologia de saberes. In Revista Crtica de Cincias Sociais, 78, 3-46. 2007.
Santos, Boaventura de Sousa (2009). A Non-Occidentalist West?: Learned Ignorance and
Ecology of Knowledge. Theory, Culture & Society, 26(7-8), 103-125. Special
Issue Occidentalism: Jack Goody and Comparative History.
SAUSSURE, Ferdinand. Curso de Lingstica Geral. Traduo de Antnio Chelini, Jos
Paulo Paes e Izidoro Blikstein 7.ed. So Paulo: Cultrix, 1975.
WSIS - THE WORLD SUMMIT ON THE INFORMATION SOCIETY. Geneva 2003 / Tunis
2005. Disponvel em: <http://www.itu.int/wsis/index.html>. Acesso em: 10 jun. 2013.
Wittgenstein, Ludwig. 1966. Tractatus logico-philosophicus. London: Routledge & Kegan
Paul.
43
YATES, Joannne, ORLIKOWSKI, Wanda J. Genres of organizational communication: a
structural approach to studying communication and media. Academy of Management
Science Review. v. 17, n. 2, p. 299-326, 1992.
YATES, Joannne, ORLIKOWSKI, Wanda J.; Kazuo Okamura Explicit and Implicit
Structuring of Genres in Electronic Communication: Reinforcement and Change of Social
Interaction. Organization Science, v. 10, p. 83-103, 1999.
A ANLISE DE DISCURSO CRTICA DE NORMAN FAIRCLOUGH
Alexandre Costa
Atribui-se a Norman Fairclough o primeiro uso do termo 'Anlise de Discurso Crtica',
em um artigo intitulado Critical and Descriptive Goals in Discoursal Analysis, publicado no
peridico Journal of Pragmatics em 1985. Tratava-se do surgimento de um modelo de anlise
do discurso que se constituiria, sobretudo, pela conjugao de paradigmas tericos e
procedimentos analticos da Lingustica e das cincias sociais.
Como uma abordagem transdisciplinar dirigida pesquisa de prticas sociais nas
sociedades contemporneas, a ADC tem sido til a estudiosos de ambos os campos de que se
originou. A obra do linguista britnico Norman Fairclough, reconhecido como seu maior
expoente, identificada como Teoria Social do Discurso. Forma-se, basicamente, pela
conjugao das concepes e dos procedimentos da dialogia de Bakhtin (1997, 2004), da
arqueologia de Foucault (2002) e do funcionalismo gramatical de Halliday (1985).
Desenvolvida desde o princpio como um modelo analtico tridimensional, que tomava
o discurso como prtica social, a Teoria Social do Discurso teve pelo menos trs verses. Na
primeira (Fairclough, 1989 e 1992), o estudo das trs dimenses analticas propostas prtica
social, prtica discursiva e texto teve como foco a prtica discursiva ou o discurso como
uso da linguagem. Nas verses seguintes, a ADC faircloughiana foi reorganizada em duas
direes diferentes, mas j contidas em sua concepo inicial. Na primeira reviso ou
enquadre (Chouliaraki e Fairclough, 1999), os procedimentos de anlise social e poltica
foram expandidos e verticalizados, incorporando a reflexo de diversos autores ligados a
44
abordagens crticas das Cincias Sociais
6
; na segunda (Fairclough, 2003), os procedimentos
de anlise textual foram qualificados, aprofundando o embasamento da TSD na Lingustica
Sistmico-Funcional de Halliday (1985). Segundo entendemos, cada uma das etapas
privilegiou uma parte de suas bases constitutivas originais. Na primeira verso, seu moto
epistemolgico a dialogia bakhtiniana, com maior ateno aos processos de produo,
distribuio e consumo de textos; na segunda, ocorre o que chamamos de uma virada
arqueolgica, na qual os temas e as questes da crtica social so mais explicitamente
operacionalizados, por meio da incorporao de trabalhos das Cincias Sociais; na terceira,
finalmente, os aspectos dialgicos e crticos recebem um tratamento mais sistemtico no
mbito do funcionalismo gramatical. Portanto, ao que tudo indica, a qualidade operacional da
TSD continua residindo no relacionamento da avaliao das prticas sociais anlise
lingustica dos textos, mediados pelo exame das prticas discursivas.
Em nosso entender, a TSD tambm uma operacionalizao da arqueologia
foucaultiana, mediante a radicalizao da concepo dialgica de Bakhtin e da apropriao
dos modelos analticos estruturais de disciplinas lingusticas e sociais. Sua validade provm
da sua capacidade de analisar eventos discursivos como acontecimentos e considerar seus
elementos parcialmente constitutivos: as prticas discursivas sociocognitivamente
estruturadas e as estruturas sociais. A abordagem de Fairclough recupera, portanto, em graus
variados e com objetivos especficos, os elementos-chave de trabalhos de autores como
Bakhtin, Foucault e Halliday em relao s categorias de prtica e de estrutura.
1. A Teoria Social do Discurso: a tesee a anttesedas primeiras verses
A primeira verso da teoria de Fairclough (1989; 1992) identifica o discurso ao uso da
linguagem, concebendo-o como um modo de ao e de representao que recebe e deriva
identidades, relaes sociais e sistemas de conhecimento e crena. O dispositivo terico-
metodolgico da Teoria Social do Discurso, portanto, parte da concepo epistemolgica da
interconexo dialeticamente constitutiva de prtica e estrutura. Como bem observa Magalhes
(2001), isso permite equilibrar o foco das anlises em relao aos aspectos da reproduo e da
mudana social e, por consequncia, fornecer instrumentos aos agentes sociais que estejam
6
Como, por exemplo, Van Leeuwen , Thompson , Giddens Castells, Harvey, Hall, Gramsci, Bhaskar, entre
outros.
45
enfraquecidos nos contextos estudados
7
. Fairclough tambm considera o termo discurso no
sentido foucaultiano de sistema de enunciados particulares, como, por exemplo, o discurso
da psiquiatria, o discurso do governo tal etc. Nesta abordagem, manteremos a distino
entre uso da linguagem e discurso, resguardando o sentido estabelecido por Foucault e
tentando evitar certa confuso terminolgica gerada pelo duplo sentido do termo discurso.
No enquadre inicial da teoria, como j indicamos acima, o autor trabalha com um modelo
tridimensional de anlise que opera sobre os eventos discursivos por meio da descrio e
interpretao dos seguintes nveis: as prticas sociais (com seus aspectos sociolgicos,
institucionais, comunitrios etc.), as prticas discursivas (com seus aspectos dialgicos de
produo, distribuio e consumo textual) e os textos (com suas caractersticas lingusticas).
O foco principal nas prticas discursivas, cujas condies variam de uma prtica social para
outra e cujas consequncias se fazem presentes nos textos. As categorias de anlise das trs
dimenses so as seguintes:
1. Texto: vocabulrio, padres gramaticais e coesivos, estrutura textual.
2. Prtica discursiva: produo, distribuio, consumo, atos de fala, condies de
coerncia, intertextualidade e interdiscursividade.
3. Prtica Social: aspectos no-discursivos, ideologia e hegemonia.
Como se pode ver pelo conjunto das categorias de cada um dos nveis, o foco central das
anlises sobre os processos de produo, distribuio e consumo de textos, a prtica
discursiva. O conhecimento das caractersticas das etapas da prtica discursiva o elemento-
chave para explorar as propriedades dos textos e as orientaes ideolgicas e hegemnicas das
prticas sociais. Os modos pelos quais os textos so produzidos ou consumidos individual
ou coletivamente; simultnea ou consecutivamente so relevantes para a descrio das
caractersticas textuais, por exemplo. Assim tambm, sua distribuio pode envolver o
simples deslocamento do mesmo texto para eventos consecutivos ou para suportes diferentes,
o que implica ou no a sua transformao para outros gneros ou a constituio de diferentes
relacionamentos intertextuais. Comunidades, instituies ou mesmo sociedades inteiras tm
conjuntos e subconjuntos de prticas discursivas parcialmente estabilizadas. Fairclough
(1992) chama esses sistemas de prticas discursivas de ordens de discurso, uma categoria
que permite avaliar com grande acuidade as ordens sociais e suas orientaes ideolgicas. No
7
Nesse sentido, vale lembrar que o epteto Crtica diz respeito aos propsitos fortalecedores, empoderadores
ou emancipatrios que fazem parte da agenda da ADC.
46
estudo dessas ordens, a verificao dos processos de produo, distribuio e consumo de
textos, com os gneros que estabilizam as formas textuais e as relaes de intertextualidade
manifesta ou constitutiva (interdiscursividade), apresenta-se tanto nos contextos de interao
como nos textos produzidos. Sua anlise descritiva e interpretativa simultnea e relacional ,
portanto, um meio de gerao de rigor e validade nas pesquisas. Como j indicamos acima,
seus procedimentos podem ser resumidos como a considerao das refraes dialgicas das
cadeias enunciativas, inclusive entre os aspectos formais dos diferentes nveis, sendo um
modo de avaliar as relaes de poder das ordens sociais. A mobilizao ou o apagamento de
diferentes vozes nos textos (literalmente, parafrasticamente, opositivamente etc.), por
exemplo, so questes centrais da abordagem.
E, desse modo, pode-se perceber um ganho operacional da ADC sobre a arqueologia; ao
no rejeitar a explorao das homologias entre os discursos, os textos e as prticas, o modelo
tenta estabilizar a interpretao sobre as orientaes ideolgicas identificadas. Fairclough
(1992) usa os conceitos de ideologia, em seu vis negativo, como sentido a servio do poder
(Thompson, 1995) e de hegemonia, derivado de Gramsci (1988), como gerao ideolgica de
consenso. Esse ganho operativo, no entanto, provoca o empobrecimento da empiria, sua
generalizao, e no trabalha com o mesmo nvel de abertura complexidade da abordagem
arqueolgica. Trata-se de uma escolha metodolgica, relativa aos objetivos do modelo e
cujas consequncias podem ser questionadas sob diversos aspectos.
47
Figura 1: Modelo tridimensional de anlise do discurso
(Baseada em Fairclough, 1992, p. 73)
O segundo enquadre da Teoria Social do Discurso (Chouliaraki e Fairclough, 1999), no
entanto, vai configurar o que j chamamos de uma virada arqueolgica da ADC. Fairclough
e seus colaboradores vo buscar, em reflexes das cincias sociais crticas, os meios para
tratar de problemas e caractersticas fundamentais da chamada Modernidade Tardia, uma
concepo sobre a acelerao global do dinamismo dos processos sociais que caracteriza a
Modernidade. Muitas questes que j haviam sido estudadas por Foucault, ao longo de toda
sua obra, entraro tematicamente na agenda de pesquisa da ADC, por meio da incorporao
das discusses de autores como Giddens (1991; 2002), Thompson (1995; 1998), Bhaskar
(1989) e Harvey (1996), entre outros. So de fato reflexes muito relevantes e operativas para
o estudo das mudanas sociais na sociedade contempornea e muitas delas sero recuperadas
nos captulos seguintes, na anlise de nosso objeto. Sua incorporao, entretanto, ter
conseqncias sobre a operacionalidade da verso inicial da TSD, conforme veremos a seguir.
Uma das caractersticas mais importantes da nossa poca a sua midiao, cada vez mais
acelerada e dinmica. Giddens (1991; 2002) descreve a Modernidade Tardia como uma poca
marcada pelos processos de separao das relaes de espao e tempo, gerando o desencaixe
das prticas de seus contextos originais de produo e a possibilidade de seu espalhamento
48
indiscriminado por todas as esferas do mundo globalizado. Como resultado dessa situao,
pessoas e comunidades de qualquer parte do mundo tm acesso a identidades e modelos de
relacionamento social e de concepo do mundo, gerados e propagados por grandes
corporaes e organizaes institucionais internacionais. Assim, a capacidade de refletir sobre
as prprias prticas, com seus aspectos identitrios e modos de ao habituais, que inerente
aos processos de socializao, torna-se um centro especial da reproduo e da transformao
social. Nas pocas pr-modernas esses processos eram marcadamente engessados pela
tradio, condio que comeou a mudar com a modernidade.
Em diferentes etapas de sua obra, Foucault j tratara dos modos e razes das prticas de
subjetivao produzidas pela modernidade, como no caso clssico da confisso psicanaltica
(a anlise), lembrado como sntese exemplar em Foucault (2002). Por isso, nenhuma das
questes que motivam a reviso terico-metodolgica da segunda verso da ADC
faircloughiana so alheias perspectiva arqueolgica nem tampouco ao que o prprio
linguista britnico j havia chamado de tecnologizao do discurso: a produo de mudanas
nas prticas de linguagem de agentes sociais, grupos sociais ou mesmo de comunidades
inteiras com a inteno de trasformar-lhes as identidades, as relaes sociais e os sistemas de
conhecimento e crena (Fairclough, 1992). Esses processos, j estudados por ambos autores,
so radicalizados pela acelerao da dinmica da midiao da cultura moderna e de suas
conseqncias de desencaixe de prticas e de gerao externa de reflexividade
8
. Portanto,
salvo melhor juzo, todas as mudanas operacionais introduzidas na abordagem de ADC de
Fairclough so decorrentes de uma tentativa de qualificao de seu carter emancipatrio,
cuja sntese a seguinte (Chouliaraki e Fairclough, 1999):
Primeiro passo: localizao de um problema enfraquecimento de agentes ou grupos
sociais pela distribuio desigual de recursos materiais e simblicos em determinadas
prticas, ideolgica e hegemonicamente produzido.
Segundo passo: identificao de obstculos para a superao do problema
elementos da prtica que sustentam a assimetria localizada. Essa etapa envolve trs
tipos de anlise: de conjunturas ou configurao de prticas; de prticas particulares e
da relao entre o discurso e os outros elementos; e anlise dos usos da linguagem,
8
Trata-se, sobretudo, da percepo do aumento da velocidade e da complexidade dos processos, uma vez que,
por exemplo, a confisso religiosa no de modo algum diferente disso e h muito tempo serve aos mesmos
propsitos.
49
com nfase em gneros, vozes, discursos e caractersticas lingusticas dos textos de
ordens de discurso articuladas.
Terceiro passo: anlise da funo ou do funcionamento dos aspectos discursivos no
problema identificado.
Quarto passo: sugesto de meios e modos para a superao dos obstculos.
Quinto passo: reflexo sobre a prpria anlise.
At o presente momento da exposio, o que vimos foram mudanas na agenda
emancipatria da ADC e no, propriamente, de seu arcabouo terico-metodolgico. H que
se verificar, portanto, em que medida essa assuno do privilgio dos propsitos
emancipatrios da abordagem, como uma prtica poltica, muda ou no seus paradigmas de
prtica cientfica. Segundo nosso entendimento, as mudanas operacionais acrescentadas
verso inicial da TSD, nessa primeira reviso, resumem-se associao dos usos da
linguagem aos assim chamados outros momentos das prticas. Pretende-se poder analisar
como cada momento das prticas articulado e internalizado por outros momentos, tais
como atividades materiais, relaes sociais e fenmenos mentais.
Essa hermenutica pode ser verificada pelas seguintes definies de estrutura, evento
e conjuntura na ADC (Chouliaraki e Fairclough, 1999: 22 grifos nossos):
Estruturas so condies histricas da vida social que podem ser modificadas
pela prpria vida, mas lentamente. Conjunturas so conjuntos relativamente
estveis de pessoas, materiais, tecnologias e prticas (em sua condio de
permanncias relativas) ao redor de projetos sociais especficos, em sentido
amplo. Sua durabilidade e amplitude podem variar consideravelmente.
Eventos so acontecimentos ou ocasies imediatos e individuais da vida social.
Como se pode perceber pela gradao inclusiva e dialtica das definies
apresentadas acima (estrutura > < conjuntura > < evento), seu uso parcialmente
ontolgico: fica implcito que as anlises encontram os elementos e seus sistemas no
Real. No h nfase sobre o carter estrutural de todos os nveis, como seria concebvel em
uma concepo estruturalista metodolgica (de aplicao de modelos estruturais
50
aproximativos). Em nosso entender, repetimos, o segundo enquadre da ADC de Fairclough
em nada acrescenta operacionalidade metodolgica da abordagem dialgico-estrutural que
lhe servia de base epistemolgica. As questes sociais acrescidas s podem ser tratadas, de
fato, nos termos terico-metodolgicos da primeira verso, acrescentando, ao mesmo tempo,
tanto riqueza temtica s pesquisas quanto dificuldades operacionais ao trabalho terico. O
maior problema dessa formulao o relacionamento dos elementos das prticas e estruturas
sociais pela categoria de momento, cujo sentido temporal relativamente inadequado
noo de sistema que embasa o modelo. As atividades materiais, as relaes sociais e os
fenmenos mentais no so momentos, consecutivos ou simultneos das prticas, mas
compsitos de elementos articulados entre os diversos nveis das relaes dialgicas de
estruturao e desestruturao dos eventos
9
.
H, de fato, alguns temas da reflexo de carter mais propriamente sociolgico e
poltico do segundo enquadre que deixamos de lado nessa discusso, por supormos no
relevantes agora. A explicitao do tratamento da ideologia, no entanto, que j estava contida
nos dois primeiros enquadres, ser recuperada a seguir. Nela exporemos a terceira verso da
Teoria Social do Discurso, que est mais centrada no estudo do discurso a partir do nvel do
texto, sendo mais adequada ao recorte emprico que visamos.
Figura 2: Discurso como momento da prtica social
(Baseada em Ramalho e Resende, 2006, p. 39-40)
9
possvel e at provvel que essa escolha terminolgica diga respeito ao preconceito estruturalista j
discutido. A noo de evento, que remete a de acontecimento, aquela que comporta a idia de momento.
51
2. A snteseda TSD pelo retorno s suas bases funcionalistas
O terceiro enquadre da Teoria Social do Discurso (Fairclough, 2003) , na verdade,
uma espcie de sntese dialtica do modelo. possvel supor, mais alm do que o prprio
autor deixa ver em suas definies da primeira verso do modelo (Fairclough, 2001: 46-51),
que a gramtica sistmico-funcional de Halliday (1985) seja a origem profunda de sua anlise
do discurso. A partir das formulaes da Lingustica Crtica, desenvolvida na dcada de 1970
e j com base na teoria lingustica funcionalista de Halliday, a TSD se teria formado pelo
acrscimo da dialogia bakhtiniana e da arqueologia foucaultiana (sob a influncia da ADF),
cujo equilbrio final se recupera nessa sua ltima verso
10
.
A ADC de Fairclough relaciona-se com a gramtica sistmico-funcional de Halliday
por compartilharem a viso de que a linguagem um sistema aberto, em cujo escopo os textos
so estruturados e estruturantes na sua relao com o sistema. Na verdade, em consonncia
com o que dissemos at agora, as relaes dialticas so entre elementos e sistemas e entre
sistemas e sistemas; as mudanas da lngua, cuja origem social, no provm de espaos
desestruturados, muito pelo contrrio. De qualquer modo, a TSD encontra nos estudos
funcionalistas os princpios gerais da relao entre uso e sistema lingustico. Tomando a
variao funcional como uma propriedade organizacional da linguagem, Halliday (1985)
salienta a multifuncionalidade dos enunciados e elenca trs macrofunes sempre manifestas
nos textos: a ideacional, a interpessoal e a textual.
Apesar de serem inter-relacionadas, essas funes permitem analisar os textos sob trs
aspectos distintos. Em primeiro lugar, como representao da realidade, em seus processos,
eventos, estados etc., tratando-se da expresso lingustica dos contedos ideacionais na
diversidade potencial que cada lngua carrega. Em segundo, todo enunciado tambm uma
forma de ao sobre o mundo e seus agentes e, por isso, constitui significados interpessoais
que dizem respeito s relaes sociais e suas identidades consequentes. Em terceiro,
finalmente, todo enunciado se apresenta como uma expresso de significados gramaticais e
estruturais que o configuram como texto. Esses significados instanciam-se simultaneamente,
sob a complexidade multifuncional da linguagem.
Em sua primeira apropriao do modelo de Halliday, Fairclough (1992) separou a
funo interpessoal em funo identitria e funo relacional, mantendo a funo textual.
Nesse segundo enquadre da TSD, Fairclough (2003) articula as macrofunes de Halliday aos
10
Mas isso apenas uma hiptese, que ainda deve sofrer a sua prpria arqueologia para comprovar-se. Ver
Costa, 2007; 2009.
52
conceitos de gnero, discurso e estilo, passando a cham-las de significados: o significado
acional, o significado representacional e o significado identificacional. Desta vez, associa a
funo textual de Halliday noo de gnero e a inclui no significado acional
11
.
Nessa verso terico-metodolgica da TSD, apesar da reacomodao da sua relao
com a gramtica sistmico-funcional, mantm-se a noo de multifuncionalidade da
linguagem na operacionalizao proposta. O uso da linguagem, como um dos elementos das
relaes entre prticas, eventos e textos, considerado, simultaneamente, como um modo de
agir, um modo de representar e um modo de ser, correspondendo a diferentes tipos de
significado. Significados acionais apresentam-se nos textos como modos de interao e de
formao de relaes sociais; significados representacionais expressam os diferentes aspectos
fsicos, mentais e sociais do mundo; e significados identificacionais referem-se produo e
negociao de identidades. A anlise operacional desses tipos de significados se produzir por
sua associao s categorias de gnero (ao), de discurso (representao) e de estilo
(identificao).
Gneros, discursos e estilos sero considerados, operativamente, como modos
relativamente estveis de agir, de representar e de identificar que permitem que a anlise
discursiva relacione os significados dos textos aos eventos, s prticas e s estruturas. Trata-
se, portanto, de um modelo terico-metodolgico que se aproxima, em grande medida,
crtica do documento da arqueologia, mas cujas diferenas devem ser avaliadas. Em primeiro
lugar, recupera a condio textual do documento que era, de certo modo, desprezada por
Foucault. Em segundo, explora as homologias estruturais entre os diferentes nveis dos
acontecimentos ou eventos: as prticas, as ordens de discurso ou campos sociais, os habitus e
os textos. Em terceiro lugar, finalmente, trata dos tipos de significados dos textos por meio de
associaes semnticas e formais, envolvendo, portanto, sistemas de diferenas e cadeias de
inferncias.
Exemplo de semelhanas e diferenas entre as duas abordagens o tratamento da
ideologia, tomada, como j dissemos, como sentido a servio do poder. Os modos gerais de
operao ideolgica, apropriados de Thompson (1995: 81 e ss.), dizem respeito tanto a
descries e interpretaes de carter formal como a escolha de gneros na configurao de
eventos e prticas quanto a explicaes de sentidos textuais relativos a anlises de atos de
fala em textos especficos como saudaes, ameaas etc. por meio de procedimentos
11
Trata-se de um ponto de instabilidade do modelo que pode ser problemtico, mas compreensvel: aes,
relaes e identidades so fortemente integradas.
53
analticos desse tipo que se podem localizar e avaliar processos ideolgicos como a
legitimao, a dissimulao, a unificao etc.
Em sua ltima verso, portanto, a ADC volta-se a estabilidade emprica do texto, nvel
maior da lngua, como lugar de tratamento de enunciados, prticas e eventos discursivos.
Figura 3: Adaptao das categorias de Halliday
(Baseado em Ramalho e Resende, 2006, p. 61)
Referncias
BAKHTIN, Mikhail. Esttica da criao verbal. 3. ed. Sao Paulo: Martins Fontes,
2004.
BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e filosofia da linguagem. 2. ed. Sao Paulo: Hucitec,
19997.
COSTA, Alexandre . Arqueologia da formao do professor: a nova ordem de discurso
da educao nacional. Campinas: UNICAMP, 2007 (Tese de Doutorado).
COSTA, Alexandre Ferreira da. A crtica do documento de Michel Foucault:
apontamentos sobre modalizao emprica em analise do discurso. In: Via Litterae,
Anpolis, v. 1, n. 1, p. 5-22, jul./de 2009.
CHOULIARAKI, Lilie; FAIRCLOUGH, Norman. Discourse in late modernity:
rethinking critical discourse analysis. Edinburgh, England: Edinburgh University Press,
1999.
ECO, Umberto. A estrutura ausente. 7. ed. Sao Paulo: Perspectiva, 2001.
FAIRCLOUGH, Norman. Critical and Descriptive goals in discourse analysis, Journal
of Pragmatics 9: 739-63. 1985.
FAIRCLOUGH, Norman. Discourse and social change. Cambridge: Polity Press, 1992.
FAIRCLOUGH, Norman. Critical discourse analysis. Boston: Addison Wesley, 1995.
FAIRCLOUGH, Norman. Language and Power. 2 ed. London: Logman, 2001.
FAIRCLOUGH, Norman. Discurso e Mudana Social;. Brasilia: Editora UnB, 2001.
FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense
Universitria, 2009.
GIDDENS, Anthony. As consequncias da modernidade. So Paulo: Editora UNESP,
1991.
HALLIDAY, M. .A. K. An introduction to functional grammar. 3nd. ed. London,
Hodder Arnold, 2004
HARVEY, D. Justice, Nature and the Geography of Difference. Oxford: Blackwell,
1996
MAGALHAES, Izabel. Introduo: a anlise de discurso critica. D.E.L.T.A., v. 21 n. especial.
So Paulo 2005.Disponvel em <http://www.scielo.br> Acesso em 14 de outubro de 2008
RESENDE, Viviane de Melo; RAMALHO, Viviane. Anlise de discurso crtica. So
54
Paulo: Contexto, 2006.
A PINTURA RUPESTRE E A PAISAGEM NATURAL DA
CHAPADA DIAMANTINA
Cidalia Oliveira Barbosa Pinto
Ilana Benne falco Maia
Karolini Batzakas de Souza Matos
55
UEFS Universidade Estadual de Feira de Santana - Bahia
Introduo:
O presente trabalho tem como proposta a apresentao dos elementos e identificao das
pinturas rupestres na cidade de Iraquara, Chapada Diamantina. O que propomos nesse artigo
explanar como se deu a histria dos elementos pesquisados e vistos por ns na viagem de
campo do dia 04 e 05 de Outubro, ano de 2013. Podemos encontrar, neste local, pinturas nas
paredes das cavernas que apresentam histrias datadas h milhares de anos, esses elementos
podem ser estudados como arte e este o intuito deste artigo, apresentar estes elementos
como manifestaes da arte, tanto como representaes humanas, como no caso das pinturas
nas rochas ou nas representaes da prpria natureza.
Procuramos entender estes grafismos como formas de expresso e linguagem, todos os
sinais (signos) tm um significado entendvel, para quem o fez, o que os diferencia do
smbolo. Porm, os signos por serem interpretados, por ns, com uma infinidade de
sentidos, tornam-se smbolos. Essa infinidade de significado ocorre por no vivemos nem
conhecemos os signos daquela poca; portanto, pretendemos aqui recorrer alguns estudiosos
do ramos, para a partir de ento entenderemos o que significa a imagem, e o que ela quer
transmitir dentro de um contexto.
Atravs das experincias vividas e das leituras, a respeito do tema Arte Rupestre na
Chapada Diamantina, este trabalho, relaciona tambm aspectos naturais do local e, portanto,
ampliando nossa viso acerca da arte e das belezas naturais dispostas naquele ambiente.
As pinturas e o tempo
A beleza dos muncipios, da Chapada Diamantina, so imensurveis, podemos observar seus
diversos painis arqueolgicos com pinturas que nos sugerem diversas interpretaes como a
representao de animais, caas, movimento da gua (da chuva e dos rios) e at a cena de um
suposto parto. Estas pinturas podem ser datadas, segundo estudos, entre mil e dez mil anos
aproximadamente, sendo alguns ainda mais antigos, apresentam um importante registro do
homem pr-histrico nas terras brasileiras, e so patrimnio do local e do Brasil.
A palavra pintura rupestre significa literalmente, segundo o lxico: "gravado ou
traado na rocha; construdo em rochedo", podemos definir as pinturas feitas nas rochas do
muncio de Iraquara, ou em qualquer outra localidade que possam ser encontrados, como arte,
mas o que seria Arte Rupestre? A arte rupestre exatamente a representaes do cotidiano do
homem, que em tempos remotos viviam em cavernas ou tendas; cada representao pode nos
56
trazer um significado. Por isso, h nestas pinturas um sentido de arte, existem livres maneiras
de interpret-las, mas houve um sentido e um significado para cada uma daquelas figuras e o
motivo pelo qual elas foram feitas naquele contexto.
O contato direto com as paisagens: natureza, grutas, cavernas, fez com que ns
fizssemos parte de uma histria esquecida, por muitos, ao longo dos milnios, a experincia
provocou, em muitos um xtase, era como se estivssemos em um quadro e nele podemos
sentir a presena daquele povo, seus costumes, sua rotina, seus ritos, suas crenas. A
fotografia eterniza o momento, mas s a presena pode fazer sentir, de verdade, o clima, a
sensao. de uma emoo imensurvel estar perto do que pode ter sido o incio de tudo, da
nossa histria, das descobertas do tempo, dos costumes. Nesses desenhos, o homem deixou
suas marcas, e hoje podemos ver o quanto isto foi importante para a descoberta da identidade
de ns como seres humanos.
Talvez, as perguntas, "de onde viemos?" e "para onde vamos?", possam comear a
serem respondidas a partir deste momento, a existncia do homem um mistrio, porm essas
representaes, ainda preservadas pela natureza, podem nos dar indcios de respostas e a
curiosidade para que os estudos no parem. Atravs desses elementos, podemos identificar
uma das caractersticas bastante inerente aos humanos: a criatividade. Isto se d graas a
nossos antepassados que participaram ativamente do meio ambiente contribuindo para que
houvesse uma relao entre ambos (NASCIMENTO 2012: 41). Podemos, ento, dizer que
existia naquele ambiente o que chamamos de cultura, e, a partir da, observar a evoluo
desses homens primitivos at os dias de hoje, evoluo tal que no aconteceu de uma hora pra
outra, mas sim, por meio de um processo gradativo que nos traz at os dias de hoje.
Muitos autores ainda se questionam sobre os povos que habitaram esses espaos, estas
so perguntas sem respostas, mesmo que existam muitos estudos sobre seus costumes e como
viviam, as questes acerca dos povos primitivos so ainda muito vagas e, portanto,
misteriosas para os pesquisadores. Nascimento (2012) afirma que as tcnicas usadas para
elaborao das pinturas rupestres, variam de stio para stio, sem que, por isso, seja possvel
obter respostas a questes como de onde vieram? Quem so e como so esses povos? Enfim,
os povos primitivos permanecem uma incgnita para os pesquisadores.
Arte e conhecimento
coerente afirmar que a arte est ligada ao homem desde os primrdios, ela o principal
elemento para o conhecimento humano, atravs da arte de criar que desde crianas
colocamos nossa imaginao em prtica, a imaginao base para o desenvolvimento da
57
criana e, posteriormente, do homem. A criatividade abre portas para o desenvolvimento
crtico de um ser pensante. Logo, as pinturas rupestres so, tambm, indcios de que nossos
ancestrais utilizavam a imaginao por meio de suas criaes nas grutas, paredes e em sua
relao mtua com a natureza.
Conhecer requer percepo e interpretao. "A arte no produz o que vemos nela, ela
nos faz ver." (KLEE), essa busca pelo conhecimento que fez o homem evoluir, ir atrs do
conhecimento e comear a questionar a sua realidade, foi assim que teriam surgido os
primeiros filsofos. Talvez, algumas das representaes feitas nas paredes, por meio de
desenhos, sejam de cunho problemtico, no sentido de questionar seu universo, da o fato do
homem nunca ter parado no tempo, ele est sempre evoluindo, em busca de si e de conhecer o
que o rodeia. No h dvidas de que a arte o grande impulso para a imaginao, ou vice-
versa, por meio das expresses artsticas utilizamos nosso crebro, nossas percepes e
aumentamos nossa carga de conhecimento. Um exemplo disto o fato de algumas
representaes mostrarem os homens caando primeiramente com as mos, depois com lanas
e outras armas, ou seja, um avano no conhecimento mostrou que com armas se caa melhor
do que com as mos. Contudo, os avanos ainda geram incertezas e, talvez, a ignorncia, no
sentido de retroatividade. Morin (2005, p.100) nos diz isto, o progresso e o conhecimento
ainda geram incertezas em decorrncia da enorme onda de informaes que recebemos e isto
nos angstia.
Sem dvidas, os estudos sobre a arte rupestre mostram o quanto isto importante para
o conhecimento a respeito da evoluo do homem, individualmente e coletivamente. Isto de
extrema importncia, pois mostra que em todo tempo o homem est em busca do
conhecimento e a consequncia disto sua evoluo mental e/ou espiritual.
A transcendncia do homem e a natureza
Iniciaremos esse tpico justificando sua escolha, pois, de incio, esse tema pode no
parecer harmnico com a proposta levantada pelo presente artigo. Porm, a utilizao desse
tema est posta para que possamos compreender os mitos antigos e, ao mesmo tempo, dar a
devida importncia natureza, seja ela da Chapada ou no.
O que pretendemos, junto a outros elementos, explanar da Chapada o seu carter
cosmognico. O contato direto que pudemos desfrutar com a natureza, pode, de certo modo,
nos impulsionar na transcendncia do esprito e do corpo. Nesse tpico pretendo explicar duas
coisas: a formao do cosmo e a energia presente nos elementos do mesmo. O cosmo,
segundo o filosofo Eudoro de Sousa, surge a partir da morte de um deus, essa morte
58
representada por uma catstrofe, a cosmogonia entendida como um tringulo perfeito: deus,
homem e mundo. A morte desse deus, como mencionado acima, o ocultamento do mesmo
no mundo e no homem. . Essa ocultao permite o homem e o mundo acessarem uma parte do
divino. Isso acontece quando o homem nega o mim mesmo e alcana o eu. (SOUSA,
1984: 95). Portanto, aqui pretendo justificar o porqu o contato com a natureza, ou seja, o
contato com o que puro nos impulsiona transcendncia.
O homem perdeu a sensibilidade de sentir e se aproximar da natureza, cada vez mais o
homem vem se tornando coisa, j dizia Marx em seu livro O Capital. O homem se iludiu ao
pensar que as coisas esto dispostas para si, mas, na realidade, somos ns quem estamos
dispostos para elas. Eudoro de Sousa, no seu livro Mitologia, tece uma crtica acerca deste
mundo, que, para ele, est disposto no aqum-horizonte, o diabo a figura que impera nesse
aqum-horizonte. Pois, foi por causa dele que o homem se iludiu e acreditou que as coisas
esto dispostas para si. O mundo tornou-se campo do diablico, assim, o Diabo passa a rondar
o mundo, tornando tudo coisa, transforma o natural e faz o regresso parecer progresso. Ilusor
de homens, o Diabo nos ilude a ponto de trocarmos a Criao pela construo de coisas
dispersas inteira superfcie de um Mundo que sobreps quele que nos fora dado
gratuitamente (SOUSA, 1984, 102). Estamos tratando, neste pargrafo, das transformaes
da natureza pelo homem.
Os povos antigos, que passaram e confeccionaram as pinturas rupestres, vivem, muito
provavelmente, na realidade mtica e ritualstica. Para esses povos, denominados aurorais, no
h uma dualidade entre o humano e o divino (SILVA, 2010: 87). Normalmente os povos
aurorais tm, como divindade, aspectos presentes no seu dia-a-dia: cu, terra, gua e todos os
demais elementos da natureza. Perceber esse seu carter compreender os aspectos
elementares que movem os povos antigos.
Metfora e arte rupestre
Os desenhos que esto localizados na regio da Chapada Diamantina nos fazem ter
uma gama de interpretaes e hipteses em relao ao que est desenhado, ao que aquela
pessoa pensou ao desenhar e qual o seu objetivo com isso. Verdadeiramente, so
questionamentos que de alguma forma, nos emociona e nos faz viajar. Viajar no tempo, viajar
nas indagaes propostas e principalmente viajar no sentimento que provocado ao estar de
frente a estas imagens.
A metfora se encaixa nesse contexto a partir do momento em que paramos para
imaginar o que est desenhado naquela imagem, visto que, a prpria pintura j uma
59
metfora em si. Uma metfora cheia de mistrios e de um valor histrico-cultural imensurvel
para quem estuda e para o local que abriga.
Concluso
Em virtude de tudo que est exposto neste trabalho, plausvel considerar que a arte
em si de uma importncia fundamental da vida do homem, e mais especificamente no caso
desse artigo, perceber a necessidade dos povos antigos, usando o artifcio da pintura
rupestre, de demonstrar de alguma forma, o que se vivia naquela poca, os costumes do dia-a-
dia, ou seja, registrar e contar atravs desse registro, as suas vivncias.
Referncias bibliogrficas e tericas
NASCIMENTO, Gemicr. Aventuras de Piteco e os grafismos primitivos de Iraquara.
Feira de Santana: UEFS, 2012.
MORIN, Edgar. Cincia com conscincia. Trad. Maria D. Alexandre e Maria Alice Sampaio
Dria. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005.
SOUSA, Eudoro de. Mitologia I. Lisboa: Guimares, 1984.
SILVA, Vicente Ferreira da. Dialtica das conscincias. So Paulo: Realizaes, 2010.
VERNANT, J-P. Mito e Sociedade na Grcia Antiga. Rio de Janeiro: Jos Olympio, 1999.
A ANLI SE DO DI SCURSO E PERSPECTIVAS DE UM ECODI SCURSO
ELIANE MARQUEZ DA FONSECA FERNANDES
Universidade Federal de Gois/ Grupo de Pesquisa CRIARCONTEXTO
Este texto fruto das discusses desenvolvidas no I Encontro Brasileiro do
Imaginrio e Ecolingustica- 2013 a partir de uma proposta de Hildo Honrio do Couto
60
acerca de um Ecodiscurso. Sentimo-nos diante de um desafio e dispomo-nos a debater alguns
dos conceitos embasadores da Anlise do Discurso e da Ecolingustica para tentar entender
melhor como poderamos integrar aspectos dessas duas correntes.
Nosso ponto de partida a concepo de lngua, no como um cdigo, lanado entre
os enunciadores, mas como um processo dinmico de constituio de sentidos discursivos. Os
sujeitos, ao produzirem discursos por meio da lngua, so tambm por eles constitudos. Mas
mais do que isso, a lngua permite a interao em que os sujeitos, inscritos no social,
assumem papis em determinadas condies scio-histricas. Por isso podemos dizer que as
palavras no pertencem ao sujeito mas significam pela lngua e pela Histria e o discurso a
"palavra em movimento, prtica de linguagem: com o estudo do discurso observa-se o homem
falando (ORLANDI, 2002, p. 15). Assim, para que a lngua construa efeitos de sentido
verificamos que os discursos se submetem a determinadas ordens que estabelecem o que pode
e o que deve ser dito em determinada situao.
Nosso percurso, neste texto, nos direciona a levantar aspectos conceituais bsicos do
discurso e um breve histrico da Anlise do Discurso de linha francesa nas posturas
fundadoras de Pcheux. Em seguida, apresentamos os delineamentos de Foucault acerca do
sujeito disciplinado e controlado por prticas discursivas e no discursivas e a importncia da
valorizao da vida. Na sequncia, esboamos os pressupostos bsicos da Ecolingustica, que
v a lngua como ponto de inter-relao entre os seres (Populao) em um determinado meio
ambiente (Territrio) para podermos depreender as posies conceituais bsicas. Para encerrar
apresentamos algumas concluses prvias da possibilidade de se entender uma disciplina
como a Ecolingustica que agregaria algumas ideias da Anlise do Discurso (AD) e outras da
Ecolingustica.
Anlise do Discurso: origens
Para compreendermos melhor as concepes defendidas pela Anlise do Discurso
(AD), realizada no incio do sc. XXI, no Brasil, vamos inicialmente traar um breve perfil
histrico dessa disciplina que ainda promove debates intensos de aprofundamento e
resistncias de outras reas de estudos da Lingustica.
A Teoria do Discurso comeou a ser discutida na Frana no final da dcada de 1960,
portanto, se considerarmos o tempo em que o ser humano vem estudando a lngua, uma
discusso muito recente. Os primeiros estudiosos desenvolvem uma preocupao central
acerca da concepo de um sujeito que constri seus dizeres em um dado momento histrico.
E, alm disso, questionam a produo dos sentidos da linguagem ligada a certas condies de
61
comunicao.
Em sua obra Anlise Automtica do Discurso em 1969 (AAD-69), Michel Pcheux
(1990) lanou os fundamentos principais da Anlise de Discurso. Era assim que Pcheux
denominava sua linha terica Anlise de Discurso e no Anlise do Discurso como usamos
agora, esse diferencial causa debates, mas no vem ao caso no momento. Nesse livro
inaugural AAD-69, o autor estabelece aspectos epistemolgicos importantes e prope um
conjunto de procedimentos de anlise num dispositivo que considera o discurso como uma
materialidade especfica. Essa materialidade do discurso no deve ser confundida com a
lngua e nem mesmo com o texto, embora seja possvel apreci-la em atravessamentos
construdos nos textos por meio da lngua.
Esse um ponto essencial para compreendermos que a ideia de discurso est
efetivamente entrelaada teoria geral da produo dos sentidos, efetuada por um sujeito
enunciador, historicamente situado, em determinadas condies de produo. Assim, a
Anlise de Discurso proposta nessa poca d a perceber que h trs conceitos que se
interligam fortemente: o sujeito, a histria e a lngua os quais, numa relao inestrincvel,
produzem sentidos discursivos. Nessa obra AAD-69, Pcheux prope que, para compreender
os sentidos do discurso, no se pode esquecer que a constituio dos sujeitos se d em relao
a um tecido histrico-social, marcado por uma determinao ideolgica exterior ao prprio
sujeito.
A concepo de ideologia adotada por Pcheux, em meados do sc. XX, est ligada
teoria marxista, defendida pelo filsofo e colega Althusseur. Desse modo, Pcheux considera
que o conceito de ideologia rastreia-se na interligao entre o conceito significativo do eu (das
concepes do inconsciente psicanaltico de Lacan) e a ao das estruturas ideolgico-
polticas do marxismo. Com isso, o fundador da AD concebe um sujeito assujeitado visto que
considera impossvel escapar das ideologias poltico-sociais, mas no percebe que a elas est
subjugado.
A ideia de um "sujeito assujeitado" ideologicamente, segundo Orlandi (2002) gera
inmeros debates e, diante da constestao, evidenciam-se alguns argumentos contundentes
de que o sujeito no pode ser visto como assujeitado:
Os sentidos da linguagem no esto prontos, nem existem em si, mas sofrem
tenses geradas pelas condies de produo;
Os sujeitos so constitudos numa relao scio-histrica, portanto h uma
mobilidade ideolgica;
62
A ideologia no deve ser compreendida num vis poltico-econmico apenas,
mas conforme os valores scio-histricos construdos em torno do sujeito;
A lngua no permite uma interpretao transparente, aberta a equvocos e
sentidos especficos segundo a histria e a ideologia.
Esses argumentos entre outros foram suficientes para levar Pcheux a uma
ressignificao do conceito inicial de ideologia na AD. Para Maldidier (2003), o materialismo
histrico, a enunciao lingustica e os processos de construo semntica levaram Pcheux a
fazer uma reviso da concepo de ideologia no artigo "Atualizaes e perspectivas a
propsito da anlise automtica do discurso" no n 37 da revista Langages em maro de 1975.
Para Pcheux, a partir de ento, e para os estudiosos da Anlise do Discurso, o
redirecionamento do conceito de ideologia passa a ser visto como um obstculo superado.
Desde a dcada de 1970, para a AD, o sujeito considerado heterogneo e compreendido
como produtor de sentidos por meio da lngua em determinadas condies histricas. O
sujeito ao mesmo tempo livre para escolher entre as opes disponveis, mas, de alguma
forma, relativamente submisso s opes que a histria coloca a seu dispor. Esse paradoxo
entre liberdade e submisso uma das marcas da heterogeneidade do sujeito: os valores
histrico-sociais pressionam-no para obter um indivduo padronizado, mas as possibilidades
de filiao a determinados valores discursivos dependem das condies sociais e subjetivas do
sujeito.
A ruptura com o conceito althusseuriano de ideologia algo descartado da AD, mas
obervemos que os delineamentos para a compreenso do discurso no trip (sujeito, lngua e
histria) se mantm desde 1969. Esses sim so os conceitos que amarram as concepes
discursivas para compreender a noo de interdiscurso que Pcheux inseriu no lugar da
ideologia marxista ressignificada. Esse autor abandonou uma ideia determinista e adotou uma
perspectiva de construo e constituio do sujeito em seu momento histrico por meio da
lngua.
O conceito de interdiscurso aproxima o filsofo Pcheux da lingustica, ao explicar
que, na busca dos sentidos discursivos, o sujeito encontra sempre um "j dito", porque os
dizeres circulam entre os falantes carregados, historicamente, de valores interdiscursivos.
Esses interdiscursos inserem-se nas dobras das enunciaes em jogos de tenso entre
dominaes, contradies e resistncias, por isso, a par de um "j dito" h sempre
possibilidades de "no ditos" que tambm significam. Todo discurso carrega em si uma ordem
que sinaliza o que pode e o que no pode ser dito em determinada situao e esses
interdiscursos vm expor melhor a antiga proposta de ideologia poltica e sujeito
63
completamente assujeitado. Desse modo, a Anlise do Discurso quer descrever e analisar os
sentidos que esto em reconstruo segundo as condies scio-histricas em que o sujeito
est imerso.
Anlise do Discurso: na defesa da vida dos sujeitos
Os estudos com base nos pressupostos da Anlise do Discurso (AD) de origem
francesa repercutem no Brasil, em fins da dcada de 1970, trazidos por Eni Orlandi que inicia
debates acerca dos conceitos de Pcheux. Essa pesquisadora promove uma divulgao
constante por meio de publicaes e incentiva a ao de grupos de estudos que permitiram
uma ampliao das pesquisas que aplicam os dispositivos da AD. Em todas as regies do pas,
multiplicam-se investigaes em reconfiguraes que, muitas vezes, transformam
determinados conceitos, mas no esse mapeamento que nos interessa nesse momento.
Em busca de direcionamentos epistemolgicos que debatem as concepes de
discurso, muitos pesquisadores tm se voltado para os conceitos de Foucault (2002) em A
arqueologia do saber, tambm publicado na Frana em 1969. A aquisio das posturas
foucaultianas ocorrem sem se negar, de modo algum, as valiosas contribuies de Pcheux.
Assim as filiaes aos conceitos de Foucault tm se ampliado muito devido produtividade
que se pode extrair de seu alinhamento terico e dos dispositivos de anlise propostos.
Consideramos que, nessa trilha, vamos encontrar uma abertura para discutir a proposta de um
Ecodiscurso.
Foucault no um linguista, nem se props a fazer uma Teoria do Discurso, mas seus
estudos acerca do sujeito e do discurso tm trazido contribuies para tentarmos compreender
os enunciados da contemporaneidade. Em suas percepes, Foucault indica que as cincias
humanas muito devem s cincias da linguagem, por isso consideramos que, ao pensar sobre
o discurso, Foucault expe especificidades nas noes de linguagem, histria e sujeito sobre
os quais fazemos uma sntese a seguir.
Acerca da linguagem e do discurso, as reflexes foucaultianas em Arqueologia do
saber indicam que o ser humano desenvolve seu conhecimento por meio de prticas
discursivas e no-discursivas e que as coisas no pr-existem aos dizeres. Para Foucault
(2002, p. 56), so os discursos que traam as nossas concepes, pois no se pode mais "tratar
os discursos como conjuntos de signos (elementos significantes que remetem a contedos ou
a representao), mas como prticas que formam sistematicamente os objetos de que falam."
A linguagem observada como forma de comunicao no s por meio de enunciados na
64
discursividade verbal, mas tambm nas vertentes semiolgicas o que permite analisar outros
fenmenos da comunicao.
A histria, na perscpectiva de Foucault (2002, p. 227) no observada como uma
sequncia temporal de causa e efeito no transcurso de uma linearidade. As suas posturas
ligam-se aos propsitos da Nova Histria e introduzem a possibilidade de se observarem os
fenmenos na disperso por meio de enfoques na descontinuidade. Ao estudar os discursos na
vertente da Nova Histria, o pesquisador quer descrever "cada prtica discursiva, suas regras
de acmulo, excluso, reativao, suas formas prprias de derivao e suas modalidades
especficas de conexo em sequncias diversas". Com isso, percebemos como a percepo de
histria est atrelada de produo da linguagem em prticas discursivas ou no-discursivas,
desvinculadas da considerao de processo ou de progresso.
Ao observarmos a inter-relao entre prticas discursivas da linguagem, na disperso
de situaes histricas, verificamos que o tema geral das pesquisas de Foucault (1995) centra-
se na busca do entendimento do sujeito. Sua linha mestra, em todos os estudos, descortinar:
(1) quem o sujeito humano nas condies histricas e nas relaes de produo de sentido;
(2) como esse sujeito constri o seu conhecimento, o seu saber; (3) como lida com as
complexas relaes de poder e como cuida de si. Esses so os trs focos sob os quais analisa o
sujeito: o saber, o poder e o cuidado de si. H uma aparente divergncia entre os focos e o fato
de ocorrerem tantos redirecionamentos pode parecer paradoxal a alguns, mas h uma linha de
coerncia na investigao do sujeito nos estudos foucaultianos. Dessa forma, o que
percebemos uma procura incessante de como o sujeito produtor de discursos; de como o
sujeito gera enunciados, edificando saberes e sentidos na construo do saber, do poder e de
si.
Em Vigiar e punir, Foucault (1987) perscruta a concepo do homem-sujeito que, de
um lado, sofre uma objetivao, ao torna-se objeto de investigao e classificao nas
cincias humanas e nas instituies pblicas. De outro lado, o ser humano constitui-se como
sujeito de sua prpria existncia em sua relao com os outros e consigo mesmo, passando
subjetivao. Da, compreendemos que os modos de objetivao e subjetivao so
interdependentes, porque o olhar analtico recai sobre o objeto-homem, estabelecendo prticas
divisoras entre os sos e os doentes, os homens de bem e os criminosos e, essa separao
permite a gerao de uma subjetividade aos sujeitos.
O sujeito subjetivado apropria-se dos j-ditos que o circundam historicamente e
passa a saber mais sobre si e sobre sua corporalidade. Ao cotejar as conquistas do sujeito em
seu saber sobre o mundo e sobre si, cada um de ns desenvolve uma subjetividade pelo
65
entrecruzamento entre o poder das prticas discursivas e o poder discursivo das instituies. O
jogo da objetivao/subjetivao, intensificado a partir do sc. XVIII, promove um
disciplinamento do sujeito para que torne seu corpo mais dcil e controlado de modo a ser
mais produtivo (FOUCAULT ,1987).
Entre os mecanismos discursivos desenvolvidos para promover a vida como um
valor inquestionvel, surge o conceito de biopoltica. Essa preocupao com a vida
analisada por Foucault (1980) sob dois aspectos: a disciplina antomo-poltica e os controles
reguladores da biopoltica. Na perspectiva anatomo-poltica, o disciplinamento do corpo
humano promove a obedincia dos sujeitos e a sua produtividade pela constante vigilncia,
pelo exame, pela confisso, alm de um detalhamento do tempo e do espao de cada
indivduo no mundo social. A par desses dispositivos de disciplinamento do corpo, aparece a
concepo biopoltica de populao como espcie humana que deve ser protegida dos riscos
sobre a vida a fim de que o agrupamento humano se mantenha controlado e produtivo.
Para garantir a vida e a capacidade produtiva de uma populao, a biopoltica
desenvolve um saber estatstico e, a partir delas, mecanismos de previso sobre aspectos da
demografia, da natalidade e dos riscos sade e vida humana. Os discursos acerca da
disciplina do corpo tm a finalidade de obter uma boa economia das foras de trabalho e,
paralelamente, as prticas discursivas de regulao populacional desenvolvem estratgias para
prolongar a vida. As prticas discursivas e no discursivas envolvem os sujeitos em uma
expectativa biopoltica de "'direito' vida, ao corpo, sade, felicidade satisfao das
necessidades, o 'direito', acima de todas as opresses ou 'alienaes', de encontrar o que se e
tudo o que se pode ser" (FOUCAULT, 1980, p.136).
Em sntese, vamos verificar que os estudos de Foucault mantm algumas
proximidades importantes com os propsitos da Anlise do Discurso. Embora no haja uma
correspondncia biunvoca entre os conceitos, mantm-se o trip de concepes: sujeito,
lngua e histria, quer dizer, no exatamente com essas denominaes. Ao investigar o sujeito
da contemporaneidade, Foucault explicita a importncia das prticas discursivas (lngua) que
geram sentidos especficos para os sujeitos na disperso histrica.
O autor procede a uma trajetria da construo desse sujeito que "somos hoje",
construdo por meio da valorizao discursiva de uma corporalidade e constitudo
subjetivamente como parte de uma populao que deve preservar seus direitos em uma vida
de bem-estar. Este o ponto em que podemos perceber uma aproximao com os
pressupostos da ecolingustica e de um ecodiscurso, tentar compreender o ser humano,
inserido em um meio ambiente, processando a comunicao atravs da lngua.
66
Ecodiscurso
Queremos tomar aqui os conceitos da ecologia e da ecolingustica e tentar um vis
de aproximao com as concepes foucaultianas de biopoltica, tendo em vista que a defesa
da vida um propsito comum s duas linhas de pensamento. Para Foucault (1980), a vida
vista como um bem a ser explorado para que o sujeito seja rentvel em todas as perspectivas,
principalmente a econmica. Na perspectiva da Ecolingustica, a vida percebida como fonte
de equilbrio natural com o meio ambiente integral em que o sujeito apenas um dos viventes
em interao com o conjunto da natureza.
Segundo Couto (2007, p. 25), a conceituao fundadora de ecologia ocorre em 1866,
quando Haeckel afirma que "por ecologia entendemos toda a cincia das relaes do
organismo com o mundo externo envolvente, em que podemos englobar, em um sentido geral,
todas as condies de existncia". Desse modo, Haeckel especifica a estreita inter-relao dos
organismos vivos em adaptao constante s suas condies de existncia. Nessa primeira
concepo vamos encontrar j algumas aproximaes: 'cincia das relaes' e 'adaptao s
condies de existncia'. Assim como a ecologia estuda as relaes biologizantes que levam
os seres a adaptaes a determinadas condies", vamos observar que a Anlise do Discurso
(AD) tambm se entende como uma cincia das relaes entre os discursos que se adaptam a
determinadas condies scio-histricas. A diferena ocorre especificamente porque a
ecologia lana olhares sobre os seres de modo geral e a AD investiga os sentidos gerados
pelos discursos humanos.
A obra Ecolingustica de Couto (2007) informa-nos que a busca de uma
compreenso mais profcua da ecologia no pode prescindir da perspectiva da ao humana
em relao ao conjunto natural das condies de existncia. Desse modo, explica-nos que o
filsofo Naess prope a noo de ecologia profunda em que o bem-estar dos seres vivos no
pode ficar merc dos interesses e valores apenas dos humanos. Com isso, observamos que
Capra prope uma aproximao das cincias da natureza com as cincias sociais. Couto j nos
adianta a aproximao entre ecologia profunda e a lingustica, ou melhor, a Ecolingustica.
Vamos encontrar tambm a explicao de Haugen para a Ecolingustica como a investigao
das interaes lingusticas em seu meio ambiente.
Aqui surge um ponto importante. Se a AD pesquisa os sentidos das prticas
discursivas em um contexto scio-histrico, a concepo de Haugen liga os estudos da lngua
ao meio ambiente. Ora, a AD verticaliza sua anlise a partir de discursos, portanto produes
de enunciao humana em seu contexto social, essa concepo vai alm da noo de meio
67
ambiente, pois leva em conta o aspecto geogrfico/ambiental e tambm o histrico das
interaes humanas. O que poderamos propor que a noo de meio ambiente englobe
tambm o vis histrico, mais prximo da percepo de Makkai que espera somar e integrar
conceitos e no fragment-los.
Assim entendemos que o sujeito constri seus saberes por meio de prticas
discursivas e no discursivas sobre o meio ambiente, incluindo a as relaes entre todos os
organismos incluindo o ser humano. Dessa forma, vamos ampliar a perspectiva das condies
de existncia, para um biocentrismo que recusa-se a ser visto apenas na tica de condies de
produo antropocntricas.
Quando a Ecolingustica busca o entendimento do todo, lana mo da filosofia
oriental para pensar uma existncia mais harmnica no caminho do Tao (COUTO, 2012).
Nesse direcionamento, a vida percebida como um conjunto integrado em que cada ser vivo
ou no uma partcula integrante de todo um meio ambiente. Cada ser humano, como
sujeito, apenas uma singularidade no grupo dos seres que integram o todo e estabelece
relaes e inter-relaes verbais e no verbais com todas as demais partculas do mundo
natural. Essa perspectiva holstica das relaes do homem com o todo conjuga, ao mesmo
tempo, uma simplicidade telrica e a complexidade de se compreender o sujeito com seus
discursos no equilbrio do ecossistema.
A anlise de Couto (2007, p. 80) em relao ao que denomina modelo ecolingustico
de estudos da linguagem ou a Ecolingustica explicita que ocorre uma interligao csmica
entre todos os seres naturais, e a lngua, como fruto da interao humana, faz parte desse
conjunto numa perspectiva globalizante:
[p]or enfatizar as inter-relaes entre os elementos do ecossistema, ela
[a ecolingustica] adota princpios do interacionismo. Na verdade,
tudo se passa em um fluxo incessante de interao. Por outro lado, a
ecologia parte da biologia, que uma cincia da natureza. Portanto o
dom da lngua como herana biolgica no pode ficar de fora, embora
a questo no tenha sido abordada em profundidade pelos estudiosos
de ecolingustica. Pelo contrrio, a maioria deles enfatiza apenas o
interacionismo e/ou os aspectos poltico-ideolgicos da relao entre
lngua e meio ambiente.
Couto (2007), em Ecolingustica, aponta o fsico Capra como um dos grandes
entusiastas do paradigma ecolgico como parmetro para se discutirem as cincias biolgicas,
exatas e humanas numa concepo sistmica da vida. O paradigma ecolgico promoveria no
s uma viso mais inter-relacionada entre os fenmenos da natureza como aqueles sociais e
68
psicolgicos. Essa viso orgnica dos seres vivos e no vivos vai permitir uma interao
melhor na dinmica da vida. Essa sim deve ser o centro, a harmonia e a dinmica da vida,
inclusive na perspectiva das enunciaes lingusticas.
Couto (2007) traz discusso a noo de Ecossistema Fundamental da Lngua (EFL)
que prope uma triangulao entre trs aspectos matriciais da Ecolingustica: a Linguagem
(L), a Populao (P) e o espao ou Territrio (T). Para sintetizar, discute o entrelaamento das
relaes intrnsecas entre LPT ou seja Linguagem, Populao e Territrio numa Comunidade.
No L, vamos encontrar as especificidades da lngua ou das mltiplas possibilidades
comunicacionais de um povo; em P, incluem-se todos os seres vivos ou no que ocupam um
determinado T (Territrio) ou meio ambiente. Esses pontos no so estanques ou estticos,
esto em permanente confluncia e interao, conforme a figura 1 (COUTO, 2007, p.90).
L
P T
Fig. 1 - EFL Comunidade ( Lngua, Populao, Territrio)
Vamos estabelecer uma comparao desses trs pontos da Ecolingustica:
Linguagem, Populao e Territrio (LPT) e o trip da Anlise do Discurso: lngua, sujeito e
condies scio-histricas. Podemos observar que h uma aproximao elementar entre
lngua/linguagem como produo de enunciados num processo de interao em que a
comunicao ocorre na construo de sentidos.
Ao cotejarmos o segundo aspecto, sujeito e populao (P), notamos que referem-se
ao ser humano, mas em perspectivas diferenciadas. Na ecolingustica, o ser humano visto
como uma massa informe e homogeneizada num processo comunicativo, parece at que o
meio ambiente padroniza o homem. J na AD, o sujeito discursivo constitui-se como uma
subjetividade heterognea que se constri na relao com o feixe de discursos scio-histricos
no meio em que vive. Essa diferena valiosa para se destacar a importncia discursiva de
no se entender o sujeito apenas como partcula assujeitada a um meio ambiente, por isso
pode-se dizer que a AD vem enriquecer a perspectiva ecolingustica.
O terceiro item ecolingustico o que apresenta um diferencial mais contundente,
69
pois percebe a relao do ser humano P em jogos interacionais, atuando em um determinado T
(territrio). Na AD, o territrio ou meio ambiente visto de forma redutora pois o entende
apenas como parcela da histria. Dessa maneira, a Ecolingustica destaca o aspecto espacial e
ambiental dando um destaque pouco relevante aos papis do sujeito em suas condies
histricas. Assim, se integrarmos as relaes espaciais e histricas na concepo de T, teremos
um enriquecimento do conceito.
Cada uma das linhas epistemolgicas traz contribuies importantes, vamos verific-
las. Do ponto de vista da AD, a tripla relao de LPT um tanto simplista em alguns aspectos,
pois v superficialmente a complexidade intrnseca dos feixes de relaes discursivas que se
estabelecem na interao humana. Essa viso marcada pelo antropocentrismo, e o panorama
ecolingustico tem a habilidade de ampliar o universo das inter-relaes num vis mais amplo
e harmnico do todo. A ao do ser humano, promovendo e recebendo aes discursivas e no
discursivas, no se d apenas num cenrio social mas num complexo meio ambiente.
Portanto, entendemos que a concepo de T ou meio ambiente inter-relaciona uma variedade
de elementos csmicos em uma infinidade de combinaes possveis, que determinam os
caracteres de cada indivduo.
Do ponto de vista da Ecolingustica, h dois pontos ligados s relaes humanas: a
linguagem (L), vista mais como meio de comunicao, e os sujeitos ou P so percebidos de
modo englobante, incluindo os usurios da lngua, mas tambm os outros organismos vivos e
at os elementos csmicos. O aspecto Territrio (T) aponta para as relaes ambientais que
abrigam P. Vejamos algumas inconsistncias: no tringulo LPT, vamos reparar que L (lngua e
P (populao) comunicam-se se considerarmos apenas a comunicao humana, pois ainda no
h estudos de uma comunicao mais profcua entre os seres humanos e outros seres animais,
vegetais ou minerais. Desse modo, a relao entre L e P ocorre apenas parcialmente. No
terceiro ponto T, o mais aberto insero no s do aspecto espacial csmico, incluindo
todo o meio ambiente. Embora parea ser apenas um ponto ambiental o mais revolucionrio
pois se abre para uma perspectiva integradora de cada partcula do universo num conjunto
histrico-geogrfico, dinmico e harmnico do qual o ser humano uma parte pequena.
Consideraes sobre o Ecodiscurso
A proposta do Prof. Hildo Honrio do Couto no EBIME I em Goinia no final de
2013 traz em seu bojo uma ousadia e a necessidade de mais reflexes. No sc. XXI, os
problemas do desequilbrio ambiental vm acentuado a necessidade de uma reviso dos
valores discursivos e no discursivos em busca de um equilbrio ecolgico. Assim, alm dos
70
sujeitos inserirem o meio ambiente em seus discursos, numa viso mais integradora teramos,
no seio da Ecolingustica, um Ecodiscurso.
Aps o impacto, percebemos que, na conjuntura scio-histrica contempornea, ao
questionarmos, foucaultianamente, "quem somos ns hoje", vemos que a perspectiva
antropocntrica de se pensarem as relaes discursivas com enfoque apenas nos valores
humanos tem um vis redutor. Por isso, a sugesto de um Ecodiscurso pode permitir uma
reviso de certos aspectos e introduzir novos direcionamentos de estudos acerca dos discursos
numa viso mais holstica.
Assim, tomamos a perspectiva de Foucault acerca da valorizao da vida humana
por meio da biopoltica: de um lado, a disciplina promove o adestramento corporal; de outro,
o controle das condies de sade populacional cresce. As prticas discursivas e no
discursivas trabalham na adaptao dos sujeitos para obter maior produtividade no trabalho e
nas relaes sociais. Se o objetivo a vida dos sujeitos, seria possvel abrir a possibilidade de
os discursos humanos serem estudados no s na vertente da vida produtiva, mas tambm na
capacidade de viver e permitir que todo o universo viva na interao com os aspectos vitais
dos demais integrantes do meio ambiente.
Com isso, ampliaramos os pontos de inter-relao da AD (sujeito, lngua e condies
scio-histricas), aliando aos pressupostos da Ecolingustica (LPT), criando, no uma
triangulao, mas uma pirmide triangular. Como na figura 2, no vrtice superior teramos a
vida (V) na amplitude csmica do meio ambiente e na base linguagem (L), sujeitos vivos ou
no (S) e relaes histrico-sociais (H).
V
L H
S
Fig. 2 - Ecodiscurso (Vida, Lngua, Sujeito, Histria)
Acreditamos que essa perspectiva dar ao Ecodiscurso uma amplitude de aberturas
de investigaes que precisam ainda ser mais questionadas. Somente a partir do movimento
de torcer os conceitos podemos fazer ranger os discursos a fim de permitir a construo de
71
uma cincia que tem tudo a ver com o sujeito, produzindo sentidos por meio da lngua em
condies scio-histricas voltado para as relaes do todo csmico da vida.
Referncias
COUTO, H. H. do. Ecolingustica: um estudo das relaes entre a lngua e o meio ambiente.
Braslia, DF: Thesaurus, 2007.
COUTO, H. H. do. O tao da linguagem: um caminho suave para a redao. Campinas:
Pontes, 2012.
FOUCAULT, M. Histria da sexualidade I: a vontade de saber. Traduo: M. T. Costa
Albuquerque e J. A. G. Albuquerque. 3. ed. Rio de Janeiro: Graal, 1980.
FOUCAULT, M. Vigiar e punir: nascimento da priso. Traduo de Raquel Ramalhete. 32.
ed. Petrpolis, RJ: Vozes, 1987.
FOUCAULT, M. O sujeito e o poder. In: DREYFUS, H. e RABINOW, P. Michel Foucault:
uma trajetria filosfica para alm do estruturalismo e da hermenutica. Traduo: V. P.
Carrero. Rio de Janeiro: Forense Universitria, 1995.
FOUCAULT, M. A arqueologia do saber. Traduo: L. F. B. Neves. 6. ed. Rio de Janeiro:
Forense Universitria, 2002.
GADET, F. e HAK, T. (org.) Por uma anlise automtica do discurso: uma introduo obra
de Michel Pcheux. Traduo B. Mariani et al. Campinas, SP: Unicamp, 1990.
MALDIDIER, D. A inquietao do Discurso: (re)ler Michel Pcheux hoje. Traduo: E.
Orlandi. Campinas, SP: Pontes, 2003.
ORLANDI, E. P. Anlise do Discurso: princpios e procedimentos. 4. ed. Campinas, SP:
Pontes, 2002.
ANLISE DO DISCURSO ECOLGICA: ECOLINGUAGEM E ECOTICA
Elza Kioko Nakayama Nenoki do Couto (UFG- Ncleo de Pesquisa NELIM)
Samuel de Sousa Silva (UFG- Ncleo de Pesquisa NELIM)
72
0. Introduo
Hoje se fala em abordagem ecolgica em muitas cincias humanas. Ela uma vertente que
adota os princpios oriundos da ecologia biolgica, parecendo primeira vista certo modismo.
importante para entender o que ecolingustica, anlise do discurso ecolgica e ecotica
falar sobre o conceito de ecologia.
A definio mais comum afirma que a ecologia a parte da biologia que estuda as inter-
relaes dinmicas dos componentes biticos e abiticos do meio ambiente. Ora, se a ecologia
o ramo da biologia que estuda as interaes entre os seres vivos e o meio onde vivem j
temos, a, a ecolingustica, a a anlise do discurso ecolgica e a ecotica que tiram suas bases
epistemolgicas dela, sendo seus objetos ecologias ou ecossistemas ou, mais precisamente, as
relaes ou interaes que se do no interior deles, ou entre mais de um deles.
A tica ecolgica, ou ecotica, de um modo geral, est ligada questo da tica ambiental,
conceito filosfico desenvolvido na dcada de 60 que acredita na conservao da vida humana
ligada essencialmente conservao de todos os seres. Trata-se do ecocentrismo por
oposio ao antropocentrismo. Assim temos, por exemplo, o projeto ecotica que foi lanado
em 2011 pela AMI (Associao Mdica Internacional), que tem como objetivo dar respostas
s necessidades de conservao da natureza e de ordenamento do territrio em Portugal,
incluindo aes de reflorestamento, controle de espcies exticas etc.
A ecotica em nosso trabalho no est circunscrita apenas questo ambiental e sim aos
meios ambientes natural, mental e social. Ela pode ser entendida como a tica do no
sofrimento, ou a tica da harmonia das inter-relaes entre os elementos e o todo de um
ecossistema, uma tica da vida, que aprende com os prprios ecossistemas da natureza o
como se relacionar com ela e entre ns mesmos. O objetivo deste artigo falar sobre a tica
ecolgica (ecotica) e mostrar como ela poderia ser desenvolvida no contexto da anlise do
discurso ecolgica (doravante ADE), que parte da ecolinguagem e enfatiza a defesa da vida,
inclusive sugerindo interveno a fim de preserv-la.
Para ADE a lngua a interao entre povo e meio ambiente natural, mental e social e entre os
membros do povo. Note-se que no aquela que permite a interao e ou comunicao, ela
motraive, como diz Couto (2013), ou seja, modo tradicional de os membros interagir
verbalmente num territrio. A ecolinguagem expresso vista numa perspectiva
holstica, ou seja, a captao da totalidade orgnica, una e diversa em suas partes, sempre
articuladas entre si dentro da totalidade e construindo essa totalidade (Boff 2009: 17). Para
comear a falar sobre a ecolinguagem vale discorrer sobre o prefixo 'eco-'. Um dos
significados de eco, segundo o dicionrio Aurlio (1986, p. 497) meio ambiente. Assim,
tudo que est relacionado a esse espao, e linguagem em seu sentido amplo, como sendo
forma ou processo de interao, ou expresso da experincia que constitui o sujeito,
ecolinguagem, que a forma, a expresso, a prtica interlocutiva dinmica que o homem tem
para produzir, desenvolver, compreender e se relacionar com outros componentes do
ecossistema do qual faz parte em seu mbito natural, mental e social.
A tese que defendemos nesse trabalho a de que se ADE se pauta na defesa da vida e luta
contra o sofrimento. Isso requer a tica ecolgica, que seria toda ao que promova ou busca
uma harmonia nas inter-relaes dentro do ecossistema social. Em nosso texto, vamos discutir
a ecotica para alm da tica ambiental, ou seja, uma ecotica que deve estar circunscrita
base da AD.
Queremos trazer algumas reflexes acerca da tica numa perspectiva ecolgica. uma
tentativa de compreend-la como uma parte da ADE, parte da lingustica ecossistmica que
enfatiza a defesa da vida, inclusive sugerindo interveno a fim de preserv-la. Nossa
preocupao se volta para uma reviso geral das ideias j desenvolvidas sobre a tica,
trazendo essas ideias para a ADE, que uma disciplina que tem como base a preservao da
73
vida sem sofrimento.
Este artigo est estruturado da seguinte forma: Introduo; 1. Comeando com
Aristteles, que trata da tica partindo de Aristteles, fazendo a relao com ADE; 2. O
ecossistema na ecolingustica, em que falamos sobre os princpios de uma tica
ecossistmica; 3. Corporalidade: corpo, mente e entorno, que fala sobre a funcionalidade
da tica da corporalidade como base de sustentao de uma tica natural; 4. A tica e a vida,
que discute sobre a relevncia da tica e da vida na ADE; e 5. Observaes finais.
1. Comeando com Aristteles
A tica para Aristteles inicia-se pela definio de felicidade e se firma na noo de justa-
medida, na qual tica entendida como uma ao equilibrada guiada pela razo em busca de
tal felicidade. A ao tica o exerccio dessa justa-medida que consiste em evitar as
emoes extremas e assim estabelecer uma harmonia nas relaes entre os indivduos. Essa
tica do meio termo consiste em experimentar, guiados pela razo, as emoes corretas no
momento adequado e em relao s pessoas certas e objetos certos. Sendo assim, a felicidade
como objetivo final dessa conduta tica alcanar a harmonia nas inter-relaes humanas, no
convvio social.
A tica no uma caracterstica natural do homem na sua animalidade, uma vez que o homem
natural seria um indivduo guiado pelas emoes extremas. Ela o exerccio da vida em
comunidade entre seres iguais, e o exerccio tico cumpre justamente a funo pedaggica de
nos afastar cada vez mais da nossa animalidade e nos inserir na irmandade construda
culturalmente denominada de humanidade, cuja caracterstica essencial o equilbrio.
Assim como Aristteles, Kant tambm contrape o que seria natural e, portanto, inato ao ser
humano, e o que seria propriamente humano e que nos diferenciaria dos outros animais,
denominado por ele de Geist. Trata-se do esprito humano, fruto das nossas construes
culturais, que difere do natural e inato, e deve ser apreendido por meio da educao dos
indivduos.
Se formos nos ater letra da filosofia clssica, no existiria uma tica da vida, ou uma tica
natural, e sim uma tica humana como uma atitude prpria do homem de abrir mo dos seus
instintos naturais e desejos egostas em prol de uma convivncia harmoniosa em sociedade;
ou o bem comum, conforme termo muito usado na filosofia.
No entanto, utilizando a nossa liberdade de interpretao, como afirma Umberto Eco, a obra
aberta, a ideia aristotlica de o objetivo da tica ser a felicidade e essa felicidade no ser
entendida como felicidade individual, e sim como uma harmonia do todo da vida na polis,
podemos relacionar essa noo com o conceito de ecossistema, que, conforme Couto (2013),
o todo formado por uma populao de organismos e suas interaes com o meio e entre si.
Na perspectiva ecossistmica, tica seria toda ao que promova ou busque uma harmonia nas
inter-relaes dentro desse ecossistema e entre os integrantes dessa comunidade com o seu
meio ambiente e entre si, ou nos termos de Aristteles, toda ao que promova a felicidade
dentro do ecossistema.
Essa concepo de tica como a busca da felicidade, no felicidade individual como sua
concepo moderna atrelada ideologia do capitalismo-consumismo, corrobora ainda mais
com a ideia central de uma tica da vida defendida pela anlise do discurso ecolgica (ADE)
cujo ponto de honra a defesa intransigente da vida e uma luta contra tudo que possa trazer
sofrimento (Couto 2013). Na relao entre a felicidade aristotlica e o princpio da luta contra
o sofrimento da ADE, o sofrimento o mesmo que no felicidade, consistindo nos efeitos da
quebra da harmonia das inter-relaes entre os vrios elementos de um ecossistema.
Na ecossistmica em que as partes no so independentes e autossuficientes, porque so
constitudas pelas inter-relaes com o todo constituindo o todo, o sofrimento infligido a uma
das partes afeta a harmonia de todo o ecossistema. O sofrimento de um dos elementos do
74
ecossistema um sofrimento de todo o ecossistema e no s de uma das suas partes. Essa
ideia est nas metforas sobre a repblica quando Plato (2003: 157) afirma: quando ferimos
um dedo, toda a comunidade, do corpo alma, disposta numa s organizao sente o fato, e
toda ao mesmo tempo sofre em conjunto com uma das suas partes. A partir dessa metfora
em que ele compara a cidade ao corpo humano, Plato (2003: 158) postula que numa cidade
bem organizada e saudvel se a um dos cidados acontecer seja o que for de bom ou mal,
uma cidade assim proclamar sua essa sensao e toda ela se regozijar ou se afligir
juntamente com ele.
Diante disso, o que podemos apreender que a concepo de uma tica ecossistmica
entendida como disposio positiva em promover a harmonia das inter-relaes dentro de um
ecossistema j se fazia presente na filosofia grega clssica. A contribuio da ADE a essa
discusso a ampliao dessa tica para ecossistemas mais amplos e naturais, uma vez que o
ecossistema da filosofia grega se resumia polis. Alm disso, para a filosofia, essa tica era
um construto humano, fruto da evoluo do pensamento humano, que aprendeu guiado pelos
filsofos a abandonar os seus instintos primitivos ligados a nossa animalidade e submeter-se
orientao da razo.
Tanto para ADE quanto para a ecologia em geral, essa tica que se realiza na tomada de
atitudes positivas para acabar ou amenizar o sofrimento, entendendo que essas atitudes so as
maneiras mais concretas de se promover a harmonia das inter-relaes no interior do
ecossistema, primeiramente a estrutura de funcionamento dos ecossistemas naturais,
abstratizando-se s depois nos sistemas filosficos, polticos e jurdicos de organizao e
manuteno das sociedades.
Nos ecossistemas naturais, as inter-relaes entre os vrios elementos que os compem tais
como: fauna, flora, gua, minrios, luz do sol estruturam-se a fim de estabelecer e manter a
harmonia entre esses vrios elementos para que o ecossistema como um todo sobreviva.
Qualquer desequilbrio no interior desse ecossistema, como a entrada de um novo predador ou
uma praga que acaba com uma determinada planta que servia de alimento a algum animal,
causa sofrimento a um dos elementos do ecossistema, que vai desde frio excessivo, calor
excessivo, fome, sede at a extino de uma espcie, o que por sua vez sentido por todo o
ecossistema, podendo inclusive acarretar sua prpria morte.
A tica do no sofrimento, ou a tica da harmonia das inter-relaes entre os elementos e o
todo de um ecossistema, uma tica da vida, que pode ser vista nos prprios ecossistemas do
mundo natural.
2. O ecossistema na ecolingustica
Couto (2007) diz que o ecossistema um todo cujos componentes so definidos por suas
relaes mtuas, assim ao se pensar em princpios de uma tica ecossistmica deve-se buscar
princpios universais de funcionamento das inter-relaes da espcie humana no interior dos
ecossistemas, nos quais se inserem, princpios que reflitam o modo como a espcie humana
interage com o seu meio e o modo como esse meio interage com a espcie humana. Nessa
lgica ecossistmica, as partes no impem suas peculiaridades sobre a ordem do todo que o
ecossistema, mas se inter-relacionam a partir de regras de relao compartilhadas, uma vez
que esto inseridas no todo. Como salienta Couto (2007), essa lgica pode ser muito bem
percebida pelo ttulo do livro de Bohm, a totalidade e a ordem implicada, ou seja, a
harmonizao do todo que determina como devem se dar as inter-relaes entre as partes.
Na tentativa de esboar uma tica secular, Umberto Eco (1998), ao pensar nos princpios de
seu estabelecimento procura por universais semnticos compartilhados por todos os seres
humanos de todas as culturas sobre os quais se poderiam constituir uma tica comum a toda a
espcie. A partir dessa diretriz ele postula que os nicos universais humanos presentes em
75
todas as culturas so os relativos ao posicionamento dos nossos corpos frente ao espao
nossa volta. O fato dessa relao corporal do homem com o seu meio ser os nicos universais
da espcie humana demonstra a primazia das inter-relaes do homem no seu ecossistema
sobre os seus demais conhecimentos, e na verdade, poderamos dizer que todos os outros
conhecimentos humanos so derivados dessa primeira epistemologia humana que consiste em
significar os atos presenciais e corporais de inter-relao do homem e o espao a sua volta.
3. Corporalidade: corpo, mente e entorno
Esses universais semnticos da espcie humana consistem, portanto, em significaes das
relaes primeiras entre o corpo humano e os corpos que o cercam em seu ecossistema. Sendo
essas inter-relaes corpreas, uma comunicao entre os corpos de um ecossistema desse elo
comunicativo deixa inscrito no outro sua marca, de forma que o ser humano fisicamente
constitudo pela relao com o outro. Por exemplo, se um indivduo humano tem como
ecossistema mais bsico espaos de hbitos mais sedentrios ou que exigem atividades fsicas
regulares isso definir o seu porte fsico, e ele, portanto, ser mais magro ou mais gordo,
excetuando os casos de pessoas com propenses genticas para um desses portes fsicos.
Diante disso, Umberto Eco (1998) prope como princpio primeiro e fundamental a tica
natural, o respeito aos direitos da corporalidade alheia. Esse princpio uma diretriz tica
fundamentalmente natural. Isso pode ser percebido no exemplo de Couto (2007: 32) em que o
figo da ndia ao ser introduzido na Austrlia se proliferou de maneira to intensa que ocupou
todo o espao anteriormente ocupado por pastagem, matando essa pastagem, pois conforme
um princpio fsico bastante conhecido, dois corpos no podem ocupar o mesmo espao ao
mesmo tempo.
A funcionalidade do princpio da corporalidade como base da tica natural, estrutura os
princpios ticos elementares da moral crist. Quanto ao no matars dos dez mandamentos
bblicos patente essa relao, uma vez que o corpo do outro propriedade dele e ningum
tem o direito de agir com violncia sobre seu corpo a no ser ele mesmo. Posteriormente, a
partir de uma argumentao teolgica de o corpo humano ser uma criao divina e o sopro de
vida que sustenta esse corpo tambm ser uma ddiva de Deus, ser proibido ao homem o
direito ao suicdio, sendo Deus o nico com direito de dar cabo vida do ser humano.
A argumentao do apstolo Paulo no livro de I Corntios quanto ao no adulterars bem
interessante. No capitulo 7, versculos de 3 a 5 desse livro, ele escreve o seguinte: o marido
conceda esposa o que lhe devido, e tambm semelhantemente, a esposa, ao seu marido. A
mulher no tem poder sobre o seu prprio corpo, e sim o marido; e tambm,
semelhantemente, o marido no tem poder sobre o seu prprio corpo, e sim a mulher. No vos
priveis um ao outro, salvo talvez por mtuo consentimento (Bblia sagrada, 1993). Nesse
trecho, Paulo fala sobre o direito tanto do marido quanto da esposa de ter suas necessidades
sexuais atendidas pelo seu cnjuge. A base dessa argumentao, para o apstolo, que o
casamento tem que ser visto como um contrato em que cada uma das partes envolvidas cede
os direitos sobre o seu prprio corpo ao seu cnjuge, de forma que no casamento cada parte
envolvida ao tomar alguma iniciativa que incida sobre o seu prprio corpo deve ter o
consentimento de seu parceiro.
Nessa perspectiva, no se consideram os sentimentos como amor, paixo etc. O casamento
seria um contrato de concesso dos direitos sobre o corpo alheio, ou melhor, no casamento o
corpo do outro deixa de ser alheio e passa a ser seu. Assim, o adultrio seria o
descumprimento desse acordo, pois, ao manter relaes sexuais com outra pessoa, o indivduo
casado age com o seu corpo sem a devida autorizao de quem de fato detm os direitos sobre
ele. Nessa lgica, qualquer atividade sexual que envolva terceiros, e em que haja mtuo
consentimento dos cnjuges, no se encaixaria na definio de adultrio.
O que podemos observar com esses exemplos retirados da tica crist, e que muitas vezes, a
76
base da tica ocidental, que por traz de uma moral construda filosoficamente por um longo
processo histrico, est uma estrutura primeira estabelecida originariamente pelas relaes
entre os corpos de um ecossistema e a ocupao deles no espao ecossistmico. Isso se d por
ser a relao corprea dos indivduos com o espao sua volta a primeira relao significativa
de um sujeito e, ao mesmo tempo, a mais material de todos as relaes humanas, pois o
corpo/matria interage com o espao/matria sua volta, sendo marcado e relativamente
moldado nessa sua materialidade corprea por essas relaes primeiras.
Como foi dito, as primeiras relaes estabelecidas entre os corpos num ecossistema so
marcadas pela materialidade, pois consiste fisicamente na troca de matria entre os vrios
corpos desse ecossistema. J o processo seguinte, que vai culminar na elaborao de sistemas
ticos mais complexos tais como o exemplo da tica crist mencionada, consiste na
metaforizao dessas relaes corporais primordiais, o que potencializar uma constante
ressignificao dessa estrutura relacional corporal primeira, estabelecendo-a como signo-base
para todas as futuras situaes novas, em que esse signo original servir como base para a
significao dessas novas situaes, permitindo ao indivduo uma constante adaptao ao seu
meio.
Segundo Durand (2002: 416), a metfora o processo pelo qual transmutamos os significados
em significantes, ou seja, as nossas relaes concretas vivenciadas nessa interao corporal no
interior dos ecossistemas entre os seus integrantes devem ser significadas. Essas experincias
sensoriais devem ser inscritas em um signo. Durand afirma que os processos metafricos so
desvios da objetividade que consistem em enfraquecer o sentido literal, concreto, dessas
experincias sensoriais humanas e fortalecer cada vez mais seus sentidos figurados,
conotativos. O processo metafrico o que cria essa possibilidade praticamente infinita de
ressignificaes e recontextualizaes dos signos, pois a metfora permite que qualquer signo
seja um grande poo de sentidos figurados. Nessa mesma linha de raciocnio Lacan ir dizer
que a metfora o passo-de-sentido esvaziado de qualquer coisa, ela o passo em si
mesmo, em sua forma (LACAN 1999).
A metfora o processo que permite o ser humano ressignificar e recontextualizar as suas
experincias primordiais de ajustamento espacial e funcional do seu corpo frente aos outros
corpos que o circundam e o seu meio a qualquer outra situao nova que ocorra nesse mesmo
ecossistema, e tambm lhe permite adaptar-se a novos ecossistemas tendo como referncia
aquelas suas relaes ecossistmicas primordiais.
A lingustica cognitiva tem justamente se dedicado ao estudo desse processo de metaforizao
das experincias reais de um sujeito, sua sociedade e cultura por meio da sua corporalidade.
Nesses estudos essa linha tem demonstrado que a lngua cumpre uma funo essencial de
categorizar o mundo, e no exerccio dessa funo a lngua interage constantemente com o
prprio mundo e o conhecimento de mundo acumulado na prpria lngua e nos seus falantes.
Essa lingustica cognitiva cujos principais autores so Lakoff & Johnson (1980) e Lakoff
(1987, 1993), definem sua posio epistemolgica como sendo o experiencialismo ou um
realismo corporificado, metodologicamente baseado na anlise do uso lingustico real,
fundamentando empiricamente as interpretaes das expresses lingusticas na experincia
individual, coletiva e histrica nelas fixadas (Chiavegatto 2009: 83).
Alguns exemplos retirados dos estudos desenvolvidos por linguistas cognitivos so muito
profcuos para demonstrarmos como se d esse processo de metaforizao e
recontextualizao dessas experincias corporais com o mundo, conforme podemos observar
nesse trecho:
Quando dizemos que algum unha e carne com outra pessoa ou que as atitudes que toma
com pessoas ou instituies so do tipo fazer barba, cabelo e bigode, estamos deixando
entrever operaes mentais complexas, que projetam conhecimentos entre domnios
77
lingusticos, cognitivos e interacionais. Interligamos o que conhecemos da lngua ao que
vivenciamos no mundo sobre unhas e sua unio carne ou ainda sobre irmos ao barbeiro e
sairmos com nova aparncia aps termos cortado os cabelos, feito a barba e aparado os
bigodes. Tais saberes adquiridos na vida social e na cultura a que pertencemos, so projetados
entre domnios distintos o do corpo e o dos relacionamentos e dessas correlaes novos
sentidos so construdos (Chiavegatto 2009: 77-78).
4. A tica e a vida
Conforme afirma Couto (2013) a ADE tem como ponto nodal de sua filosofia prtica a
defesa intransigente da vida, portanto, ao se pensar numa elaborao dos princpios ticos
que regeriam essa lingustica ecossistmica, a defesa da vida se elege como princpio central
desse arcabouo tico-filosfico. Diante disso, uma vez que j se tem clara a defesa da vida
como principio fundamental dessa tica, devemos procurar qual o conceito de vida que
melhor se encaixa nessa abordagem ecossistmica.
A vida entendida ecossistemicamente a vida em harmonia nas inter-relaes
estabelecidas entre os integrantes do ecossistema e a estrutura de funcionamento do todo
ecossistmico. A partir desse ponto de vista, vida no simplesmente no morte, pois nas
relaes de interdependncia que se estabelecem no interior de um ecossistema a morte de
alguns elementos se torna essencial para a sobrevivncia do todo. Por exemplo, nas savanas
africanas, os lees e outros animais predadores precisam se alimentar para sobreviver e por
isso matam e comem animais de outras espcies, isso, no entanto, permite a sobrevivncia
desses predadores e no afeta a harmonia do todo, pois apesar da morte de alguns animais de
uma determinada espcie, eles tambm sobrevivem como espcie e o melhor para o todo do
ecossistema que deve prevalecer.
Da mesma maneira, ao pensarmos numa tica da vida humana no podemos pensar
simplesmente na no morte, e sim numa vida em harmonia com as condies de existncia do
ecossistema no qual o ser humano est inserido. Diante disso, casos exemplares como aborto
dos fetos anenceflicos no seriam considerados crimes conforme entendimento de algumas
entidades religiosas, pois os bebs anenceflicos no teriam possibilidade de se
desenvolverem em comunidade, uma vez que viriam a bito em algum tempo depois de seu
nascimento, e o seu nascimento poderia trazer mais sofrimento e dor a essa me. Nesse caso
especfico, a dor e sofrimento da me deveriam ser considerados, pois seu sofrimento ou a sua
alegria e satisfao reverberam sobre as relaes desse ecossistema.
Nessa mesma perspectiva, na deciso do Supremo Tribunal Federal a favor da
descriminalizao do aborto de fetos anenceflicos, o ministro Cezar Peluso afirmou que "no
possvel pensar em morte do que nunca foi vivo" e o ministro Gilmar Mendes afirmou que
"O aborto de anenceflicos tem o objetivo de zelar pela sade psquica da gestante" (Selgman
& Nublat, Folha de So Paulo on line, 12/04/2012, acessado em: 23/11/2013). O mesmo
pensamento poderia ser aplicado aos casos de mulheres que engravidarem quando violentadas
sexualmente. Cada caso deveria ser avaliado individualmente. Se a me tiver estrutura
emocional e familiar suficiente para receber bem essa criana e am-la, a gravidez poderia
correr o seu curso normal, caso contrrio, o aborto deveria ser permitido.
Sobre a vida humana no seu todo ecossistmico, no podemos ser ingnuos e pensarmos na
vida humana nos mesmos moldes que pensamos na vida animal. O ecossistema humano se
mantm pelas relaes com o seu meio natural e nesse nvel ele compartilha tanto das mesmas
condies de existncia da fauna e da flora sobre esse planeta, quanto dos meios ambientes
mentais e sociais, e no campo dessas relaes dos ecossistemas mentais e sociais que se
encontra o que os filsofos chamam de humanidade, uma das nossas facetas assim como
nossa animalidade. Nesse sentido, o telogo protestante Joseph Fletcher elaborou alguns
elementos aos quais ele denominou de "indicadores de humanidade": autoconscincia,
78
autodomnio, sentido do futuro, sentido do passado, capacidade de se relacionar com outros,
preocupao pelos outros, comunicao e curiosidade (Singer 2002).
Partindo desses indicadores de humanidade, gostaramos de refletir mais sobre os pontos
autoconscincia e sentido do futuro e como isso se aplica na rede de interaes que se
estabelecem no ecossistema. Sobre a autoconscincia, o termo geralmente entendido como a
capacidade humana de refletir sobre os seus atos e no apenas agir instintivamente conforme
as nossas intimaes pulsionais, relacionadas s nossas necessidades mais bsicas tais como
fome, sede, sobrevivncia e sexo.
Tendo esse indicador da autoconscincia em mente possvel pensar num dilogo entre
culturas no qual uma cultura possa contribuir com outra para essa reflexo sobre as prticas
culturais de um povo j naturalizadas como se fossem atos instintivos e no construes
histrico-culturais como de fato so. Por exemplo, natural que uma hiena que tenha trs
filhotes e faa parte de uma comunidade de hienas e precise dessa vida em comunidade para a
sua sobrevivncia e a dos seus filhotes, deixe para trs um de seus filhotes que no consiga
acompanhar o restante do grupo diante da aproximao de um grupo de predadores, pois
permanecer para trs junto desse seu filhote resultaria na sua morte assim como na morte de
toda a sua ninhada, essa uma atitude tipicamente instintiva orientada pela natureza e suas
leis ecossistmicas.
J a prtica social de uma tribo que sacrifica um recm-nascido por ter uma deficincia fsica
e porque se acredita que ele traz maldies de espritos malignos sobre a tribo provavelmente
fruto de uma construo histrica religiosa que associou certa dificuldade com o cuidado
dessa criana pela tribo a maldies de demnios ou coisa que valha. Essa prtica, no entanto,
pode ser mudada, se a tribo ao refletir sobre o processo histrico de naturalizao dessa
prtica construda culturalmente entendere que na vida em comunidade h a possibilidade
desse indivduo deficiente interagir com o grupo e ser til para ela, uma vez que ele tenha o
apoio dela. claro que essa mudana social no fcil de ocorrer, e justamente por isso ela s
ir ocorrer se houver contribuies positivas de outras culturas. Isso pode parecer intromisso,
sobreposio de uma cultura sobre a outra a partir de alguns pontos de vista, mas partindo
desse princpio tico da defesa intransigente da vida, vida ecossistmica, luta contra o
sofrimento, isso uma contribuio para o desenvolvimento da autoconscincia da
comunidade. O mesmo vale para os casos como de alguns povos da regio da ndia que
quando o esposo morria a esposa era colocada ainda viva na pira funerria do esposo para
acompanh-lo para o outro lado, e depois de um longo perodo de contato com povos cristos
essa prtica foi extinta.
Sobre o sentido de futuro, podemos defini-lo como um instinto natural de sobrevivncia da
espcie e ao mesmo tempo nessa caracterstica humana de pensar e planejar o futuro em
termos tanto de cuidar e preservar uma famlia por vrias geraes quanto desenvolver o
conhecimento humano e suas tecnologias. Nesses sentidos prximos de preservar a espcie e
de formar e manter uma famlia, um caso bastante exemplar a prtica de alguns grupos
esquims ao receber algum visitante; o chefe da casa cede a sua esposa ao visitante como
demonstrao de ser ele um bom anfitrio. Essa uma prtica cultural que se configura como
uma tica da vida ecossistmica, pois ela possibilita o que os geneticistas chamam de
melhoramento gentico, pois havendo uma gravidez dessa mulher com um visitante esse beb
trar uma maior diversidade gentica a esse grupo que geralmente se casa em famlia, primos
com primos, por exemplo. Essa diversidade gentica introduzida nessa comunidade evita a
proliferao de anomalias genticas nesse ecossistema.
No livro de debates O que creem os que no creem, o bispo de Milo Carlo Maria Martin
questiona Umberto Eco se seria suficiente como razo profunda de uma tica a mxima
compartilhada por vrias propostas seculares de estabelecimento de uma base de convivncia
em sociedade que ele resume da seguinte forma: Outros esto em ns! Esto em ns com
79
independncia de como os tratemos, do fato de que os amemos, odiemo-los, ou sejam-nos
indiferentes (ECO, Umberto; MARTINI, Carlo Maria, 1999). Questionamento ao qual
Umberto Eco responde da seguinte maneira:
A dimenso tica comea quando entram em cena outros. (...) so outros, seu olhar, o que
nos define e nos conforma. Ns (da mesma forma que no somos capazes de viver sem comer
nem dormir) no somos capazes de compreender quem somos sem o olhar e a resposta de
outros. At quem mata, estupra, rouba ou tiraniza o faz em momentos excepcionais, porque
durante o resto de sua vida mendiga de seus semelhantes aprovao, amor, respeito, elogio. E
inclusive de quem humilha pretende o reconhecimento do medo e da submisso. A falta de tal
reconhecimento, o recm-nascido abandonado na selva no se humaniza (ou, como Tarzan,
procura a qualquer preo a outros no rosto de um macaco), e corre o risco de morrer ou
enlouquecer quem viver em uma comunidade em que todos tivessem decidido
sistematicamente no lhe olhar nunca e comportar-se como se no existisse (ECO, Umberto;
MARTINI, Carlo Maria, 1999).
Essa caracterstica essencial do ser humano de ser constitudo e delimitado pelo outro nasce
justamente nessa relao diferencial estabelecida no interior do ecossistema, somos homens
ou mulheres porque nos identificamos fisicamente com outros e igualmente nos diferenciamos
de outros, podemos ser mais calmos ou mais nervosos pelo tom de voz pelo qual falamos em
comparao com os nossos interlocutores. Portanto, o princpio da outridade que constitui o
nosso sistema tico em termos de no fazer ao outro aquilo que eu no gostaramos que ele
fizesse a ns e, da mesma maneira, fazer ao outro aquilo que eu gostaramos que fizessem a
ns, fruto dessa relao ecossistmica que me constitui a partir do outro e me configura
como um outro que o constitui. Sendo assim, compartilhamos um mesmo cerne constitutivo,
sofremos e nos alegramos juntos, afinal compartilhamos um mesmo ecossistema e fazemos
parte do acervo gentico-psquico-cultural de uma mesma espcie.
5. Consideraes finais
A anlise do discurso ecolgica (ADE), ao privilegiar o ecocentrismo em vez do
antropocentrismo, implica a assuno de uma ideologia ecolgica, ou ideologia da vida. Nela
os seres vivos so vistos holisticamente e sem hierarquia, assim o antropocentrismo deixado
de lado para se privilegiar o ecocentrismo. A ADE postula uma tica naturalista cuja base
epistemolgica so as relaes naturais estabelecidas no interior do prprio ecossistema e o
princpio de harmonizao das particularidades ao bem-estar do todo ecossistmico.
Diante disso, os universais percebidos como gerenciadores das relaes humanas no interior
ecossistmico foram o posicionamento dos corpos em relao ao espao a sua volta e aos
outros corpos do ecossistema. A partir desse universal mais bsico da vida no interior
ecossistmico constatamos que o princpio tico mais fundamental a defesa intransigente da
vida e a luta contra qualquer tipo de sofrimento que cause a quebra da harmonia do todo
ecossistmico. Nessa perspectiva, a ecotica assume uma postura intervencionista em favor da
vida e contra o sofrimento, pois ela entende que somos todos partes de um grande ecossistema
denominado planeta terra, e assim como no Genesis bblico que diz que Deus colocou o ser
humano no jardim do den para o cultivar e o guardar (Gn 2. 15, edio revista e
atualizada), da mesma forma ns somos responsveis pela manuteno da vida em harmonia
no nosso ecossistema.
Se a ecotica percebe que necessria uma luta pela vida de todos os seres de todas as
espcies sem violncia e criticando o antropocentrismo em sua mxima e consequentemente,
contra tudo que pode trazer sofrimento, necessrio partir da ecolinguagem e aliar a ecotica
ADE.
80
Referncias
BOFF, Leonardo. tica da vida: a nova centralidade. Rio de Janeiro: Record, 2009.
DURAND, Gilbert. As estruturas antropolgicas do imaginrio. So Paulo: Martins Fontes,
2002.
CHIAVEGATTO, Valria Coelho. Introduo lingustica cognitiva. Matraga, v.16, n. 24,
2009.
COUTO, Hildo Honrio do. Ecolingustica: Estudo das relaes entre lngua e meio
ambiente. Thesaurus: Braslia, 2007.
COUTO, Hildo Honrio do. Anlise do discurso Ecolgica (ADE). Disponvel em:
http://meioambienteelinguagem.blogspot.com.br/2013/04/analise-do-discurso-ecologica.html
ECO, Umberto; MARTINI, Carlo Maria. Em que creem os que no creem. So Paulo:
Record,1999.
Lacan, Jacques. O seminrio, livro V. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999.
SINGER, Peter. tica.
81
Bilinguismo de memria
12
como gnese para a ressignificao e fortalecimento do
ecossistema bsico do povo indgena Chiquitano
Ema Marta Dunck-Cintra
13
Introduo
Territrio invadido, povo subjugado, lngua desconsiderada: o que restou do
ecossistema bsico?
O povo Chiquitano resultante de uma mestiagem cultural entre diferentes povos
indgenas, mas que tambm pode ter recebido a influncia da cultura crist europeia que se
deu com o processo de colonizao e cristianizao havido nos redutos jesuticos da principal
Chiquitania (Bolvia), nos sculos XVII e XVIII.
Perdas importantssimas do territrio e da sua cultura sofridas por esse povo, em
virtude do processo de colonizao espanhola e portuguesa, teriam provocado o seu
silenciamento (DUNCK-CINTRA, 2005).
Vale assinalar que quando os espanhis chegaram Amrica do Sul, em 1542, havia,
na Grande Chiquitania (hoje Bolvia), mais de cinquenta povos indgenas. E em duas dcadas
esses colonizadores teriam sido os responsveis pela escravizao de mais de 40 mil ndios.
Como forma de mitigar os conflitos decorrentes dessa escravido, o governador da
cidade de Santa Cruz de La Sierra solicita a vinda dos jesutas que criaram onze misses,
envolvendo mais de 37 mil ndios de etnias distintas. Por mais de 75 anos os padres
dominaram o local e, consequentemente, exerceram forte influncia no processo de
unificao da cultura e das lnguas existentes no local.
A lngua do maior grupo, conhecida como Chiquitano ou Besro, foi utilizada por
mais de sete dcadas como lngua franca, nas redues jesuticas (RIESTER, 1986), para
evangelizar povos de origens distintas, que foram perdendo suas lnguas maternas ao
adotarem a lngua Chiquitano.
Aps a expulso dos jesutas da Amrica, os Chiquitano foram recrutados para a
12
Cunhei esse termo em 2005, enquanto desenvolvia estudo sociolingustico do povo. Trata-se de um bilinguismo como
resistncia e posicionamento poltico de afirmao do que restava da lngua na memria dos lembradores.
13
Doutoranda do Programa de Ps-Graduao em Lingustica/UFG.
82
guerra do Chaco (1932-1935), assim como tambm desenvolveram atividades em fazendas,
no setor pecurio, em seringais e nas obras da construo da via frrea entre Santa Cruz e
Corumb. Cabe assinalar que foi s em 1953 que os Chiquitano conseguiram sua liberdade na
Bolvia.
O territrio tradicional dos Chiquitano ocupava uma grande rea localizada em terras
bolivianas e brasileiras. Porm, com a disputa havida entre as Coroas portuguesa e espanhola,
o povo foi separado, permanecendo uma parcela menor no lado brasileiro, situando-se no
extremo sudoeste do Estado de Mato Grosso, nas proximidades da fronteira com a Bolvia.
Como havia interesse da Coroa portuguesa em povoar a fronteira, muitos Chiquitano foram
trabalhar em fazendas localizadas nesses espaos do territrio.
Durante anos, os Chiquitano ficaram esquecidos pelas polticas pblicas brasileiras.
O que os trouxe cena foi o estudo de impacto ambiental causado pela construo do
gasoduto Brasil-Bolvia. Diante da dificuldade dos antroplogos de encontrar um Chiquitano
que assim se assumisse, foi necessrio, alm de um contato mais intenso, bastante dilogo at
que alguns admitissem sua etnicidade indgena.
A histria desse povo no Brasil tem continuidade com a atuao dos fazendeiros da
regio, bem como do comando do destacamento da fronteira e dos polticos que, to logo
tiveram conhecimento da existncia desses ndios, queriam expuls-lo daquele local. A
questo era sobre domnio do territrio, sob o argumento de que eles no eram ndios, e sim
bolivianos, numa clara confuso entre etnicidade e nacionalidade, com francos interesses pela
terra. Foi, portanto, num silncio-despertar que se encontrou parte desse povo que vivia em
terras permissionadas
14
.
Diante de uma etnia invisvel Chiquitana que reaparece no cenrio brasileiro,
revendo a histria e agora, em outra etapa de meus estudos, a literatura na perspectiva da
Ecolingustica, com foco na Etnoecologia Lingustica, procuro descrever a relao entre a
lngua desse povo e o meio ambiente. Meu objetivo apresentar as implicaes de subjugao
sofrida pelos indgenas Chiquitano em seu territrio, pelo fato de terem sido proibidos de
interagir em sua lngua materna. Destaco ainda as tentativas, na atualidade, de esse povo, por
meio de um bilinguismo de memria, fortalecer e ressignificar seu ecossistema bsico
territrio, povo e lngua e o que isso significa na busca pelo pertencimento tnico,
revitalizao da identidade e direito ao seu territrio.
A ecolingustica: o estudo das relaes entre lngua e meio ambiente
14
Permisso para que os indgenas ficassem no espao de terra.
83
A ecolingustica, que traz elementos importantes para a anlise do fenmeno da
linguagem de uma perspectiva ecolgica, uma disciplina relativamente nova no cenrio
mundial e brasileiro. De acordo com FILL (2013, p. 284-285), o termo ecolingustica foi
usado pela primeira vez h cerca de 40 anos e sua raiz pauta-se em trabalhos de Edward Sapir,
Bejamin Lee Whorf e Wilhelm Von Humboldt Fill, que reconhecem a importncia da relao
entre lngua, cultura e diversidade. Alm desses autores, tambm podem ser destacados,
dentre outros, Einar Haugen, William F. Mackey e Hildo Honrio de Couto.
Para Couto (2007), com a ecolingustica h uma mudana de paradigma cientfico,
optando-se por um olhar sistmico, panormico sobre o objeto pesquisado, em detrimento de
um olhar fragmentado, recortado. Tudo est relacionado a uma rede que por sua vez tambm
se relaciona a outra, de modo a se formar uma imensa rede de relaes interdependentes. O
que diferencia o paradigma ecolingustico de outras reas da linguagem, no que diz respeito
anlise de um objeto, a no existncia de hierarquia entre os elementos que compem esse
ecossistema, sendo eles todos relevantes para o estudo.
Afinal, o que a ecolingustica?
Couto (2007, p. 39) explica, referindo-se a Heinar Haugen (1972b, p. 325), que a
ecologia da lngua (language ecology) pode ser definida como o estudo das interaes entre
qualquer lngua dada e seu meio ambiente, expresso que aos poucos se consolidou como
ecolingustica. Fazendo uso de conceitos da ecologia biolgica na construo de suas bases
epistemolgicas, a ecolingustica estuda as interaes dos seres vivos com o meio em que
vivem, valendo-se, portanto, do ecossistema, das inter-relaes entre a populao de
organismos e o meio ambiente.
A ecolingustica encara os fatos da linguagem em sua dinmica e em suas inter-
relaes. Assim, tanto interessam a ecologia quanto o conceito de lngua. Para Couto (2007, p.
97), lngua o modo de os membros de um Povo interagirem entre si, no territrio em que
convivem. E acrescenta: tudo na lngua interao (p. 119). Para Nenoki Couto (2013, p.
13), pode-se definir lngua como as interaes verbais que se do no interior do ecossistema
lingustico: territrio, povo e lngua (COUTO, 2007, p. 20).
Em um estudo ecolingustico, a teia de inter-relaes mnimas o ecossistema
fundamental da lngua (EFL), que tambm poderia ser chamado de ecologia fundacional da
lngua, pois, para Couto (2007, p. 2), o ecossistema que fornece a base em que a lngua se
constroi e usada. , portanto, a rede de inter-relaes e a interdependncia entre um
determinado povo, sua lngua e seu territrio.
Nesse contexto inclui-se o meio ambiente da lngua. Couto (2007, p. 19), reportando-
84
se mais uma vez a Haugen (1972, p. 325), diz que o verdadeiro meio ambiente da lngua a
sociedade que a usa como um dos seus cdigos. A lngua tem, portanto, seu meio ambiente e
dentro do seu ecossistema pode ser dividido em trs: a) meio ambiente natural tambm
denominado ecossistema fundamental da lngua, compe-se de um ecossistema em que h
uma populao, que vive num determinado espao (territrio) e fala uma lngua (COUTO,
2007, p. 89); b) meio ambiente mental refere-se ao ecossistema mental da lngua,
infraestrutura do crebro. Conforme Couto (2007, p. 20), o meio ambiente metal
constitudo pela infra-estrutura cerebral e os processos mentais que entram em ao na
aquisio, armazenagem e processamento da linguagem. estudado parcialmente pelas
neurocincias como a psicolingustica (COUTO, 2013, p. 133); c) meio ambiente social
constitudo pelos processos sociais da Comunidade (COUTO, 2013, p. 122); o todo
formado pela lngua e a sociedade. Pode-se dizer que os membros de uma populao, ao se
organizarem socialmente, constituem o meio ambiente social da lngua.
A lngua tem relao com esses trs meios ambientes, com esse ecossistema, com as
interaes estabelecidas entre lngua e povo e entre lngua e territrio e entre os trs elementos
bsicos do ecosistema lingustico: lngua, povo e territrio.
Para verificar como esses trs elementos esto interligados, h a necessidade de
questionar como se d essa relao quando povo e territrio so invadidos, como foi/ o caso
das de grande parte das populaes indgenas do Brasil. At que ponto a imposio de outra
lngua interfere ou no para que esse ecossistema fundamental bsico tenha sua estrutura
modificada de modo a inteferir na vida dos povos indgenas implicando, inclusive, sua
identidade tnica.
Assim, faz-se necessrio observar como um povo, que foi subjugado de todas as
formas, modificou sua vida, silenciou sua dor e se silenciou em meio a esse processo de
colonizao e preconceito de todas as maneiras.
Esse assunto pode ser tratado pela ecolingustica, sobretudo pela etnoecologia
lingustica, que o estudo das relaes entre lngua e meio ambiente, s que partindo da
variedade lingustica de grupos indgenas, tradicionais, rurais, isolados e assemelhados
(COUTO, 2007, p. 219). Conforme Couto (2007), os territrios onde se encontram pequenas
comunidades so uma rea privilegiada para o estudo da ecologia fundamental da lngua, pois,
mais do que qualquer outra rea, aqui inter-relaes entre povo, terra e cultura se mostram de
modo mais patente (COUTO, 2007, p. 219). E mais, a etnoecologia lingustica de fato
estuda as relaes da lngua com o meio ambiente, via populao (ou membros do Povo),
bem como as relaes entre membos de P no meio ambiente, usando a lngua (COUTO,
85
2007, p. 219).
Este estudo pauta-se, assim, na perspectiva exocolgica, como prope Makkai
(2013), com foco nas relaes externas entre lngua e meio ambiente.
[Se ocupa em observar o] desenvolvimento, distribuio, caractersticas sociais,
estatsticas de populaes, status no seio de estados nacionais como lnguas
minoritrias ou majoritrias, situao legal, chances de sobrevivncia [...] de lnguas
individuais e de dialetos encarados como entidades ou corpos culturais. (MAKKAI,
2013, p. 352).
O propsito mostrar como as relaes externas do povo indgena Chiquitano com o
colonizador interferiram no seu territrio e provocaram o silenciamento cultural, incluindo a
o apagamento da lngua tnica, pois se o territrio, a lngua ou o povo sofrem interferncias, o
ecossistema fundamental sofre mudanas.
Ecolingustica: um princpio norteador de pesquisa
15
Como visto na breve descrio histrica sobre o povo Chiquitano em estudo, alm de
perder seu territrio tradicional, sofreu massacres culturais, o que foi acarretado pela
cristianizao, ao impor uma cultura que no era a dele. Isso sem contar os sofrimentos
causados com a fora bruta, os maus-tratos, a escravido. Tambm a palavra, com toda sua
carga ideolgica, contribuiu para reforar e perpetuar uma situao de discriminao. Alm
dos colonizadores, Igreja, fazendeiros, instituio escolar, o Estado, atravs do destacamento e
seus militares, colocou as pessoas em situaes degradantes, o que agravou mais ainda o
silenciamento da lngua e de marcas da identidade tnica. A esse povo no foi oferecida outra
opo que no se adaptar a essa nova situao para poder sobrevir no territrio onde se
encontrava.
Por conseguinte, para ser aceito, esse povo precisou esconder as caractersticas que
lhe permitia que os outros os visse como indgenas, da todo o esforo do povo em no
mostrar suas marcas indentitrias: lngua, costumes, religiosidade. Como forma de resistir
para ter a chance de sobrevivncia, a sada era adaptar-se a esse contexto. E adaptar-se
significou agir em conformidade com o contexto em que se inseria.
Ora, a linguagem um lugar de interao humana. E os usurios da lngua ou
interlocutores interagem como sujeitos que ocupam lugares sociais e falam desses lugares
de acordo com as formaes imaginrias (imagens) que a sociedade estabeleceu para tais
15
Couto, 2007, p. 19
86
lugares sociais. A poltica vigente da poca preconizava, em relao s lnguas indgenas, a
ideologia da unidade nacional, que pressupunha a destruio das suas lnguas e das suas
culturas e sua adaptao ao formato luso-brasileiro (MLLER, 2003, p. 9).
Para se adaptar ao modelo luso-brasileiro, espaos prprios deixaram de ser
utilizados, e as palavras que ali seriam ditas caram no esquecimento, no foram propagadas,
mantidas, vividas.
Logo, como esse povo poderia manter a sua lngua, se sua territorialidade seu lugar
de pertencimento estava sendo deslocada, adaptada para sobreviver e agradar aos donos
do poder?
Disso resultou um povo que deixou de agir conforme sua cultura, seus costumes,
que no podia mais andar no territrio que era seu, no podia falar sua lngua tnica, alterando
sua viso de mundo. O ecossistema fundamental da lngua, na perspectiva de unidade de um
povo, de identidade tnica, de vida plena em interao total com seu ecossistema, deixou de
existir. O povo, em seu territrio, tomado por outros, passou a ser considerado estrangeiro e
sua lngua materna preterida, em detrimento da lngua do colonizador. O que restou do trip P,
L e T estava desmantelado. Consequentemente, a comunidade tambm se desmantelou. Ao
povo Chiquitano restaram excluses. Um povo que se considerava superior os enquadrou aos
novos padres de vida, com novas noes de tempo, espao, cultura, religio, identidade. O
seu lugar de pertencimento, seu territrio, no era mais o mesmo. Os seus ambiente mental,
natural e social foram modificados. Tudo que sofreu interferncias externas se desestabilizou.
Isso porque, como explica Couto (2007, p. 2), o ecossistema que fornece a base em que a
lngua se constri e usada. A rede de inter-relaes e interdependncia entre um
determinado povo, sua lngua e seu territrio se rompeu. Restou ao povo a adaptao, para
que no perdesse os resqucios de vida que lhes restava: um espao permissionado para poder
plantar as roas de toco
16
para seu alimento, estudar em escolas de no ndios, fazer mutiro
no quartel para no ser expulso do local, trabalhar nas fazendas para ter o sustento para a
famlia, enviar os filhos para outros locais, pois ali no podiam mais ficar. Ou seja, todo um
contexto macro e micro de relaes fez com que eles no tivessem mais esperana nenhuma e
se tornassem invisveis para serem aceitos no territrio que j tinha sido deles.
Mas quando parecia que no havia mais sada nem esperana j que o pouco que
restava da terra permissionada teria de ser abandonada , o povo Chiquitano precisou acordar
do silncio e construir um contradiscurso, para fortalecer sua identidade tnica, diante da
16
Roa em que se derrubam as rvores e permanecem os tocos e, entre eles, so feitas as plantaes de milho, feijo,
amendoim e outros alimentos que fazem parte da dieta alimentar tradicional do povo.
87
iminncia de ficarem sem seu espao para viver. Era um momento de extrema importncia,
dada a necessidade de resistir e mostrar quem eram, pois os fazendeiros da regio comearam
a referir que os membros dessas comunidades no eram ndios, conforme nos relatou LS, 33
anos: Os fazendeiros falam, at agora, que ns no somos Chiquitano, porque no sabemos a
lngua, at agora no param de falar que ns no somos Chiquitano, que pra ser Chiquitano
tem que ser na Bolvia, aqui no (DUNCK-CINTRA, 2005, p. 118 ).
Para reverter essa situao, uma das primeiras medidas foi adotar a lngua Chiquitano
na escola
17
improvisada por eles. A necessidade de aprender pode ser observada nessas falas:
Agora, esses tempo, n, falaram que tinha que aprender (EMSP, 15 anos); Ah, do jeito que
ns est, importante aprender a lngua Chiquitano, porque a gente no sabia, n, como ia
ficar. De querer a roa, nunca procurei saber, eu desejo aprender agora (MCF, 32 anos);
Eles tinham que comear a falar para ajudar o nosso povo aqui (RCCR, 13 anos) (DUNCK-
CINTRA, 2005).
Foi assim que tiveram incio naquele lugar as aulas na lngua Chiquitano. Isabel,
18
filha de Loureno Rupe, descrevia e orientava na lngua. Sr. Loureno e os demais
lembradores falavam as palavras e, Isabel, que sabia algumas poucas palavras da lngua,
19
transcrevia conforme ouvia e, dessa forma, passava para os participantes das aulas o que havia
descrito.
Isabel, ao adotar a posio de professora, incorpora o discurso de ser Chiquitano,
para que seus interlocutores no apenas aprendam um pouco da lngua tnica, mas tambm
conheam um pouco das vozes do passado, do conhecimento cultural e identitrio dos seus
ancestrais, pois em suas aulas improvisadas estavam juntos os ancios que, junto com ela,
partilhavam histrias dos antigos e buscavam na memria o que restava da lngua, de mitos,
de prticas religiosas, de costumes, de resqucios da cultura (DUNCK-CINTRA, 2005).
O fato de eles se reunirem, mais do que estudarem a lngua, os fez falar de sua
cultura, circular o sentido de ser ndio, assinalando a sua territorialidade, seu lugar de
pertencimento. E, para isso, utilizaram-se do discurso e tentaram, em parte, se apossar da
lngua que estava na memria dos mais idosos, provocando uma reterritorializao, no de um
espao fsico, mas de um espao social e identitrio, o que permitiria que o espao fsico fosse
tambm demarcado (DUNCK-CINTRA, 2005). como principia o processo de
ressignificao do seu ecossistema fundamental.
17
At aquele momento no havia escola nas comunidades. Os alunos estudavam em escola do quartel ou eram levados para
estudar em uma vila de no ndios, h cerca de 55 km das comunidades.
18
Em anexo, cpia de pginas do caderno de Izabel.
19
At 2002/2003 no havia registro da lngua Chiquitano brasileira (nenhuma publicao, muito menos grafia definida).
88
Como consequncia, no ano de 2005 foi implantada a primeira Escola Indgena na
terra Portal do Encantado, espao em que a lngua passou a ser ensinada, em que prticas
culturais passaram a ser vivificadas, ressignificadas, contribuindo para o processo de
fortalecimento do povo e de suas lutas pelo pertencimento territorial e tnico. Passados quase
uma dcada desse primeiro movimento, pode-se dizer que, por meio da escola e do
bilinguismo de memria, o povo tem aos poucos restabelecido e ressignificado o ecossistema
fundamental da lngua.
esteira da vida: o discurso que aciona o meio ambiente mental que ativa memrias e
fortalece o ecossistema fundamental
Para compreender como um bilinguismo de memria aciona identidade e lngua
adormecidas, faz-se necessrio revisitar a literatura de que trata sobre interao verbal. A
lngua um fato social, cuja gnese est na necessidade de comunicao humana, que leva em
considerao o contexto real da enunciao, com interlocutores concretos (BAKHTIN, 1988,
p. 14; COUTO, 2007, p. 109). Para Couto, a ecologia dos atos de interao (comunicativa) o
ncleo da lngua. Para Bakhtin (1988, p. 14), o processo de interao verbal a realidade
fundamental da lngua. O referido autor valoriza a fala, a enunciao, e afirma sua natureza
social, no individual: a fala est indissoluvelmente ligada s condies da comunicao, que,
por sua vez, esto sempre ligadas s estruturas sociais. Para ele, o signo lingustico
dialtico, dinmico, vivo, que se ope ao sinal inerte que advm da anlise da lngua como
sistema sincrnico, abstrato. Tanto para Bakhtin (1988) como para Couto (2007) o outro
pea fundamental na constituio do significado, dadas as relaes inerentes entre o
lingustico e o social/meio ambiente. Essa instncia da linguagem que permite o estudo a
articulao entre os fenmenos sociais e os fenmenos lingusticos o discurso.
O discurso o uso da linguagem como prtica social e no puramente individual.
entendido como uma forma de ao mundo, interao. por meio do discurso que os
indivduos constroem sua realidade social, agem no mundo em condies histrico-sociais e
nas relaes de poder que operam. O discurso prtica de significao do mundo, construindo
e constituindo o mundo em significado. O discurso contribui para a construo de identidades
sociais, relaes sociais entre pessoas e sistemas de conhecimento e crena (BAKHTIN,
1988; FAIRCLOUGH, 2008). Toda e qualquer mudana em estruturas sociais implica dizer
que temos de considerar o uso da linguagem. Nada podemos fazer sem que a usemos, pois ela
instrumento de produo, manuteno e mudana das relaes sociais de poder
(FAIRCLOUGH, 2008).
89
E a identidade? Bom, esta tem a ver com a questo da utilizao dos recursos da
histria, da linguagem e da cultura para com a produo daquilo com que ns podemos nos
tornar (HALL, 2000, p. 109). Para Hall, as identidades so construdas dentro, e no fora do
discurso. Da a necessidade de compreend-las em suas produes em locais histricos
institucionais especficos. na presena do outro, com o qual estamos engajados no discurso
(seja oral, seja escrito), que se molda o que dizemos e que percebemos o que o outro significa
para ns. Concebida como algo a tornar-se, aqueles que a reivindicam no se limitariam a
ser posicionados pela identidade: eles seriam capazes de posicionar a si prprios e de
reconstruir e transformar as identidades histricas, herdadas de um passado comum
(WOODWARD, 2000, p. 28).
Trata-se, assim, de um vir a ser na e pela linguagem, pois os sujeitos, ao se
envolverem no discurso em circunstncias culturais e histricas, tornam-se conscientes de
quem so, construindo suas identidades sociais ao agirem no mundo por intermdio da
linguagem. Assim, importante compreender como a tradio e a memria mobilizam saberes
ancestrais e informam fazeres educativos na escola indgena Chiquitano, pois nesse espao se
estabelecem as relaes de fronteira com a sociedade no indgena e neles a afirmao tnica
requisitada a todo o momento, por meio de uma atitude poltica que busca sustentao nos
fios da tradio. Sustentao no meio ambiente mental da lngua, pois a memria acionada
para buscar na histria a identidade e a lngua adormecidas. Assim, devemos nos reportar,
tambm, ao conceito de memria, pois, segundo Meli (1998), os saberes passados dos mais
velhos para os mais novos representam formas prprias de resistncia ou de mudana. Por
isso, a memria constituda na relao entre passado e presente (LE GOFF, 2003),
decorrendo da o papel ocupado pelo discurso, porque toda formao discursiva associa-se a
uma memria discursiva (BAKHTIN, 1988). a memria que faz com que a formao
discursiva circule formaes j anunciadas, inscritas na histria (BAKHTIN, 1988). E se
percebe, ento, que o povo, por meio de interaes sociais, aciona um bilinguismo de
memria, que provoca, dentro do ecossistema da lngua, o meio ambiente mental a buscar os
fios da tradio, os fios da identidade, os fios da histria. E foi isso que permitiu ao povo
Chiquitano a demarcao e a devoluo de seu territrio.
A partir do momento em que foi acionada a memria, o povo tambm criou as
condies para sua reterritorializao. Nesse sentido, vale dizer com Oliveira (2004, p. 22)
que [...] reorganizao social [...] implica: i) a criao de uma nova unidade; ii) a
constituio de mecanismos polticos especializados; iii) a redefinio de controle social; iv)
reelaborao da cultura com o passado.
90
E eis o surgimento de um territrio (Portal do Encantado), a ressignificao de uma
identidade (Povo Indgena Chiquitano) e o reaparecimento de uma lngua tnica, estudada
como segunda lngua na escola. Essa lngua traz junto uma viso de mundo outrora construda
nas relaes entre lngua e meio ambiente, o que os enche de esperanas, pois permite
vivificar o ecossistema fundamental, aguando desejos e possibilidades.
Algumas consideraes finais...
A linguagem no instrumento, mas ao que transforma. Nessa relao no se
considera nem a sociedade como dada, nem a linguagem como produto: elas se constituem
mutuamente (ORLANDI, 2001, p. 82). Para Couto (2013, p. 53), a lngua se forma, se
conforma (aos interesses de seus usurios), se transforma (evolui) e se deforma (morre) na
ecologia da interao comunicativa.
E isso aconteceu com o povo Chiquitano, pois no auge de seu desespero, quando a
lngua j estava praticamente morta (deformada), foi utilizada, por meio de um bilinguismo de
memria, para transformar a realidade de subjugados e ter direito ao territrio que fora
tomado deles. Conforme Tuan (2012), os problemas humanos, quer sejam econmicos,
polticos ou sociais, dependem do centro psicolgico da motivao, dos valores e das atitudes
que dirigem as energias para os objetivos. Depreende-se da que o centro psicolgico da
motivao fez o povo acordar e lutar pelos direitos que lhes foram usurpados. O bilinguismo
de memria permitiu-lhe retomar e ressignificar seu ecossistema bsico: territrio, povo e
lngua.
Referncias
BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e filosofia da linguagem: problemas fundamentais do mtodo
sociolgico na cincia da linguagem. Trad. Michel Lahud e Yara Frateschi Vieira. 4. ed. So
Paulo: Hucitec, 1988.
COUTO, H. H. Ecolingustica: estudo das relaes entre lngua e meio ambiente. Braslia:
Thesaurus. 2007
COUTO, E. K. N. N. Ecolingustica: um dilogo com Hildo Honrio do Couto. Campinas,
SP: Pontes, 2013. (Linguagem e Sociedade, v. 4).
COUTO, E. K. N. N. Ecolingustica e imaginrio. Braslia: Thesaurus, 2012.
MAKKAI, Adam. Da gramtica pragmo-ecolgica ecolingustica. In: COUTO, E. K. N. N.;
ALBUQUERQUE, D.B; ARAJO, G. P. Da fonologia ecolingustica: ensaios em
homenagem a Hildo Honrio de Couto. Braslia: Thesaurus, 2013. p. 350-356.
DUNCK-CINTRA, Ema Marta Dunck. Vozes silenciadas: situao sociolingstica dos
Chiquitano no Brasil Acorizal e Fazendinha, MT. 2005. Dissertao (Mestrado)
91
Universidade Federal de Gois, Faculdade de Letras, 2005.
FAIRCLOUGH, Norman. Discurso de mudana social. Coord. e trad. Izabel Magalhes.
Braslia: Ed. UnB, 2008.
FILL, Alwin. Ecolinguistics: the history of a green idea for the estudy of language. In:
COUTO, E. K. N. N.; ALBUQUERQUE, D. B.; ARAJO, G. P. Da fonologia
ecolingustica: ensaios em homenagem a Hildo Honrio de Couto. Braslia: Thesaurus, 2013.
p. 284-301.
HALL, Stuart. A produo social da identidade e da diferena. In: SILVA, Tomaz Tadeu da
(Org.). Identidade e diferena: a perspectiva dos estudos culturais. Petrpolis, RJ: Vozes,
2000. p. 103-133.
HOBSBAWM, Eric; RANGER, Terence (Org.). A inveno das tradies. Rio de Janeiro: Paz
e Terra, 2006.
LE GOFF, Jacques. Histria e memria. Trad. Bernardo Leito. 5. ed. Campinas, SP: Ed.
Unicamp, 2003.
MLIA, Bartomeu. Educacion indgena em laescuela. Palestra proferida no I Congresso
Internacional de Educao Indgena. Dourados, MS, 1998.
OLIVEIRA, Joo Pacheco de Oliveira. Uma etnologia dos ndios misturados? Situao
colonial, territorializao e fluxos culturais. In: OLIVEIRA, Joo Pacheco (Org.). A viagem
de volta: etnicidade, poltica e reelaborao cultural no nordeste indgena. 2. ed. Rio de
Janeiro. Contra-CapaLivraria/LACED, 2004. p. 13-46.
OLIVEIRA, Gilvan Mller de. O que quer a lingstica e o que se quer da lingstica a
delicada questo da assessoria lingstica no movimento indgena. Cad. Cedes. [on-line]. Dez.
1999. Disponvel em: http: //www.scielo.Br/scielo.php ?script=sci_arttext&pid=S010-
32619990000200004&Ing=pt&nrm=iso. Acesso em: 15 dez. 2013.
ORLANDI, Eni Pulcinelli. Discurso e leitura. 6. ed. So Paulo: Cortez, 2001.
PORTO-GONALVES, C. W. Da geografia s geo-grafias: um mundo em busca de novas
territorialidades. In: CECEA, A. E.; SADER, E. (Org.). La guerra infinita: hegemona y
terror mundial. Buenos Aires: Clacso, 2002.
TUAN, Yi-Fu. Topofilia: um estudo da percepo, atitudes e valores do meio ambiente.
Londrina: Eduel, 2012.
WOODWARD, Kathryn. Identidade e diferena: uma introduo terica e conceitual. In:
SILVA, Tomaz Tadeu da (Org.). Identidade e diferena: a perspectiva dos estudos culturais.
Petrpolis, RJ: Vozes, 2000. p. 7-72.
92
Anexo A - Alguns dos nomes dos participantes das aulas improvisadas. Veja-se a passagem
pelo filtro da lngua Chiquitano, que tem uma africada retroflexa no final de grande parte dos
substantivos.
93
Anexo B - Palavras descritas por Izabel
94
95
DA METFORA, DO SONHO, DO MITO E APROXIMAES DE INCONSCIENTE
Ezequiel Martins Ferreira
20
Trs conceitos centrais movem essa discusso: metfora, mito e inconsciente. Trs
conceitos, porm todos dotados de vrias acepes envolvendo referenciais tericos nem
sempre convergentes.
Iniciando pelo ltimo, h atualmente, toda uma sorte de coisas nomeadas inconsciente,
desde a romntica vinculada ao sonho, a prtica referente ao estado oposto do consciente, at
aquelas que mais nos aproximamos em nossas investigaes: o freudiano com seu modelo
pulsional, valendo-se, sobretudo, da ambivalncia dessas pulses; o coletivo que nos remete
principalmente s ideias de arqutipos; o estrutural o qual busca uma funo simblica que
seja comum a todas as relaes inclusive as que se estabelecem nas narrativas mticas; sem
falar nos novos inconscientes esttico, cognitivo, ptico e naqueles que nos so
desconhecidos.
Na definio de mito temos, dicionarescamente falando, pelo menos trs acepes ao
que nos aponta Nicola Abbagnano (2007), definidos de um ponto de vista histrico: como
forma atenuada de intelectualidade; como forma autnoma de pensamento ou de vida; como
instrumento de estudo social. Dessas perspectivas ainda, saltam vrios tericos, os quais
partem desses pontos para as suas prprias definies, dentre os quais se encontram,
principalmente, Claude Lvi-Strauss, Roland Barthes e Gilbert Durand.
E por fim, o conceito de metfora de Sigmund Freud, no que diz respeito metfora
como mecanismo criador de sonhos, e numa leitura cruzada com Lvi-Strauss, na criao dos
mitos.
O presente trabalho se apresenta com a finalidade de estabelecer aproximaes entre
20
Psiclogo pela PUC Gois, pesquisador pelo NELIM (Ncleo de Ecolingustica e Imaginrio),
Mestrando em Educao pela Universidade Federal de Gois.
96
as noes de inconsciente dos trs principais autores acima mencionados, no que diz respeito
a constituio e funo dos mitos, de um ponto de vista da vida anmica.
Nessa investigao recorreremos aos textos principais que se estabelecem em torno
das discusses sobre o inconsciente e sua relao com a constituio dos mitos e sonhos. Para
tanto foram selecionados trs coletneas de textos: de Freud (Totem e Tabu, 1913); Jung (Os
arqutipos e o Inconsciente Coletivo, 1976); Lvi-Strauss (As mitolgicas 1964-71).
notria em Lvi-Strauss a vinculao de suas obras as obras de Freud. Tanto na
coleo Mitolgicas (2004), na qual constam inmeros mitos coletados entre os povos
amerndios, que foram tratados pelo mtodo levi-straussiano da anlise estrutural, o qual pode
ser comparado forma que Freud fez em A interpretao dos sonhos (2006a), j que diversas
vezes a anlise estrutural dos mitos vista como tendo estrutura semelhante a estrutura
metafrica dos sonhos; A oleira ciumenta(1985) por apresentar uma verso de Totem e tabu
(2006b), e por constituir-se a sua maneira uma extenso da coleo Mitolgicas, juntamente a
A via das mscaras (1975), e Histria de Lince (1991), que apresentam uma mudana de uma
teoria da mitologia geral mitologia amerndia (LAGROU & BELAUNDE, 2011); entre
outras.
Em Freud sua obra marcada por duas fortes tendncias tericas, utilizo aqui o termo
tendncia por crer que a partir de suas teorias se criou todo um modo discursivo de se tratar
assuntos que cercam os temas fundamentais da psicanlise, sendo: a sexualidade infantil
inaugurada com Trs ensaios sobre a teoria da sexualidade; e o inconsciente apresentado
pela obra fundadora da psicanlise A interpretao dos sonhos. As duas obras sofreram
fortes crticas tanto pela sociedade comum como pela cientfica, principalmente por constatar
que em se tratando de uma instncia (o inconsciente) a qual se estrutura num plano que no se
pode visualizar, a no ser por lampejos refletidos na realidade, uma validao cientfica nos
moldes naturalistas seria impossvel.
97
J nos tempos de Lvi-Strauss, a lingustica saussuriana havia conquistado seu terreno
como cincia, e por que no faz-lo com a sua antropologia estrutural? Partindo da anlise das
relaes de parentesco, da situao totmica, e indo em busca de uma forma estrutural comum
e da qual tudo deriva, ele se aproxima dos mitos, nas sociedades sem escrita. A partir de seus
estudos, chega noo de funo simblica, e nela encontra um apoio para a sua teoria, da
existncia de estrutura de onde se derivam todas as relaes, desde o parentesco at a
linguagem.
A funo simblica vista como o aspecto universal do inconsciente, de onde ele
retira sua intemporalidade (MERQUIOR, 1975 p. 45). Percebe-se aqui, em uma breve
conceituao realizada por Jos Guilherme Merquior da funo simblica, uma aproximao
do conceito de inconsciente. No entanto ao se falar de inconsciente tem de haver uma clara
distino do conceito do inconsciente freudiano do levi-straussiano.
Em primeira instncia, para Freud (2006c), o termo inconsciente foi puramente
descritivo, que, por conseguinte, inclua o que temporariamente latente, chegando a afirmar
que de um ponto de vista descritivo havia dois tipos de inconsciente: um que latente, mas
capaz de tornar-se consciente, e outro que reprimido e no em si prprio e sem mais
trabalho, capaz de tornar-se consciente (FREUD, 2006c).
Mas a teoria freudiana no seria a mesma sem o conceito de recalque. Tanto ao afirmar
ser ele o prottipo do inconsciente, como a elaborao da tese de um possvel recalcamento
orgnico gerado pela bipedizao da espcie humana e a perda parcial da olfao, Freud
consegue ao mesmo tempo ligar suas duas principais teorias: de um lado o recalque funciona
como barragem necessria para a existncia de um inconsciente e seus processos; e de outro,
ele (o recalque) responsvel pela passagem de uma sexualidade instintiva a uma pulsional, e
quebra com isso todos os paradigmas existentes no sculo XIX, no que se referia
sexualidade humana.
98
Finalmente, a partir da teoria do recalque, Freud chegou definio de haver somente
um inconsciente: aquele que atua de modo dinmico; tendo as moes pulsionais a ser
reguladas; o recalque como barragem dessas moes; e seus produtos: o sintoma neurtico, as
formaes artsticas e os sonhos tomados aqui como objeto de estudo.
Diferente desse inconsciente dinmico, Lvi-Strauss acreditava em um inconsciente
estrutural, afinal essa era a sua grande busca, uma estrutura que, a partir dela conseguisse
explicar o funcionamento de tudo o que humano, e este foi bem expresso por Paul Ricoeur:
Um inconsciente mais kantiano do que freudiano, um inconsciente de
categorias, combinatrio (...) sistema de categorias sem referncia a um sujeito
pensante... homlogo natureza (RICOEUR apud LVI-STRAUSS
2004,p.30).
Em se tratando de inconsciente, muito se confunde devido ao vnculo existente entre
Freud e Carl Gustav Jung. Mas mesmo tendo sido frequentador do crculo de amizades de
Freud, ele, se retirou da psicanlise e passou a adotar para a sua teoria o nome de psicologia
analtica, e passou a utilizar uma nova concepo de inconsciente.
Na psicologia analtica, Jung se dedicou ao estudo dos arqutipos e em parte
psicologia das religies, e mesmo tendo grande influncia das teorias freudianas se tornou
indispensvel o esclarecimento entre a noo freudiana de inconsciente e a noo junguiana
de inconsciente coletivo que ele mesmo o faz:
O inconsciente coletivo uma parte da psique que pode distinguir-se de um
inconsciente pessoal pelo fato de que no deve sua existncia experincia
pessoal, no sendo, portanto uma aquisio pessoal. Enquanto o inconsciente
pessoal constitudo essencialmente de contedos que j foram conscientes e,
no entanto desapareceram da conscincia por terem sido esquecidos ou
reprimidos, os contedos do inconsciente coletivo nunca estiveram na
99
conscincia e, portanto no foram adquiridos individualmente, mas devem sua
existncia apenas hereditariedade. (JUNG, 2000 p. 53).
O inconsciente coletivo de Jung e o estrutural de Lvi-Strauss se diferem pelo fato de
que no inconsciente estrutural o que importa no o contedo, mas a funo que ele
desempenha no pensamento. Enquanto Jung acreditava na existncia de arqutipos pr-
estabelecidos pela hereditariedade, Lvi-Strauss se preocupa apenas com as caractersticas do
inconsciente que permitem ao pensamento a produo simblica pelas mesmas vias e
mecanismos.
Esses mecanismos so importantes no ponto de vista de aproximao entre a teoria dos
sonhos em Freud e, por exemplo, a mitologia levi-straussiana, pois atravs deles (os
mecanismos) os contedos simblicos so convertidos cada qual, de sua forma particular, em
sonhos e em mitos. Trata-se aqui dos mecanismos de condensao e deslocamento, descritos
por Freud como resultado do recalcamento e sendo a principal responsvel pela impresso
desconcertante que os sonhos causam em ns, pois no conhecemos nada que lhes seja
anlogo na vida anmica normal e acessvel conscincia (FREUD, 2006a).
Em Jacques Lacan deslocamento e condensao so modificados para metfora e
metonmia, exatamente por ter-se uma premissa de inconsciente estruturado como uma
linguagem, dizendo dele (o inconsciente) como efeitos de uma cadeia significante. Sobre isso
ele mesmo o diz em meados do seminrio 7:
Desse modo, o mundo da Vorstellung desde ento organizado segundo as
possibilidades do significante como tal. Desde ento, no nvel do inconsciente,
isso se organiza segundo leis que no so forosamente, as leis da contradio,
nem as da gramtica, mas as leis da condensao e do deslocamento, as que
chamo, para vocs, de as leis da metfora e da metonmia (LACAN, 2008, p.
78).
100
interessante notar que tanto os estudos dos sonhos como os dos mitos encontraram
grande resistncia no meio cientfico. As duas categorias tiveram at uma boa aceitao nos
tempos em que a mente humana era dominada pela filosofia (FREUD, 2006a), mas com o
advento das cincias naturais, foram mergulhados, por assim dizer, no esquecimento. Ento
porque se dar o trabalho de utilizar contedos repudiados pelo pensamento cientfico? A
resposta, no que diz respeito aos sonhos, surge da perseguio de Freud s manifestaes das
doenas nervosas.
A trajetria que Freud se imps para estudar a histeria se estendeu desde os estgios
com Charcot, no uso da hipnose e sugesto, at a constatao de uma melhor eficcia do uso
da associao livre, pois por meio dela se teria um acesso, mesmo que restrito, ao contedo
manifesto da doena e lampejos do contedo latente, nisso percebe-se que o contedo
latente do sintoma histrico se torna muito mais importante do que o manifesto, e que mesmo
na associao livre, os lampejos desse contedo eram pequenos, se comparados forma em
que comparecem na elaborao onrica.
Dada a situao mental diminuda, perante o adormecimento, comparado ao estado de
viglia, e a total suspenso de algumas faculdades da mente, os sonhos possuem sua
disposio elementos os quais em nossa vida diurna pareceriam, segundo o nosso julgamento,
comportamentos loucos, porque os sonhos so desconexos, aceitam contradies sem a
mnima objeo, admitem impossibilidades, e nos revelam como imbecis ticos e morais, e
nisso favorecem a apario dos desejos, que mesmo sendo submetidos aos mecanismos de
descolamento e condensao, so mais puros nos sonhos do que da forma que se apresentam
num estado consciente.
Havia tambm a crena de que primrdios de uma doena se pudessem fazer sentir
nos sonhos, graas ao efeito amplificador produzido nas impresses pelos sonhos (FREUD,
2006a), considerada de acordo com Freud por Aristteles e por outros autores mdicos de sua
101
poca.
Tomando os sonhos como objetos parciais de estudo, e digo parciais, pois eles s
importam na medida em que aparecem como livre associao s falas trazidas pelos pacientes,
o mtodo pelo qual eram tratados se assemelhava a um dos mtodos descritos por Freud como
comuns ao pblico leigo, que era o mtodo de decifrao, tendo, sobretudo a diferena
essencial de tratar os contedos onricos como peculiares a cada indivduo e no a um modelo
fixo pr-estabelecido, fazendo o indivduo a sua prpria medida.
Outra caracterstica importante no mtodo da interpretao dos sonhos no tomar
como objeto de nossa ateno o sonho como um todo, mas partes separadas de seu
contedo, pois deve se considera os sonhos, desde o incio, como tendo um carter
mltiplo, como sendo conglomerados de formaes psquicas (FREUD, 2006a).
Se de um lado temos os sonhos sendo tratados pela psicologia como processos mentais
e pela fisiologia, em se tratando de sintomas biolgicos como estmulos dos sonhos; por outro
lado, os mitos tiveram uma histria um pouco diferente, na Grcia os mitos estiveram sempre
em contato com o sagrado, atravs do qual se tinha acesso pela figura mstica do orculo, ao
conhecimento. Aos poucos o sagrado vai dividindo espao com as ideias um tanto mais
racionalistas daqueles que foram os predecessores dos que vieram a ser chamados
posteriormente de filsofos. Nessa conquista territorial, a cincia vai ganhando espao,
sobretudo pela ecloso de revoltas surgidas como resposta hegemonia romana prefigurada
pelo autoritarismo da igreja na idade mdia. Com isso, tudo aquilo que em sua essncia trs
parte do mitolgico por vezes associado a um pensamento arcaico ou at selvagem.
No que diz respeito cientificizao dos mitos, muitas so as disciplinas cientficas
que tentam fazer deles seus objetos de estudo, porm muitas encontram grandes dificuldades
para avanar. Desde a filosofia, a psicologia das religies, a histria at a antropologia,
tentativas so feitas e apesar dos percalos, como principalmente a validao do contedo
102
mtico como cientfico, alguns resultados satisfatrios so obtidos, como os estudos de Roland
Barthes, do prprio Jung, entre outros. Nesse estudo, como dito desde o incio, temos como
objetivo a tentativa de conexo entre as obras de Freud e Lvi-Strauss, e seria, sem dvidas,
necessrio priorizar aqui as pesquisas antropolgicas referentes s estruturas, e mtodos de
anlise dos mitos, mas antes, porm, se faz mister a conceituao do que vem a ser
denominado mito.
De acordo com Jos Ferrater Mora (1978), mito um relato de algo fabuloso que
aconteceu num passado remoto, ao que se supe, e quase sempre impreciso. J para Nicola
Abbagnano (2007) existem alm da acepo geral narrativa, trs significados do ponto de
vista histrico para definir o termo mito: como forma atenuada de intelectualidade; como
forma autnoma de pensamento ou de vida; como instrumento de estudo social.
Na Antiguidade clssica, o mito era tido como um produto da atividade intelectual,
porm de qualidade inferior e deformado. Ainda nessa linha de pensamento o mito mantm
forte ligao com uma concepo mstica, tendo o mito atributos morais e religiosos, no qual
ele pode ser visto como crena dotada de validade mnima e de pouca verossimilhana.
Na segunda acepo o mito tomado no como uma produo deformada da atividade
intelectual, mas situado num plano diferente, porm com igual dignidade. Aqui ele visto
como detentor de uma verdade autntica com forma fantstica ou potica e o substrato real
do mito (aqui) no de pensamento, mas de sentimento.
No ltimo ponto de vista o mito pode ser visto como a justificao retrospectiva dos
elementos fundamentais que constituem a cultura de um grupo, que mantem forte relao
mesmo que indiretamente com o fato histrico. Essa acepo encontrou em Lvi-Strauss um
forte aliado, ao mostrar que o mito uma representao generalizada de fatos que recorrem
com uniformidade na vida dos homens.
Em Antropologia Estrutural (2008), no captulo dedicado estrutura dos mitos, Lvi-
103
Strauss define a mitologia como um reflexo da estrutura social e das relaes sociais, sendo
capaz de oferecer uma derivao a sentimentos reais, mas recalcados e estabelece que assim
como na lingustica, as palavras e os discursos so tratados em unidades constitutivas, o mito
por no ser indistinto de qualquer outra forma de discurso tambm assim deveria ser
tratado. A essas unidades constitutivas deu-se o nome de mitemas, e seu mtodo utilizado para
a anlise desses mitos e suas unidades constitutivas se davam da seguinte maneira:
Cada mito analisado independentemente, procurando-se traduzir a sucesso
de acontecimentos por meio de frases o mais curtas possveis. Cada frase
inscrita numa ficha que traz um nmero correspondente a seu lugar na
narrativa. Percebe-se, ento, que cada carto consiste na atribuio de um
predicado a um sujeito. Ou melhor, cada grande unidade constitutiva tem a
natureza de uma relao (...). Supomos, com efeito, que as verdadeiras
unidades constitutivas do mito no so as relaes isoladas, mas feixes de
relaes, e que somente sob a forma de combinaes de tais feixes que as
unidades constitutivas adquirem uma funo significante. Relaes que provm
do mesmo feixe podem aparecer em intervalos afastados, quando nos situamos
num ponto de vista diacrnico, mas se chegamos a restabelec-las em seu
agrupamento "natural, conseguimos ao mesmo tempo organizar o mito em
funo de um sistema de referncia temporal de um novo tipo, e que satisfaz s
exigncias da hiptese inicial. (LVI-STRAUSS, 2008, pp. 243-244)
No obstante o mtodo levi-straussiano procurar uma maior objetivao na anlise dos
mitos, enquanto Freud acha prudente utilizar da subjetividade para a interpretao dos sonhos,
o primeiro se equipara ao segundo quando trata o mito como um discurso multifacetado, e
munido de contedos simblicos.
Souza e Rocha (2009) dizem baseados em Anzieu que da mesma forma que nos
104
sonhos, no mito projetam-se elementos inconscientes que, em seus elementos significantes,
podem referir-se a variadas coisas, a depender do sujeito e de sua histria.
A conexo entre os sonhos e os mitos como produes inconscientes, ou no mnimo
produes, nas quais comparecem elementos e mecanismos inconscientes, procede de forma
interessante na elaborao de Souza e Rocha, no entanto, uma diferena chama a ateno
quando na comparao entre os mitos e os sonhos os autores comentam que se os sonhos so
os mitos do indivduo, os mitos seriam, ento, os sonhos da humanidade, exprimindo os seus
desejos, enquanto ao mito so atribudas duas funes: a da proibio e, tambm, a do
desejo.
Nota-se que enquanto o mito cumpre seu papel expressando os principais desejos e
proibies que no so sobre o mundo exterior, mas sobre o mundo interior, no sobre a
realidade, mas sobre as fantasias, bem como sobre os desejos e as angstias a eles ligadas; o
sonho surge como uma forma mediadora para a realizao dos desejos individuais.
E enquanto os sonhos servem como uma forma de interpretar os desejos que so ao
longo de sua histria recalcados pelo prprio indivduo. Na viso de Leminski (apud
SANTOS & ATIK, 1998, p. 198), o mito a palavra fundadora, a fbula matriz, que permite
uma leitura analgica do mundo.
Muitas aproximaes podem ser feitas em se relacionando a estrutura do inconsciente
freudiano nos sonhos e a estruturao do pensamento levi-straussiano nos mitos, no entanto
um exame mais elaborado considerando tanto as ideias de fantasia, simblico, e real, se faria
necessrio para se ter uma melhor noo da essncia humana expressa por meio dos mitos e
dos sonhos, e que permanecem obscuros aos nossos olhos, como tambm um trabalho mais
extenso, questionando a m colocao dos sonhos e mitos na cincia, que talvez seja por
ambos tratarem de elementos to delicados como a alma humana ou ainda por ambos
realmente no terem tanta importncia. Fiquemos, por hora com a primeira, baseados no poeta
105
Fernando Pessoa, afinal: A alma humana um abismo obscuro e viscoso, um poo que se
no usa na superfcie do mundo.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ABBAGNANO, Nicola. Dicionrio de Filosofia. So Paulo: Martins Fontes, 2007.
FREUD, Sigmund. A interpretao dos Sonhos II. Rio de Janeiro: Imago, 2006a,
Publicado originalmente em 1900.
FREUD, Sigmund. Totem e tabu. Rio de Janeiro: Imago, 2006b. Publicado
originalmente em 1913.
FREUD, Sigmund. O id e o ego. Rio de Janeiro: Imago, 2006c. Publicado
originalmente em 1923.
JUNG, C.Gustav. Os arqutipos e o inconsciente coletivo. Petrpolis: Vozes, 2000.
Publicado originalmente em 1976.
LACAN, Jacques. Seminrio 7: A tica da psicanlise. Rio de Janeiro: Jorge Zahar
Ed. 2008.
LAGROU, Elsje; BELAUNDE, Luisa Elvira. Do mito grego ao mito amerndio: Uma
entrevista sobre Lvi-Strauss com Eduardo Viveiro de Castro. Revista Sociologia &
antropologia v.01.02, 2011, p.09-33.
LVI-STRAUSS, Claude. O cru e o cozido: Mitolgicas I. So Paulo: Cosac Naify,
2004, publicado originalmente em 1964.
LVI-STRAUSS, Claude. Do mel s cinzas: Mitolgicas II. So Paulo: Cosac Naify,
2005, publicado originalmente em 1967.
LVI-STRAUSS, Claude. A origem das maneiras mesa: Mitolgicas III. So Paulo:
Cosac Naify, 2006, publicado originalmente em 1968.
LVI-STRAUSS, Claude. O homem nu: Mitolgicas IV. So Paulo: Cosac Naify,
2004, publicado originalmente em 1971.
LVI-STRAUSS, Claude. A via das mscaras. 1975.
LVI-STRAUSS, Claude. A Oleira Ciumenta. So Paulo: Editora Brasiliense, 1985.
LVI-STRAUSS, Claude. Histria de Lince. 1991.
LEVI-STRAUSS, Claude. A estrutura dos mitos In: Antropologia Estrutural. So
Paulo: Cosac Naify, 2008. Publicado originalmente em 1951.
106
MERQUIOR, Jos Guilherme. A esttica de Lvi-Strauss. Rio de Janeiro, Tempo
Brasileiro, 1975.
MORA, Jos Ferrater. Dicionrio de Filosofia. Lisboa: Publicaes Dom Quixote,
1978.
SANTOS, Elaine Cristina Prado dos & ATIK, Maria Luiza Guarnieri. A metamorfose
de narciso e eco em uma relao do eu e do outro In: Anais [do] II Colquio Vertentes do
fantstico na literatura UNESP - IBILCE So Jos do Rio Preto : UNESP - Cmpus de So
Jos do Rio Preto, 2011.
SOUZA, Ana Amlia Torres & ROCHA, Zeferino Jesus Barbosa. No princpio era o
mythos: articulaes entre Mito, Psicanlise e Linguagem. In: Estudos de Psicologia, 14(3),
setembro-dezembro/2009, 199-206.
107
IMAGINAO E REALIDADE: AS METFORAS DOS DESENHOS RUPESTRES
NA FORMULAO DE NARRATIVAS
Gemicr do Nascimento Silva
Luciana Santos Siqueira
UEFS Universidade Estadual de Feira de Santana - Bahia
Introduo
Desde os primrdios, a contemplao um dos atos que acompanha os sentimentos humanos.
Os povos nmades quando habitavam um territrio e nele permanecia por certo perodo
presumvel imaginar, que possuam este importante hbito. Uma vez que dispunham do tempo
para se deslumbrar com as maravilhas ao seu redor.
Os ndios, como os homens das cavernas, grandes observadores da natureza e
msticos, certamente acreditavam que utilizando as pinturas podiam transmitir seus
sentimentos, suas dores, sua coragem, suas alegrias, suas conquistas e etc.
Como linguagem, as representaes se ofereciam como algo significativo para
materializar o imaginrio. Entendemos que era momento que se abria um portal entre aquilo
que se podia conceber tendo o seu sentimento como motivao e os Desenhos como
ferramenta capaz de traduzir as emoes mais profundas entre o real e extraordinrio.
Percebermos que os Desenhos Rupestres, apresentam-se em alto grau complexidade e
informao alm de ser uma das manifestaes artsticas, em que as ideias e as criaes que
foram transferidas para um suporte rochoso, constituindo-se em uma tcnica de
desenvolvimento e de ocupao das cavernas onde suas fantasias e realidades ficaram
narradas, edificando um modelo de linguagem que foi sendo elaborado fazendo parte do
nosso processo evolutivo e da nossa imaginao.
Ante as tantas interrogaes ou mesmo as suposies, quando nos pomos a observar
um Desenho Rupestre inevitvel suscitar as tentativas de entendimento do que se v, o que
levou aqueles humanos paleoamerndios a materializar sues pensamentos sobre a natureza
vista e sentida, trazendo a luz da metfora e da linguagem atribuindo s obras de arte o
poder de revelar verdades.
Possivelmente os artistas das cavernas mergulhavam no seu mago para criar uma
metfora capaz de traduzir sentimentos em smbolos, pois lhes faltavam linguagem falada
como a que conhecemos hoje. Esse o desafio maior, transcender para alm do mero smbolo
e viajar para o um tempo pretrito na tentativa de recriar os senrios vividos por esses
criadores e assim desvendar seus mistrios.
108
Contribuies tericas
A arte est em nossa vida na ao de contemplar o mundo, na criao dos objetos mais
elementares, nas construes de casas, na preparao dos alimentos, nas vestimentas etc. Para
Nascimento (2012) o desenho, como criao humana, abstrai a realidade de cada ser e seus
significados, e cada projeto ou esboo de algo diz, muitas vezes, mais do que palavras. Um
desenho constitui um corpo de dados que expressa uma mensagem imediata, funcional em
sua primeira leitura, ainda sobre esse ato, sintetizamos a opinio de Danto (1964), em que as
propriedades diferem uma obra de sua contraparte sensivelmente indiscernvel devendo estar
entre suas qualidades relacionais, no seu contedo segundo as finalidades do artista, na sua
narrativa causal e, sobretudo, no lugar que ocupa na arte.
O subsdio de Childe (1966), quando esclarece as possibilidades do incio da histria
por volta de 500.000 anos, ou talvez 250.000 anos, surgindo o homem como animal raro e
coletor, que vivia, como qualquer outro animal carnvoro, parasitariamente, alimentando-se
de qualquer coisa que a Natureza lhe pudesse oferecer constituindo na nica fonte de
sobrevivncia para a sociedade humana, certamente essas revolues aproveitadas para
assinalar etapas ou estgios do processo histrico. E plausvel imaginar que as mulheres no
precisavam tomar parte nas caadas, a no ser durante as grandes batidas coletivas, para
assustar animais com os gritos e gestos ou jogando pedras e paus como defende Senet (1959),
todavia, razovel pensar que as mulheres do paleoamerndios tinha outro papel a cumprir:
fazia as colheitas de frutos selvagens ou plantas alimentcias, elementos indispensveis param
quando a caa ficava difcil, tomar conta dos filhos menores e dos mais velhos. E que essas
mulheres trouxeram uma significativa importncia nas mudanas ocorridas nessa etapa da
histria humana, tanto nas solues como nas edificaes das sociedades e de suas culturas.
Matriarcal, ou no, este perodo tinha nelas um centro, sobretudo por causa da fertilidade, ou
seja, a misteriosa habilidade de procriar, ocupando um lugar primordial como um ser sagrado
por da luz.
Edificando uma Narrativa
Pressupe-se que enquanto os homens perseguiam pressas, as mulheres permaneciam com as
suas crias nos abrigos. Como consequncia, tomaram rumos diferentes no processo de
desenvolvimento e transformao cultural para se adaptarem melhor s suas funes
especficas. razovel que homens mais altos e mais fortes se desenvolveram para cumprir as
tarefas que lhes cabiam. Mulheres mantinham o fogo aceso na caverna, recolhiam as frutas,
criavam filhos, faziam cermicas e, quem sabe, pintavam e desenhavam nas grutas, pois
109
enquanto realizavam a colheita de frutos e sementes devem ter notado as diversas
pigmentaes deixadas em suas mos. Certamente, tambm devem ter notado pigmentaes
nos resduos de cinzas e do carvo durante a manuteno do fogo no seu abrigo, alm da
gordura de fludos orgnicos, principalmente o sangue dos animais abatidos, no momento da
partilha desses pelo grupo. Em algum momento, casualmente limparam suas mos
impregnadas desses elementos nas paredes e perceberam que estavam registrando uma marca.
Os Desenhos Rupestres consiste em gravuras e pinturas executadas sobre suportes
rochosos, geralmente ao ar livre ou nas paredes e tetos de cavernas e grutas. considerada
uma das expresses artsticas mais antigas da humanidade e segundo a maioria dos
historiadores, criada pelos humanos do Paleoltico Superior. As predominncias das
representaes so de animais, cenas de caa, mas tambm so encontradas mos humanas em
negativo e positivo Mos em positivo so representaes de pinturas realizadas com a palma
das mos, tendo seus espaos totalmente preenchidos normalmente por pigmentos orgnicos
ou minerais posteriormente impressas nas rochas como carimbo, como encontramos nos stios
arqueolgicos, na Chapada Diamantina, Estado da Bahia.
Estas representaes rupestres apresentam-se em diferentes pocas e lugares, e a
disperso geogrfica incorporada s dificuldades de conservao e preservao desses
grafismos, so alguns dos problemas enfrentados por pesquisadores. Os estudos mais
avanados e reconhecidos pela cincia estimam que a presena do homo sapiens, ocorreu a
cerca de 150 mil Anos antes do nossa ocasio. Durante 100 mil anos os humanos no criaram
qualquer imagem. Somente a cerca de 30 mil AP
21
que algo comeou a mudar. Os
arquelogos chamam esse momento da pr-histria de exploso criativa, nesse momento, os
humanos comearam a criar as primeiras figuras.
Para os especialistas, os paleoamerndios certamente pintavam para criar
representaes das coisas ao seu redor tais como fazemos na atualidade. medida que os
estudos foram se desenvolvendo essa teoria foi superada, na verdade esses povos no
representavam apenas o que viam, mas tambm aquilo que desejam. Da sua obsesso por
animais (zoomorfos) e alguns em particular como cervdeos, capivaras, felinos, tatus. Havia
algo nesses animais que impressionavam nossos ancestrais assim como os antepassados do
velho mundo que desenhavam cavalos, bises e renas. Segundo o francs Henri Breuil, o
primeiro especialista em caverna de Desenho Rupestre no sculo XX, as pinturas retratavam
21
As faixas cronolgicas em que a arqueologia brasileira foi dividida tm como ponto de partida os dias atuais
(o Presente) e recuam no tempo, para datas Antes do Presente (AP). A primeira faixa temporal vai, de hoje a 500
anos atrs, ou seja, do Presente h 500 anos AP. E assim por diante.
110
caadas. E esses artistas do Paleoltico superior pintavam animais porque acreditavam que
elas aumentariam as chances de sucesso na caada. Essa teoria explica porque somente alguns
animais foram pintados. Posteriormente essa teoria foi refutada porque aps os estudos
paleontolgicos realizados nos lugares onde existiam essas pinturas verificou-se que os
fsseis encontrados nas escavaes eram de outros animais de menor porte como cervos,
cabras e outros. Esse dado revelava indcios da dieta do homem pr-histrico.
Procuramos estabelecer as bases dos cdigos simblicos do bero da comunicao
humana a partir das figuras rupestres com seus grafismos, como apoio de um extraordinrio
acervo de desenhos, gravuras e pinturas que revelam documentos valiosos sobre a presena e
a atuao de habitantes ancestrais escrevendo nas pedras como um texto em especial na
Chapada Diamantina, Bahia, daqueles provveis grupos paleoamerndios que a ocupavam.
Podemos supor que os desenhos encontrados nas cavernas so representaes
exageradas do que era observado na natureza. Foi nesse perodo de criao que nossos
ancestrais descobriram o poder da imagem que deram sentido ao seu mundo. Atravs dessas
imagens, criaram um legado usual que ajudou a moldar o nosso mundo.
As formas humanas (antropomorfos) representadas nos paredes pelos ancestrais
destacavam com maior nfase determinadas partes do corpo em detrimento a outras. Perceba
que a cabea e os braos so proporcionalmente maiores que o resto do corpo, uma
representao
22
rstica e exagerada onde o artista estava destacando no seu desenho aquilo
que mais importava para ele. Esse comportamento tambm pode ser encontrado nos desenhos
infantis.
Um exemplo conhecido a Vnus de Willendorf, encontrado pelo arquelogo Josef
Szombathy escavada em 8 de Agosto de 1908, a cerca de 30 metros acima do Rio Danbio
perto da cidade de Willendorf na ustria.
22
Aquilo que a mente produz, o contedo concreto do que apreendido pelos sentidos, a imaginao, a memria
ou o pensamento.
111
Aps datao verificou-se que essa escultura de apenas onze centmetros tinha
aproximadamente 25 mil AP esculpida em calcrio ooltico
23
, material que no existe na
regio. Suas formas tambm so rusticamente exageradas. Esses exageros nas formas dos
seios e do ventre tentam representam a fertilidade feminina realando como podemos verificar
na figura 1.
Presumvel que os paleoamerndios, os primeiros caador-coletores, aproveitavam-se
das condies oferecidas nas cavernas, no s para se proteger das intempries como tambm
dos animais que pudessem investir contra eles. Assim, foram aos poucos desenvolvendo
recursos que superassem as dificuldades apresentadas e criaram artefatos e solues para
atender suas necessidades. Entendemos que essas reaes foram umas das primeiras frestas
para se iniciar uma cultura incipiente e fracamente integrada por consequncia instvel, mas
os primeiros passos foram dados.
Desse modo, com o passar do tempo, puderam misturar todos esses elementos as
cinzas, o carvo, a gordura e os resduos das sementes , criando figuras e registrando por
completo as sagas cotidianas, a exemplo de animais, esquemas humanos, vegetaes, dentre
outros gestos. Estes que serviram como um carimbo nas paredes das grutas marcaram o
23
Calcrios formados por pequenos gros arredondados (olitos) cimentados por carbonato de clcio e so, por
esse motivo, denominados calcrios oolticos. Disponvel em: http://domingos.home.sapo.pt/rochas_6.html.
Figura 1. Vnus de Willendorf. Uma pequena estatueta, de onze cm, talhada em pedra
aproximadamente25 mil anos AP. a mais antiga escultura feita por mos humanas.
Imagem disponvel em: http://www.plutosedge.com/_borders/Venus_of_Willendorf.jpg
112
tempo. Tal prtica paulatinamente foi se sofisticando at os homens perceberem que podiam
se ver atravs destes registros.
Desenvolveram-se culturalmente para atender s funes que precisavam
desempenhar, e por milhes de anos as estruturas dos crebros de homens e mulheres foram
se formando de maneiras distintas. Hoje, sabemos que homens e mulheres processam
conhecimento de modos diferentes, tm crenas, percepes, prioridades e comportamentos
diversos e distintos.
Na pr-histria arriscavam-se suas vidas diariamente em um mundo tanto quanto
perigoso e hostil, caando para levar o alimento suas companheiras e filhos, enfrentando
inimigos e animais violentos; por conseguinte, desenvolveram senso de direo e pontaria,
tornaram-se capazes de localizar a presa, atingi-la e lev-la at o seu abrigo. Presume-se que
achar comida era tudo o que se exigia deles, alm de protegerem seu territrio e sua
comunidade.
Por outro lado, as mulheres na caverna sentiam-se valorizadas ao v-los retornarem
com sucesso aps conseguir bastante comida. Assim, a estima sentia-se renovada pelo
reconhecimento dos seus esforos. O grupo esperava que cumprissem suas tarefas de caador-
coletores e protetores, nada mais.
Podemos definir a arte da pr-histria ou primeira arte como o perodo do
aparecimento da expresso grfica e, consequentemente, da comunicao visual. Trata-se de
uma importante fase, pois neste momento o homo sapiens conseguiu vencer as barreiras
impostas pela natureza e prosseguir com o desenvolvimento da humanidade no seu hbitat. A
identidade humana, comentada por Morin (1973), neste contexto afirma:
Aquilo que, no sapiens, se torna subitamente crucial a incerteza e a
ambiguidade da relao entre o crebro e o meio ambiente... preciso
enfrentar a oposio das solues para um mesmo problema ou a
oposio dos comportamentos tendo em vista a mesma finalidade.
preciso optar, escolher, decidir (MORIN, 1973, p.112).
As comunicaes rupestres aparecidas neste perodo trazem consigo as marcas das
transformaes registradas, a exemplo da felicidade e da aflio, do prazer e da dor, da
superioridade e da dependncia. Por isso, essa lgica de ambivalncias no permitiu a
eliminao dessas qualidades ou do carter herdado ao longo das modificaes vivenciadas
pela humanidade, e diante dos fenmenos presenciados pelo planeta. Assim foi por centenas
de milhares de anos.
Cada caador entregava parte da sua caa s mulheres que, em troca, lhe davam frutos
113
e sementes; depois de comerem, sentavam-se em volta do fogo, contavam histrias, faziam
brincadeiras e riam, pintavam as paredes do seu abrigo todos comiam juntos ao fim de cada
dia de caada, como conjecturamos.
Tambm presumvel imaginar os primeiros narradores tentando descrever suas
aventuras dirias, suas expresses faciais e gestos to importantes como o tom e o som do seu
rudo, certamente exagerando nas emoes e divertindo-se. Nesse contexto, Eisner (2005)
descreve como observado na figura 2, sobre essas possibilidades da seguinte maneira: Os
primeiros contadores de histrias, provavelmente, usaram imagens apoiadas por gestos e sons
vocais que, mais tarde, evoluram at se transformar na linguagem (EISNER, 2005, p.12).
Imaginao e Realidade
Antes do julgamento dos elementos que compem a cena escolhida, faz se necessrio lembrar
a terminologia (Imagem) origina-se na expresso latina imago, que significa figura, sombra e
imitao. Segundo Casass (1979, p.32), a imagem tida como representao inteligvel de
alguns objetos com capacidade de ser reconhecida pelos humanos, necessitando concretizar-se
materialmente. A imagem sugere variaes mltiplas de funes e significados e
transmitida numa configurao compilada. Quem emite a imagem, recorre a um conjunto de
Figura 2. Histrias contadas com imagens (EISNER, 2005, p.19).
114
sinais convencionais correspondentes a comunicaes para atingir um fim, paralelamente
sua funo de registrar o imaginrio, de significar e de dar sentido ao mundo, e que tem sido
usada como meio e registro de conhecimento.
Segundo Joly (1996), a arte, apropria da imagem para as representaes visuais, tendo
como exemplo os afrescos, as pinturas, as iluminuras, as ilustraes decorativas, os desenhos,
as gravuras, os filmes, os vdeos, as fotografias e at imagens de sntese
24
. Acerca disso,
prope uma imagem, assim como o mundo, indefinidamente descritvel: das formas s
cores, passando pela textura, pelo trao, pelas gradaes, pela matria pictrica ou fotogrfica,
at as molculas ou tomos (JOLY, 1996, p.73).
A infinita variedade de formas e coisas do mundo real somada ao imaginrio desfolha
um cabedal de imagens infinito e indescritvel. Assim, as leituras atravs das imagens que
acompanham as lembranas da infncia, e todas as memrias do mundo passado, que o
antecederam, levam a ponderar perodos histricos e entender suas vertentes, suas influncias
e, principalmente, sua temtica.
A seduo visual das imagens na histria da arte foi uma das principais estratgias
ocorridas, nas gravuras, as imprensas estabeleceram e conseguiram condies para difuso
por meio da mecanizao, em seguida veio o advento da fotografia. No s a reproduo da
imagem que causa uma riqueza de informaes e preciso, como tambm a fotografia
produziu um profundo impacto nas iconografias.
A seguir, abordamos o objeto da nossa anlise. As figuras desenhadas nas paredes das
grutas surgem o questionamento sobre autenticidade destes registros encontrados e se eles
seriam considerados como Arte ou no. Para assegurar a afirmao de que as narrativas
rupestres realmente so artsticas, recorreremos ao significado dado por Prous (2007) para
definir sobre essa manifestao:
[...] Por arte rupestre entendem-se todas as inscries (pinturas ou
gravuras) deixadas pelo homem em suportes fixos de pedra (paredes de
abrigos, grutas, mataes, etc.). A palavra rupestre, com efeito, vem do
latim rupes-is (rochedo); trata-se, portanto, de obras imobiliares, no
sentido de que no podem ser transportadas ( diferena das obras
24
Tcnicas da computao grfica destinadas criao e manipulao de imagens artificiais a partir de modelos
matemticos e geomtricos. Esclarecimentos do Autor.
Figura 3. Panormica no Stio da Gruta Lapa do Sol. Representao esquemtica humana. Detalhe na
Gruta Lapa do Sol. Iraquara, Bahia. Fotografia Gemicr Nascimento, 31de outubro 2011.
115
mobiliares, como estatuetas, ornamentao de instrumentos, pinturas
sobre peles, etc. (PROUS, 2007, p.510).
A imagem e a imaginao, atravs da concretizao das representaes rupestres se
transformaram em uma narrativa visual que articulam elementos verbais (textos que podem
ou no estar presentes) e visuais (arte, imagem e desenho), dois cdigos de signos grficos (o
primeiro digital
25
e segundo analgico
26
) em uma sequncia narrando uma histria.
No que se referem s representaes rupestres do Stio mencionado, podemos pensar
que as grutas no interior de dolinas da regio de Iraquara representam locais privilegiados
para estabelecimento de grupos amerndios pr-coloniais, que ali encontravam proteo,
disponibilidade de gua permanente e umidade por um perodo longo do ano j que as grutas
encontram-se em blocos e paredes calcrias. Os abrigos contam com passagens profundas e
paredes que apresentam suportes verticais e suportes horizontais em forma de teto.
Efetivamente, nestes locais h uma predominncia de motivos vinculados fauna e flora
conhecidas, alm dos crculos concntricos com elementos radiais e linhas com sucesso de
pontos, que constata uma grande ligao desses ancestrais com elementos da natureza.
Assim, cabe pensar ter havido, de fato, uma intencionalidade dos artistas rupestres em
representar aqueles grafismos, especficos para cada um dos abrigos por eles utilizados.
Como podemos observar, a arte rupestre traz elementos visuais e tteis nas suas
representaes, apresentando estrutura formada por componentes grficos com funo de
contar uma histria na qual se expe uma srie de acontecimentos reais ou imaginrios.
A experincia visual humana, apoiada pela memria o mais antigo registro da
histria, fundamental nesse aprendizado, para que possamos compreender o meio ambiente e
reagir a ele. Sobre as pinturas rupestres nos suportes rochosos comenta Dondis (2003, p.7):
[...] As pinturas das cavernas representam o relato mais antigo que se
preservou sobre o mundo tal como ele podia ser visto h cerca de trinta
mil anos. Ambos os fatos demonstram a necessidade de um novo
enfoque da funo no somente do processo, como tambm daquele que
visualiza a sociedade. O maior dos obstculos com que se depara esse
esforo a classificao das artes visuais nas polaridades belas-artes e
artes aplicadas. Em qualquer momento da histria, a definio se
desloca e se modifica, embora os mais constantes fatores de
diferenciao costumem ser a utilidade e a esttica.
Apesar de apresentar nveis caracterizados de elaborao, so formas de comunicao
grfica e possuem intencionalidade, empregaram tcnicas de desenho e tcnicas de narrativa,
25
Relativos ou pertencentes aos dedos. Representao de quantidade de valores variveis, por meios de conjuntos
finitos de algarismos. Aparelho eletrnico que emprega microprocessador.
26
Que pode assumir valores contnuos.
116
objetivando a transmisso de uma mensagem.
As cores e as dimenses alm da subjetividade presente na opo do local para ser
representando a cena esquematizada de um parto do so informaes legtimas passveis de
comentrio capazes de indicar as ambiguidades e linguagens simblicas presente nesse signo.
O fruto de uma reflexo a cerca do papel do ser feminino enquanto smbolo da fertilidade,
genitora e guardi da vida. Essa representao se faz presente na maioria das culturas como
comentado anteriormente e pode ser associada forma de linguagem que consiste na
transferncia da significao prpria imagem como palavra para significao, em virtude da
comparao me-terra. Inicialmente, averiguada a localizao do Desenho no painel em
relao aos elementos naturais do entorno caverna e sintetizou um orifcio com as
caractersticas que assemelhava a cavidade uterina. Pronto, estava escolhido o local para ser
representado o sublime ato de parir, de dar luz, imaginamos que o resultado do esforo
desmedido, o resultado dessa coragem como observamos na figura 4. A partir do momento em
que a mulher expressava a gravidez, certamente um turbilho de sentimentos invadem
os futuros pais.
Aquele momento do parto nico e farto em emoes. Provavelmente Ela, apoiando
suas mos nas paredes do abrigo, agachada e forando para o nascimento da sua cria,
imagina-se que Ele, poderia permanecer segurando sua mo com palavras ou sons de nimo e
Figura 4. Desenho alusivo a um possvel parto. Representao esquemtica humana. Detalhe na Gruta
Lapa do Sol. Iraquara, Bahia. Fotografia Gemicr Nascimento, 20de abril 2013.
117
provavelmente assustado.
Papis anlogos em relao ao nascimento, fcil ou no, no sabemos ou se a
companheira sentia-se mais segura tambm. Concebe-se que para tomar a deciso cortar o
cordo umbilical deveria ser uma situao embaraosa para aqueles paleoamerndios.
As condies conhecidas que hoje sabemos que acometem as mulheres no perodo
ps-parto so muito importantes, seja pelo comprometimento na condio de vida ou
componentes do seu ncleo familiar e sem dvida, poderia ser outra fonte de reflexo.
Outrora era comum a futura me serem assistidas ao longo do trabalho de parto por
outras mulheres mais experientes, que j tinham filhos e j haviam passado por aquilo. Hoje
temos a acompanhante de parto que se tornou uma pessoa imprescindvel mesmo no ambiente
mecanizado dos grandes hospitais e autorizando presenas de pessoas conhecidas, uma
maneira de diminuir os efeitos psicolgicos, do medo, a dor e a ansiedade na hora do parto.
Sem dvida, o parto tambm um momento emocional e afetivo, de apoio que mesmo para
o tempo pretrito no deveria ser diferente.
A representao esquemtica analisada da pintura foi feita com o que os humanos
primitivos dispunham em mos: pigmentos minerais de hematita
27
, abundante na caverna que
servia de moradia provisria. uma prova como foi materializao daquele acontecimento,
marcado na parede desse abrigo, uma fotografia para ser vista e revista muitas vezes, narrando
histria de um nascimento consolidando o momento no tempo passado.
Concluso
Atravs dessa histria evidencia-se a sensibilidade daquelas pessoas nmades sem
uma moradia fixa aproveitando das estruturas oferecidas pelos paredes das grutas, atravs
dos seus Desenhos nas paredes da caverna, procurou registrar os fatos vividos naquele dia,
alm de imaginar que sua aventura podia ser compreendida algum tempo depois apresentando
todo o conjunto da narrativa com a preocupao em transmitir uma situao. Assim, a
interpretao da imagem obtida por meio das descries detalhadas da Garatuja sem a
preocupao na colocao de textos. O Desenho faz por si s esse papel, apesar da
complexidade de interpretao, trazem possibilidades relevantes para nosso conhecimento
como se fossem palavras no entendimento para a aventura indicada. Portanto, certamente era
o jeito para as primeiras lies de um nascimento realizado na pr-histria.
Referncias Bibliogrficas
27
Mineral que um dos mais importantes minrios de ferro.
118
CASASS, Jos M. Teoria da Imagem. Rio de Janeiro: Salvat, 1979.
CHILDE, V. Gordon. O que aconteceu na histria. Rio de Janeiro: Zahar, 1966.
DANTO, A. The Artworld. Journal of Philosophy, v. 61, Issue 19, American Philosophical
Asociation Division Sixty-First Annual Meeting (Oct., 15, 1964), p. 580.
DONDIS, Donis A. A sintaxe da linguagem visual. So Paulo: Martins Fontes, 2003.
EISNER, Will. Narrativas Grficas. So Paulo: Del Mundo, 2005.
JOLY, Martine. Introduo Anlise da Imagem. Traduo de Maria Appenzeller.
Campinas: Papirus, 1996.
MORIN, Edgar. O enigma do Homem. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1973.
NASCIMENTO, Gemicr. Aventuras de Piteco
e os Grafismos Primitivos de Iraquara:
Um Recurso Didtico-Pedaggico para Atividades de Educao Ambiental. Feira de Santana:
UEFS Editora, 2012.
PROUS, Andr. Arqueologia Brasileira. Braslia: Editora Universidade de Braslia.
Revista do Patrimnio Histrico e Artstico Nacional N
0
33. Braslia: Ministrio da Cultura.
2007.
SENET, Andr. O homem descobre seus antepassados. Belo Horizonte: Editora Itatiaia,
1959.
119
POR UMA ECOLINGUSTICA DO IMAGINRIO: ARCO DO AMANHECER COMO METFORA DE
LINGUAGEM, INTER-RELAO E MEIO-AMBIENTE.
Genis Frederico Schmaltz Neto (Nelim/Unb)
Opportet haereses esse
28
Michel Maffesoli
01. Explicaes iniciais
Todo territrio exibe em sua entrada um convite curiosidade, ao desconhecido,
ocupao. s vezes, moldado em madeira no formato de portes, outras, sistematizado em
arames que elucidam o ao. Ainda que pouco extensos ou escandalosos, esses terrenos
parecem ter a necessidade de serem delimitados: preciso marcar que pertencem e a quem
pertencem. No seria diferente hoje com os estudos perpetuados pelas cincias humanas, os
estudos da linguagem.
Pesquisadores constroem portas e levantam muros. Depois de estipulados
religiosamente os limites metodolgicos de um campo de investigaes, cadeados se firmam
nas maanetas e os arames se tornam farpados. J no h mais uma anlise de discursos, mas
uma vertente do filsofo da moda estampado nos detalhes do corpo. Aquele terreno est
prximo a este, mas isso no se pode dizer.
Em contrapartida aos marceneiros do intelectualismo marxista, surge de tempos em
tempos pensadores que visam fazer das cincias humanas uma ferramenta para compreender a
si e ao Outro; sentem a necessidade dos muros, mas a eles no se limitam. Por exemplo, em
meio aos anos sessenta, Gilbert Durand se destacou na Frana com a complexa e estonteante
teoria do Imaginrio. Hoje, na primeira dcada do sculo XXI, Hildo Honrio do Couto
ascende no Brasil com a Ecolingustica. Ambos os territrios esto com as portas abertas e
nos convidam a percorr-los.
A ns cabe adentrar.
...
Pretendo, neste artigo, adentrar os territrios da Ecolingustica e do Imaginrio
tentando uma conjuno terica reflexiva por meio da anlise do arco de entrada da
comunidade brasiliense religiosa intitulada Vale do Amanhecer. Para isso, descreverei o
sistema mstico que estrutura o Vale tais quais as premissas fundamentais de ambas as teorias,
em um processo de construo dialtico.
28
preciso que haja heresias. preciso que haja alguns advogados do diabo (Maffesoli 2004:20).
120
02. Sobre o Vale
No preciso ser estudioso das imagens para se vislumbrar com a comunidade de
orientaes extraterrestres, intitulada Vale do Amanhecer, sediada nos arredores de Braslia.
Fundada em 1964 por Neiva Chaves Zelaya popularmente conhecida por tia Neiva hoje se
estende pela Europa, Amrica e Oriente em seus mais de seiscentos e quatorze templos.
Os adeptos do Amanhecer creem-se operrios de um terreno fsico-ideolgico-
espiritual responsvel pela manuteno da ponte reconstruda entre os astros, o mundo dos
espritos e a Terra, s semelhanas de uma quarta dimenso sobreposta realidade (Maus
200:146). Orientados pela estrela candente
29
, hierarquizam-se seus espritos representantes
(prncipes persas, ninfas, servos de caboclos e preto-velhos), sua vocao medinica e tempo
de integrao ao Vale.
Para se integrar comunidade religiosa preciso se iniciar em uma sequncia de
rituais especficos, mas a circulao pelo bairro brasiliense livre. A arquitetura mescla
influncias espritas ao catolicismo, bem como traz elementos egpcios, gregos, evanglicos e
africanos sua linguagem e modo de vida (Carvalho 1991:18). A ideologia apregoada ensina
que pertence ao Vale aqueles que querem cooperar para uma purificao do Mundo e de si
mesmos.
O povo do Vale do Amanhecer eufemiza a passagem do tempo e a Morte sustentando a
crena de que somos seres reencarnados e que espritos algozes devem ser enviados para uma
rodoviria intergalctica. A integrao entre um mundo paralelo e o trreo fsico demarcada
j no arco que guarda a entrada dos templos, que aqui chamaremos de Arco do Amanhecer
30
.
Erigido em pedra, colorido de azul, amarelo, vermelho e branco, exibindo um sol na
via que d acesso entrada, uma lua na via que d acesso sada e a figura de um jaguar em
seu centro, o arco de entrada do terreno sagrado carrega consigo a crena de que, segundos
seus adeptos, h cavaleiros de luz presentes responsveis por proteg-los (Marques 2009:52).
Por isso deve-se fazer sinal de reverncia.
Interessante observar que o sincretismo j anunciado pelo arco e atravs dele.
Anlises sociais, antropolgicas ou artsticas facilmente poderiam ser feitas. No entanto,
preciso lanar mo de uma teoria que compreenda a comunidade mstica ao mesmo tempo em
que dela se distancia para traar uma interpretao fidedigna. Para isso, elejo as teorias do
29
Estrela candente o nome atribudo a uma nave extraterrestre gigantesca responsvel pela formao do
lago Titicaca e dirigida pelo deus da doutrina, Pai Seta Branca.
30
Conferir anexo I.
121
Imaginrio de Gilbert Durand e a Lingustica Ecossistmica de Hildo do Couto para construir
uma anlise enrgica.
03. Teorias e suas conjunes
Gilbert Durand sistematizou bases antropolgicas que intentam a descrio e
interpretao das diversas manifestaes humanas visando perceber como as angstias
primordiais do homo sapiens (e a maneira como lida com elas) se funcionalizam
imageticamente. Para isso, vale-se de releituras das noes de smbolo e mito observando o
trajeto antropolgico do imaginrio, percurso que passa por intimaes do meio-social que se
somam ao bio-psico-pulsional.
Por imaginrio definimos o modo como o homem operacionaliza sua imaginao, esta
ltima sendo a faculdade humana de produzir, conciliar, reconhecer e gerenciar imagens. A
imagem, para Durand, sempre simblica porque a superfcie da imagem, enquanto
identifica e reconhece sua prprima literacidade, mascara outra face oculta, apreendida como
fonte de uma verdade diferente (Wunemburger 1997:2007).
Portanto, ao observarmos a escolha dos elementos SOL e LUA presentes no arco,
preciso perceber no apenas o figurado, mas a profundidade que o smbolo sugere. O sol, para
Chevalier (2009:836), costuma representar sempre uma divindade j que seus raios tocam as
superfcies terrestres, aos modos da influncia celestial sobre o Homem. Alm de ser
encarregado da Luz elemento que dissipa quaisquer trevas guia os mortos ao reino finito.
O fato de um sol estar no arco, provoca uma isotopia
31
com o prprio nome da
comunidade, Amanhecer. A mesma bola reluzente que traz o amanhecer convida aqueles que
adentram o Vale a se iluminarem ao mesmo tempo em que se deixarem tocar pelos dizeres
extraterrestres. A luz, nesse ponto, associa-se racionalidade no uma velada, mas como
prtica humana de sistematizar seus pensamentos e um aviso de que a clarividncia
repousar sobre aqueles que ousarem adentrar.
Portanto, aquele que entra no Vale e que atravessa o arco est sujeito ao toque divino
do Pai Seta Branca e seus caboclos. Estar iluminado de sua obscuridade terrena. Em
contrapartida, aquele que se atreve a sair da comunidade, estar regido pela Lua, a me do
plural (Durand 2002:287), representao mais uma vez do sincretismo evidente. A Lua
satlite natural privado de Luz prpria sendo apenas reflexo do Sol: quem deixa o Vale
31
A recorrncia de traos semnticos comuns durante o texto denomina-se figurativizao. Temas
espalham-se pelos textos e so recobertos por figuras. A reiterao dos temas e a recorrncia das figuras
no discurso denomina-se isotopia (BARROS, D. L. P. Teoria semitica do texto. So Paulo: tica, 2010, p. 68).
122
carecer dos preceitos divinos.
Eis o imaginrio que comea a se expor por meio das imagens do Vale do Amanhecer.
Os smbolos divinos que se contextualizam nos elementos escolhidos pelo homem apontam
para a direo da juno e justapostos, da conjuno espiritual. A base que os sustenta as
PEDRAS cooperam e consolidam mais uma vez a isotopia mstica.
Para Chevalier (2009:696) a pedra desempenha papel fundamental de relao entre
cu e terra uma vez que, segundo a lenda de Prometeu, as pedras conservam odor humano e
caem do cu. Muitos templos so construdos alicerados em sua instncia bruta, j que suas
massas permanecem inertes, como uma condio de servido ao terreno. E por isso as pedras
em torno do arco compe o nmero 08
32
: este , universalmente, o nmero do equilbrio
csmico (Chevalier 2009:651), marcando, novamente, a unio sincrtica da comunidade.
Interessante observar que, at ento, a anlise imaginria construda parte dos
elementos fsicos e o modo como esto organizados espacialmente. Nesse ponto j podemos
evocar os estudos de Hildo do Couto (2007:19): a ecolingustica visa o modo como inter-
relaes se do entre um povo e o meio-ambiente onde se encontra. Para seu funcionamento,
parte-se de noes ecolgica no como mera transposio terminolgica, mas como releitura
lingustica.
Para tal entende-se que h uma trade que percorre o social, o fsico e o mental,
construindo uma estrutura que permite compreender como a comunicao se estabelece e de
que forma se pode compreend-la, uma estrutura fundamental que toma a Lngua como uma
teia de inter-relaes, um ecossistema (Couto 2013:82); temos o ecossistema lingustico ou
ecossistema fundamental da lngua.
Percebemos, portanto, que a Lngua portuguesa brasileira dita pelos membros da
comunidade e por ela se comunicam, o Povo do Amanhecer. Suas interaes acontecem
dentro do Territrio guardado pelo arco e dentro dele se constitui uma linguagem especfica
advinda das constantes relaes entre a lngua e que acabam gerando novos vocbulos. O
sincretismo religioso se estende para arquitetura, roupas, discurso e se impregna nos
vocbulos. Especificadamente, a linguagem e interao se adquam e se transformam
conforme o espao fsico: quando ao redor do lago Titicaca (lago artificial no formato de uma
estrela de cinco pontas), devem se comportar de determinado modo, portar vestes com cores
especficas, conversar com seus espritos guias utilizando mantras especficos.
O espao altera e interfere no imaginrio. Isso est evidente, sobretudo, no captulo 10
32
Conferir anexo II.
123
de Campos do Imaginrio, de Gilbert Durand. Nele o antroplogo demonstra que os
brasileiros tendem a ser mais orientados por smbolos maternos e aconchegantes devido
formao geogrfica do territrio. Da o modo de se comunicar com toques excessivos e a
receptividade em relao a estrangeiros. A lngua brasileira, a interao calorosa, o
territrio tropical e todas essas inter-relaes constituem um ecossistema.
No ecossistema mstico do Vale do Amanhecer, a dualidade e promiscuidade religiosa
fundamentam e concretizam as interaes entre os adeptos, seu Povo, e o terreno arquitetado e
planejado segundo as orientaes especficas extraterrenas. Retomando o arco do Amanhecer,
podemos notar que o Territrio explcito e delimitado conforme o espiritual: todos adentram,
mas o Povo especfico referencia seus espritos guias. O fato de o arco possuir um construto
de pedras traz tona a essncia mstica extraterrestre racionalidade limitada do Homem.
Os smbolos ecoam pelas construes do Amanhecer, mas estas foram arquitetadas
guiadas pela inter-relao em nvel da psique entre o ambiente fsico, o territrio onde
estabelecem seus preceitos, crenas e as ideologias advindas das imagens outras que
permeiam as religies que formam o Vale. Contata-se que ambas as teorias visam observar
como o Homem interage seja consigo mesmo, por meio de materializaes de seu
inconsciente (no caso do Imaginrio e o trajeto antropolgico do imaginrio), seja com o
Outro, influenciado pelo fsico e social (no caso da Ecolingustica e o ecossistema
fundamental da lngua).
Psquico Lngua
Biolgico
Pulsional
Intimaes do meio-social Povo Territrio
A observncia da tendncia de uma ecologizao do mundo (Maffesoli 2009:14) que
se aplica agora lingustica no parte restrita do Imaginrio tal qual a coerncia simblica
inerente ao Homem no depende de um meio-ambiente fsico ou mental. As imagens do Povo
atravessam o trajeto antropolgico do imaginrio e o pulsional/psquico est intrnseco
lngua. No territrio coexistem os elementos que cooperam para as intimaes do meio social,
e o tringulo ecossistmico de Couto, assim como o percurso circular de Durand, unem-se.
124
04. Consideraes finais
Segundo D. P. R. Pitta (2006:10), o estudo conjunto da natureza e do imaginrio, do
universo e do homem, seria a maneira mais direta para se introduzir um dilogo que permita
uma melhor atuao frente aos diferentes desafios de nossa poca. Para tanto, as tentativas
metodolgicas de unir as cincias do imaginrio e da ecolingustica emergem de modo
profcuo como mais uma das tentativas do Homem de compreender nosso agora.
Precipitado, talvez, seria afirmar que o imaginrio pode e deve ser includo em um
dos ecossistemas da lngua como faz Nenoki do Couto (2012:11, grifo meu) uma vez que a
premissa fundamental da teoria das imagens esteja no trajeto antropolgico do imaginrio,
que por si s j inclui uma inter-relao com o biolgico, o social e o inconsciente s
semelhanas da trade ecolingustica.
O universo simblico a que se debruam os seguidores de Durand no nada mais
nada menos que todo universo humano (1996:79) e traz-lo ou apresent-lo como elemento
constituinte de uma das bases de compreenso do ecossistema fundamental da lngua seria
reduzir a plurivocidade das imagens que nosso Antroplogo tanto evoca em seus escritos
(1996:73-77; 2002:23), diluindo, dessa forma, os itens metodolgicos fundamentais
percepo do imaginrio.
Persistido esse caminho, o mrito de solidificar ao estudo ecolingustico as direes do
imaginrio estar restrito s coincidncias de correntes filosficas e assim os avanos do
estudo goiano do imaginrio comporiam os pargrafos seguintes dura crtica que Durand
(2002:24) faz a Sartre por se ater s descries do funcionamento da imaginao e sua
valorizao para logo coisifica-la.
Uma possvel e evidente sada seria se apegar ao conceito de holismo, da
125
ecolingustica, como explica Couto (2007:30): tudo est relacionado a tudo, nada est
absolutamente isolado de nada. Seguindo esse postulado, analisar o reservatrio concreto da
representao humana (Durand 1996:65), que chamamos de imaginrio, seria uma postura
ecolingustica, j que para considerar determinado objeto deve-se ater ao ecossistema
fundamental da lngua e ao funcionamento da imaginao. De modo prtico, tal unio
culminaria na constante pregao de Couto (2007:17) de que cada pesquisador deve
continuar estudando uma rvore, sem esquecer que ela faz parte de uma floresta.
Nenoki do Couto (2013:90) insiste que tudo est na mente do indivduo [...] o
crebro que constitui o lcus dos processos mentais em que se inscreve o imaginrio. Dito
dessa forma tem-se a impresso de que o imaginrio estaria restrito ao ecossistema mental
enquanto os demais seriam ignorados, o que no ocorre. o que a ecolinguista explica:
O centro do imaginrio o ecossistema mental da lngua,
mas o social e o natural tambm desempenham um papel
relevante em todo o processo. O natural fornece suporte
fsico, natural. O social sanciona o que produzido pelo
mental.
preciso que a confluncia entre ambos os domnios do saber seja mais bem
funcionalizada e explicitamente estruturada. O que se v so possibilidades de abordagem e
uma sequncia de primeiras anlises como a realizada no arco do Vale do Amanhecer
surgirem no mbito acadmico. Talvez seja hora de pensar no apenas em uma conjuno
terica, mas em uma metodologia. Urgente.
Referncias
CARVALHO, J. J. Caractersticas do fenmeno religioso na sociedade contempornea. In: Srie
antropolgica 114. Braslia: UNB, 1991.
CHEVALIER, J; GHEERBRANT, A. Dicionrio de smbolos: mitos, sonhos, costumes, gestos,
formas, figuras, cores, nmeros. 23 ed. Rio de Janeiro: Jos Olympo, 2009.
COUTO, E. K. N. N. Ecolingustica e Imaginrio. Braslia: Thesaurus, 2012.
________________. Ecolingustica: um dilogo com Hildo Honrio do Couto. Coleo
Linguagem e sociedade. Vol. 4. Campinas, SP: Pontes, 2013.
COUTO, H. H. Ecolingustica: estudos das relaes entre lngua e meio ambiente. Braslia:
Tessaurus, 2007.
DURAND, G. As estruturas antropolgicas do imaginrio: introduo arquetipologia geral.
Trad. H. Godinho. So Paulo: Martins Fontes, 2002.
________. A f do sapateiro. Trad. S. Bath. Braslia: UNB, 1995.
126
________. A imaginao simblica. Lisboa: 70, 1993.
MAFFESOLI, M. A parte do diabo: resumo da subverso ps-moderna. Trad. C. Marques. Rio
de Janeiro, Record: 2004.
MARQUES, E. G. Os poderes do estado no Vale do Amanhecer: percursos religiosos, prticas
espirituais e cura. Dissertao de mestrado. Universidade Nacional de Braslia. 2009.
PITTA, D. P. R. As dimenses imaginrias da natureza. Anais XIV Ciclo de estudos sobre o
imaginrio. UFPE. 2006.
Wunenburger, J. J. Philosophie des images. Paris, PUF, 1997
Anexos
Arquivo pessoal. Julho/2013.
127
LINGUSTICA ECOSSISTMICA CRTICA (LEC) ou ANLISE DO DISCURSO
ECOLGICA (ADE)
Hildo Honrio do Couto (UnB)
1. Introduo
A lingustica ecossistmica crtica, como o prprio nome j sugere, faz parte da lingustica
ecossistmica, que a verso da ecolingustica praticada em torno do que veio a ser chamado
de Escola Ecolingustica de Braslia. Assim sendo, importante que antes de mais nada
saibamos de que tratam essas diversas disciplinas. Comecemos pela ecolingustica. Ela tem
sido definida como sendo o estudo das relaes entre lngua e meio ambiente. Uma outra
definio que tem sido preferida nos ltimos tempos a de que ela o estudo das relaes
entre lngua e seu meio ambiente. A presena do possessivo seu pode parecer de somenos
importncia. No entanto, ela tem consequncias que afetam as prprias bases da teoria
ecolingustica.
A lingustica ecossistmica tem esse nome por partir do ecossistema e tudo que lhe diz
respeito. Com isso j fica implcito que ela uma disciplina eminentemente ecolgica. Trata-
se de uma variante da ecolingustica que tem sido chamada tambm de ecologia lingustica,
uma vez que seus partidrios se consideram eclogos, em p de igualdade com os que
praticam ecologia biolgica. Do contrrio, estaramos fazendo lingustica ecolgica, como a
esmagadora maioria dos ecolinguistas europeus que, nesse sentido, abandonam a definio
original de Haugen (1972). Os partidrios da ecologia lingustica usam conceitos ecolgicos a
partir de dentro, ao passo que os da lingustica ecolgica partem de fora para dentro, ou seja,
usam conceitos ecolgicos como metforas.
A lingustica ecossistmica crtica (LEC) a parte da lingustica ecossistmica que se dedica
ao estudo de textos e discursos. Por esse motivo, ela mais comumente chamada de anlise
do discurso ecolgica (ADE). No que subsegue, poderei usar ora uma, ora outra expresso.
Em termos de siglas, usarei LEC, ADE e at ADE/LEC, indistintamente.
2. Ecolingustica
O objeto da ecolingustica foi pioneiramente mencionado por Sapir (1912), mas ela
inicialmente definida por Haugen (1972), antes do aparecimento do nome pelo qual
conhecida. No incio da dcada de noventa do sculo passado ela deslanchou para valer com a
publicao de Fill (1987, 1993) e Makkai (1993). Autores como os apresentados na seo 3
mais abaixo a tm definido como sendo o estudo das relaes entre lngua e meio ambiente
(Couto 2007). Mais recentemente, porm, ela tem sido entendida como sendo o estudo das
interaes entre lngua e seu meio ambiente, como se v nos autores comentados na seo 4.
A presena do possessivo seu na segunda definio tem profundas implicaes
epistemolgicas. Sem ele, a definio parece deixar implcito que a disciplina trata s de
questes de ambientalismo, ou que ela se dedicaria ao estudo de discursos ambientais. O seu
da segunda definio indica que se trata das relaes que se do na lngua quando considerada
em seu meio ambiente que, na verdade, triplo (natural, mental, social).
Desde seu nascedouro com Fill e seguidores na Europa, a ecolingustica tem se dedicado
preferencial e quase exclusivamente ao primeiro tipo de estudo. Tanto que um de seus ramos
mais conhecidos a ecolingustica crtica, de que falarei na seo seguinte. Geralmente ela
tem tratado de temas ambientais. No entanto, esse assunto poderia perfeitamente ser tratado
tambm por filsofos, antroplogos, crticos literrios (se se tratar de um texto literrio que
envolva temas ambientais), jornalistas e at pelo leigo. Todo mundo pode dar palpites em
questes ambientais. Um bom exemplo de ensaio de ecolingustica crtica avant la lettre
128
Carvalho (1989). Esse tipo de estudo tem sido chamado tambm de lingustica ecocrtica e
lingustica ambiental.
H algumas poucas e honrosas excees a essa tendncia na prpria Europa, alm da Austrlia
e dos Estados Unidos. O filsofo da linguagem e ecolinguista alemo Peter Finke tem
enfatizado sempre que a ecolingustica no s lingustica ambiental. A ecologia pode ser
um paradigma para as cincias da linguagem no sentido mais amplo da palavra, ou seja, em
sua opinio pode-se estudar qualquer aspecto da linguagem da perspectiva ecolingustica.
Nisso Finke seguido pelo tambm alemo Wilhelm Trampe e at certo ponto pelo
ecolinguista catalo Albert Bastardas i Boada. Como veremos na seo 4, o grande problema
com a ecolingustica crtica e congneres o tomarem conceitos da ecologia como meras
metforas para o estudo de fenmenos da linguagem, assunto discutido mais detalhadamente
em Neves & Bernardo (este volume). A lingustica ecossistmica brevemente exposta na seo
4 procede de modo bem diferente, partindo de dentro da prpria ecologia, no buscando seus
conceitos e transplantando-os para a lingustica. Mas, antes de entrar nesse assunto,
discutamos mais pormenorizadamente a ecolingustica crtica.
3. Ecolingustica Crtica
Embora os germes para a ecolingustica crtica j se encontrassem em Fill (1987), uma das
maiores influncias que ela tem sofrido da anlise do discurso inglesa, sobretudo em ideias
de Norman Fairclough. Autores como Richard Alexander e Arran Stibbe referem-se a ele em
grande parte de suas produes. A bem da verdade, talvez uns 80% dos ecolinguistas europeus
sejam dessa linha. A prpria expresso ecolingustica crtica surgiu por sugesto da anlise
do discurso crtica de Fairclough. Como j vimos, ela poderia ser perfeitamente tambm
chamada de lingustica ecocrtica ou de lingustica ambiental.
Fill (1996) salienta que h duas tendncias no seio da ecolingustica crtica, que ele chamou
simplesmente de ecolingustica. Em sua opinio, possvel partir da ecologia e aplicar
princpios ecolgicos, conceitos e mtodos lngua e a sua cincia, mas tambm a outros
sistemas culturais. Essa linha de orientao teria comeado com o prprio Haugen (1972),
mas seria praticada tambm por autores como Wilhelm Trampe, Peter Finke e Hans Strohner,
muitas vezes usando a metfora do ecossistema. A segunda tendncia inverte a direo,
partindo da lngua e da lingustica, bem como de seus mtodos, aplicando-os a temas
ecolgicos, sobretudo a possveis causas lingusticas e manifestaes lingusticas da crise
ecolgica (crise ambiental) (p. 3). Essa linha teria comeado com a famosa conferncia que
Michael Halliday proferiu no encontro da AILA em 1990 (cf. Halliday 1990). Nela entraria
toda a ecolingustica crtica. Fill salienta ainda os dois lderes da chamada Escola
Ecolingustica de Odense, Dinamarca, quais sejam, Jrgen Dr e Jrgen Chr. Bang. Essa
orientao representa um tipo de construtivismo lingustico.
Em Ramos (2009: 69) temos uma tentativa de distinguir ecolingustica crtica de anlise do
discurso crtica. De acordo com ele, enquanto a primeira define como objecto o discurso,
incorrendo, naturalmente, e em consequncia disso, na considerao e anlise da lngua, a
ecolingustica crtica explora em planos de relevo semelhante a lngua e o discurso,
considerando que aquela que, em muitas manifestaes discursivas, configura um discurso
no ecolgico, favorecendo vises antropocntricas do mundo e a separao e ascendncia
dos seres humanos face aos restantes seres vivos. Ainda em sua opinio, so identificveis
na ecolingustica crtica duas linhas de orientao: a par de uma linha que elege o sistema
lingustico como objecto privilegiado de estudo, h uma outra que visa a anlise discursiva e
textual das manifestaes verbais. Nas sees 5 e 6, abaixo, temos mais discusso sobre a
anlise do discurso (crtica) comparativamente anlise do discurso ecolgica (ADE) aqui
proposta.
129
4. Lingustica Ecossistmica
Seguindo autores como Haugen, Finke e Trampe, entre muitos outros, comeou a surgir uma
variante da ecolingustica que parte da ecologia de modo radical em dois sentidos: primeiro,
por partir do conceito central dessa disciplina biolgica, que o de ecossistema, donde o
nome lingustica ecossistmica; segundo, porque a lingustica ecossistmica no toma
conceitos da ecologia biolgica e os aplica nos estudos da linguagem. Pelo contrrio, ela
parte da macroecologia, em condio de igualdade com a ecologia biolgica, motivo pelo qual
um nome alternativo para ecolingustica em geral ecologia lingustica. Os conceitos centrais
da lingustica ecossistmica so exatamente os mesmos da ecologia biolgica, como
populao, territrio e interaes.
O fato que, como se pode ver no prefixo eco-, a ecolingustica uma disciplina ecolgica,
inclusive no sentido literal. Se ela uma disciplina ecolgica, devemos comear sua
caracterizao pela procura dos conceitos centrais da macroecologia, entre os quais se
sobressai o de ecossistema. Na ecologia biolgica, ele a totalidade formada por uma
populao de organismos vivos, seu meio ambiente (habitat, bitopo ou territrio) bem como
pelas interaes que se do tanto dos organismos com o meio quanto das que se do dos
organismos entre si. Na ecologia lingustica, a populao de organismos o povo (P), o meio
ambiente (fsico) o territrio (T) e as interaes so a lngua (L). O todo formado por povo,
lngua e territrio o ecossistema lingustico. Em seu interior, PT constitui o meio ambiente
da lngua. Tanto o ecossistema lingustico como o meio ambiente da lngua que se encontra
em seu seio podem ser natural, mental ou social.
Se a lngua constituda pelas interaes que se do no interior do ecossistema lingustico,
faz-se necessrio examinar esse conceito em pormenor. Na verdade, existem quatro
ecossistemas lingusticos. O primeiro deles o ecossistema natural da lngua, que consta de
um povo (P) especfico, como os kamayurs do Parque Indgena do Xingu, a parte do Parque
que eles ocupam como seu territrio (T) e o meio tradicional de seus membros comunicarem
entre si, sua lngua (L), que o kamayur. No interior desse ecossistema, P e T constituem o
meio ambiente natural da lngua kamayur. Mas, a lngua se forma, fica armazenada e
processada no crebro dos falantes. A temos o ecossistema mental da lngua, constitudo
pelo crebro como o locus das interaes mentais da lngua. As prprias interaes se do nas
conexes neurais, no que constitui a mente, que no nada mais do que o crebro em
funcionamento. No caso, o crebro e a mente juntos constituem o meio ambiente mental da
lngua. Mas, para o leigo, a lngua basicamente um fenmeno social. Ecolinguisticamente, o
ecossistema social da lngua apenas um entre ouros quatro. Ele consta de uma coletividade
de indivduos como seres sociais. A sociedade o locus das interaes entre esses indivduos
sociais. Sociedade mais coletividade formam o meio ambiente social da lngua.
Esses trs ecossistemas convergem no ecossistema fundamental da lngua, tambm
conhecido como ecossistema fundacional da lngua. Para o leigo, no entanto, ele pode ser
chamado simplesmente de comunidade. Ele geral, por abranger os trs outros. nele que se
fazem as questes fundamentais sobre a lngua. Uma delas a que o leigo faz, sempre que
ouve o nome de uma lngua (em geral) pela primeira vez (L). Sua primeira pergunta que
povo (P) fala essa lngua. A segunda onde se localiza esse povo (T). Como no poderia
deixar de ser, o meio ambiente fundamental da lngua PT.
Tudo isso constitui o que se poderia chamar de os galhos e as folhas da rvore da linguagem.
O tronco constitudo pela ecologia da interao comunicativa. Ela consta de um falante,
que se autodenomina EU, e um ouvinte, que ele chama de TU (VOC). Aquele ou aquilo de
que ele fala e/ou aquele ou aquilo que est com ele ELE
1
. Aquele ou aquilo que est com o
ouvinte ou a que(m) ele se refere ELE
2
. ELE
1
mais ELE
2
constituem ELES. Nas interaes
concretas, frequentemente ELE
1
mais ELE
2
e ELES so substitudos por outros nomes, como
rvore, nuvem, pessoa, constituio, computador etc., vale dizer, todos os substantivos da
130
lngua, os nomes, so substitutos dos pronomes, contrariamente ao que a tradio gramatical
quer nos fazer crer. As demais classes de palavras tambm nascem a, uma vez que nos
enunciados produzidos os atos de interao comunicativa contm aes (verbos), atributos
(adjetivos), partculas que unem palavras (preposies) e oraes (conjunes) etc. Enfim,
todo o vocabulrio da lngua nasce a.
H outras possibilidades combinatrias dos participantes da ecologia da interao
comunicativa, algumas das quais so usadas por determinadas lnguas, outras no. Por
exemplo, o tupi e o guarani distinguem EU + ELE
1
de EU + TU. A primeira combinao o
ns exclusivo or; a segunda, o ns inclusivo jand. Outras lnguas fazem outras distines,
como o crioulo ingls tok pisin, da Papua-Nova Guin. A lngua como interao consta ainda
de um conjunto de regras interacionais, formuladas por Couto & Couto (2013), e de outro de
regras sistmicas. Na verdade, as regras sistmicas (gramtica) so parte das interacionais.
Tanto as primeiras quanto as segundas existem para eficcia da interao comunicativa. Isso
provoca uma reviravolta na viso estruturalista de lngua, para a qual lngua basicamente
gramtica. Ecolinguisticamente, porm, as regras sistmicas so coadjuvantes das regras
interacionais, elas so tambm interacionais. Por fim, a ecologia da interao comunicativa
envolve tambm um cenrio em que o drama dos atos de interao comunicativa se
desenrola. dos atos de interao comunicativa que nasce a lngua, ontogentica e
filogeneticamente.
5. Lingustica Ecossistmica Crtica
A ecolingustica tem um escopo bastante abrangente, holstico, de modo que nada do que
tange linguagem lhe estranho. Por isso, a verso dela tratada na seo anterior, a
lingustica ecossistmica, apresenta uma variante que se dedica ao discurso, chamada
lingustica ecossistmica crtica (LEC), por sugesto tanto da ecolingustica crtica quanto
da anlise do discurso crtica de Norman Fairclough. Ela foi proposta pela primeira vez por
escrito em Couto (2013). Por tratar de anlise do discurso, o nome mais comum para a LEC
anlise do discurso ecolgica (ADE). Mas, algum poderia perguntar o que h de diferente
na abordagem da ADE/LEC, ou seja, o que ela faz que no poderia ser feito tambm por essas
outras disciplinas. o que pretendo discutir na presente seo.
Na verdade, h inmeros ensaios no contexto dessas e de outras disciplinas que tm tratado de
questes ambientais. Grande parte dos ecolinguistas tem se dedicado a esse tipo de estudo,
como se pode ver nas coletneas publicadas e nos encontros ecolingusticos. J vimos que at
mesmo estudiosos de outras reas tm incursionado pela anlise de discurso ecolgico. O
que a ADE prope diferente, ela no faz apenas anlise de discurso ecolgico, antiecolgico
ou pseudo-ecolgico. Pelo contrrio, ela faz anlise ecolgica de discurso. Como parte da
lingustica ecossistmica ela uma disciplina da ecologia que faz estudos de fenmenos da
linguagem, no uma disciplina da lingustica que faz estudos de fenmenos ecolgicos. Ela
lembra muito a proposta da ecolinguagem (Matos et. al., este volume). No contexto da anlise
do discurso crtica j h alguma coisa que vai na direo das ideias da ADE/LEC. Uma delas
a chamada anlise do discurso positiva (Martin & Rose 2003; Vian Jr. 2010). No entanto, ela
continua seguindo as mesmas diretrizes da anlise do discurso crtica.
A anlise do discurso tradicional, tanto a filiada a Pcheux quanto a de linha anglo-saxnica,
enfatiza sempre a ideologia e as relaes de poder. Isso muito importante, no entanto, a
ideologia no caso a marxista. Em Pcheux e seguidores, essa ideologia filtrada pela obra
de Louis Althusser, portanto, radicalmente marxista. A de linha inglesa parte de um
marxismo menos radical, filtrado por Gramsci e pela Escola de Frankfurt, mas continua sendo
ideologia marxista. Ora, a ideologia marxista tem pelo menos trs caractersticas que so
inaceitveis em uma viso ecolgica do mundo. A primeira delas a nfase no conflito,
sobretudo entre classe dominante e classe dominada. Os praticantes de ADE preferem
131
ligar-se viso de mundo ecolgica e s filosofias orientais, como o hindusmo, o budismo e
o taosmo (Couto 2012). Como no caso de conceitos polares, como bom-ruim, grande-
pequeno, escuro-claro etc., a ideologia do conflito os considera como antagnicos, um
contra o outro, um ou outro. Na viso oriental, eles so complementares. S existe o bom
em relao ao ruim, o grande s frente ao pequeno, o claro apenas comparativamente ao
escuro e assim por diante. Isso porque essa filosofia enfatiza a harmonia e tudo que lhe diz
respeito, no o antagonismo das ideologias.
A segunda caracterstica do marxismo que a ADE no aceita o antropocentrismo, que em
Marx aparecia sob o manto de humanismo. Se os humanos so os reis da criao tudo o
mais existe para servi-los, portanto, eles podem usar e abusar de tudo. Essa ideologia est nos
levando a um beco sem sada, uma vez que estamos destruindo todas as bases para a vida na
face da terra, em uma atitude suicida. A ADE, seguindo a ecologia profunda (Naess 1973,
1989, 2002; Couto 2012: 49-67), defende a autorrealizao de todos os seres. Os humanos
no tm mais direito vida do que os demais seres vivos.
O terceiro trao do marxismo que a LEC no pode aceitar a defesa da ditadura do
proletariado. Praticamente todos os pases que supostamente adotaram o regime marxista
ficaram com a ditadura e deixaram o proletariado de lado. Na verdade, todos os regimes
caricaturalmente chamados de marxistas so ditaduras hereditrias, como ainda se pode ver
nos regimes jurssicos da Coreia do Norte e de Cuba. Uma vez que, segundo se diz, no
possvel evitar as ideologias, no caso da ADE podemos falar em ideologia da vida, ou
ideologia ecolgica, ou seja, aquela que defende intransigentemente a vida e luta contra o
sofrimento.
Repetindo, a ADE/LEC, ao contrrio da anlise do discurso tradicional, pe a nfase na defesa
da vida na face da terra e em uma luta contra tudo que possa trazer sofrimento. verdade que
o sofrimento e a dor so uma proteo que os seres vivos tm contra a morte. Se no
existissem a dor e o sofrimento, eles no se importariam com a mutilao do prprio corpo.
Por isso, todo ser vivo est sempre procura do prprio bem-estar, ou da prpria
autorealizao, como se diz na ecologia profunda, e essa autorealizao no nada mais nada
menos do que o que os humanos chamam de bem-estar e felicidade. A morte existe para dar
continuidade vida, para que a natureza recicle a matria de um ser utilizando-a em outro ou
outros seres vivos. No entanto, pelo menos nas situaes em que dor, sofrimento e morte
podem ser evitadas, devemos evit-las. o que sugere a ADE/LEC.
Em conformidade com as categorias da lingustica ecossistmica, e uma vez que somos seres
no apenas animais (natural), mas tambm temos uma vida psquica (mental) e vivemos em
sociedade (social), devemos fazer distino entre sofrimento fsico (natural), mental e social.
O sofrimento fsico ocorre quando h ferimentos, mutilaes ou outro tipo de agresso fsica.
Todo sofrimento fsico um movimento na direo da morte, que o sofrimento fsico
mximo. Procurar a autorealizao evit-los ou ir contra eles. preciso, porm, esclarecer
que h graus de sofrimento. Um belisco (fsico) pode ser muito menos intenso do que uma
tortura mental, xingamentos, assdios etc. Ser difamado e desmoralizado perante a
comunidade tambm um sofrimento social bem mais forte do que o belisco.
Se um estudioso de LEC for analisar um discurso que fale de uma mulher que apanha todo dia
do marido que chega bbado em casa (alguns desses maridos chegam a matar a mulher), ele a
defender no por ser mulher, como faz a ideologia feminista nem por se tratar de um ato de
machismo em si. Ele a defender por ser um ser vivo (humano) que sofre. Assim, ela ser
defendida partindo de uma causa muito maior do que a justa luta das feministas contra os
machistas, como reconhecido na bem-vinda Lei Maria da Penha. Assim procedendo, a ADE
estar considerando a mulher uma igual do homem, no seu antagonista. O mesmo princpio
vale para o caso de manifestaes de racismo, de homofobia, de etnocentrismo etc. No caso
de algumas prticas tradicionais como o tratamento que a mulher recebe em alguns pases
132
muulmanos (como a exciso do clitris), do infanticdio entre alguns grupos amerndios e
assemelhados, temos o dilema de se ficar do lado da vida ou de tradies culturais arraigadas.
A posio da ADE muito clara: ela se posiciona decididamente do lado da vida e contra o
sofrimento. Com efeito, tradies culturais mudam, mas a morte irreversvel. No entanto,
preciso ter em mente que a ADE fornece apenas linhas gerais a partir das quais se podem
julgar casos particulares. Na verdade, cada caso um caso, portanto deve ser avaliado no
contexto a que pertence, mas sempre tendo como pano de fundo essas diretrizes. O quer fazer
com o sofrimento da criana que ser sacrificada frente ao sofrimento do grupo social se a
tradio no se mantiver?
Vejamos sinoticamente algumas caractersticas da anlise do discurso (AD) e da anlise do
discurso crtica (ADC) frente s da anlise do discurso ecolgica. Em primeiro lugar, a AD(C)
encara o objeto de estudo do ponto de vista ideolgico-poltico, quando muito psicanaltico,
como na AD francesa. A ADE pe em primeiro plano a questo da vida na face da terra, a
ecologia, que parte da biologia. Se para falar em ideologia, que seja a ideologia ecolgica
ou da vida. A AD(C) est em sintonia com a filosofia ocidental, que enfatiza a competio
(marxismo: conflito), o que pode levar ao dio, violncia e guerra. A ADE tem mais
afinidade com as filosofias orientais (hindusmo, budismo, taosmo) que enfatizam a
cooperao, o que leva harmonia, ao amor. A AD(C) parte do ponto de vista lgico (from a
logical point of view), como defende o filsofo americano Willard Quine; ela no refuta nem
critica a viso de mundo ocidental, que reducionista. A ADE parte do ponto de vista
ecolgico (from an ecological point of view), propugnado pelo ecolinguista e filsofo da
linguagem alemo Peter Finke (1996). Esse ponto de vista abrangente, holstico. Combate a
cosmoviso ocidental. A AD tende a apenas analisar e criticar os estados de coisas de que
trata, com rarssimas excees, como a ADC. A ADE analisa, critica e prescreve/recomenda
comportamentos que favoream a vida e evitem o sofrimento. A AD(C) humanista, logo,
antropocntrica como o marxismo, cuja filosofia assimila, como se pode ver em Ramos
(2009). A ADE biocntrica, ecocntrica, como a ecologia profunda. A AD(C) critica o
estruturalismo, sobretudo a gramtica gerativa. A ADE critica o estruturalismo, a gramtica
gerativa e a AD(C). A AD(C) dedica-se a discursos produzidos, logo, a produto, algo feito,
coisa, o que significa que ao fim e ao cabo ela implica uma certa reificao da lngua. A ADE,
por ser parte da lingustica ecossistmica, d preferncia ao prprio processo de produo de
discursos (das Fliessen selbst [o prprio fluxo], Fill, 1993). A ecologia da interao
comunicativa o ncleo central da lingustica ecossistmica, e da ADE. A AD(C) dedica-se
apenas ao ecossistema social, quando muito chegando at o ecossistema mental, como as
tmidas influncias da psicanlise em alguns trabalhos em AD francesa. A ADE leva em conta
no s o ecossistema social e o mental, mas tambm o natural, com o que se aproxima da
ecocrtica (Couto 2007: 434-442). Ela tende a incluir at mesmo a dimenso espiritual.
6. Categorias da ADE/LEC
Passando considerao de alguns conceitos ecolgicos que podem (e devem) ser usados na
anlise de textos/discursos, comecemos pelo de diversidade. Sua aceitao implica uma
atitude de tolerncia para com o outro, sobretudo quando diferente. A no aceitao implica
intolerncia, o que pode conduzir agressividade e violncia, sobretudo contra as minorias
de todos os tipos. Sua aceitao pressupe uma poltica de cooperao e harmonia, conceito
que j est previsto na prpria ecologia biolgica, no caso, nas relaes harmnicas, que
podem se dar no s intraespecfica, mas tambm interespecificamente. No primeiro caso,
temos as relaes entre os seres humanos; no segundo, entre eles e seres de outras espcies de
animais. O contrrio seria a subordinao dos mais fracos aos mais fortes e a consequente
imposio da vontade dos segundos sobre os primeiros. Como se v, aqui entra a questo do
poder. Isso pode levar ao fundamentalismo que, como sabemos, frequentemente chega at
133
violncia. Por isso, a ecologia profunda que inspira a ADE recomenda uma atitude la
Gandhi (uma das fontes de inspirao da ecologia produnda), isto , firme, porm, no
violenta. Enfim, a ADE/LEC respeita a diversidade natural, mental e social.
Intimamente associada diversidade temos a questo das interaes (inter-relaes,
relaes). No interior do ecossistema, nada est isolado, tudo est de alguma forma
relacionado a tudo, direta ou indiretamente. Havendo uma diversidade de seres e inter-
relaes, pode-se dizer do prprio ecossistema que ele uma cadeia ou teia de inter-relaes
que se do entre organismos, entre organismos e meio, e assim por diante. Haver tanto mais
relaes quanto mais diversidade de organismos e de meios houver no ecossistema, de modo
que os dois conceitos esto intimamente inter-relacionados. As interaes esto intimamente
associadas harmonia do todo, donde o holismo, uma vez que em seu interior que elas se
do. Elas so multilaterais, multipolares e pluricntricas. Os totalitarismos, ao contrrio, so
monocntricos e centrpetos, motivo pelo qual muitas vezes levam ao conflito, uma vez que
no aceitam a diversidade que as inter-relaes multilaterais implicam.
Ainda na dinmica das inter-relaes, h uma constante adaptao de organismos ao meio e
do meio aos organismos, alm das adaptaes dos prprios organismos entre si. A adaptao
do meio aos organismos era menor no comeo filogentico da vida, mas vem se
intensificando a cada dia que passa, sobretudo devido ao desenvolvimento tecnolgico (essa
adaptao pode levar a um beco sem sada). O mundo e a cultura (inclusive a lngua) so
dinmicos, esto sempre mudando, se adaptando s novas situaes que a natureza (e a
cultura) lhes apresenta. No se adaptar oferecer resistncia, o que pode tambm levar
desarmonia, ao conflito e violncia, quer contra outros seres humanos, quer contra os
demais seres vivos e natureza em geral, como se v nas aes predatrias. A viso
darwinista falava em competio e sobrevivncia do mais forte. As novas pesquisas em
ecologia tm mostrado que sobrevive mais aquele que se adapta mais, no necessariamente o
mais forte. Se fosse assim, os dinossauros no teriam desaparecido. Adaptar-se procurar
viver em harmonia com o meio e com o outro, conceito central do taosmo e, indiretamente,
da ecologia profunda.
Adaptao a cara da moeda cuja coroa a evoluo. Hoje em dia sobejamente sabido que
a evoluo se d ciclicamente. Tudo na natureza se move em ciclos. Veja-se a alternncia
dia/noite, as estaes do ano, o ritmo biolgico de nosso organismo, entre outros. Na prpria
cultura, a inclusa a linguagem, as mudanas se do por ciclos. Basta observar a moda.
Quantas vezes j no vimos os estilistas, os que ditam a moda, dizerem que agora o chique o
que se fazia nos anos 60 ou nos anos 80, por exemplo? Basta criar-se um termo para designar
isso, no caso retr. Em Couto (2012: 179-199) h alguns exemplos de evoluo cclica na
literatura e na linguagem. Com isso, entramos no domnio da reciclagem. Ela tem a ver
diretamente com o consumismo capitalista desenfreado. S recicla quem tem conscincia de
que o consumismo e a descartabilidade so prejudiciais manuteno da vida na face da terra,
sobretudo a longo prazo. Para agir assim, necessrio que se pratique uma economia
sustentvel, que leve a ecologia em considerao.
A ideologia ecolgica defende os trs r, ou seja, reduo, reutilizao e reciclagem.
Descartar tudo em vez de reduzir, reutilizar e reciclar exige uso e abuso dos recursos da
natureza, e no s da natureza viva, alm de polu-la. Nossa interveno nela est se
intensificando a cada dia que passa e se tornando cada vez mais predatria. Isso traz
sofrimento aos seres vivos, como o consumo exagerado de carne, que exige o sacrifcio de
centenas, de milhares, de milhes de animais. A prpria criao extensiva de gado de corte, e
at de leiteiro, exige o estabelecimento de imensas pastagens, com uma nica espcie de
gramnea ou capim, a braquiria, por exemplo, o que implica um sacrifcio (morte) na
diversidade da flora e at da fauna. Para reduzir a ltima, como no caso dos insetos, recorre-se
aos pesticidas. Aqui a reduo prejudicial, uma vez que reduz a diversidade de seres vivos
134
no ecossistema, vale dizer, provoca sua morte e, frequentemente, aniquilamento, alm de
matar os organismos que consomem os insetos.
Voltando viso holstica, ao todo do ecossistema, notamos que nessa qualidade ele se inter-
relaciona com os ecossistemas vizinhos, fornecendo e recebendo matria, energia e
informao deles. Dito em outras palavras, esse todo apresenta a caracterstica da abertura,
s vezes tambm chamada de porosidade. Essa caracterstica do ecossistema, juntamente com
a diversidade, enseja a tolerncia para com os de outras espcies, outros grupos tnicos, vai
contra o etnocentrismo, o racismo e os demais ismos acima mencionados. Ela nos ensina
que nada est isolado, portanto, recebe influncia de fora, alm de enviar seus influxos para
fora. Ela nos leva a ser receptivos ideia do outro, mesmo quando no concordamos com ela.
Aceit-la no no sentido de adot-la, mas no de respeit-la. Afinal, o certo e o errado so
conceitos criados socialmente, logo, so relativos. Alm de esses conceitos no existirem na
natureza, variam de comunidade para comunidade e de um segmento social para outro. Alis,
se quisermos usar o conceito de errado, ele se aplicaria ao que traz sofrimento como
entendido no presente contexto. O que no o traz no pode, legitimamente, ser considerado
errado.
Existem diversos outros conceitos ecolgicos de que se pode lanar mo na ADE. Entre eles,
temos as j mencionadas relaes harmnicas versus relaes desarmnicas, tanto
intraespecficas quanto interespecficas. Entre as relaes harmnicas interespecficas,
poderamos mencionar o inquilinismo, o comensalismo e o mutualismo. No que tange s
relaes desarmnicas interespecficas, sobressaem-se o predatismo (predador versus
presa) e o parasitismo. Aqui algum poderia alegar que o predador traz dor e sofrimento
presa. verdade, no entanto, isso parte da cadeia trfica, ou cadeia alimentar. um modo
de a natureza manter o prprio equilbrio, a prpria sustentabilidade. Entre as relaes
desarmnicas intraespecficas, poderamos trazer baila a competio, que se d tambm
nas interespecficas. Aquilo que se chama comunho em lingustica ecossistmica
(pressuposto para a interao comunicativa) se enquadra nas relaes harmnicas
intraespecficas. Enfim, na prpria ecologia geral, bem como em suas vertentes filosfica,
sociolgica etc., j temos os conceitos necessrios e suficientes para efetuarmos estudos
crticos sobre discursos/textos que falem de diversos assuntos. Nos dias atuais no precisamos
mais ter medo do biologismo. Usar a ecologia geral como base para os estudos culturais (e
lingusticos) assumir o ponto de vista da vida, justamente estudada pela biologia, de que a
ecologia geral (e a lingustica) faz parte.
Devemos lutar inclusive contra a depredao da natureza no animada. Se no cuidarmos das
guas, por exemplo, elas podem ser poludas a tal ponto que podem envenenar no s a ns,
mas tambm aos demais seres vivos. Elas podem mesmo desaparecer, com o que todos
pereceriam. Do mesmo modo devemos ter cuidado para no poluir o ar demasiadamente. Do
contrrio no teremos oxignio para respirar. No devemos usar determinados produtos que
causam o efeito estufa, pois, do contrrio, poderemos morrer todos assados ou, ento, com
cncer de pele. No se trata de uma viso apocalptica nem catastrofista. Trata-se de ser
realista. O que j vimos at agora aponta claramente para essa direo. Por que no assumir
uma atitude de prudncia?
7. Mini-anlise de um texto abstrato
Analisar textos/discursos ambientais, antiambientais e pseudoambientais no apresenta
grandes problemas. Isso pode ser feito a partir de qualquer perspectiva, como j foi sugerido
acima. Na verdade, a AD e a ADC quando se debruam sobre questes desse tipo fazem-no
como qualquer modelo faria, envolvendo questes ideolgicas. A ADE, por seu turno, em
princpio pode ser usada para a anlise de qualquer tipo de texto, inclusive textos abstratos.
o que vou tentar mostrar agora a propsito de um silogismo, uma das manifestaes verbais
135
mais abstratas, que conteria apenas relaes lgicas. O silogismo que ou usar o que se v
logo a seguir, que nos foi legado pela tradio aristotlica.
Todo homem mortal. Ora, Scrates homem, logo, mortal.
Para comeo de conversa, o silogismo constitudo de trs sentenas afirmativas. Como
alguns linguists e filsofos da linguagem tm demonstrado, todo enunciado afirmativo uma
resposta a alguma pergunta, mesmo que tcita. No caso, os enunciados todo homem mortal,
Scrates homem e Scrates mortal certamente surgiram como uma pergunta filosfica,
mesmo que no formulada expliciamente. No caso, teramos algo como todo homem
mortal?, Scrates homem? e Scrates mortal? Com isso, os enunciados do silogismo
entram indiretamente no ncleo da lingustica ecossistmica, e da ADE/LEC, que a ecologia
da interao comunicativa. Trata-se de algo como os provrbios. Os paremilogos tm
demonstrado que mini-textos como gua mole em pedra dura tanto bate at que fura devem
ter sido proferidos em algum ato de interao comunicativa concreto, que deve ter se dado em
algum momento do passado. Nesse caso, foram resposta a perguntas, mesmo que tcitas, do
tipo gua mole bate em pedra dura?, gua mole fura pedra dura? etc.
Outro ponto a ser observado o tema do silogismo, a morte. Essa questo tem a ver
diretamente com a da vida, uma s existe em relao outra. E quando falamos em vida,
estamos deixando implcita a morte, pois, s os seres vivos morrem. J estamos nos
aproximando da viso ecolgica de mundo, uma vez que a vida estudada pela biologia, de
que a ecologia faz parte.
De acordo com a definio de dicionrio, silogismo um raciocnio dedutivo estruturado
formalmente a partir de duas proposies, ditas premissas, das quais, por inferncia, se obtm
necessariamente uma terceira, chamada concluso, como est dito no Houaiss. Como nos
ensinam os manuais de lgica, ele no descreveria nada, seu valor estaria apenas nas relaes
lgicas. Vejamos os itens lexicais do silogismo, ou seja, homem, Scrates e mortal. Os dois
primeiros se referem a algo existente no mundo natural, enquanto que o terceiro reporta-se a
qualidade, propriedade ou atributo de entidades nele existentes. Esse fato j fora apontado por
Russel (1982: 56-57), reportando-se a Parmnides. Portanto, os trs pilares do argumento
remetem ao mundo natural, de modo imediato. Sem eles no haveria a menor possibilidade de
conexo lgica. Enfim, como j haviam demonstrado os pensadores da Port-Royal, s h
conexo lgica entre entidades reais do mundo real.
Quanto aos conectores lgicos, podem ser interpretados em termos de incluso, como se v na
figura abaixo:
Como se v, Scrates um ser vivo, humano, que pertence classe homem. Este ltimo, por
seu turno, pertence classe dos seres vivos que, por s-lo, morrem, so daquele tipo de ser
que mortal. Ora, a incluso algo que existe na natureza independentemente de qualquer
outra coisa ou ser vivo que possa intervir nele. Couto (2007: 140) menciona o caso do caroo
no interior de uma fruta. Ele est l sem que ningum o tenha colocado, sem que haja
ningum para observ-lo, ou para cri-lo discursivamente. uma das relaes mais
primitivas, no sentido de originais. a relao por excelncia. Tanto que a preposio que a
codifica, em/dentro de, existe em todas as lnguas do mundo e uma das primeiras a ser
adquirida pela criana. Vale dizer, at as relaes lgicas tm a ver com o mundo natural em
que se desenrola do drama da vida.
136
8. Concluses e perspectivas
Pode parecer que a proposta de mais um modelo de anlise do discurso seria desnecessria,
uma vez que j existem tantos no mercado. A tal ponto que frequentemente eles se digladiam
entre si. Como j se disse a propsito do funcionalismo em lingustica, eles so um
conglomerado de teorias que s tm em comum a oposio ao papa. No caso, o papa o
estruturalismo, sobretudo o gerativismo. Eu tenho plena convico de que a ADE/LEC traz
novas ideias para a anlise do discurso, isenta de ideologias poltico-partidrias, religiosas etc.
Melhor dizendo, a ADE/LEC parte da ideologia da ecolgica. Como foi enfatizado em
diversas passagens acima, a AD tradicional se baseia direta e indiretamente na ideologia
marxista. Ora, essa ideologia uma das piores partes do marxismo. Diversas outras categorias
do materialismo dialtico so perfeitamente assimilveis pela viso ecolgica de mundo aqui
perfilhada. Entre elas temos a da totalidade, que lembra o holismo ecolgico, e a dialtica, que
se assemelha s interaes ecolgicas.
H basicamente dois tipos de estudos cientficos vlidos. O primeiro aquele que traz dados
novos, como quando a fsica descobre um novo corpo celeste, um novo planeta, uma nova
galxia. Infelizmente, porm, no mbito das cincias humanas no possvel descobrir fatos
novos. Mas possvel apresentar uma nova interpretao para fatos j interpretados por outros
modelos tericos. Se essa nova interpretao for mais interessante do que as anteriores, o
modelo terico pode ser considerado vlido. Caso contrrio, ele pode ser descartado. Eu estou
convicto de que a ADE pode lanar uma nova luz sobre o mercado da anlise do discurso.
Pode at acontecer de ela no pegar, ou seja, no ser aceita e/ou no ser considerada como
vlida, mas que ainda no existia uma proposta de anlise de discursos partindo da viso
ecolgica de mundo, isso l verdade.
Referncias
Carvalho, Isabel C. M. 1989. Territorialidades em luta: Uma anlise dos discursos
ecolgicos. Fundao Getlio Vargas, Dissertao de Mestrado.
Couto, Elza K. N. N. do & Hildo Honrio do Couto. 2013. O discurso fragmentado dos
meninos de rua e da linguagem rural: Uma viso ecolingustica. IV SIMELP, UFG, 02-
05/07/2013. Disponvel em:
http://www.simelp.letras.ufg.br/anais/simposio_10.pdf , p. 425-436 (acesso: 23/12/2013).
Couto, Hildo Honrio do. 2007. Ecolingstica: estudo das relaes entre lngua e meio
ambiente. Braslia: Thesaurus Editora.
_______. 2012. O tao da linguagem: Um caminho suave para a redao. Campinas: Pontes.
_______. 2013. Anlise do discurso ecolgica (ADE). Disponvel em (acesso: 23/12/2013):
http://meioambienteelinguagem.blogspot.com.br/2013/04/analise-do-discurso-ecologica.html
Fill, Alwin. Fill, Alwin. Wrter zu Pflugscharen: Versuch einer kologie der Sprache. Viena:
Bhlau, 1987.
_______. 1993. kologie: Eine Einfhrung. Tbingen: Gunter Narr Verlag.
_______. (org.). 1996a. Sprachkologie und kolinguistik. Tbingen: Stauffenburg.
_______. 199b. kologie der Linguistik Linguistik der kologie. In: Fill (org.), p. 3-16.
Finke, Peter. 1996. Sprache als missing link zwischen natrlichen und kulturellen
kosystemen. berlegungen zur Weiterentwicklung der Sprachkologie. In: Fill (org.), p.27-
48.
Halliday, Michael A. K. 1990. New ways of meaning: The challenge to applied linguistics.
Journal of applied linguistics 6, p. 7-36.
Haugen, Einar. 1972. The ecology of language. Stanford: Stanford University, p. 325-339.
137
Makkai, Adam. 1993. Ecolinguistics: Toward a new **paradigm** for the science of
language? Londres: Pinter Publishers.
Martin, J. R. & D. Rose. 2003. Working with discourse: Meaning beyond the clause. Londres:
Continuum.
Naess, Arne. The shallow and the deep, long-range ecology movement: A summary. Inquiry
16, p. 95-100, 1973.
_______. Ecology, community and lifestyle. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
_______. Life's philosophy - Reason & feeling in a deeper world. Athens: The University of
Georgia Press, 2002.
Ramos, Rui. 2009. O discurso do ambiente na imprensa e na escola: Uma abordagem
lingustica. Lisboa: fundao Calouste Gulbenkian / Fundao para a Cincia e Tecnologia,
2009.
Russerl, Betrand. 1982. Histria da filosofia ocidental. Braslia: Editora da UnB.
Sapir, Edward. 1912. Language and environment. American anthropologist 14 p. 226-242.
Vian Jr., Orlando. 2010. Gnero do discurso, narrativas e avaliao das mudanas sociais: A
anlise de discurso positiva. Cadernos de linguagem e sociedade vol. 11, n. 2, p. 78-96.
_______. 2001. Identity and manifoldness. In: Fill & Mhlhusler (orgs.): 84-90.
138
CULTURA, IMAGENS E SIMBOLISMOS entre a norma e a vida
Dra. Iduina MontAlverne Braun Chaves
A razo e a cincia apenas pem os homens em relao
com as coisas, mas aquilo que liga os
homens entre si a representao, afetiva, porque vivida
e que constitui o imprio das imagens. (Durand,
1995, p. 120)
[...] o discpulo confia no mestre para que este o instrua e
o conduza enquanto ele no for capaz de se conduzir a si
prprio. A condio de discpulo provisria, uma
situao passageira que aguarda a habilitao que
tornar o indivduo apto a se conduzir a si prprio.
(Gusdorf, 1995)
O ensinar v com os olhos do corao.(Hillman,1999, p.
11)
INTRODUO
As epgrafes traduzem o meu interesse em uma temtica pouco valorizada na
academia e pelos professores. Elas sustentam e adubam minhas ideias sobre a complexidade
do real, a imaginao simblica e a cultura do imaginrio. Em linhas gerais, o objetivo deste
trabalho contribuir para uma reflexo sobre as relaes entre pesquisa, narrativa, pesquisa
narrativa, imaginrio e formao de professores. Pretendo, falar da profunda contribuio que
a complexidade, a pesquisa narrativa e o universo simblico podem trazer para a construo
de uma cultura escolar mais autntica, mais dinmica, mais feliz e mais humana/sensvel.
Sinto que o suporte simblico, pelo retorno s fontes de representao, pela descoberta e pela
inventividade pode ressuscitar o desejo natural do ato de aprender, do ato de ensinar. Alm
disso, penso que o retorno do reencantamento da cultura, pela abertura das portas ao devaneio
potico, atravs da imaginao criadora, associada aos prazeres da inteligncia e da
criatividade traro de volta, ao aluno e aos professores suas competncias humanas perdidas.
Esse pressuposto me conduziu a estudos e pesquisas sobre o imaginrio, a narrativa, a
epistemologia da complexidade e a busca de uma metodologia, de heursticas enfim, para
melhor compreender os mecanismos e a funo imaginante. Entendo ser um caminho
complexo, mas possvel.
O convite para participar desta mesa intitulada Imaginrio e (auto)biografias, com
Maria Helena Menna Barreto Abraho e Lcia Peres uma honra. Um privilgio. Um grande
139
desafio. Agradeo.
Pretendo mostrar a importncia da narrativa para nossa capacidade de
pensar/ponderar sobre questes e problemas educacionais, desde que a funo da narrativa
fazer nossas aes inteligveis para ns mesmos e para os outros. O interesse em narrativa
como um modo de conhecimento, explora o sentido da sua importncia como um meio: (1) de
informar a pesquisa e a prtica educacionais; (2) de explorar e de proporcionar aos
professores a possibilidade de refletir sobre suas aes e ao mesmo tempo enriquecer o
entendimento de sua prpria prtica; (3) de ajudar aos pesquisadores a ganhar um
entendimento mais complexo do ensino e das prticas educacionais; (4) para reconstruir a
experincia pedaggica e torn-la acessvel para reflexo; (5) pelo qual a narrativa ajuda a
ganhar melhor entendimento do ensino, abrindo novas avenidas de pesquisa e apontando para
melhorar a prpria prtica.
O termo narrativa deriva do Snscrito gnarus (saber, ter conhecimento de algo)
narro (contar, relatar) e que chegou at ns por via do latim. (Dicionrio de Termos
Literrios, Carlos Ceia). Para Plato o termo aplica-se a todos os textos produzidos pelos
prosadores e poetas, pois ele considera como narrativas as narraes de todos os
acontecimentos passados, presentes e futuros. Sendo a narrativa a enunciao de um discurso
que relata acontecimentos ou aes, para a sua definio necessrio tomar em considerao
a histria que ela conta e o discurso narrativo que a anuncia. Assim, a histria ser o contedo
do ato narrativo, ou seja, seu significado, enquanto o discurso que a d a conhecer ser o seu
significante. A narrativa , pois, em ltima anlise, a instncia surgida da simbiose entre a
histria e o discurso narrativo.
A narrativa est ganhando aceitao como um importante instrumento para o
desenvolvimento profissional. Os professores podem usar histrias de suas experincias
profissionais para refletir sobre a sua prpria prtica, articular valores e crenas, dar forma a
teoria de ensino e para um melhor entendimento do processo decisrio - as histrias interagem
com os leitores, com os ouvintes e com outros contadores de histrias. Estas histrias so
frequentemente base para reflexo, discusso e debate. A narrativa levanta tambm a questo
da voz e da autoria.
Uma histria de experincias vividas em espaos educativos, e contada por algum,
pode levantar muitas questes significativas sobre o ensino, relacionadas ao currculo, a
questes epistemolgicas e paradigmticas, a opes metodolgicas, a relao teoria/prtica, a
tomada decises, as relaes professor-aluno, ao ser profissional/professor, as situaes de
ensino/aprendizagem, dentre outras. uma forma de explorar a complexidade do que
140
significa ensinar - no s o "qu" , o " como", mas tambm os " porqus" e os " quando" do
processo de ensino e de aprendizagem. Alm do mais, abre possibilidades, para outros
professores pensarem a sua prtica e contarem as suas prprias histrias.
O uso metodolgico da narrativa traz aos pesquisadores o contato com questes
metodolgicas, epistemolgicas, ontolgicas, numa perspectiva multidisciplinar, com suporte
da antropologia e da literatura. Nesse sentido, podemos falar tanto de pesquisa em narrativa,
quanto de pesquisa narrativa, significando que a narrativa pode ser ambos, fenmeno e
mtodo. A este respeito, Clandinin e Connely (1994) para preservar a distino chama o
fenmeno de histria e a investigao de narrativa.
A pesquisa narrativa faz uso de materiais pessoais tais como histrias de vida,
conversas e escritos pessoais. Ela convida reflexo e requer do pesquisador o exame do
contexto onde se situa a pesquisa e suas implicaes mais amplas, alm de provocar o olhar
dos pesquisadores e dos professores para coisas e situaes que, para eles, passavam
despercebidas, tais como alguns dos seus prprios valores e compromissos, as obrigaes do
sistema escolar, as relaes no ambiente escolar, as formas de avaliao, algumas prticas de
ensino que favorecem a alguns estudantes em detrimento de outros etc.. Contar histrias dar
voz ao self. Uma voz to reprimida na nossa escola seja de nvel bsico ou superior. Nas
palavras de Robinson and Hawpe (1986), o estoriar um mtodo de sucesso para organizar a
percepo, o pensamento, a memria e a ao. (p.12)
Entendo que a confidncia de nossas histrias pessoais no meramente uma maneira
de contar a algum nossa vida. Elas so meios pelos quais identidades podem ser modeladas
e seu estudo traz revelaes acerca da vida psquica, social e cultural do contexto onde vivem
os narradores.
Este trabalho um recorte de um estudo realizado numa escola pblica do Rio de
Janeiro. Em linhas gerais, a proposta deste estudo foi (re)pensar a organizao escolar
considerando sua dimenso cultural, na qual se realizam as prticas simblicas
organizadoras do real social. Na escola, entendo, que as manifestaes do imaginrio podem
ser apreendidas pelo estudo da cultura e do imaginrio dos grupos. No caso deste trabalho,
optei pelo grupo de professores por acreditar que suas aes portam uma organizao
profunda do imaginrio, que se traduz em comportamentos (expresses simblicas de
modelos culturais) peculiares nas suas mltiplas mediaes/interaes na escola. O imaginrio
ser entendido como campo geral da representao humana, sem qualificao explicativa ou
prxica, como o espao sinalizado por sensaes e imagens perceptivas, como campo
balizado pelo conjunto de representaes numa cultura dada e como conjunto das relaes de
141
imagens que constitui o capital pensado do homo sapiens (Paula Carvalho, 1998). Em outras
palavras, o imaginrio uma rede de imagens na qual o sentido dado na relao entre elas,
as quais se organizam de acordo como uma certa estruturao, de modo que a configurao
mtica do nosso imaginrio depende da forma como arrumamos nele nossas fantasias
(Teixeira, 2000)
Durand (1989) levando em conta as convergncias da reflexologia, da tecnologia e da
sociologia agrupa as representaes correspondentes s dominantes reflexas em trs
estruturas a herica, a mstica e a sinttica. Essas estruturas
33
so consideradas como
uma forma transformvel, desempenhado o papel de protocolo motivador para todo um
agrupamento de imagens e susceptvel de se agrupar numa estrutura mais geral (p. 44).
Para o autor, h dois regimes de imagens : o Regime Diurno e o Regime Noturno.
Os Atores: imagens e cenas da vida de professores
Eu queria compreender a alma da escola, atravs das vozes dos professores, pois com
Atih (2009) entendo que a perspectiva da alma parte sempre de imagens, projees e
fantasias, como valores de compensao para a conscincia lgica e, nessa medida, como
mensagens sumamente significativas da dimenso latente patente, mesmo porque os
fantasmas da subjetividade (individual e coletiva) , infiltram-se, queiramos ou no, no modo
como pensamos e construmos a realidade objetiva da educao formal(p.5).
As histrias pessoais, reforamos, no so meramente uma maneira de contar a algum
nossa vida. Elas so meios pelos quais identidades podem ser modeladas e seu estudo revela
sobre a vida social e cultural do contexto onde vivem os narradores. Bem no sentido de
Dewey, quando afirma que estudar Educao estudar experincia visto que o estudo da
experincia o estudo da vida nas suas vrias nuanas: as epifanias, os rituais, as metforas,
as rotinas.
As tcnicas utilizadas, para levantamento/apreenso da dimenso simblica/cultural da
escola, foram o Teste Arquetpico de Nove Elementos - AT-9, entrevistas com grupos ou
33
Estas estruturas do imaginrio, propostas por G. Durand, so a manifestao de uma fantstica
transcendental que assegura uma funo de eufemizao inerente ao fenmeno humano, a partir da anlise, num
nvel terico, das imagens provenientes de diversas culturas, expressas nas narraes mticas, na literatura e
nas diversas formas de expresso artstica. A validao dessa teoria, "a formulao experimental " do
imaginrio, ou "a modelizao dos micro-universos mticos ", foi realizada pelo psiclogo francs Yves
Durand, que criou um "modelo normativo", chegando sua reproduo potencial num teste por ele
denominado de Teste Arquetpico de Nove Elementos, o AT-9.
142
pessoas isoladas, histrias de vida, relatos de experincia. As entrevistas se realizaram num
clima informal e partiram de questes norteadoras como: por que ser professor, sua vida de
professor, rituais e sua vida de professor no CEJK. O AT-9 a formulao experimental do
imaginrio que, a partir da arquetipologia geral de Gilbert Durand, se configura como a
elaborao de universos mticos, respostas angstia original oriunda das vivncias do
Tempo e da Morte, que so modos de se dizer a existncia do inconsciente. Para este
autor, representar por meio de figuras, de smbolos, os rostos do tempo e da morte,
procurando, dessa maneira, domin-los: o princpio constitutivo da imaginao, uma
forma de expressar o desejo de diminuir a angstia da sensao de sentir o tempo passar - a
imaginao funcionando como criadora de imagens de teor funesto (morte e tempo mortal)
e de imagens de vida, triunfante sobre a morte. A aplicao e a anlise do AT-9 permitem a
apreenso da estrutura do imaginrio pessoal e grupal. O teste composto por um desenho,
uma narrativa e um questionrio. Nove arqutipos (estmulos - uma queda, um monstro
devorador, uma espada, um refgio, uma coisa cclica, um personagem, gua, um animal e
fogo) so oferecidos aos testados para que, a partir deles, registrem-nos simbolicamente, de
forma grfica, em uma folha de papel, mantendo uma ligao entre eles atravs da histria.
Esta, vai fechar o significado dos smbolos, possibilitando a anlise do resultado do teste. O
questionrio e a narrativa esclarecem a compreenso do desenho e trazem novos elementos.
Caracteriza-se, assim, o reino do simbolismo ou da "imaginao simblica" , ou seja, todo o
universo de significantes oriundos da relao entre comportamentos psquicos-fisiolgicos da
espcie humana e os diversos meios ambientes csmico e scio-naturais.
O estudo do imaginrio de um grupo de professores do Jlia (como a escola
chamada pelos professores) nos mostrou o papel que a funo fantstica desempenha na ao
desses mestres. As imagens levantadas no estudo do imaginrio do grupo-escola em questo,
atravs das histrias de vida e do Teste AT-9, apresentaram respostas arquetpicas, cujo
significado, profundo, deram pistas para a compreenso de seus modos de pensar, sentir e agir
no cenrio do Jlia, ou seja, seu trajeto (antropolgico) entre a norma e a vida, entre as
pulses subjetivas e assimiladoras desses sujeitos e as intimaes objetivas que emergem do
meio csmico e social (do Jlia, em particular, e da sociedade em geral). Para este trabalho,
apresentarei a narrativa da histria de vida da professora Gin, e a anlise de seu Teste AT-9 .
Gin
Gin uma bela mulher de 44 anos, professora competente, esposa dedicada e me
143
exemplar. Foi educada e criada na cidade do Rio de Janeiro. O pai de Gin, economista, o
filho mais velho de uma baiana casada com um portugus que chegou ao Brasil com 13 anos
de idade. Sua me, artista, filha nica de pai paranaense e me carioca descendente de
espanhis.
Os avs maternos de Gin moravam na Tijuca, um bairro conceituado no Rio de
Janeiro, enquanto que os avs paternos residiam num bairro mais simples. Gin afirmou haver
uma diferena de classe social sempre presente nesta relao.
Suas memrias de infncia no so das mais prazerosas.
Minha av teve depresso, ficou catatnica. E, eu com meus nove
anos ficava perplexa na busca de entender o ser humano, de entender
aquela loucura. Ficava pensando: como era que ela cuidava da casa,
organizava nossas frias de vero, fazia bifes maravilhosos para mim.
Donde vinha aquela fora, de uma pessoa que estava meio morta e,
meio viva? Meus pais eram muito mais filhos do que pais.
Gin tem um irmo mais novo do que ela quatro anos. Como filha mais velha pagou
um preo alto.
Me colocaram num lugar de escuta muito grande - minha me se
queixava da vida dela comigo, da sua relao com meu pai. Eu no
tinha instrumentos para dar conta daquela situao. E, eu tive que
aprender, a no tomar partido, pois eu queria, eu precisava ter me e
pai. Mais adiante, ao estudar psicologia, na viso sistmica, disse ela,
encontrei um apoio, um eixo, para entendimento do ser humano nas
suas relaes.
Um fato digno de nota. Gin conviveu sempre com o retrato de uma prima, aposto na
parede da sala principal da casa de sua av. Ela havia morrido e estava, no retrato, vestida
com o uniforme de normalista. Esse fato teve repercusses evidentes em sua vida. S na idade
adulta quando decidiu estudar e, posteriormente, clinicar na rea de Terapia Familiar,
comeou a entender essa intricada faceta de suas decises na vida.
No por acaso que comeo numa Escola Normal e me aposentarei
numa escola Normal. Quando decidi estudar para o concurso de
admisso para o curso de formao de professor, meu pai logo achou
que seria um grande esforo e que eu poderia adoecer.
Inconscientemente era a figura da prima que o amedrontava. Para
mim, naquela poca, era s uma questo financeira.
Esse reviver a entrada na profisso foi muito emocionante. Gin chorou. Parecia que ao
144
desenrolar sua histria a vida ia passando a limpo, para dar um fim diferente.
Eu passei a limpo aquela histria, afirmou Gin, estudei, me formei, era
mulher e no morri. Dei um outro fim quelas coincidncias Isto
fechou para mim, pois do meu primeiro ordenado comprei presente
para toda a famlia e, especialmente para a tia, me de minha prima
normalista que morreu. Era como se eu estivesse vivendo um
momento de gratido. A Escola Normal foi um espao de resgate, um
desabrochar de muitas coisas. Local onde realizei o meu desejo, ser
professora.
Em 1968, uma professora cheia de entusiasmo, e de medo, assumia seu primeiro
emprego numa escola em Paquet - uma pequena ilha prxima ao Rio de Janeiro, buclica na
sua tradio de piqueniques e de passeios de charrete e bicicleta.. Gin com seus 18 anos
atravessava o mar diariamente em busca da realizao do seu ideal. L encontrou apoio da
Diretora da escola, uma artista plstica, escritora, que no mediu esforos para o suporte
afetivo nesse difcil incio da carreira. Primeiros alunos, grande batalha. Como quase sempre
acontece com as novas professoras, a turma mais complicada lhe foi designada. Gin recebeu
um grupo formado de alunos novos (amedrontados, entrando pela primeira vez na escola) e de
alunos repetentes, revoltados, rotulados de incompetentes no ambiente escolar. A ecologia da
sala de aula, para uma principiante, foi uma ameaa - alunos batucando, uma confuso sem
limites. O banheiro foi o palco de suas lgrimas. Um rito de passagem bem dolorido. Mas
Gin, intuitivamente, conseguiu conquistar as crianas, negociando a batucada : sexta-feira
seria o dia da batucada geral, primeiro nas carteiras, depois com instrumentos, at que uma
banda foi organizada pelos alunos. Felizes, estas crianas conseguiram se alfabetizar.
A Escola Normal foi para Gin um perodo rico como adolescente, mas fraco em
instrumentalizao:
[] me deixou a p profissionalmente. A vida real no entra na
escola, s o aluno ideal, o professor ideal, a escola ideal. O choque da
classe social, a dificuldade de lidar com a diferena - v-la como
riqueza, poder de crescimento, momento para consolidao de
identidade, de contribuio social[...].
Aquela professorinha amedrontada, com sua vontade de acertar estava sempre
inventando moda (como sua me sempre dizia, e que, na poca, parecia ser uma crtica) e
conquistando seu espao junto com o do grupo. O ato de ensinar/aprender saa das quatro
paredes da sala de aula. Explorou a ilha de Paquet com as crianas Muito aprenderam
juntos. E a escola reconheceu sua habilidade, a Diretora apoiava e lhe apresentava desafios,
145
daqueles que muitos professores da escola no ousavam enfrentar.
Eu sabia ensinar aqueles alunos, que no eram prontos que nem eu,
que tambm no me sentia pronta para ser professora. Era um desafio
para eles e, para mim. Tive a oportunidade e, aproveitei. Eu inventava
as minha modas e a Diretora apoiava. Ali, em Paquet recebi meu
Diploma de Professora - eu tive essa sensao, eu me autorizei a
ensinar.
Gin foi buscar outro sonho - a Psicologia. A faculdade funcionava no perodo noturno.
A transferncia de Paquet para uma escola mais prxima foi a soluo. Em Vigrio Geral
(subrbio do Rio de Janeiro) trabalhou durante trs anos. L, depois de um curso de
Bibliotecria, foi designada a contadora de estrias - um vnculo com o prazer. Para Gin
deixar fluir o lado de artista, de exibicionista, que todo professor tem, (com sua platia
garantida), que um desejo meio feio, que a maioria no quer admitir.
Danando num palco iluminado, Gin, nos bastidores, se engalana para mais uma
estria: trabalhar numa Escola Pblica Experimental Montessoriana, a convite de uma colega,
que estava tentando organizar uma escola no Bairro do Jacar. Seria uma Escola de que a
Faculdade de Psicologia teria o controle. Mais uma moda que ela inventava. A emoo
novamente tomou conta de Gin nesse voltar do tempo.
Depois de tudo preparado o projeto foi impugnado - o controle
municipal de educao no permitiu. Foi a primeira vez que me
deparei com o poder, a impotncia, a ideologia dominante, o jogo do
empurra-empurra. Voc est indignada disseram os grandes porque
tem apenas 21 anos, depois vai entender. Estou recontando para mim,
essa histria, uma verdadeira terapia.
Em 1972, Gin casa e vai morar em Fortaleza-Ce. Momento de liberdade - a distncia
geogrfica e emocional. Vida tranquila e de muito lazer. L aceitou o convite de uma
psicloga para trabalhar com filhos de leprosos.
No tinha dinheiro mas tinha espao para inventar moda. Fez um trabalho mais
pedaggico, selecionando e orientando professores. Conviveu com a relao de poder e com a
questo da mulher na sociedade.
As crianas no Educandrio (filhos de leprosos) tinham madrinhas da
alta sociedade de Fortaleza, aquele trabalho do tipo filantrpico, dar
presentes, ajudar nas necessidades O cearense tem um lado simples
e, um lado ostentador. Acho que para o meu ritmo interno me
146
identifiquei com a identidade do povo. Isto tem um tempero na minha
estria: a famlia da minha me me ensinava valores ticos. Minha av
fazia as coisas para mim; a famlia do meu pai representava o lado
afetivo, minha av deixava eu fazer as coisas.
Por volta dos anos 80 Gin veio trabalhar no Jlia Kubitscheck, uma Escola Normal
(formao de professor para a escola de 1
o
grau), assumindo o ensino de Psicologia. Depois de
alguns anos de sala de aula, foi convidada para fazer parte do SETEPE (Setor Tcnico
Pedaggico), no qual seu trabalho teve repercusses amplas e importantes para a ecologia
dessa escola. Seu olhar atento para as relaes scio-histrico-afetivo-pedaggicas e sua
capacidade de inventar modas trouxeram grandes benefcios e, tambm, desafios provocativos
ao contexto.
preciso conhecer a figura de D. Jlia Kubitscheck- que deu nome a
escola - que representa a ME, como o Jlia que tem uma coisa de
proteo. O Mito da D. Jlia que sempre citada como uma boa me
que, professora, criou os dois filhos tendo sido um deles Presidente da
Repblica do Brasil. Isto s apareceu depois da morte do marido dela. A
foto dela parece um homem, parece assexuada - um certo hibridismo
aparente.
Os encontros com Gin tornaram-se cada vez mais ricos e gratificantes.
Eu (Gin) andava um pouco triste, contaminada pelo grupo de professores e, sua presena
est provocando nimo novo para minha vida. Ali repassava sua vida profissional/pessoal e,
nesse desenrolar histrico-cultural-afetivo, a histria de sua experincia gerava um
conhecimento contextualizado, vivo.
No SETEPE (setor que unifica os Servios de Orientao Pedaggica e Educacional),
Gin um elemento atuante : O SETEPE mudou a viso de resolver problemas de um enfoque
de produto para o de processo, especialmente nos Conselhos de classe; para o aluno o
momento de extravasar, lavar a roupa. Espao de fala de alunos e de professores.
A Escola Normal, para ela, infantiliza professores e alunos e com o discurso do ideal
no permite a vida real entrar no contexto escolar. A escola tem um perfil de escola
tradicional, de Tradio, no no sentido da metodologia, mas no sentido do modelo, das regras
e dos valores tradicionais.
Gin procurou conhecer a histria da escola para entender a dinmica interna dessa
organizao escolar que oscila entre a reproduo e a transformao. E foi desenrolando e
trazendo tona sombras do passado... Sua formao em Psicologia lhe fornecia subsdios para
147
anlise e possvel atuao.
Um mito que venerado na escola o Mito do Arakn, um antigo Diretor que
assumiu as funes durante 16 anos. Segundo Gin , um Mito Institucional, o grande Pai -
exigente, severo mas apoiava os cumpridores do dever. Como no viveu o momento Arakn,
sugeriu um professor mais antigo para maiores detalhes. Um fato que intrigou Gin, no incio,
era a sala da galeria de honra da escola, (onde os retratos dos Diretores esto expostos), ter
parado no tempo, em 1983, 10 anos atrs. O ltimo retrato da galeria era o do
professorArakn. Depois dele, trs Direes haviam passado pelo CEJK.
A sala era um mistrio. Vivia constantemente fechada. Eu consegui
botar o dedo naquela coisa adormecida. Falei com a atual diretora e
sugeri que fossem colocados seu retrato e os dos outros diretores aps
Arakn. Foi quase que uma profanao de um templo sagrado. Ela
afilhada dele e, como boa a(filha)da, procura dar continuidade s
normas e regras estabelecidas. A Escola reconhecida, no Estado, pelo
seu padro de qualidade e por sua atuao.
Nesse clima hbrido de reproduo/transformao Gin ia desenvolvendo, no SETEPE,
um trabalho inovador junto aos professores e alunos - um trabalho de parceria, especialmente
nos Centros de Estudo (reunies de professores nas quartas e quintas feiras nos dois ltimos
tempos) fazendo coisas que nos dem prazer. Se bom para mim vai refletir no aluno. O
Centro de Estudo (C.E.) nosso!
Numa das reunies do C.E. (23/03/94) que Gin coordenou, 6 professores estavam
presentes: 2 de Matemtica, 1 de Biologia, 3 de Portugus. Um texto, para discusso, havia
sido distribudo na semana anterior. Sentados confortavelmente em poltronas, havia um certo
ar de indiferena no ambiente. A conversa inicial girou em torno das dificuldades de sala de
aula. Um professor, ressentido, falou que quando acabou sua aula um aluno disse: Graas a
Deus que acabou a aula. E que ele respondeu : venho com prazer, voc no pode falar
assim. E, o meu sentimento ? Gin tentou mostrar para esse professor que esse fato gerou
conversa e que ele havia subestimado os outros 50 alunos da turma. E aproveitou para se
referir ao texto, proposto para leitura, que tratava do sentimento, linguagem que segundo ela
pouco falada. Outra professora contou de sua exploso na sala de aula pela impossibilidade
de trabalhar, pois os alunos estavam agitadssimos; eles apavorados, pararam a confuso e,
eu me senti muito mal disse ela. Gin falou que ela havia espelhado o clima dali, havia usado
sua autoridade, voc pensa que fugiu a todas as regras didticas, mas usou o que era
necessrio no momento; o adolescente quer limites, especialmente no mundo de hoje que est
148
tentando mandar no pai. Tem hora que a raiva produtiva!!! A professora aliviada disse: se
eu no fizesse aquilo seria algo inacabado. Foi um momento. Estabeleci a ordem. Outro
professor falou: tento dar choques nos adolescentes pois eu fui um adolescente que peitava,
eu era como aquela aluna. Gin acrescentou que agresso tambm representava medo. Nesse
momento entra uma servente com cafezinho.
Dando prosseguimento reunio, Gin pediu aos professores que fechassem os olhos e
lembrassem uma cena de infncia bem prazerosa. Cada um contou a sua. Um professor falou
da alegria de esperar a tia, toda tarde, do sentir, de longe o seu perfume e receber as gostosas
balas. Outra professora contou da boneca de porcelana cor de chocolate que sua me ao lhe
entregar, ela, a filha, deixara cair e quebrar - a boneca se transformou em cacos e eu levei
palmadas. Outro, falou da preparao da viagem de frias, em que o processo de preparao
era mais importante que o produto. Ainda outra se referiu preparao e ornamentao da
festa de So Pedro, o vestido caipira, a fogueira, tudo muito iluminado e eu lendo meu livro.
Gin, emocionada, pediu que avaliassem a reunio : Cada um que falava eu me lembrava,
disse um deles. Tnhamos mais ou menos a mesma vida, os mesmos costumes, acrescentou
outro.
Era assim que Gin ia conquistando o grupo, propiciando a conversa, o entrosamento.
Gin falou com entusiasmo do Projeto Repetentes. A Secretaria de Educao do
Estado, no ano anterior, havia estabelecido que se organizasse na escola, uma turma s de
repetentes. A ordem foi recebida com questionamento. Como devia ser cumprida, o SETEPE,
iniciou um projeto sob sua coordenao, no qual haveria todo um envolvimento dos
professores dessa turma com vistas a um trabalho participativo entre professores, alunos e
SETEPE. A turma que parecia discriminada, tornara-se centro de ateno e, no final do ano, a
aprovao foi quase total. Este projeto teve repercusses at fora do Jlia - foi apresentado
num encontro de educadores do Rio de Janeiro.
Gin reconhece as vrias lideranas dentro da escola.
Tem muitos quereres na Escola; o dos professores, o dos grupos, o da
Direo, o da Secretaria de Educao. E o querer do professor
algo muito respeitado em alguns pontos, como o de escolha de
horrio, que interfere na organizao pedaggica como um todo. Afeta
aos Centros de Estudo que ficam relegados a segundo plano. Isto
importante, mas no somos uma grande famlia, somos uma escola. H
uma certa cumplicidade nesta relao, um querer ser atendido para em
troca, um cumprimento do dever mais efetivo. Dentro do prprio
SETEPE h rachas. Muitas decises so tomadas e, muitas vezes,
modificadas pela Direo - isto irrita alguns membros que no aceitam
149
o jogo das aparncias. Aqui vivemos em contradio. Esta escola
paradoxal.
O trabalho de Gin est muito voltado tambm para as relaes externas da escola, isto
se reflete na sua atuao junto s famlias dos alunos - um eficiente atendimento teraputico.
Um envolvimento de professores, alunos e famlia, to desejvel, para o bom funcionamento
de uma escola.
Na escola, Gin inventou muitas modas. Teve um espao acolhedor para sua arte - a
arte de ser professora.
Apresento, a seguir o AT-9 da professora Gin.
RELATO
Vale a pena ir ao vale!
Era uma vez uma menina que nasceu numa cidade a beira de um vale encantado. Desde
criana escutou muitas estrias sobre o Vale da Vida e da Morte. Havia naquela cidade a
tradio de que para pertencer ao mundo adulto era preciso ir ao Vale, enquanto o monstro
devorante dormisse, espetar a espada de sua famlia na terra, acender uma fogueira e banhar-
se na cachoeira. Geralmente somente os homens da pequena cidade enfrentavam tal tarefa at
que um dia essa mulher resolve que seria importante as mulheres tambm cumprirem a tarefa
e se oferece para ir ao Vale da Vida e da Morte e assim inicia uma nova prtica na cidade e
muitas mulheres a seguem.
IDADE :
44
SEXO :
Feminino
INSTRUO :
Superior
150
A - SEQUNCIAS NARRATIVAS
IDIA CENTRAL DO DISCURSO : Tradio, mudana, desafio e conquista
1- Era uma vez uma menina que nasceu numa cidade beira de um vale encantado.
2- Desde criana escutou muitas estrias sobre o Vale da Vida e da Morte.
3 - Havia naquela cidade a tradio de que para pertencer ao mundo adulto era preciso ir ao
Vale,
4 - Enquanto o monstro devorante dormisse, espetar a espada de sua famlia na terra, acender
uma fogueira e
banhar-se na cachoeira.
5 - Geralmente somente os homens da pequena cidade enfrentavam tal tarefa.
6 - At que um dia essa mulher resolve que seria importante as mulheres tambm cumprirem
a tarefa
7 - E se oferece para ir ao Vale da Vida e da Morte
8 - E assim inicia uma nova prtica na cidade
9 - E muitas mulheres a seguem.
Final da histria: Assim ela inicia uma nova prtica na cidade e muitas mulheres a seguem
QUESTIONRIO ( pontos bsicos para interpretao)
a. Em torno de que idia central voc construiu a sua composio? Voc ficou indeciso entre
duas ou mais solues? Quais?
"Tradio, mudana, desafio, luta e conquista. A partir do desenho a estria foi vindo
rapidamente".
b.Voc foi, por acaso, inspirado por alguma leitura, filme, etc...?
Fiz a estria a partir do desenho, acho que associei a natureza com homem e
processo dos povos primitivos se organizarem e o papel feminino.
c. Indicar entre os 9 elementos da sua composio:
1. Os elementos essenciais em torno dos quais voc construiu o seu desenho.
"A cachoeira, a rvore, a mulher (personagem), o fogo".
2. Os elementos que voc gostaria de eliminar. Por qu ?
"O monstro devorante foi difcil imaginar. Depois associei a morte e no sabia como
fazer.
d. Como termina a cena que voc imaginou?
"A mulher cumprindo a tarefa e levando uma flor daquela rvore para a cidade.
e. Se voc tivesse que participar da cena, onde voc estaria? O que faria?
151
"A mulher. Fiquei surpresa com a estria e me imaginei uma menina que cresce nessa
cidade e que a curiosidade a move chegando a propor a mudana da tradio. Gostaria de
ter esse papel e viver esse desafio".
Protocolo 01
Anlises estrutural, morfolgica, elemencial e simblica
Protocolo N.o:01 Sexo: F
Elemento
Representao/
Imagem
Funo/Papel
Simbolismo
Queda
Cachoeira Pessoas se
banharem
Purificao
Espada
Espada Tradio Fora
Refgio
rvore, abrigo Lugar para ficar Proteo e ponto de
chegada
Monstro
Fantasma denteado Perigo Morte
Cclico
Borboleta Cenrio Transformao
Personagem
Mulher Criar, transformar Afetividade
gua
A da cachoeira, do lago Banho Prazer
Animal Peixe Vida no lago,
cenrio
Vida
Fogo Fogueira Aquecer, ao Desejo
1
Neste protocolo, as representaes organizam-se em torno da personagem (mulher) e
do elemento cclico (borboleta) que simboliza a transformao. Os outros elementos esto
integrados nessa dramatizao da personagem, na sua busca de romper a tradio e ser aceita
no mundo adulto, at ento s permitido aos homens. Os elementos queda, espada e fogo
fazem parte da tradio e a mulher vai se utilizar deles para realizar sua iniciao e a
transformao; assim, eles formam um ncleo em torno da mulher. A menina (personagem)
tem como associados para vencer o monstro (fantasma, tradio) a espada que ela deve enfiar
na terra (primeira tarefa para mudar a tradio), a gua (da cachoeira) onde ela deve se banhar
(segunda tarefa) e a fogueira que ela deve acender (terceira tarefa). Os outros elementos
152
representam a composio de um cenrio acolhedor, com peixes (animal) nadando num lago
(gua), borboletas (el. Cclico) e uma rvore que representa um abrigo protetor (refgio), a
natureza que acolhe. Esses elementos esto ligados viso de cenrio, de acolhida e de
abrigo. Assim, na representao, os elementos esto todos perfeitamente integrados ao
contexto da dramatizao.
Quanto funo dos elementos representados, percebo que eles se voltam para a
realizao do papel da personagem (mulher) que o de criar uma nova tradio e transformar
a tradio anterior. Ela realiza uma transformao que em primeiro lugar nela, tem que estar
atenta situao, ao monstro que representa um perigo, mas um perigo que est
adormecido, que no reforado por nenhum outro elemento. Ento, aproveita o momento
em que ele est dormindo para agir, na busca de seu desejo. Para esperar tal momento (sono
do monstro) Gin conta tambm com um abrigo acolhedor (rvore). A gua que tem funo de
banho, que faz parte do ritual de passagem e se integra gua da queda, (dgua) da
cachoeira num simbolismo de purificao, para a passagem de menina para mulher, para ser
aceita na cidade dos homens. O fogo, embora tenha uma funo de aquecimento, tem
tambm a funo especfica de ser elemento de passagem, pois a menina tem que executar a
ao de acender a fogueira. Talvez o fogo sendo um elemento de desejo, funcione como um
elemento dinamizador da mulher para que ela realize a ao, a tradio e exera o ritual de
purificao O animal faz parte da vida, no tem aqui uma funo especfica, mas ele integra o
cenrio. O refgio um lugar para ficar, a funo est de acordo com prprio papel do
refgio, que um lugar de abrigo. Pode ser tambm um lugar com o qual a menina
(personagem) conta para ficar enquanto espera que o monstro adormea, um lugar seguro para
aguardar o momento exato de criar e transformar. A espada representa a tradio, uma
tradio que precisa ser cumprida, mas ser cumprida por uma personagem que mulher, - que
no a personagem do cumprimento da tradio - nesse caso o homem - e que vai mudar e
transformar essa tradio. H integrao de funes nesta representao dramtica.
Com relao aos simbolismos, o monstro simboliza a morte, a ameaa, um
elemento, negativo do protocolo. Na realidade, a morte que vai acontecer a da velha tradio
que poderia funcionar como uma espcie de fantasma para as mulheres, cujo no
enfrentamento poderia representar a morte para elas. Mas a herona enfrenta a velha tradio e
cria uma situao nova para as mulheres. interessante notar, que o simbolismo a est
associado afetividade (da personagem), ou seja, o que a mulher cria e transforma est
relacionado com a rea afetiva. A queda purificao, para a passagem de menina para
mulher, a perda das caractersticas infantis. O ser mulher que purificado a partir de uma
153
prtica de banho, simbolicamente uma prtica de batismo, um rito de iniciao para a vida
adulta, para a aceitao na cidade (dos homens). Isto acontece, por um desejo dela, que o
simbolismo do fogo. A espada tem a funo de fora para romper a tradio, bem como fora
para sair da vida infantil e para enfrentamento da vida adulta. O elemento gua simbolizando
o prazer, que se conquista na vida adulta, e o elemento refgio como lugar de proteo e
ponto de chegada. A proteo que a mulher adulta pode representar (a mulher criana no
representa essa proteo). Ela potencialmente me. O elemento cclico est perfeitamente
integrado ao drama, porque ele simboliza a transformao ocorrida na personagem, na mulher.
E o monstro que simboliza a morte, a morte da velha, da prpria tradio que negativa no
sentido de morte caso a personagem no passe pelo ritual, ou seja, ela morre como criana, na
sua potencialidade de vida, de desejo, de fora, que viria a partir do mundo adulto. A
personagem uma mulher herona, ela teve que romper algumas coisas para chegar aonde
chegou. Ela ocupa o espao dela, modificando aquela tradio, que era s masculina,
transformando em tradio feminina tambm. Todos os elementos esto perfeitamente
integrados - nas suas representaes, nas suas funes e nos seus simbolismos - na fora de
coeso que ordena o universo mtico sinttico, ou seja, potencializa os simbolismos heroicos
(de luta) e nos simbolismos msticos (do aconchego). diacrnico porque se desenvolve no
tempo, h um tempo de desenvolvimento da ao. Aparentemente, pelo relato do teste, ele
seria de evoluo progressiva, mas podemos imagin-lo como de evoluo cclica, na medida
em que ela, a personagem, institui uma nova prtica e muitas mulheres vo segui-la, ou seja,
ela institui um ritual de iniciao que vai ser seguido dali para frente. Pode ser classificado
como uma estrutura sinttica simblica de forma diacrnica, tipo evoluo cclica.
O drama se expressa no universo mstico, a vida do personagem numa cidade beira
de um vale encantado, num cenrio acolhedor, com cachoeira, lago com peixes, rvore florida
e embelezada com borboletas e perturbado pelo universo herico, caracterizado pela espada,
pela fora da personagem para mudar a tradio. A coexistncia entre os universos mstico e
herico aponta para a classificao sinttica desse protocolo. de evoluo cclica, na medida
em que a personagem institui uma nova prtica na cidade, que vai ser seguida por todas as
mulheres, dali para frente. Assim, a estrutura simblica se caracteriza como um Micro-
universo sinttico simblico de forma diacrnica, tipo evoluo cclica.
O universo estrutura-se de forma positiva, porque ao final o objetivo alcanado: o
personagem cumpre a tarefa de ir ao Vale da Vida e da Morte, de espetar a espada de sua
famlia, de acender uma fogueira e de banhar-se na cachoeira, iniciando uma nova prtica na
cidade.
154
O personagem autor, deste protocolo, revela uma fora interior, representada pela
espada, na busca de mudana ( no caso a tradio) mas sua ao herica, de luta, no
explcita, se realiza enquanto o monstro dorme. Ela se protege, evita enfrentamento direto,
para vencer seus desafios e conquistar seus ideais.
As imagens da borboleta (transformao), da rvore ( ponto de chegada/refgio) do
peixe (vida), da fogueira (desejo) embora evidenciando uma simbologia diertica, a cena
dramtica se d num ambiente prazeroso, de muita afetividade. A personagem ocupa seu
espao, modificando aquela tradio que era s masculina.
Consideraes finais
Os relatos de vida dessa professora mostraram uma analogia com o imaginrio aqui
examinado. uma pessoa criativa, no seu dizer estou sempre inventando moda, buscando
interferir, transformar, com muito tato, (estudou psicologia para entender as relaes
humanas), o ambiente escolar, tal qual a imagem da borboleta, o elemento cclico do teste
(AT-9). A vida dela parece ser um desdobramento do que representou no teste. Ela no
enfrenta o monstro, ela espera que ele adormea, ela aguarda o momento oportuno para fincar
a sua espada, para por em prtica suas modas. E, assim, vai conseguindo mudar, interferir, no
seu dizer, cutucar, botar o dedo naquelas coisas adormecidas, nos ambientes por onde passa.
Ela deseja uma postura mais humana, mais participativa, no ambiente da escola, o incio de
um "novo ciclo" simbolizado pela imensa rvore que compe o seu desenho e que se
encaminha, tambm, para uma renovao cclica. Em suma, o seu agir na escola reflete
colaborao, ajuda, afetividade. Os simbolismos apresentados na narrativa e no AT-9 esto em
consonncia com a atitude de Gin, uma pessoa/professora que busca, sempre, criar e
transformar. H, em outras palavras, coerncia entre a personagem retratada e a vivncia da
prpria pessoa.
Alguns fragmentos da histria de vida de Gin evidenciam a relao entre os
simbolismos expressos no seu Teste AT-9 e na sua histria de vida.
Gin conviveu sempre com o retrato de uma prima, vestida de normalista e que havia
morrido.
No por acaso que comeo numa Escola Normal e me aposentarei
numa escola Normal. Quando eu decidi estudar para o concurso de
admisso para o curso de formao de professor. Meu pai logo achou
que seria um grande esforo, e, que eu poderia adoecer.
Inconscientemente era a figura da prima que o amedrontava. Para mim,
155
naquela poca, era s uma questo financeira.
Gin rompe a tradio da famlia. No AT-9, ela espera o sono do monstro para realizar sua
tarefa, da mesma maneira, que, quando ela deseja ser professora, aparece um obstculo
familiar, um monstro, a morte/perigo/medo associados ao retrato (passado) inerte
(adormecido) da prima. O monstro, nesse caso, tambm estava adormecido. Ela supera o
medo, ela eufemiza o perigo : era s uma questo financeira. E se forma e se torna
professora. Eu passei a limpo aquela histriaestudei, me formei, era mulher e no morri.
Valeu a pena, para Gin, ir ao Vale da Vida e da Morte, numa atitude de herona. Dei um fim
quelas coincidncias. Isto fechou para mim, pois do meu primeiro ordenado comprei
presente para toda a famlia, e, especialmente para a me de minha prima que morreu. Ela
voltou para a tia e lhe entregou um presente, (a flor), e, como no teste, a mulher cumprindo a
tarefa e levando uma flor da rvore para a cidade. Para Gin, a Escola Normal foi um espao
de resgate, um desabrochar de muitas coisas. Acredito, que, a imagem da grande rvore
florida, do desenho de seu teste, tem a ver com esse seu desabrochar e o das flores da
rvore.
O incio de carreira de Gin, deu-se numa ilha do Rio de Janeiro, buclica na sua
tradio de piqueniques, passeios de charrete e de bicicleta. Mas tinha que atravessar o mar
diariamente. Temos aqui a presena do mstico (ilha buclica) e do herico (enfrentar o mar).
O rito de passagem foi dolorido. Embora tenha tido o apoio da Diretora, mas, como sempre
acontece com as novas professoras, a turma mais complicada lhe foi designada. Alunos
repetentes, amedrontados, revoltados, turma que muitos professores no ousavam enfrentar.
Gin foi recebida pela crianas, com uma batucada, que parecia no ter fim. Ela resolveu,
ento, negociar a batucada, explorar a ilha com eles, e acabou conquistando o grupo. Mais
uma vez, Gin eufemiza o monstro e sai vitoriosa, sempre inventando moda, como dizia sua
me. Como no AT-9, ela ousou e conseguiu. Sua histria apresenta muitas outras situaes,
nas quais ela inventou suas modas. importante lembrar que a personagem de seu teste est
representada por uma mulher, com a funo de criar e transformar e tendo como simbolismo,
a afetividade. Bem de acordo.
Outra parte interessante de sua histria.
Eu no sabia ensinar aqueles alunos, que no eram prontos que nem
eu, no me sentia pronta para ser professora. Era um desafio para eles
e para mim. Tive a oportunidade e aproveitei. Eu inventava as minhas
modas e a Diretora apoiava. Ali, na ilha de Paquet, recebi meu
156
Diploma de Professora eu tive essa sensao, eu me autorizei a
ensinar.
Gin, colheu, novamente, a flor emblemtica- da rvore a senha de sua entrada na
profisso.
A entrada de Gin no Jlia, deu-se no incio dos anos 80. Ela faz uma anlise
interessante da figura que deu nome escola.
preciso conhecer a figura de D. Jlia Kubitscheck, que representa a
ME, como o Jlia que tem uma coisa de proteo. O mito da D.
Jlia que sempre citada como uma boa me que, professora, criou
os dois filhos tendo sido um deles Presidente da Repblica do Brasil.
Isto s apareceu depois da morte do marido dela. A foto parece um
homem, parece assexuada um certo hibridismo aparente.
Essa descrio analtica est consoante com a estrutura simblica sinttica do Jlia, que pelo
meu estudo e anlise de sua cultura e imaginrio (dos professores), apresenta-se, tambm,
hbrida, com o seu lado mstico, de casa, de proteo e, o seu lado herico, de poder
paterno, de luta, de regras e normas bem estabelecidas.
Gin fala tambm de outro mito venerado na escola, a figura/mito do diretor Arakn.
Segundo Gin, um mito institucional, o grande pai exigente, severo, mas apoiava os
cumpridores do dever. Um fato que intrigou Gin, foi saber que os retratos dos diretores, da
galeria de honra da escola, tinha parado no tempo, o ltimo retrato era o do Professor Arakn.
A sala era um mistrio. Vivia constantemente fechada. Eu consegui botar o dedo naquela
coisa adormecida. Falei com a atual diretora e sugeri que fossem colocados seu retrato e os
dos outros diretores aps Arakn. Os retratos foram colocados. Esse fato, mostra a
semelhana do comportamento de Gin, com relao tradio, na histria e no teste.
Assim, Gin vai caminhando e entregando flores.
Penso e recomendo que a formao docente acolha a pesquisa (auto)biogrfica e a
pedagogia do imaginrio como formas de conhecimento da cultura escolar, e a consequente
possibilidade de reflexo e/ou mudana nas prticas educativas adotadas e vividas nas
instituies.
Referncias Bibliogrficas
ARAJO, Alberto Filipe e ARAJO, Joaquim M. Figuras do Imaginrio Educacional.
Lisboa: Instituto Piaget, 2004.
157
ATIH, Eliana. As imagens (da literatura) para uma educao da alma. Texto apresentado no
II Colquio Cultura, Educao e Imaginrio, realizado na UFF em 2009. Mimeo.
CHAVES, Iduina MontAlverne Vestida de Azul e branco como manda a tradio. Cultura e
Rituais na Escola. Rio de Janeiro: Intertexto e Quartet, 1999.
CHAVES, Iduina MontAlverne. A pesquisa Narrativa: uma forma de evocar imagens da vida
de professores. In: Imagens da Cultura: um outro olhar. So Paulo, CICE/FEUSP,1999.
CHEVALIER, Jean & GHEERBRANT, Alain . Dicionrio de Smbolos. Rio de Janeiro:
Editora Jos Olympio, 1999.
CLANDININ, J. and CONNELLY, F. Personal Experience Methods. In: Handbook of
Qualitative Research. Thousand Oaks: Sage Publications, 1994.
DUBORGEL Bruno Imaginrio e Pedagogia. Lisboa: Instituto Piaget, 1992.
DURAND, Gilbert. As estruturas antropolgicas do imaginrio. So Paulo: Martins Fontes,
1997.
DURAND, Gilbert. A imaginao simblica. So Paulo: Cultrix, 1988.
DURAND, Gilbert. As estruturas antropolgicas do imaginrio. So Paulo: Martins Fontes,
1989.
GUSDORF, Georges Professores para qu? Rio de Janeiro: Martins Fontes, 1995.
HILLMAN, James. O Livro do Puer - Ensaios sobre o arqutipo do Puer Aeternus, So
Paulo: Paulus, 1999.
PAULA CARVALHO, Jos Carlos. Imaginrio e mitodologia: hermenutica dos smbolos e
estrias de vida. Londrina: Editora UEL, 1998.
ROBINSON, J. e HAWP E , L. Narrative thinking as a heuristic process. US: Proaeger
Publishers, 1986.
TEIXEIRA, Maria Ceclia Sanchez. Discurso pedaggico, mito e ideologia: o imaginrio de
Paulo Freire e Ansio Teixeira. Rio de Janeiro: Quartet, 2000.
158
TOPONMIA: A NOMEAO DOS LUGARES SOB A ORDEM DO IMAGINRIO
SIQUEIRA, Knia Mara de Freitas (UEG)
keniamaraueg@gmail.com
INTRODUO
O objetivo deste artigo apresentar alguns resultados de um estudo sobre os topnimos
goianos de origem tupi numa perspectiva ecossistmica, ou seja, uma anlise voltada para as
relaes entre lngua (L), populao (P) e territrio (T), ou Ecossistema Fundamental da
Lngua (EFL). Para tanto, preciso pensar na lngua (L) e seu Meio Ambiente (MA), partindo
da ideia bsica de que a lngua faz parte de uma grande teia de relaes. Nesse sentido, para
que exista L, necessrio que antes, exista um T em que P viva e conviva. Da convivncia
entre os Ps, emerge a L. O P est entre a L e o mundo (ou T), P uma espcie de filtro por
onde a lngua tem de passar. Assim, pode-se dizer, mais ou menos como Sapir-Whorf, que a
lngua reflete o mundo, mas no de maneira mecnica, a viso de mundo formulada pela
lngua, mas, de certa forma, essa viso de mundo advm do prprio mundo. O que quer dizer
que a maneira de ver o mundo no determinada pela lngua, apenas direcionada por ela.
Nessa perspectiva, muitas questo que perpassam a trade: populao, territrio e lngua
podem ser vistas como resqucios de imagens da memria coletiva do lugar, muitas vezes
permeada por objetos imaginrios, cultos ritualsticos produzidos por um inconsciente
coletivo.
Para Couto (2007), do ponto de vista ecolgico, P, T e L no podem ser separados um
do outro, pois formam um todo, um ecossistema. Encontram-se em relao, mas podem ser
estudados separadamente. Deve-se considerar entretanto, que organismos e lugares moldam-
se mutuamente, a maioria das culturas situa-se em determinado territrio, os seres humanos
159
alteram seu MA (habitat) para adequ-los a si prprios. Os membros de P interagem entre si
alm de interagirem com T. Das intensas interaes entre P que surge a L. Assim, a relao
entre L e T mediada por P.
De acordo com Couto (2007), a importncia de T para emergncia de L o fato de um
dos primeiros itens lexicais de uma lngua em formao, numa situao de contato, o nome
para o prprio T (topnimo). O que leva a afirmar que h uma nova comunidade de fala
quando essa recebe um nome.
Em relao metodologia de pesquisa, pode-se dizer que se trata basicamente de uma
pesquisa de natureza documental, de abordagem qualitativa, para o levantamento dos dados,
uma vez que a constituio (sub-regio, limites e fronteiras) dos lugares est registrada em
documentos pblicos e levantamento histrico geogrfico. Procura-se tambm, verificar e
atualizar os dados por meio de pesquisa in loco em entrevistas com os moradores mais antigos
dos respectivos municpios. Recorre-se a Sampaio (1928) e Tibiri (2009) para as questes
de ordem etimolgica e para verificao de dados histricos ao Sepin/Seplan Gois.
Dessa maneira, parte-se da evidncia de que o signo toponmico apresenta carter
pluridisciplinar j que, por meio dele, pode-se conhecer a histria dos grupos humanos que
viveram (e vivem) em determinado lugar, as peculiaridades socioculturais e ambientais de um
povo, o denominador, as relaes estabelecidas entre os aglomerados humanos e o
ecossistema, as caractersticas fsico geogrficas da regio (geomorfologia), estratos
lingusticos de origem diferente do uso contemporneo da lngua ou mesmo de lnguas j
desaparecidas para se conhecer as motivaes subjacentes aos respectivos topnimos.
1 Objetos imaginrios como pano de fundo da nomeao
A denominao dos lugares resulta de inmeros fatores que concorrem, em diversos nveis,
para que se escolha um nome especfico para determinado lugar. A despeito do termo
imaginrio demandar certo esforo conceitual (no explorado aqui), pode-se verificar um
problema terico que est diretamente relacionado aos fatos que, por ventura, venham a
contribuir para a escolha de um nome entre tantos e em detrimento dos demais para nomear
um objeto; a saber: os fatos apontados como motivadores para a consolidao de dado
topnimo so de ordem real ou advm, maneira escolstica, de sentimentos internos,
capazes de conservar traos (descritivos, histricos, culturais, ecossistmicos) dos objetos
nomeados, representados sob a forma de imagens? Nessa perspectiva, dados toponmicos cuja
motivao se aloja nos j distantes movimentos do homem sobre o percurso de sua histria
160
podem ser analisados como frutos da imaginao, construindo repertrio coletivo (ou
individual) de imagens que, provavelmente, aludem s relaes do povo com o ambiente em
que vive de forma manifesta (memria) ou em forma latente (mitos, imaginrio), pois alguns
processos de nomeao apresentam matizes pouco transparentes acerca da motivao
subjacente escolha do designativo do lugar, o que, em consonncia com Durant (2012), tem
tambm uma riqueza de tonalidades elementares muito mais vasta do que as consideradas
pelas taxionomias de ndole fsica e de natureza antropocultural .
O estudo segue procedimentos de pesquisa qualitativo interpretativo, buscando
elucidar as provveis causas para a escolha dos respectivos topnimos, para tanto, pode-se
considerar os critrios onomasiolgicos de anlise do topnimo aliados ao mtodo de
convergncia, enfocando o carter de semanticidade que est na base do ato de nomear para
assim verificar at que ponto os locativos podem ser encarados como smbolos que constelam
pelo desdobramento de um mesmo tema arquetipal.
2 Ecologia Fundamental da Lngua
O conceito bsico para ecologia o de ecossistema. Para um estudo da lngua numa
abordagem ecolingustica, o equivalente desse termo Ecossistema Fundamental da
Lngua, que constitudo por L, P e T. O conceito ecossistema carrega a ideia mpar de
relao, em outras palavras, por ecossistema se entende relaes entre os seres vivos em
geral. O EFL remete, por sua vez, Comunidade, que , de fato o verdadeiro ecossistema
fundamental da lngua.
De acordo com Couto (2007, p. 92), Comunidade [...] o ecossistema imediato em
que a lngua est inserida, o que significa que toda lngua tem se enquadrar nele. Dessa
maneira, o EFL constitui-se de um P que tem uma lngua (prototpica ou no) sobre um
determinado T. Embora haja CF que no tenham um territrio especfico oficial como os
nmades e as lnguas de sinais, isso no refuta a tese do EFL, porque, de alguma forma, esses
P dispersam-se sobre outros territrios que no o deles especificamente.
2.1 Lngua (L), Populao (P) e Territrio (T)
Conforme Couto (2007), L o modo de os membros de P interagirem entre si no (T)
em que convivem. Cabe ressaltar, por outro lado, que a lngua uma linguagem
plurissgnica, formada por muitos signos: referenciais (itens lexicais) e tticos (regras de
161
combinao desses signos). Essas caractersticas fazem com seja possvel dizer e expressar
praticamente tudo que for preciso de determinada CF.
O fato a ser salientado que L no uma coisa, ou melhor, no se pode reific-la,
deve-se pensar sempre na relao de L com o MA. Como a lngua tambm um sistema de
subsistema, evidente que um estudo ecolgico da lngua deve refletir ainda a relao desses
subsistemas com seu MA.
Segundo Couto (2007), o ponto P do EFL apresenta trs significaes, a saber: designa
os organismos humanos que fazem parte do meio ambiente fsico; P est para a parte mental
dos membros da comunidade; indica tambm cada membro da CF numa perspectiva coletiva,
isto , so seres sociais que interagem e compartilham diversas linguagens.
Para Bastardas i Boadas (apud Couto, 2007): [...] o primeiro contexto das lnguas
constitudo pelo povo que as trazem e as fazem existir. Populao o elemento dinmico de
uma CF, sem o qual no existiria a lngua e o territrio seria algo inerte espera de uma
populao que o ocupasse e construsse L.
O territrio o componente mais concreto da Comunidade, pois conforme Sapir toda
lngua tem uma sede. Para outras reas de estudo, territrio definido como sendo reas
controladas por animais, que excluem estranhos, nesse sentido, o territrio no so apenas
trechos fixos da topografia, ele pode ser flutuante ou espcio-temporal.
O que necessrio reafirmar a importncia do territrio na formao, existncia e
transformao da lngua j que o T se manifesta na lngua de vrias maneiras, mas a mais
evidente se efetua no lxico de L. Como exemplo disso, enquadram-se os topnimos, j que
uma das primeiras aes de P em relao a T no sentido de dar-lhe um nome. Inicialmente,
descritivos.
3 Toponmia
pelo uso da lngua que cada grupo humano nomeia o ambiente que o cerca em funo,
principalmente, de suas necessidades mais imediatas. Isso, de alguma maneira, denota a
interinfluncia que existe entre a linguagem e a forma como P relaciona-se com o ambiente.
Assim, a toponmia constitui importante rea do conhecimento humano capaz de revelar
caractersticas do meio ambiente fsico e de aspectos da cultura, da sociedade, da histria e da
geografia dos aglomerados humanos inclusive estabelecendo vnculos terico metodolgicos
com essas reas.
O processo de escolha de nomes para os lugares envolve uma srie de aspectos que
162
precisam ser elucidados para que se possa ento pensar na elaborao ou reformulao de
uma proposta metodolgica mais adequada ao estudo e categorizao da toponmia goiana.
Para Rudnyckyj (1958 apud TENT e BLAIR, 2011), devem-se considerar alguns
princpios bsicos para uma classificao toponmica: os fatores histricos envolvidos na
escolha do nome, os fatores lingusticos e os onomsticos propriamente ditos. Os aspectos
onomsticos, referem-se aos nomes autctones indgenas, aos nomes transplantados das
lnguas europeias para a Amrica e as criaes toponmicas.
Para Dick (1990), a nomeao, como atividade de significao envolve a percepo
biolgica dos objetos do mundo transformados em substncias estruturadas pela
apreenso/compreenso refletidas na viso de mundo de determinada populao.
Essa percepo e apreenso/compreenso dos objetos leva a estabelecer um processo de
conceptualizao em que ocorre a produo de modelos mentais, que de certa forma,
correspondem aos recortes culturais (designatas) feitos por P e representados (ou
apresentados) em L. Aps esse percurso, ocorre a produo de significao, ou melhor,
estabelece-se a lexemizao para, ento, realizar a produo discursiva mediante a atualizao
das lexias que deixa o nvel cognitivo e converte-se em signo.
Por outro lado, a nomeao dos lugares no ocorre da mesma maneira como se faz a
denominao de objetos criados no universo das cincias e das linguagens de especialidades.
A nomeao dos lugares (acidentes geogrficos e acidentes culturais), diferentemente, segue
procedimentos que tm origem em fatos histricos, sociais, culturais e ambientais ou ainda se
finca em motivaes cuja face cognitiva reflete-se em descries metafricas ou metonmicas
para escolha do nome do lugar a ser designado a partir da inter-relao L, T e P. L surge da
relao de P com T, em outras palavras, a viso de mundo de P, reflete-se na lngua, mas
advm do prprio mundo.
4 Os ndios da provncia de Gois
Muito do que se mantm na memria coletiva a respeito dos ndios de Gois est envolto,
de certa forma, em inmeras imagens e histricas que tendem a descrev-los como bravos,
arredios ao contato e selvagens do ponto de vista do colonizador, mas inteiramente integrados
natureza como parte inerente dela.
Conforme Rocha (1998), os dados etno-histricos indicam que regio que hoje Gois
servia de passagem de grupos indgenas que transitavam entre a cidade de Gois (Vila Boa) e o
aldeamento do Carreto. Habitavam pois estas terras os grupos tnicos: os Kayap Meridionais
163
(habitavam a rea que se estende do sul de Gois, Tringulo Mineiro at noroeste de So Paulo)
e os Setentrionais os Gorotire e os Gradahu; os Karaj, Xambio e Java (viviam praticamente
nas praias do Araguaia e Ilha do Bananal), a populao indgena aldeada no Carreto ficou
conhecida como Tapuios (outro povo, regio dos brbaros ou tapuyas, novo dado pelos Tupi para
as outras naes indgenas), segundo Ribeiro (1998), os Tapuios eram descendentes de quatro
grupos distintos: os Akwe: os Xavante e os Xerente, os Kaiap e os Karaj; ainda havia os
Av-Canoeiros (Tupi), habitavam a extensa regio entre os rios Maranho e Tocantins; os
Timbira Ocidentais Apinaj e os Orientais os Krah, viviam na regio que abrangia sul do
Maranho e norte de Gois (hoje Tocantins); mais para o interior existiam outras aldeias
formadas pelos ndios Tapirap (oeste do rio Araguaia) e Guajajara (Tenetehara). Aparecem
referncias tambm aos grupos Crixs, Guanicuns e aos Guayazes cuja existncia, segundo
Quintela (2006), ainda controversa. Como se v as lnguas faladas pelos povos da regio no
eram lnguas da famlia lingustica Tupi-guarani, no entanto, os topnimos de origem indgena de
Gois, em sua maioria, so de base lingustica derivada do tupi, ou lngua geral paulista (LGP).
Segundo Rodrigues (2006), a grande quantidade de topnimos tupi em reas que no foram
habitadas por povos dessa filiao lingustica se explica pela expanso produzida pelas bandeiras
paulistas (sc. XVII e XVIII) uma vez que os mestios que usavam a lngua tupi (mais
especificamente uma lngua modificada pelo convvio com a lngua portuguesa, a LGP),
passaram a integrar as bandeiras dirigidas mais para o interior de So Paulo, Minas Gerais, Gois
e Mato Grosso. Eles usavam as duas lnguas (tupi e a lngua portuguesa) para dar nomes aos
lugares por onde iam passando com palavras do lxico tupi ou do portugus. Isto fez com que o
tupi se fixasse em reas como Minas Gerais e Gois, onde, na verdade, esses povos nunca
estiveram.
5 O papel do tupi na toponmia goiana
O estado de Gois possui 246 municpios, desses, 70 tm nomes de origem indgena,
apresentam uma base tupi ou algum outro elemento constitutivo do nome, seja raiz ou sufixo
tupi, mas, por razes de espao, apenas os que surgiram entre os sculos XVI e XIX so
descritos aqui. Por exemplo: Anhanguera apresenta apenas morfemas tupi (na-nhan, anhaga
gnio malfazejo + uera que foi); Buritinpolis combina base tupi com radical grego (mbiriti
nome de uma palmeira + -polis cidade), seja como primeiro elemento ou como segundo
164
elemento do topnimo como em Campinau que combina base latina (portugus) com tupi
(campus terreno para plantio + -au grande) e, em compostos, tais como Buriti Alegre, tupi
e portugus (mbiriti nome de uma palmeira + alegre animado).
Alguns desses municpios surgiram das primeiras povoaes da ento Provncia de Gois
por volta de 1683 ou, posteriormente, nos sculos XVII e XVIII, durante o ciclo do ouro em
Gois. Por volta de 1647, Bartolomeu Bueno da Silva (o Anhanguera) chegou s cabeceiras do
rio Vermelho e contatou alguns ndios, chamados goy. J em 1726, seu filho de mesmo nome,
em outra bandeira, fundou o arraial da Barra (Buenolndia), e no ano seguinte os de Ouro Fino,
Ferreiro e Santana, este daria origem a Vila Boa (hoje cidade de Gois), antiga sede
administrativa da Capitania de Gois.
Tanto a provncia como a cidade receberam o nome Gois devido lendria populao
de ndios goy (do tupi corr. Guay, c. gu-y o indivduo semelhante, parecido, ou gente da
mesma raa ou conforme documentos antigos, tem-se guays e guayazes para designar uma
nao selvagem que vivia em Gois antes das bandeiras);
Sob a tica cientfica, conforme Quintela (2006), os ndios goy so os menos conhecidos,
embora do ponto de vista folclrico sejam os mais mitificados, alm de terem sido incorporados
parafernlia indigenista que integra o imaginrio construdo em torno do volksgeist que cerca a
total falta de informaes cientficas acerca da verdadeira existncia de uma populao de ndios
goy.
Para Quintela (2006, p. 47), desde a criao da Capitania de Gois, a nao dos Goyases
somente existia como uma vaga lembrana no imaginrio coletivo. Em termos etimolgicos,
goy apresentado em contraparte ao termo tapuia, tambm de origem tupi, para se referir a
qualquer povo indgena de procedncia no tupi, ou seja, aqueles que falavam lnguas de outros
troncos lingusticos, principalmente as lnguas do Macro-j. Enquanto que o termo goy se
referia gente da mesma etnia tupi, parecido, indivduo semelhante aos tupi.
Por outro lado, o termo goy serviu de base para formao de vrios topnimos seja na
poca das bandeiras, durante a ocupao da regio, seja posteriormente, j no sculo XX. Assim,
surgiu Goiandira (do tupi corr. Guay, c. gu-y o indivduo semelhante + -dira elemento
desconhecido). Habitada primitivamente pelos Kayaps, depois tomada, em 1800, por Toms
Garcia com o nome de Campo Limpo. No entanto, Goiandira s foi se desenvolver com a
chegada dos trilhos da estrada de ferro por volta de 1915.
Goiansia outro topnimo cuja origem data de 1857, num lugar entre Jaragu e
Pirenpolis, chamado Calo de Couro, por ser banhado por um crrego com mesmo nome. O
topnimo, no entanto, uma referncia cidade mineira de Guaransia, onde nasceu Laurentino
165
Martins, fundador da cidade.
Em relao a Goiatuba (do tupi corr. Guay, c. gu-y o indivduo semelhante + -t(i)uba
abundncia, coletividade), pode-se dizer que os primeiros aglomerados humanos deram-se em
1860 quando antigos bandeirantes seguiram para oeste em busca de ouro e pedras preciosas e
quando pessoas vindas de Minas Gerais se fixaram no territrio para criao de gado.
J Goinia, Goianira e Goianpolis so mais recentes, esta ltima tem suas primeiras
edificaes em 1928, conhecida como Currutela; enquanto Goianira data de 1920 e Goinia
tem sua fundao em 1937, construda para abrigar a nova sede administrativa do estado de
Gois.
As demais cidades que tiveram suas primeiras povoaes ainda nos sculos XVIII e XIX
so Aragaras, Anicuns, Aruan, Caiapnia, Corumb de Gois, Corumbaba, Crixs, Cumari,
Iaciara, Inhumas, Ipameri, Itabera, Itapirapu, Itarum, Itauu, Itumbiara, Jaragu, Jata,
Mairipotaba, Mamba, Piracanjuba, Porangatu.
A primeira leva de garimpeiros em Aragaras, ocorreu em 1872, vindos do Mato Grosso e
sendo exterminados pela tribo que habitavam o lugar, os Bororos. O topnimo formado pela
aglutinao de Araguaia em cuja margem se situa com Garas, seu afluente que faz
confluncia no lugar.
O surgimento de Anicuns deve-se minerao, a abundncia de ouro na regio fez
convergir para o lugar os primeiros elementos humanos, mais tarde o solo frtil propiciou o
cultivo da terra e a criao de gado. O locativo Anicuns deve-se tribo indgena Guanicuns
que habitava a regio e que, por sua vez, ornavam-se com a plumagem dos pssaros de mesmo
nome, estes se destacavam pelo porte, peso e comprimento de suas asas.
Um presdio militar, cuja construo ocorreu em 1850, deu origem a um incipiente
povoamento prximo confluncia do Rio Vermelho com o Rio Araguaia. Muitas etnias
habitavam o territrio entre elas destacavam-se os Karajs (que ainda habitam a regio). Para
homenagear a imperatriz, o lugar recebeu o nome de Leopoldina, com a chegada de religiosos,
passou a se chamar Santa Leopoldina, mas, com a emancipao vila, em 1868, volta a
denominar-se Leopoldina. Em 1939, tornou-se Aruan, nome de um peixe abundante na
regio.
A regio habitada pelos Kaiap foi devassada pelos mineiros em busca do ouro. Com a
construo de uma igreja em louvor ao Divino Esprito Santo em 1845, surgiram as primeiras
casas do ento povoado de Torres do Rio Bonito, depois em 1911, apenas Rio Bonito e em
1943, tem seu nome mudado para Caiapnia (do tupi ca-y-pra + - (a)nia variao do
sufixo nominal do latino -anus, -ana que se documentam em nomes e modificadores com
166
as noes de provenincia, origem entre outras) em lembrana aos primeiros habitantes da
regio.
Corumb de Gois (sm. do tupi cur-mbd seixos esparsos, cascalho raso), Corumbaba
(Corumb + corr. do tupi -yba, yb- o que nasce da rvore, o fruto), surgiram
respectivamente em 1731 e 1885, a primeira como polo de minerao nos Rios Corumb e
ribeiro Bagagens, a segunda, como ponto forado de passagem de viajantes vindos de So
Paulo (ou de outras partes do pas) para Vila Boa, capital da provncia de Gois.
O incio do povoamento da cidade de Crixs deu-se ainda em 1726, com a passagem da
bandeira de Bartolomeu Bueno Filho ao descobrir no lugar ricas minas de ouro. No entanto, a
regio j era habitada pelos ndios da etnia Kirirs ou Curuchs, adaptado em tupi para
Crixs.
Sesmarias das Rosas, posteriormente, conhecida por Samambaia, caminho de
passagem para os que se dirigiam Vila Boa, tornou-se, em 1908, Cumari (adj. corr. tupi
cu-mbori que excita a lngua) devido planta nativa de mesmo nome abundante na regio.
Por volta de 1881, um escravo de nome Miguel Cardoso da Conceio, promoveu uma
ladainha em louvor a Santo Antnio, a partir de ento, os festejos se tornaram frequentes
dando origem ao povoado de Boa Vista, mais tarde Iracema e, em 1887, foi elevado a
distrito com o topnimo Iaciara (do tupi jassy-ara nome prprio).
Em relao aos topnimos Inhumas e Ipameri, tem-se respectivamente, o primeiro
surgiu em 1858, com a Fazenda Goiabeiras (rvore frutfera abundante na regio); em 1886,
atrados pela fertilidade das terras, o lugar recebeu os primeiros moradores, mas somente em
1908, passou a Inhumas (do tupi nh-um com anteposio do artigo a ave preta) devido
ave que, com seu canto, traz nostalgia s margens dos ribeires da regio. J Ipameri, antes
Vai-vm, depois Entre Rios, tornou-se Ipameri (sm. do tupi upaba gua de mosca de
lago + mberu mosca + 'y gua, lagoa pequena) em 1904, mas o moradores consideram
que o termo significa entre guas ou entre rios.
Itabera, Itapirapu, Itarum e Itauu (os it) surgiram entre 1755 e 1892. Esses
locativos apresentam a base tupi ita pedra e remetem a aspectos naturais ou subjetivos,
especificando o termo pedra, respectivamente: (itabera-y rio de pedra luzente); (it-apyra-
puama ponta de pedra); (it-r-u-ym antigo bebedouro de pedra) e (ita-ussu pedra
grande).
Por volta de 1824, foi aberta uma estrada para ligar Anhanguera (GO) a Uberaba (MG),
com o nome de Itumbiara. Foi instalado um posto de arrecadao margem do Rio
Paranaba, onde surgiu o povoado Porto de Santa Rita, depois apenas Porto. A partir de
167
1943, com a emancipao, o topnimo da cidade passou a ser o mesmo da estrada, isto ,
Itumbiara (do tupi ytu-emb-ara cachoeira que cai pelas bordas). Para os moradores, o
termo significa caminho da cachoeira.
O incio do povoamento de Jaragu se deu no sculo XVIII pelos faiscadores que
acorreram ao crrego dos Jaragus atrados pelo prenncio da riqueza aurfera do lugar. A
construo da capela em louvor a Nossa Senhora da Penha impulsionou o crescimento do
arraial que teve como primeiro nome Nossa Senhora da Penha de Jaragu, depois apenas
Jaragu (do tupi yara-gu ponta proeminente, dedo de Deus) nome de planta de fibras
txteis.
Diferentemente dos demais municpios fundados em decorrncia da extrao do ouro
em Gois, Jata (do tupi y-a-ata rvore de fruto duro, designa tambm uma espcie de
abelha) teve seus primeiros ncleos populacionais relacionado expanso de gado em 1836
fundando uma fazenda s margens do Rio Claro, posteriormente uma capela em louvor ao
Divino Esprito Santo de Jata, surgindo ento o distrito de Paraso de Jata.
Tanto Mairipotaba como Mamba tiveram incio na segunda metade do sculo XIX.
Mairipotaba (do tupi mairy a grande populao + taba do tupi geral o povoado, o arraial)
desenvolveu-se em torno da estao telegrfica criada pelo governo da Unio em 1892 .
Mamba surgiu prximo ao Crrego Riacho, primeiro topnimo do municpio, alterado por
documento desconhecido para Mamba (do tupi amamba-y rio das samambaias).
O povoamento de Piracanjuba (do tupi pir-acan-yuba peixe de cabea amarelaou
dourada) teve incio por volta de 1830 com o objetivo de se estabelece um pouso para
facilitar as relaes comerciais entre Gois, Minas e So Paulo. O topnimo est relacionado
lenda indgena que relata a histria de dois jovens, o cacique Piracan e a filha de seu
inimigo, Jubara, cujo amor proibido fez com ambos se atirassem ao rio. Ento surgiu nas
guas do mesmo rio, um peixe at ento desconhecido, assim receberam o nome de
Piracanjuba, tanto o peixe como o rio.
Nas primeiras notcias de povoamento em Porangatu, consta a existncia da fazenda
Pindoreira, uma Colnia de ndios fundada pelos padres da companhia de Jesus.
Posteriormente, no sculo XVIII, surgiu um ncleo urbano cujo topnimo era Descoberto,
tambm relacionado s descobertas de ouro. Em 1943, passou a denominar-se Porangatu
(do tupi poran + gatu bela pasagem).
Os demais topnimos de origem indgena foram fundados j no sculo XX mas, por
razes de espao, so descritos em outro artigo.
168
Consideraes Finais
A escolha dos nomes dos lugares goianos, quando recai sobre um nome de origem
indgena, tem sua motivao tanto em elementos fsicos naturais - seja uma pedra, um aspecto
da paisagem, um animal presente em determinado habitat, um rio como em elementos de
ordem mais subjetiva como a beleza do lugar, a impresso do denominador sobre o ambiente
muitas vezes. Os topnimos tambm tentam trazer lembrana as imagens que se mantm no
inconsciente coletivo dos primeiros habitantes do estado tais como os Crixs, os Kaiap, os
Guanicuns, entretanto no so as lnguas faladas por eles que lhe servem etnnimo, mas a
lngua tupi, uma das duas lnguas faladas pelos bandeirantes, os primeiros a darem nomes aos
lugares goianos. Em relao a essa lngua (o tupi), por meio dela que muitos lugares so
denominados, inclusive o nome do estado, que advm de um elemento do imaginrio, isto ,
remontam a um fato permeado por imagens de espritos e por transmutao dos estados da
matria. Em outra palavras, segundo Durant (2012), as relaes do semantismo arquetpico e
simblico que se organizam em narrativas histricas, como a narrativa do Anhanguera cujas
imagens simblicas no bastam em seu simbolismo intrnseco, por meio de um dinamismo
extrnseco se ligam umas s outras na forma de narrativas.
Ainda sobre o tupi como matiz lexical para grande parte dos macrotopnimos goianos,
em termos lingusticos e em consonncia com o que diz Rodrigues (2006), os nome prprios
de lugares no tm sua origem, exatamente, em uma das duas lnguas gerais faladas poca
do Brasil colnia, eles foram criados mais tarde, quando a lngua geral j deixava de ser
falada. Por outro lado, o tupi desempenha, na tradio brasileira, papel parecido com o latim e
o grego antigo nas cincias, isto , representa uma fonte virtual, um depsito de razes lexicais
produtivo para se formar e at construir topnimos.
REFERNCIAS
COUTO, Hildo Honrio do. Ecolingustica: estudo das relaes entre lngua e meio ambiente.
Braslia: Thesaurus, 2007.
DICK, Maria Vicentina de Paula do Amaral. A motivao toponmica e a realidade brasileira.
So Paulo: Edies Arquivo do Estado de So Paulo, 1990.
DURANT, Gilbert. As estruturas antropolgicas do imaginrio. So Paulo: Martins Fontes,
2012.
169
QUINTELA, Anton Corbacho. Os ndios goy: os fantasmas e ns. In: Revista UFG.
Goinia: UFG, n. 1, 2006. p. 44-48.
ROCHA, Leandro Mendes. O estado e os ndios: Gois 1850-1889. Goinia: UFG, 1998.
RODRIGUES, Aryon DallIgna. Tupi, tupinamb, lnguas gerais e portugus do Brasil. In:
NOLL, Volker; DIETRICH, Wolf. O portugus e o tupi no Brasil. So Paulo: Contexto, 2006.
p. 27-47.
SAMPAIO, Theodoro. O tupi na geografia nacional. Bahia: Seco Graphica da Escola de
Aprendizes Artificies, 1928.
GOIS. Superintendncia de Estatstica, Pesquisa e Informaes Socioeconmicas/SEPIN/
SEPLAN Gerncia de Estatstica Socioeconmica, Gois, Goinia, 2010. Disponvel em
http://www.seplan.go.gov.br/sepin
TENT, Jan; BLAIR, David. Motivations for naming: the development of a toponymic
tipology for Australian placenames. In: Names. American Name Society, v. 59, 2011. p. 67-
88.
TIBIRI, Luiz Caldas. Dicionrio de topnimos brasileiros de origem tupi. Aclimao:
Trao, 2009.
170
UMA VISO ECOFEMINISTA DE METFORAS EM REPRESENTAES SOBRE
MULHER E NATUREZA
Ludmila Pereira de Almeida
Universidade Federal de Gois
E-mail: Ludpereira@hotmail.com
RESUMO: O objetivo deste trabalho saber como a linguagem se molda para construir
diferenas de gnero e estabelecer relaes de poder. Para isso, partiremos da viso proposta
por Lakoff e Jhonson (2002), que apontam as metforas como algo presente em todos os tipos
de linguagem. Aplicaremos isso na analise de uma capa de revista e de um anncio com
temtica ecolgica que trazem a imagem da mulher como parte da natureza, possibilitando-
nos observar a metfora da Me natureza, que tambm remete ao mito de Gaia, tida como a
Me Terra, a deusa Terra, que gera os planetas e o cosmo. Para Durand (2001), o mito pode
retratar a ideologia de uma sociedade ao utilizar a materializao do discurso, quando os
smbolos se resolvem em palavras e os arqutipos em ideias. Podemos assim considerar o
mito tambm como uma metfora por nos levar a "compreender e experienciar uma coisa em
termos de outro. Trazendo uma viso ecofeminista em torno da metfora Me natureza,
perceberemos que as representaes femininas em sua maioria se ligam a representaes da
natureza; e essa forma de representao, que consequentemente leva ao binarismo sobre
mulher/natureza, algo criticado pelas ecofeministas (KING,1997). Elas buscam no s a
preservao e a libertao da natureza, mas tambm a libertao da mulher concebida
culturalmente como um ser inferior e submisso, assim como a natureza. Dessa forma, a
mulher representada e construda metaforicamente como parte da natureza abordada no
ecofeminismo como agente histrico-social, e no como produto da lei natural. H assim um
combate poluio ideolgica do patriarcado, que marca seus corpos como algo pblico, para
servir o homem, como tambm ocorre com a natureza.
Introduo
171
pela linguagem que somos construdos e construmos o outro e tambm por
meio dela que os discursos se materializam, constituindo valores e concepes de mundo de
um dado povo, de uma dada cultura. Assim, pelo contexto de produo discursiva que as
ideologias so normatizadas e estruturam o funcionamento das prticas sociais que levam a
noes de diferenciao entre mulheres e homens.
O objetivo deste trabalho verificar como a linguagem se molda nas metforas
para construir e reforar diferenas, estabelecendo relaes de poder em uma sociedade
capitalista. Nosso corpus ser um anncio da Associao Brasileira dos Bispos do Brasil
(2011) e a capa da revista PHOTO (2009) - ambas com temtica ecolgica e que trazem a
ideia da metfora Me natureza. Adotaremos a concepo de lngua conforme ela vista
pela ecolingustica (COUTO, 2007), que tem a lngua como parte de um ecossistema social,
de forma que a materializao dos discursos pode retratar as ideologias vigentes em uma dada
sociedade. Nos levando a fazer uma anlise discursiva ecolgica (ADE), considerando a
sociedade como um ecossistema que sobrevive pela diversidade e suas interaes. O
ecofeminismo ser conceptualizado pelas ideias de King (1997) e Puleo (2011) como o
movimento de emancipao tanto das mulheres como da natureza em relao ao pensamento
patriarcal. Por fim, conceituaremos as metforas conforme a proposta de Lakoff e Jhonson
(2002), que entendem a metfora como no s uma mera figura de linguagem, mas um
fenmeno que nos possibilita compreender como observamos o mundo e lhe damos
significados, o que contribui para observar como somos construdos e como construmos
sentidos pelas metforas.
Discusso e resultados
O ecofeminismo , ento, um movimento poltico que surge da necessidade de um
feminismo mais holstico, que interliga as questes de sobrevivncia pessoal e planetria. O
ecofeminismo se origina, na dcada de 70, dos movimentos sociais feminista, pacifista,
ambientalista, procurando combater o pensamento capitalista que justifica o uso excessivo dos
recursos da natureza, para gerar o chamado progresso cientfico. Para Couto (2009), que
ecolingusta, o mundo capitalista trouxe agresso ao meio ambiente mental e,
consequentemente, ao ambiente social e biolgico. Devido vida estressante que levamos, o
som de fones de ouvido em volumes acima dos decibis aceitveis e a agresso ao mundo
social existe pela violncia, roubo, o sequestro e outros, e o meio ambiente biolgico sofre
172
com a sua explorao acima de seus limites. Conforme a viso da ecolingustica de que tudo
est conectado de maneira a sermos seres constitudos tambm pela natureza, propomos aqui,
ento, uma viso holstica do ecofeminismo, como um movimento que procura conectar a
humanidade, a cultura e a natureza, concebendo-as como intrnsecas.
O movimento poltico do Ecofeminismo
Foi no ano de 1974, segundo Juncadella (1994), que Franoise d'Eaubonne
adotou, pela primeira vez, o termo ecofeminismo para representar o incio de uma revoluo
ecolgica que conduz a novas relaes de gnero entre homens e mulheres, e tambm entre os
seres humanos e a natureza. No podemos confundir feminismo e ecologia como
movimentos unificados, o ecologismo e feminismo possuem objetivos e vises diferentes.
Enquanto o primeiro prope a preservao da natureza e dos recursos naturais, o segundo vai
alm e procura desenvolver um pensamento que liberte as mulheres e a natureza da
objetificao produzida pelo pensamento patriarcal capitalista. O ecofeminismo busca uma
igualdade social no s entre os seres humanos, mas tambm com a natureza, reivindicando,
segundo King (1997), a velha metfora da terra como organismo. King at estende o conceito
de corpo para incluir tambm o corpo da terra, ao apontar que o corpo feminino e o da terra
so corpos que tm sido domados com igual empenho.
Alm disso, Bell nos chama a ateno para o fato de que a natureza no um
lugar desprovido de ideologia. [...] Termos tais como natureza e natural tm sido usados
para expulsar e/ou controlar corpos, vidas e culturas [...]. (BELL, 2010 apud Carmo e
Bonetti, 2011, p. 2). Atravs dessa ideologia, tornamo-nos homens e mulheres manipulados e
marcados por concepes culturais que apontam o natural como justificao para um fim
social. Isso tambm ocorre com a definio do que venha ser sexo masculino e feminino, que
so, segundo Butler (2010), definies polticas que fornecem papis sociais e hierarquizam
os seres humanos atravs de algo biolgico. Assim, a concepo de natural tambm deve ser
questionada na medida em que ela estabelece um padro que favorece uns e subordinam
outros.
Ento, reportando-nos famosa fala de Simone de Beauvoir
Ningum nasce mulher: torna-se mulher. Nenhum destino biolgico,
psquico, econmico define a forma que a fmea humana assume no
seio da sociedade; o conjunto da civilizao que elabora esse
produto intermedirio entre o macho e o castrado que qualificam de
173
feminino. (1967, p. 9)
Somos construdos por discursos, pela linguagem, que levam a concepo de
gnero feminino e masculino, segundo a qual a menina, desde criana, ensinada a gostar de
cores consideradas femininas, principalmente, o rosa, a brincar com bonecas, a ajudar a me
nos afazeres domsticos, a ser comportada, obediente. Por outro lado, os meninos so
ensinados a ser fortes e no chorar, a brincar com carrinhos e caminhes. H, enfim, mais
liberdade no modo de agir do menino, para que ele se torne um homem viril, em comparao
com a menina, destinada a ser dona de casa. Isso se resume no que afirma Filho (2007) acerca
do construcionismo, que tem o mundo humano-social como o produto da construo humana,
cultural e histrica. Uma viso construcionista implica compreender a realidade social como
resultado da ao dos prprios seres humanos ao implantarem ideologias que representem as
diferenas culturais e histricas de um povo. Essa construo tambm retrata, dentro de um
mesmo povo, a hierarquia e a dominncia de uma ideologia sobre a outra, de um grupo social
sobre o outro.
O pensamento de que o corpo feminino parece condenar a Mulher a mera
reproduo da vida e o corpo do homem a funes de criatividade, desenvolvimento de
tecnologias e trabalhos que exigem fora e que possuem maior valor social, tido, portanto,
como apenas um ponto de vista, o do dominante, o do homem, considerando que estamos
imersos na ideologia de uma sociedade patriarcal. Assim, a biologia posta como a
instauradora da desigualdade, mas isso s faz efeito quando se constroem discursos de
diferena que se normatizam pela inferioridade do outro.
Corpo: do natural ao ideolgico
A mulher, tendo um corpo marcado e submisso ideologicamente por sua cultura,
tem, ento, como dever gerar indivduos que a sociedade ir educar, o que se estabelece como
lei para a mulher, impedindo-a de decidir o contrrio, de no ter filhos. Esse justamente um
dos pontos que Franoise d'Eaubonne, criadora do termo ecofeminismo, buscou combater,
que a questo da superpopulao mundial, pelo fato da mulher no poder exercer pleno
domnio sobre seu corpo, ao ter que cumprir funes ditas naturais e se sujeitar as vontades de
seus maridos, dando a luz a vrios filhos, no podendo assim, escolher quando t-los. A
respeito disso, o ecofeminismo tambm tem lutado, para Puleo (2009), pesquisadora
ecofeminista, de fundamental importncia que os Direitos Sexuais e Reprodutivos sejam
174
realmente aceitos como Direitos Humanos que garantem a autonomia das mulheres e que, ao
mesmo tempo, levam diminuio demogrfica sobre a Terra.
Com a modernidade, a mulher procura obter lugar na sociedade pela liberdade
sobre o que fazer com seu corpo. A criao da plula contraceptiva possibilitou mulher poder
programar sua vida, tanto profissional quanto materna e at mesmo eliminar funes naturais.
Assim,
[...] a plula contraceptiva ajudou (a mulher) na luta por esta
identidade fora dos sistemas machistas e androcntricos, pois com ela
as mulheres se libertaram do prprio corpo como um destino natural,
biolgico, que lhes era imposto. A partir desse grande marco histrico,
mulheres puderam escolher entre ter filhos ou no, ou ter quantos
filhos quisessem, libertando-se at de um estigma religioso que lhes
atribua a funo de parturientes de quantos filhos Deus lhes desse.
(ARN, 2003 apud PASSOS, p. 102, 2011)
Com isso, um dos objetivos do ecofeminismo buscar a libertao dos corpos
tanto da mulher como da natureza (terra), das ideologias patriarcais, que decidem sobre elas,
explorando-as, dominando seus corpos e tirando sua autonomia. Considerando que no corpo
que as ideologias so retratadas, a conceituao do que venha ser gnero e sexo tambm se
estabelece por esse vis, o que faz do corpo um repositrio de discursos estabelecidos pela
cultura e sobre o que tido como natural e o transforma em mais um objeto que representa
um povo. Assim, o corpo moldado pela cultura, estabelecendo regras e normatizando
padres que so repetidos a todo instante em nossas prticas sociais, chegando a fazer parte
do imaginrio social.
Sardenberg (2002) nos prope a noo de corpos gendrados e identidades e
subjetividades corporificadas, a fim de desconstruir a dicotomia sexo/gnero e afirma que o
gnero se corporifica e se materializa em sexo, ou seja, no reconhecimento da diferena
sexual entre machos e fmeas. O biolgico promove o binarismo e j desempenha o modo
como dever ser um homem e uma mulher. So concepes do diferente que classificam e
categorizam os corpos, ainda para Sardenberg (2002), dessa forma, at mesmo um corpo
desnudado, sem modulaes ou inscries culturais especficas no exatamente um corpo
dito natural. Mas o que vem ser um corpo natural? Ser que o natural no apenas mais um
conceito construdo pelas ideologias dominantes?
Butler (1987) aponta que o sexo construdo discursivamente, de modo que sexo
j gnero. Ela considera que o sexo algo determinado biologicamente e gnero so papis
175
sociais que estabelecidos pela cultura. Para algumas autoras como Haraway e a prpria Butler,
preciso historicizar o sexo para saber de onde veio esse conceito, quem o formulou e de que
contexto ele faz parte. Com isso, o que se considera como natural efeito de diversos
discursos, o resultado de ideologias e prticas sociais que constroem normas culturais, como
o discurso mdico e cientfico, que possuem forte persuaso ideolgica, mas que so liderados
e considerados ramos predominantemente masculinos.
Alm disso, Butler (1987), que linguista e feminista, afirma em seus estudos: o
objeto para mim no se restringe de modo algum a sexo e heteronormatividade. Relaciona-se
a todo tipo de corpos cujas vidas no so consideradas vidas e cuja materialidade
entendida como no importante. (p. 161). Com isso, o ecofeminismo, ao buscar no s a
liberdade da natureza e da mulher busca tambm a dos animais, que possuem corpos
destinados ao consumo. Assim como a natureza e a mulher, os animais tambm sofrem com a
explorao e o domnio pelo homem (humanidade), a fim de satisfazer seu desejo por
alimento. O ecofeminismo se pauta na opresso da natureza tanto humana quanto no
humana. Isso serve para compreendermos como chegamos animalizao da mulher,
feminizao da natureza, de animais e de outras minorias ao se formar um abismo e uma
hierarquizao entre Natureza/Cultura.
Por sermos seres constitudos socialmente, o estabelecimento das relaes de
poder atribudo pela marcao, em uma estrutura binria, que de acordo com Laclau (1990
apud HALL, 2007), Derrida mostra como a constituio de uma identidade esta sempre
baseada no ato de excluir algo e de estabelecer uma hierarquia entre os dois polos como
homem/ mulher, branco/negro. Assim tambm ocorre com o que tido como parte da
natureza e parte da cultura: [...] quando a natureza feminizada e, assim, erotizada, e a
cultura masculinizada, a relao natureza-cultura torna-se uma das formas de
heterossexualidade compulsria. (CARMO, 2011, p. 12). Nessa relao o pensamento
patriarcal predominante e estabelece os opostos, categorizando de modo que as relaes de
poder beneficie um e no outro ao colocar a natureza como marcada e a cultura como no
marcada, considerando esta um elemento que impera sobre a natureza.
Alm disso, a ecofeminista Greta Gaard (2011) diz que um dos passos para
desraigar esses dualismos consiste em reconhecer que homens e mulheres so partes iguais da
cultura e da natureza. Para Mendes e Nbrega (2004, p. 130), corpo, natureza e cultura se
interpenetram atravs de uma lgica recursiva. O que biolgico no ser humano encontra-se
simultaneamente infiltrado de cultura. Todo ato humano biocultural. Com isso, a cultura e a
natureza existem pelas suas relaes com o ser humano e vice-versa, essa interao no
176
estabelece quem superior ou inferior, sendo isso uma definio estabelecida pelo homem e
pela linguagem. Da o que natural e o que cultural so definies que resultam da
construo social, e a partir dela que observamos o mundo. E se libertar de concepes
cristalizadas que formam bases culturais um dos alvos do ecofeminismo.
A Metfora como forma de representao cultural da Mulher e da Natureza
Nossa concepo de metfora parte da ideia proposta por Lakoff e Jhonson
(2002), que afirmam que as metforas esto presentes em todos os tipos de linguagem, no
sendo apenas uma figura de linguagem, mas um fenmeno central que nos possibilita
compreender como observamos o mundo e lhe damos significados, o que nos leva tambm a
perceber como as metforas podem contribuir para a propagao do discurso dominante. Isso
acontece, pois, ao conceptualizar algo no mundo, materializamos tambm nossa ideologia, o
modo como agimos perante uma situao, uma viso de mundo.
Ramos (2008) diz que a essncia da metfora corresponde interpretao de uma
experincia (nova) em funo de outra (conhecida) (p. 12). A partir da associao da
natureza com a mulher, poderemos entender a metfora da Violao da Natureza. Por meio
dessa metfora, verifica-se que a Mulher no considerada agente social que possui voz e
sofre com a violao de seu corpo (sendo essa violao no s fsica, mas, tambm simblica)
por ele ser tido como um corpo pblico, gratuito, destinado aos prazeres do homem. Assim
tambm ocorre com a natureza, que explorada e modificada, estando nossa disposio
como algo dado.
Outra expresso metafrica conhecida e que colabora para esse trabalho a
metfora da Me natureza. Nela, h a ideia de me como aquela que serve, cuida, protege,
gera e smbolo de fertilidade e pureza, caractersticas consideradas naturais s mulheres e
tambm natureza, tornando-se um destino para seus corpos e configurando sua utilidade
para a sociedade. Essas ideias j se encontram no imaginrio social, de forma que, quando
percebemos que uma rvore no gera frutos, imediatamente pensamos em cort-la. Da mesma
maneira, a mulher, quando no pode, ou decide no ter filhos, sofre uma sano social, como
se estivesse contrariando uma lei natural de procriar, assim como para a rvore de gerar
frutos, cuja liberdade de escolha no importa, e sim seu destino biolgico. Como j
discutimos, contudo, a noo de destino biolgico ou natural algo construdo culturalmente.
Assim, podemos observar nas imagens abaixo a manifestao dessa metfora da
Me natureza, ao retratarem discursos que relacionam mulher e natureza como corpos
177
anlogos, materializando o pensamento representacional de uma cultura.
O primeiro anncio da Associao dos Bispos do Brasil e traz como tema do ano
a Fraternidade e a vida no planeta (2011), retratando a imagem de um pequeno ramo de planta
tentando sobreviver em meio poluio e ao concreto. Usando uma mensagem bblica, o
anncio traz a frase A criao geme em dores de parto. A natureza humanizada de forma a
poder dar luz, assim como do biolgico da mulher ter filhos, retratando que, mesmo em
meio ao concreto e poluio que o homem ocasiona em nome do progresso, a natureza ainda
resiste. Da mesma forma ocorre com a mulher na sociedade antropocntrica que, ao procurar
obter lugar, muitas vezes barrada e tida como ameaa ao territrio masculino que quer
manter seu poder. Em razo dessa amea, as mulheres tm salrios mais baixos e seu trabalho
desvalorizado.
A outra imagem uma capa da revista francesa PHOTO do ms de junho de 2009,
com o tema Special Ecologie, retratando a mesma metfora da Me natureza. Nela, h a top
model Gisele Bndchen envolvida por galhos em meio a uma aparente floresta, que um
lugar em que h diversidade de seres vivos e fertilidade, podendo at se parecer com um
tero, se pensarmos no modo como ela fechada envolvendo todos que moram ali dentro de
uma maneira aconchegante os protegendo do mundo externo.
Essas imagens tambm nos remetem ao mito de Gaia, considerada a Me Terra, a
deusa Terra, que gera os planetas e o cosmos. Isso considerando o mito, conforme Durand
(2001), como a ideologia de uma sociedade ao utilizar a materializao do discurso em que os
smbolos se resolvem em palavras e os arqutipos em ideias. Nesse caso, o arqutipo da
Grande me pode ser dado mulher e natureza devido sua analogia. Com isso, podemos
considerar o mito tambm como uma metfora por nos levar a "compreender e experienciar
178
uma coisa em termos de outro.
As metforas, por serem formas de expresso originadas dentro de um sistema
cultural, carregam, ento, a viso de mundo de um povo, de forma que cada vez que uma
metfora usada, mais sua ideologia se cristaliza e se normatiza, tornando algo normal e parte
do cotidiano. Dessa forma, importante pensar sobre as metforas e sobre qual discurso ela
transmite. Nesse sentido, o ecofeminismo luta para que ideologias que inferiorizem o outro
sejam reformuladas para se obter a igualdade e o respeito, gerando um ecossistema
equilibrado e harmnico, no qual cada ser parte fundamental para o funcionamento da
sociedade.
A ecolingustica contribui tambm aqui de forma holstica, direcionando-nos a
observar como se constitui a relao lngua e meio ambiente, tendo como perspectiva a
linguagem como parte de um ecossistema, isto , ao estudarmos a linguagem e como suas
engrenagens funcionam na formao de um discurso, podemos perceber como se configura
uma sociedade e como ela estabelece as relaes de poder. Com isso, segundo Couto (2013, p.
1) A lingustica ecossistmica estuda os fenmenos da linguagem sob qualquer forma pela
qual possam aparecer. O que inclui tambm as metforas e o ponto de vista ecofeminista,
pois so formas de retratar o mundo, o ecossistema social, e interferir nele de alguma forma.
Nessa perspectiva, estaremos tambm fazendo uma anlise discursiva ecolgica que nos
direciona a analisar o ecossistema e seu funcionamento, suas conexes, priorizando a vida, a
diversidade.
E ideias com base no antropocentrismo, a humanidade como o centro do universo,
e androcentrismo, o homem e os ideias masculinos como superiores, so combatidos pelas
ecofeministas e pelos ecolinguistas por serem conceitos que trazem ideologias que excluem e
centralizam o poder, deixando de lado a harmonia do ecossistema como um todo.
Perante isso, o ecofeminismo e a ecolingustica, trazem uma viso que
Trata-se igualmente de uma manifestao da viso holstica das coisas
e dos seus estados e a ligao ntima entre lngua e mundo, a
considerao de um sistema global no qual a alterao de uma parte
interfere necessariamente no todo, no qual cada mudana no mundo
tem efeitos na linguagem e esta tem repercusses no mundo.
(RAMOS, 2008, p. 8)
Consideraes finais
179
Assim o problema aqui no a analogia que se faz da mulher com a natureza, mas o destino
e concepes que ambas sofrem pelas construes sociais patriarcais, que se normatizam
pelas repeties em diversos meios, principalmente, miditicos, tornando o discurso do
opressor como algo natural, fazendo at part MITO VERDE: UM DILOGO ENTRE BARTHES E A
ECOLINGUSTICA CRTICA
Ricardo Sena
INTRODUO
Richard Alexander, em seu artigo intitulado Sobre a necessidade de submeter o
discurso ambiental contemporneo investigao reflexiva (2010), alerta para o fato de que
quando lemos textos ou vemos imagens sobre questes ambientais, ns precisamos procurar
saber de onde as pessoas esto vindo, isto , quais so os interesses reais que subjazem aos
textos que se apresentam como gnero cientfico, jornalstico, poltico e de negcios. A
inteno da presente pesquisa exatamente esta: investigar duas peas publicitrias que tm o
discurso ecolgico como mote, observar a recorrncia de termos e imagens que remetem ao
campo semntico do discurso ambiental e problematizar o quanto tal discurso, revestido da
boa inteno de cuidar do planeta Terra, no fundo, tambm tem uma funo mercadolgica e
visa ao lucro da empresa anunciante.
Para ajudar nesta tarefa, ser muito til o trajeto semiolgico proposto por Roland
Barthes, cuja finalidade chamar a ateno para os significados ocultos que,
imperceptivelmente, consumimos nos diferentes discursos que circulam socialmente, seja
no cinema, nas capas das revistas, nas manchetes dos jornais ou nas propagandas televisivas
ou impressas. A esses significados Barthes d o nome de mito, explicao que ser melhor
defendida na primeira parte desta pesquisa, que operacionaliza ainda, num segundo momento,
conceitos da Ecolingustica que nos ajudaro a perceber como se d a naturalizao do mito
verde, como se fora dele no houvesse salvao para a humanidade.
MITO PARA ROLAND BARTHES
Existem inmeras concepes de mito, mas aqui nos interessa compreender a
concepo de mito para ao pensador Roland Barthes, que se debruou sobre esta temtica no
livro Mitologias, de 1957. preciso ter sempre em mente a elasticidade do mito, seu carter
180
ajustvel, conciliador e moldvel: ele permite possibilidades infinitas de interpretao e se
deixa ser interpretado ad infinitum. O mito evolui e se adapta conforme a sociedade em que
est inserido. No seria diferente nas interpretaes que so feitas neste trabalho. Em outras
palavras, o que queremos dizer que mesmo as infinitas interpretaes no conseguiro
esgotar o mito.
Para Barthes, o mito uma fala. Mas no uma fala qualquer, porque escolhida pela
histria. A histria, como mostra Barthes, transforma o real em discurso. Podemos dizer assim
que a histria que comanda e dirige o mito. Sendo assim, o mito est em constante
transformao, bem como o discurso. O mito se constri historicamente e se adapta s novas
circunstncias. O mito da caverna no novo, mas se adequa realidade da televiso e do
cinema. O discurso do medo no novo, mas adquire novas roupagens com a substituio das
ameaas. J o discurso em defesa do meio ambiente, este relativamente novo, com incio
nos anos 60 do sculo passado. Como afirma Barthes (1957, p. 131), cada objeto do mundo
pode passar de uma existncia fechada, muda, a um estado oral, aberto apropriao da
sociedade, pois nenhuma lei, natural ou no, pode impedir-nos de falar das coisas. Dessa
forma, nos perguntamos: tudo pode se constituir em mito? Para Barthes, sim.
O mito uma mensagem que pode aparecer sob a forma oral, mas tambm por
escrito, representado em manifestaes fotogrficas, em reportagens (como mostra Barthes ao
analisar miticamente inmeros artigos da revista Paris Match), no cinema, no esporte e, claro,
na publicidade. O mito no se define por sua materialidade, pois qualquer matria pode
arbitrariamente ser dotada de significao. A imagem do Tio Sam, por exemplo, que aponta o
dedo a quem o olha, tambm uma fala, a que se podem agregar traos mticos, discursos,
significados. O semilogo deve tratar do mesmo modo escrita e imagem como um signo
global, ambos so signos, ambos alcanam o limiar do mito dotados da mesma funo
significante.
Ao discutir o mito, Barthes afirma o carter plurissignificativo da imagem, mais
at que a escrita. Mas a partir do momento que adquire significao, a imagem torna-se ela
mesma uma escrita, exigindo um lxico. O mito dependeria, portanto, de uma cincia geral, a
Semiologia. Para Barthes, a Semiologia parte da Lingustica. Isso se explica porque se um
semilogo resolve trabalhar inicialmente com material no lingustico, por exemplo, as
imagens, ele levado necessariamente a encontrar, em algum momento, a linguagem, embora
esta no seja exatamente a linguagem dos linguistas, mas uma segunda linguagem, cujas
unidades no so mais os fonemas, mas fragmentos mais extensos do discurso, os quais
remetem a objetos ou episdios que significam sob a linguagem, mas sem nunca prescindir
181
dela. A afirmao barthesiana refora a ideia de que a Semiologia, de alguma forma,
desemboca no lingustico.
notrio, portanto, que Barthes bebe na fonte de Saussure, autor de Curso de
Lingustica Geral (1916), de quem aproveita as ideias sobre lngua para discutir a
significao. Ao analisar a relao entre lngua e fala a partir das teorias saussurianas, Barthes
conclui que nos sistemas semiolgicos (no lingusticos) existem trs planos alm da
lngua/fala, o plano da matria, o da lngua e o do uso, com o primeiro plano assegurando a
materialidade da lngua. Essa matria, segundo Barthes, poderia ser o lingustico, mas
tambm poderia ser os artigos de jornal, os grafismos da publicidade ou as imagens da TV ou
do cinema. A cincia dos signos de Saussure contribuiu para Barthes postular uma ideia
fundamental dentro de seu projeto semiolgico: a intrnseca relao entre o significante e o
significado.
No sistema semiolgico deve-se considerar no apenas o significante e o
significado, mas tambm a correlao entre eles, o signo (o total associativo dos dois termos).
No mito subsiste este mesmo esquema tridimensional, mas com uma particularidade: o mito
se constri a partir de uma cadeia semiolgica que existe j antes dele, por isso um sistema
semiolgico segundo. De acordo com Barthes (1972, p. 138):
Pode constatar-se, assim, que no mito existem dois sistemas
semiolgicos, um deles deslocado em relao ao outro: um sistema
lingustico, a lngua (ou os modos de representao que lhe so
assimilados), a que chamarei linguagem-objeto, porque a linguagem
de que o mito se serve para construir o seu prprio sistema; e o prprio
mito, a que chamarei metalinguagem, porque uma segunda lngua, na
qual se fala da primeira.
Em resumo, o que Barthes alega que o mito apresenta como especificidade o
fato de possuir um significante j constitudo pelos signos da lngua, por isso a denominao
de mito como sistema semiolgico segundo, ou metalinguagem, porque j contm em si a
linguagem-objeto. O filsofo explicita melhor as relaes entre significante, significado e o
resultado da associao destes termos (BARTHES, 1972, p. 138-139):
O significante pode ser encarado, no mito, sob dois pontos de vista:
como termo final do sistema lingustico, ou como termo inicial do
sistema mtico: precisamos portanto de dois nomes: no plano da
lngua, isto , como termo final do primeiro sistema, chamarei ao
significante: sentido [...]; ou no plano do mito chamar-lhe-ei: forma.
Quanto ao significado, no h ambigidade possvel: continuaremos a
182
chamar-lhe conceito. O terceiro termo a correlao dos dois
primeiros: no sistema da lngua, o signo: mas no se pode retomar
essa palavra sem ambigidade, visto que, no mito (e isto constitui a
sua particularidade principal), o significante j formado pelos
signos da lngua. Chamarei ao terceiro termo do mito, significao, e
a palavra tanto mais apropriada aqui, porque o mito tem
efetivamente uma dupla funo: designa e notifica, faz compreender e
impe.
O mito j contm em si, portanto, uma linguagem. O significante do mito, a forma,
seria vazio, devendo ser preenchido. Enquanto isso, o significado cheio de sentido, o
conceito. Ao contrrio da forma, o conceito est repleto de uma situao e, assim como o
discurso, histrico, podendo ser construdo, alterado, desfeito ou at mesmo desaparecer
completamente. A significao de que fala Barthes, por sua vez, o prprio mito, exatamente
como o signo saussuriano a palavra, a entidade concreta.
Para Barthes, um s significado pode ter vrios significantes. Quer o autor dizer
que mil imagens podem alcanar o mesmo significado, o mesmo conceito mtico. Infinitas
imagens de mulher podem, por exemplo, remeter ao mito da boa me. Assim, o significado, o
conceito, muito mais pobre quantitativamente do que o significante. Se o conceito
limitado, tal limitao acaba por permitir ao mitlogo desvendar o mito: A repetio do
conceito atravs de formas diferentes preciosa para o mitlogo, permite-lhe decifrar o mito:
a insistncia num comportamento que revela a sua inteno (BARTHES, 1972, p. 141).
Enquanto na lngua o significado e o significante tm uma relao proporcional, um no
excede o outro, no mito o conceito pode cobrir uma grande extenso de significante. Como
mesmo compara o estudioso, um livro inteiro pode ser o significante de um s conceito e,
inversamente, uma palavra pode servir de significante a um conceito repleto de uma histria
extremamente rica.
Outra contribuio de Barthes: com ele, a linguagem deixou de ser pensada apenas
como um sistema abstrato de regras e passou a ser relacionada vida social, concreta,
palpvel, aos homens que criam regras por meio de suas prticas sociais dirias. Para Ribeiro
(2011, p. 83):
Influenciado pela Lingustica saussuriana, mas tambm pela
antropologia estrutural e pelo marxismo, Barthes queria descrever os
processos de semantizao dos comportamentos sociais, acreditando
ser possvel estudar toda e qualquer atividade humana como
linguagem. Fotografia, teatro, cinema, publicidade, strip-tease,
cozinha, astrologia, luta-livre foram alguns dos objetos das anlises
que desenvolveu em Mitologias (1957), uma das obras mais
183
importantes de sua fase inicial. Partindo de casos concretos da vida
cotidiana francesa, Barthes pretendeu realizar um trabalho de
depurao dos mitos contemporneos, numa crtica ideolgica da
cultura de massa. Queria chamar a ateno para os significados
ocultos que, desprevenidamente, consumimos nos diferentes
discursos.
Para Barthes, qualquer matria na vida social revestida de significado (um
significante) pode se tornar um mito. Para isso, necessrio sobrepor a um sistema
semiolgico primeiro (a linguagem em seu sentido denotativo) um segundo nvel de
significao, o sentido conotativo. Ele exemplifica no livro Mitologias em que consistiria a
construo do mito sobre as bases da vida concreta. Barthes faz referncia manchete de um
jornal francs onde se l: Preos: comeam a ceder. Legumes: primeira baixa. O primeiro
sistema, as frases que so lidas no jornal, um sistema puramente lingustico. Sobre ele, se
superpe uma significao: as palavras primeira e comeam sugerem uma interveno do
governo, como se os preos dos legumes tivessem baixado por obra poltica. neste ponto
que Barthes apresenta o carter de naturalizao do mito: o leitor desprevenido no alcana a
funo do mito, j que este se encontra naturalizado, uma verdade inerente s frases postas no
jornal: o governo eficiente e cuida do povo, tornando-lhe mais acessveis os alimentos.
Segundo Barthes (1972, p. 151-152):
A naturalizao do conceito, que acabo de colocar como funo
essencial do mito, aqui exemplar: num sistema primeiro
(exclusivamente lingustico) a causalidade seria, ao p da letra,
natural: frutas e legumes baixam de preo devido estao (que os
produz em abundncia). No sistema segundo (mtico), a causalidade
artificial, falsa, mas consegue, de certo modo, imiscuir-se no domnio
da Natureza. por isso que o mito vivido como uma fala inocente:
no que as suas intenes estejam escondidas: se o estivessem, no
poderiam ser eficazes; mas porque elas so naturalizadas.
A denotao, como sistema primeiro da linguagem, baseia-se na objetividade
conferida pela arbitrariedade da relao significante-significado e, por este motivo, independe
das situaes histricas e sociais. A conotao, por sua vez, sempre levaria a um mecanismo
de deformao dos significados do primeiro nvel, o que permitiria que funcionasse como
espao de investimentos de valores ideolgicos. Para Barthes, a mitologia faz parte
simultaneamente da Semiologia, como cincia formal (que estuda a forma), e da ideologia,
como cincia histrica, que estuda ideias em forma. Como afirma Barthes (2007, p. 97):
184
Quanto ao significado de conotao, tem um carter ao mesmo tempo
geral, global e difuso: , se se quiser, um fragmento de ideologia: o
conjunto das mensagens em portugus remete, por exemplo, ao
significado Portugus, uma obra pode remeter ao significado
Literatura; estes significados comunicam-se estreitamente com a
cultura, o saber, a Histria; por eles que, por assim dizer, o mundo
penetra o sistema; a ideologia seria, em suma, a forma dos
significados de conotao.
A existncia do nvel denotativo da linguagem no mito garantia legitimidade para
que a Semiologia pudesse desmontar as estruturas ideolgicas presentes em determinados
textos, verbais ou no verbais. O objetivo da mitologia seria revelar em detalhe a
mistificao que transforma a cultura burguesa em natureza universal (RIBEIRO, 2011, p.
84). Para Barthes (1972, p. 175-176), portanto:
A mitologia tenta recuperar, sob as inocncias da vida relacional mais
ingnua, a profunda alienao que essas inocncias tm por funo
camuflar. Esse desvendar de uma alienao , portanto, um ato
poltico: baseada numa concepo responsvel de linguagem, a
mitologia postula, deste modo, a liberdade desta linguagem.
Barthes ainda afirma que o mito uma fala despolitizada. Para explicar essa
afirmao, o autor retoma o conceito da funo do mito: transformar uma inteno histrica
em natureza, uma contingncia em eternidade (BARTHES, 1972, p. 162-163). Entendendo-
se a palavra poltica em seu sentido profundo, Barthes explica que esta deve ser
compreendida como o conjunto das relaes humanas na sua estrutura social, no seu poder de
construo do mundo. O mundo que construdo pelo mito naturalizado, como se no
houvesse histria: o mito constitudo pela eliminao da qualidade histrica das coisas:
nele, as coisas perdem a lembrana de sua produo (BARTHES, 1972, p. 163). O
apagamento do carter histrico da humanidade acaba por apagar tambm o fato de que
homens que produziram e criaram o mundo. O que o mundo fornece ao mito um real
histrico e o que o mito restitui uma imagem natural deste real. Barthes explica (1972, p.
163):
O mito no nega as coisas, a sua funo , pelo contrrio, falar delas;
simplesmente, purifica-as, inocenta-as, fundamenta-as em natureza e
em eternidade, d-lhes uma clareza, no de explicao, mas de
constatao: se constato a imperialidade francesa sem explic-la
pouco falta para que a ache normal, decorrente da natureza das
coisas: fico tranqilo. Passando da histria natureza, o mito faz uma
185
economia: abole a complexidade dos atos humanos, confere-lhes a
simplicidade das essncias, suprime toda e qualquer dialtica,
qualquer elevao para l do visvel imediato, organiza um mundo
sem contradies, porque sem profundeza, um mundo plano que se
ostenta em sua evidncia, cria uma clareza feliz: as coisas parecem
significar sozinhas, por elas prprias.
Por esse motivo que se fala na alienao dos sujeitos: eles veem a
superficialidade das coisas: a despolitizao do mito intervm frequentemente num fundo j
naturalizado. Discurso e mito so perpassados pela ideologia, ou so, em suma, a prpria
ideologia, elemento seminal nos estudos de Barthes. A noo de ideologia com a qual Barthes
vai trabalhar, alis, baseada nas teorias de Marx, e significa uma espcie de mascaramento
da realidade. Como afirmava Marx, as ideias da classe dominante so, em cada poca, as
ideias dominantes. Isso seria possvel a partir do momento em que houvesse a deformao das
ideias, que naturalizariam a histria, escondendo as contradies sociais. Ora, exatamente
assim que o mito vai funcionar, como ideologia, como criador de falsa conscincia e, alm
disso, um profcuo mecanismo de dominao. Teoriza Barthes ao tratar do papel do semilogo
como decifrador de ideologias (2007, p. 99):
Poderamos dizer que a sociedade, detentora do plano de conotao,
fala os significantes do sistema considerado, enquanto o semilogo
fala-lhe os significados; ele parece possuir, pois, uma funo objetiva
do deciframento (sua linguagem uma operao) diante do mundo
que naturaliza ou mascara os signos do primeiro sistema sob os
significantes do segundo; sua objetividade, porm, torna-se provisria
pela prpria histria que renova as metalinguagens.
Assim como Barthes pensa a respeito do semilogo: aquele que deve explorar o
mito subentendido na literalidade do texto, da imagem. O mito naturalizado faz o sujeito ter a
impresso da transparncia. Nosso papel indicar a opacidade do discurso ambiental presente
em algumas propagandas ecologicamente corretas, para quem, se determinados produtos
trazem a marca verde, s podem ser bons para o mundo. Podem at ser. Mas no deveramos
nos contentar com esta afirmao simplista, pois h muito mais em jogo. A Ecolingustica
Crtica aponta para uma tomada de conscincia por parte dos sujeitos em relao ao meio que
os cerca.
MITO E ECOLINGUSTICA EM REVISTA
186
Como afirma Couto (2007, p. 19), a Ecolingustica o estudo das relaes entre
lngua e meio ambiente. No contexto da palavra meio ambiente cabe sua subdiviso em fsico,
social e mental. Aqui trataremos mais do meio ambiente social, j que nos debruaremos
sobre enunciados, ou mais especificamente, propagandas, que circulam socialmente e que
muitas vezes impem modelos de comportamentos e ideologias. Uma rea da Ecolingustica,
a Ecolingustica Crtica, nos ser fundamental, j que ela objetiva repensar as relaes que so
estabelecidas entre os homens e seus iguais e entre os homens e aquilo que os rodeia, a saber,
plantas, animais, topografia etc. Repensar estas interaes significa tambm, segundo a
Ecolingustica Crtica, desvendar aquilo que se diz.
Para Couto (2007, p. 335), o que nos move a falar do mundo o prprio mundo,
mas, aps formada, a linguagem adquire uma relativa autonomia, permitindo-nos falar no
s do mundo real [...] mas tambm do irreal, do possvel e do imaginvel. Exatamente por
isso que, alm de possibilitar dar asas imaginao, a linguagem tambm fornece aos
amantes da falcia, da inverdade, da mentira, da hipocrisia e da desonestidade um instrumento
para enganar os que no tiveram oportunidade de se instruir e se informar (2007, p. 335).
Nos dias atuais, muito se fala sobre o meio ambiente, prova disso so as inmeras palavra
precedidas do prefixo eco que acompanham o nosso cotidiano. Mas Couto (2007, p. 337)
alerta para o fato de que, muitas vezes, esse modismo ambientalista tem o seu lado fraudador
e hipcrita. A inmeras propagandas, dos mais variados produtos, so colados rtulos que
remetem ao universo do discurso de defesa do meio ambiente. Hoje em dia, todo produto
que traga no rtulo o qualificativo de natural tido como bom (COUTO, 2007, p. 337).
Mas ser que isso sempre corresponde verdade?
Nesse sentido podemos estabelecer uma estreita relao entre o que fala Roland
Barthes em sua proposta semiolgica e a Ecolingustica Crtica. Pensando segundo o percurso
mitolgico do pensador francs, a inclinao dos anunciantes de pespegarem o rtulo verde
aos produtos que so anunciados naturaliza uma ideia, quer seja, a de que aquele produto faz
bem natureza, que sua compra ser revertida na depurao do meio ambiente, o que nem
sempre corresponde verdade. O leitor desatento percebe a superfcie da informao, o bvio,
mas ignora o lado obtuso da propaganda: a finalidade de fato que pode estar escondida por
trs dela. Como afirma Couto (2007, p. 345-346), ao falar da moda:
Esse discurso enganador s possvel porque partem da viso
segundo a qual s temos acesso ao mundo via linguagem, ns no o
vemos e percebemos diretamente nem, muito menos, a linguagem
existe para que falemos dele. Pelo contrrio, nessa mundividncia, s
187
vemos aquilo que a linguagem nos mostra. Portanto, se os
conhecedores da moda dizem que isso ou aquilo bom, ento
bom. No temos como chec-lo, uma vez que no temos acesso direto
ao mundo.
Segundo Couto (2007, p. 344), h inmeras maneiras de os representantes da
economia de mercado tentarem passar-se por ecologicamente corretos. Isso pode se dar por
meio de afirmaes, do uso de expresses acompanhadas do prefixo eco, do uso de adjetivos
como verde, da referncia a atitudes consideradas ecologicamente corretas ou da utilizao
do recurso da voz passiva, que esconde o responsvel por determinada ao. A respeito do uso
desse recurso gramatical para ocultar responsabilidades, Richard Alexander faz um timo
trabalho intitulado Sobre a necessidade de submeter o discurso ambiental contemporneo
investigao reflexiva (2010), j mencionado no incio deste artigo. Como afirma George
(2008 apud ALEXANDER, 2010):
A frase ritualstica e oca, desenvolvimento sustentvel, no significa
absolutamente nada em 95% dos casos em que a s pessoas a utilizam,
mas ela tem servido para dar tempo s competies no distorcidas e
livres, e tem permitido no mercado todo poderoso reinar por, pelo
menos, algumas dcadas extras.
O apego ao discurso verde pode ser percebido em diversas situaes, mas tem um
reflexo muito claro na publicidade. Diariamente vemos propagandas, como as de algumas
instituies bancrias, que se apropriam do discurso ecolgico para, entrando no campo
semntico do capitalismo, vender seu peixe. Falar de meio ambiente est na moda e confere
credibilidade e marca de altrusmo empresa que associa seu nome s prticas
ecologicamente corretas. No por acaso, como percebemos na primeira propaganda
34
, o
Banco do Brasil se intitula o Banco da Sustentabilidade, um ttulo digno de orgulho, pois
encerra em si a ideia de que o banco rene todas as qualidades de quem se preocupa com o
meio ambiente e almeja um desenvolvimento sustentvel, em que haja plena comunho entre
humanos e a natureza. Ainda na mesma propaganda se l o seguinte aviso: Decidir pelo trs
tomar, pelo menos, trs atitudes por dia pensando na sustentabilidade. Pode ser apagar a luz,
fechar a torneira ou ensinar algum. Pode ser plantar uma rvore, catar uma latinha do cho
ou agir com tica. Apenas trs. Em todo lugar que voc vir esse nmero, saiba que ali existe
uma maneira de cuidar do meio ambiente, das pessoas e do pas. A materialidade lingustica
34
Foram escolhidas aleatoriamente propagandas dos bancos Banco do Brasil e Ita Unibanco, que circularam na mdia entre janeiro de 2013
e setembro de 2013. Todos estes anncios podem ser facilmente encontrados no Google, bastando digitar a associao das palavras nome do
banco mais sustentabilidade.
188
serve para destacar e sugerir uma prtica social, em que entra em ao tudo aquilo que faz
bem natureza e economia dos recursos naturais e/ou materiais. Mas no s a linguagem
verbal, a no verbal tambm contribui para associar a instituio bancria s boas prticas
ecolgicas. No prprio anncio do BB visualizamos uma criana de braos abertos, frente
do que parece ser um pedao do globo, com um cu e mar azuis e rvores ao fundo. A imagem
da criana parece sugerir que o futuro se constri desde pequeno e que a esperana de um
mundo melhor se encontra nas mos dos pequenos, que devem, desde cedo, ser ensinados a
respeitar o mundo segundo princpios ecologicamente responsveis.
Vejamos a seguir o anncio do banco Ita, que mostra um homem sentado sobre
um globo terrestre que pura vegetao, ao lado de uma bicicleta, indicando a necessidade de
as pessoas trocarem o carro por um meio de transporte mais econmico e saudvel, a
bicicleta. Alm da cor que remete ao prprio banco, o laranja, aparece com destaque a cor
verde, numa clara aluso ao meio ambiente. Alm disso, ao examinarmos mais
detalhadamente, percebemos que o globo feito de gramneas, ao passo que os continentes
so feitos de flores. A fauna, a flora, os homens. Todos devem viver em comunho. O
enunciado Trocar o carro pela bike vem acompanhado da hashtag #issomudaomundo, numa
referncia ao universo virtual em que frases de efeito acompanhadas de uma cancela no incio
chamam a ateno dos usurios de Twitter e Facebook sobre a necessidade de conhecer,
reivindicar, conscientizar ou mudar o status de algo. O discurso ecolgico vem aqui atrelado
ao discurso tecnolgico, mas esquecemos que, muitas vezes, o desenvolvimento
tecnolgico irrefrevel e exacerbado que nos coloca em maus lenis em relao ao meio
ambiente.
189
Se pensarmos com Barthes, chegamos concluso de que tais propagandas
naturalizam no a ideia de que os bancos vendem apenas ttulos, emprstimos, dvidas,
socorros financeiros, mas tambm uma vida mais equilibrada, com os homens em comunho
com o meio ambiente, e uma espcie de mito verde toma forma a. No que tais empresas no
realizem trabalhos sociais e engajados, o problema a no conscientizao do consumidor de
que h um objetivo muito maior por trs dos anncios: o aumento do nmero de clientes e,
consequentemente, o lucros destas instituies bancrias. Pensando na Ecolingustica Crtica,
Couto (2007, p. 340) resume isso muito bem ao afirmar que: Ao dizerem que procuram ser
corretos dos pontos de vistas ecolgicos, aparecem como ecologicamente benignos perante
aqueles que ainda no fazem distino entre ecologia profunda e ecologia rasa.
CONCLUSO
Greenwash um termo corrente nos Estados Unidas da Amrica e se traduz como
lavagem verde. Citando o Dicionrio Conciso de Ingls da Oxford, Alexander (2010)
explica que se trata de informao errada disseminada por uma organizao de forma a
apresentar uma imagem pblica ambientalmente responsvel. No tratamos aqui de
greenwash, at porque seria um exagero classificar os enunciados das propagandas
selecionadas como inverdicas. Elas contm em si uma preocupao de certa forma
verdadeira, atual, produto de seu tempo, em que predomina to fortemente o discurso a favor
do meio ambiente.
190
O presente artigo objetiva, no entanto, chamar a ateno para aquilo que nos parece,
como afirma Barthes, naturalizado e, por isso, no passvel de questionamentos. Sim,
podemos defender que so vlidas a referncia preservao da natureza e a pregao de
atitudes responsveis no que diz respeito relao homem e meio ambiente. Mas tambm
devemos nos indagar se todo discurso ecolgico absolutamente ingnuo e visa apenas
conscientizao da sociedade. Ou se ele pode trazer consigo o mascaramento de uma
realidade ou outras intenes, servindo a outras ideologias, como a capitalista, por exemplo. A
isso nomeamos, aqui, mito verde. contra a inconscincia de alguns fatos, portanto, que esta
pesquisa se insurge.
REFERNCIAS BIBLIOGFICAS
ALEXANDER, Richard. Sobre a necessidade de submeter o discurso ambiental
contemporneo investigao reflexiva. Texto originalmente apresentado na Conferncia de
Graz. 2010.
BARTHES, Roland. Mitologias. Trad. R. Buongermino e S. Pedro. 12 ed. So Paulo: Difuso
Europeia do Livro, 1972.
______. Elementos de Semiologia. Trad. I. Blikstein. 21 ed. So Paulo: Cultrix, 2007.
COUTO, Hildo Honrio do. Ecolingustica Estudo da relao entre lngua e meio ambiente.
1 ed. Braslia: Thesaurus, 2007.
RIBEIRO, Ana Paula Goulart. Discurso e poder: a contribuio barthesiana para os estudos
da linguagem. Revista Brasileira de Cincias da Comunicao, 2005. Disponvel em:
http://revcom2.portcom.intercom.org.br/index.php/rbcc/article/viewFile/853/636
e do imaginrio social. O Ecofeminismo tem combatido essa poluio ideolgica
do patriarcado, que tem usado do corpo da mulher e da terra, para obter poder social,
transformando-as em objetos, para servir ao homem e cultura.
Por fim, as metforas, ao materializarem linguisticamente o discurso de um povo,
trazem tambm suas ideologias. As metforas que observamos nesse trabalho retratam a
mulher e a natureza como anlogas, mas separadas da cultura, o que forma binarismos e
hierarquias sociais. Como foi visto, o Ecofeminismo prope, ento, que esse pensamento de
separao, de oposio existente entre cultura e natureza, homem e mulher seja emancipado
para que venhamos obter uma sociedade como um todo e no construda por hierarquias, em
que um deve se subordinar ao outro por no ser igual a ele, encarando a cultura e a
191
natureza, o homem e a mulher, como dependentes um do outro, como partes intrnsecas de um
ecossistema.
nessa linha que a Ecolingustica com a ADE contribui de forma prescritiva ao
tratar a luta do ecofemismo como no s das mulheres, mas tambm do e pelo planeta e seus
seres vivos. Isso ocorre pelo fato de pensarmos a sociedade como um ecossistema que se
sustenta pela diversidade existente nela, e no por relaes de poder, de maneira que cada um
tem uma contribuio fundamental para se manter o equilbrio e a vida. Essa contribuio no
deve, porm, ser previamente dada como um destino sem volta, e sim com liberdade de
identidade e pensamento, valorizando a diversidade de vises de mundo. Isso contribui para
uma sociedade crtica, em que percebamos os saberes como saberes diferentes, e no como
saberes hierarquizados e classificados como melhores que o outro.
Referncias
APULEO A. ROJAS. 'Ecofeminismo para otro mundo posible' ed Ctedra. Madrid 2011.
BEAUVOIR, S. O Segundo Sexo, volume 2. So Paulo: Difuso Europeia do Livro, 1967, 2
edio, p. 9-10.
BUTLER, Judith. Variaes sobre sexo e gnero: Beauvoir, Wittig e Foucault. In:
BENHABID, Seyla; CORNELL, Drucila (Orgs.). Feminismo como crtica da modernidade.
Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 1987.
CARMO, I. N e BONETTI, A. Feministas, ambientalismo e ecologia: Em busca do mltiplo.
In: III Seminrio nacional gnero e prticas culturais: olhares diversos sobre a diferena.
2011.
CARMO, ris N. do. H algo de natural na natureza? Corpo, natureza e cultura nas teorias
feministas. In: Seminrio Internacional Enlaando Sexualidades, 2., 2011, Salvador. Anais
eletrnicos... Salvador: UNEB, 2011.
COUTO, Hildo Honrio do. Ecolingustica: estudos das relaes entre lngua e meio
ambiente. Braslia: Tessaurus, 2007.
_________. Ecolingustica. Cadernos de Linguagem e Sociedade, 10 (1), 2009.
_________. Anlise do discurso ecolgica (ADE). 2013. Disponvel em:
http://meioambienteelinguagem.blogspot.com.br/search?updated-min=2013-01-01T00: 00:00-
08:00&updated-max=2014-01-01T00:00:00-08:00&max-results=4. Acessado em:
01/01/2014.
192
DURAND, G. As estruturas antropolgicas do imaginrio. So Paulo: Martins Fontes, 2001.
FIRESTONE, Shulamith. A dialtica do sexo. Rio de Janeiro: Editorial Labor Brasil, 1976.
GAARD, Greta. Rumo ao ecofeminismo queer. Estudos Feministas. Florianpolis, v. 19, n. 1,
2011.
HALL, Stuart. Quem precisa de identidade? Trad.: Tomaz Tadeu da Silva. In: SILVA, Tomaz
Tadeu da (org.). Identidade e diferena. A perspectiva dos estudos culturais. 7 ed. Petrpolis:
Vozes, 2007. p. 103-133.
KING, Ynestra. Curando as feridas: feminismo, ecologia e dualismo natureza/cultura. In:
JAGGAR, Alison M; BORDO, Susan R.. Gnero, corpo, conhecimento. traduo de Brtta
Lemos de Freitas. - Rio de Janeiro: Record: Rosa dos Tempos, 1997.
LAKOFF, George; JOHNSON, Mark. Metforas da vida. Chicago/London: The University of
Chicago Press, 1980. p.3-34.
MENDES, M.I.B.S. e NBREGA, T. P. Corpo, natureza e cultura: contribuies para a
educao. Revista Brasileira de Educao. Set /Out /Nov /Dez 2004 No 27.
PASSOS, L. S. Condio feminina: (re)leitura de uma produo da jovem estudante de
direito Clarice Lispector. Nome - Revista de Letras, Goinia, vol. I, n. 1, p. 97-111, jan.-jun.
2012.
RAMOS, R. (2008): A ecolingustica entre as cincias da linguagem. In: MARTINS, M. L.;
PINTO, M. (Orgs.): Comunicao e Cidadania - Actas do 5 Congresso da Associao
Portuguesa de Cincias da Comunicao, Braga: Centro de Estudos de Comunicao e
Sociedade (Universidade do Minho), pp. 1187-1199 ISBN 978-989-95500-1-8.
SARDENBERG, Ceclia. A mulher frente cultura da eterna juventude: reflexes tericas e
pessoais de uma feminista cinquentona. In: ROSENDO, E.; FERREIRA, S. (Orgs.). Imagens
da mulher na cultura contempornea. Salvador: NEIM-UFBA, 2002.
193
CORPOS MUTILADOS
NARRATIVAS E VIVNCIAS DO SMBOLO AO COMPLEXO.
Jorge Antonio Monteiro de Lima
Introduo
Este artigo faz parte de um projeto de pesquisa, de minha dissertao de mestrado em
antropologia social da UFG. Projeto em que estudo a representao dos deficientes na
sociedade, usando como recorte para o estudo o ambiente da universidade. Tentar
compreender como deficientes se veem e como so vistos evidenciando o jogo de papis na
sociedade, um dos objetivos desta pesquisa.
194
Em meu trabalho utilizo o mtodo de pesquisa de orientao etnogrfica de Magnani,
(2009) que mostra a ampliao da metodologia de pesquisa juntamente com a observao
participante de Malinowski (1922) este ltimo, focando seu trabalho na observao dos
imponderveis da vida cotidiana.
O teor comparativo entre categorias e as formas distintas de vivncias (Brown, 1952) foi
outro aspecto bsico neste estudo, especialmente quando este se revela atravs da
compreenso da representao dos deficientes, o que durante a pesquisa de campo e
posteriormente na avaliao dos dados coletados, analiso as particularidades dos grupos
entrevistados, os comparando. Na anlise dos dados emprego outro referencial terico
advindo da rea de sade mental usando C. G. Jung e sua teoria da personalidade, bem como
preceitos de imaginrio propostos por James Hillman.
"... me reconheo uma pessoa com deficincia. Por que tenho dificuldades agravantes,
que me impossibilita a realizao de vrias atividades comuns no dia-a-dia. Tenho deficincia
Fsica. Lido com isto Tranquilamente. Meu corpo lindo. Sinto que sou diferente das demais
pessoas, apenas nas realizaes de algumas atividades, no se se refere, no tempo de realizao
para algumas atividades. A maior dificuldade que enfrento na sociedade o preconceito...
"olha tadinha ela especial, "uma pessoa incapaz", eles usam o especial com um sentido de
incapacidade. Isto me deixa Revoltada... Mas, ao mesmo tempo com mais vigor para mostrar
para essas pessoas a minha capacidade. Em minha opinio o que pode mudar o maior apoio
dos governos estaduais e federal, para fazer valer de verdade nossos direitos..."
L. deficiente fsica estudante
"... Sou deficiente porque sei que minha viso no funciona com a eficincia que
deveria. Atualmente no vejo problemas, mas no passado j foi motivos de constrangimento.
Meu corpo forte, gil, saudvel... Enfim dentro dos padres de normalidade. H diferenas
fsicas j que sou obra original da natureza, mas Me sinto diferente das demais pessoas. A
maior diferena a forma de pensar, e os motivos com o que tenho para me preocupar. As
maiores dificuldades que enfrento so o trnsito, o ar poludo, o fato de ter que passar mais da
metade de minha vida trabalhando, a inverso de valores, a desigualdade, a mesquinhez
alheia... Sinto que as pessoas me observam com admirao. Isto me deixa indiferente na
maioria das vezes... Se existem barreiras elas no me barram. Penso e quero pro meu futuro
Conhecer. Eu, o mundo, as pessoas, continuar na militncia e contribuir para a revoluo,
explorar meu potencial artstico, escrever mais e melhor, versos e musica, ser mestre de
capoeira, me apaixonar, "ver deus", criar muitos filhos, abrir uma academia, dar aulas nas
escolas publicas... Pessoas que sofrem de deficincias mais severas so motivos de piada e
observadas com um olhar de compaixo, ainda que no percebam. Nossa sociedade
estabeleceu uma srie de medidas para que se chegasse a um padro de normalidade, os que
no se encaixam nele devem persegui-lo ou sofrero as consequncias (segregao,
racismo...). Vivemos em um ambiente feito para os "normais"! No temos caladas adequadas
para os cegos, nem rampas e locais adaptados para cadeirantes..."
L. deficiente visual estudante
O corpo como demarcador social das diferenas representa o contraste que aparece na
sociedade, quando imagens so confrontadas, e quando a partir destas construes
narrativas que se criam categorias, classificaes, rtulos. A ideia de corpo ideal desenvolvida
por padres de moda e beleza, e todo teor comparativo nestas construes discursivas mostra
o contraste presente em nossa sociedade a proporo que neste jogo social delimita se o aceito
e o no aceito, os graus de pertencimento, que posteriormente tornam-se ideologias.
195
O conceito de Deficincia que emprego nesta pesquisa refere-se a uma terminologia
jurdica e da rea de sade que caracteriza especificamente todo um processo de identidade,
de sociabilidade, de cidadania e de representao social, partindo de referenciais
estabelecidos pela Organizao Mundial de Sade definido como "ausncia,
comprometimento disfuno de estrutura psquica, fisiolgica ou anatmica. "(Lima, 1999).
Desse modo pode-se dividir em cinco grandes grupos os deficientes:
1) Fsicos (com dificuldade locomotora ou motora);
2) Auditivos (com dificuldade de audio e fala;
3)Visuais;
4) Mentais (com portadores de sndromes como autismo, Sndrome de Down
(mongolismo);
5) com deficincia mltipla (que apresentam mais de um tipo de deficincia).
Toda esta regulamentao delimita conceitos criados a partir de convenes
internacionais estipuladas pela rea de sade e que foram posteriormente empregados em
outros segmentos da sociedade.
Desse modo, as categorias analisadas nesta pesquisa so a dos deficientes, incluindo aqui
os conceitos de sade e doena, de normalidade e anormalidade, e de corpo como demarcador
social das diferenas.
A ideia do corpo em falta um dos aspectos mais significativos da auto percepo de
uma pessoa com deficincia. A ideia do corpo mutilado, diferente, corpo da falta
extremamente presente a percepo da pessoa com deficincia, a sua corporalidade. parte
integrante da auto definio, de como deficientes se descrevem e se veem. Minha pesquisa de
campo e reviso bibliogrfica mostram claramente que As deficincias, jogam na cena social
a imposio da presena do corpo o evidenciando pelas diferenas. O corpo um territrio no
qual o contraste evidenciado.
No aleatrio o fato de termos no Brasil batido vrios recordes em cirurgias plsticas, vrias
desnecessrias tentando seguir padres de moda e esttica, que tornaram se em nosso
territrio uma ideologia, com mercado estabelecido. Ser belo tem preo estabelecido e as
melhoras dependem do valor que pode ser desembolsado, o que denota especificamente uma
hierarquia, o escalonamento de classe social delineado.
Outro fato que foi evidenciado em minha pesquisa tem incio nos silncios que encontramos.
Em boa parte a vida dos deficientes ignorada. Os dados estatsticos levantados no Brasil so
um exemplo, especialmente quando comparamos levantamentos feitos em uma dcada. Feitos
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica entre os anos de 2000 e 2010. No censo
demogrfico de 2000 o IBGE apontava para a existncia de 24,5 milhes de brasileiros com
algum tipo de deficincia (Gesser 2010, introduo).
Em 2012 so divulgados outros nmeros fornecidos pelo IBGE do censo demogrfico
2010 que aponta o nmero aproximado de brasileiros em 191 milhes de pessoas. Nestes
mais de 45 milhes de brasileiros (ou 23,9% da populao) tm alguma deficincia; 9,5
milhes so idosos (67,7% dos idosos apresentando algum tipo de deficincia).
Desta populao deficiente 25,8 milhes so mulheres, 19,8 milhes so homens. 23,6%
da populao ocupada (trabalhando) - 20,4 milhes do total de 86,4 milhes de brasileiros
ocupados tinha ao menos alguma deficincia.
A deficincia visual a mais comum entre os brasileiros e atingiu 35,8 milhes de
pessoas, sendo que 506 mil so cegos (inclusive eu), 6 milhes de pessoas tm grande
dificuldade visual (viso subnormal) e outras 29 milhes possuem "alguma dificuldade" para
196
enxergar. A segunda maior populao de deficientes no Brasil a motora com 13,3 milhes
de pessoas sendo que 734 mil pessoas so incapazes de se locomover, 3,6 milhes tm grande
dificuldade de locomoo e 8,8 milhes tm alguma dificuldade. H ainda Os deficientes
auditivos com 9,7 milhes de pessoas e os mentais (ou intelectual) com 2,6 milhes de
pessoas (Melo 2012).
A diferena numrica expressiva em uma dcada impressionante nos fazendo questionar
por que em nosso territrio houve um aumento to expressivo dobrando o nmero de pessoas
com deficincia? Os dados at ento foram subestimados? Onde estavam estas pessoas? Em
verdade pelo que pudemos notar at o levantamento estatstico de 2010 no havia uma
preocupao especfica de levantamento mais atento a populao deficiente no Brasil. Saber
implica em ter responsabilidade, em mobilizar polticas pblicas para o setor o que at ento
no foi prioridade em nosso pas.
O critrio utilizado pelo IBGE, recomendado pela Organizao Mundial de Sade - OMS,
para o levantamento desta estatstica foi o do CIF - Classificao internacional de
Funcionalidade, Deficincia e Sade (CIF, 2001)-. Segundo os dados apontados pela OMS
estes posicionam o Brasil em caracterstica de subdesenvolvimento visto que estamos abaixo
da mdia de pases em desenvolvimento (que deveriam apresentar as pessoas com algum tipo
de deficincia entre 12 e 15% da populao total), o que no nosso caso, pois apresentamos
a cifra de mais de 23,9% de pessoas deficientes. Este critrio estatstico de funcionalidade
para avaliao, usado pelo IBGE, uma normativa internacional, uma conveno que faz
parte dos acordos internacionais adotados pelo Brasil na dcada de 1990. Tais estatsticas
evidenciam a relevncia deste tipo de pesquisa, temos uma alta populao deficiente e,
todavia pouco a compreendemos. O silncio presente em nossa sociedade caracteriza o grupo
dos deficientes em situao de subalternidade.
Vrias pessoas no deficientes que tentei entrevistar desistiram da entrevista ao ter contato
com o tema da mesma. "no quero falar sobre isto" foi uma resposta que ouvi em pelo menos
75% das tentativas que fiz em minha pesquisa de campo. As deficincias so um tema
temido, ignorado jogado a um segundo plano nas narrativas sociais.
Em minha pesquisa de campo entrevistei 14 sujeitos deficientes que frequentam o Campus
Samambaia da Universidade Federal de Gois.
O jogo paradoxal parte integrante da existncia das deficincias em nossa sociedade, em
vrios crivos. Dos dados levantados, Seis deficientes entrevistados sentem que no so
diferentes das demais pessoas; enquanto que cinco falam que so diferentes das demais
pessoas, atribuindo especificamente a diferena a sua corporalidade entendida como diferena
fsica. Trs deficientes no responderam a esta questo.
O embate entre ser, sentir se e de se assumir como deficiente chamativo nesta pesquisa.
Nas deficincias mesmo que a auto imagem no incorpore claramente aspecto da auto
identificao, o choque social nas vivencias coletivas impe ao deficiente o estranhamento de
sua prpria condio. Assim mesmo que o indivduo deficiente no se assuma como tal, no
jogo social, o papel social de deficiente ser cobrado. A semelhana da ideia proposta por
Kant de Lima 2004 frente ao jogo dos papis sociais nas configuraes que o espao pblico
pode assumir e os reflexos distintos que elas tm sobre os processos legtimos de produo de
verdades.
O espao delimitando o que vamos ser e as condies deste jogo social. Tema j ironizado
por Francis 1995 ou apontado pela filosofia de Sade 2000 em sua "filosofia na alcova"
questionando outros espaos de sociabilidade e convvio, na diversidade do jogo dos papis
sociais, nas perverses de senso. Sade em sua filosofia questiona como so os papis sociais e
seus respectivos conflitos com os espaos de convvio. Descrever o proibido, o no dito, o
197
velado criando uma pedagogia libertina reconfigurando o pblico e o privado. Quem pode ou
no ali estar, como deve agir, a moralidade do estar e pertencer. Subverter ordem e
espacialidades e questionar fronteiras em seu aspecto simblico foi alvo da filosofia de Sade.
Para minha pesquisa um autor interessante por questionar o como ser em determinados
espaos e o reflexo da vida no espao diante do ser.
O contraste existente entre sentir se normal, igual, e por outro lado perceber se diferente
convidativo. Especialmente quando entra em jogo o aspecto construtivo da identidade
social.
Vivencia de paradigma na qual a identidade ser formatada pelo jogo social dos papis
impostos nesta vivencia de diversidade na qual o corpo torna se elemento da alteridade.
Segundo Tuchermann (1999) "o corpo tambm o limite que separa o sujeito ou o
indivduo do mundo e do outro, lugar de onde se pode determinar a alteridade" (p.106).
Deficientes ao se perceberem em existncia pelas diferenas criam uma forma especfica de
identidade.
A identidade aqui vista como uma forma de autoconceito ( delineado pelas interaes
subjetivas e intersubjetivas, de processos histricos e biogrficos cultural e socialmente
contextualizados. Neste sentido aponto que existe um paradoxo vivenciado, refletido na auto
percepo, no como deficientes se observam, que de um lado aponta para uma vida de
normalidade, deficientes levando a vida como toda a gente, com dificuldades, luta, estudo e
trabalho, e de outro lado, a percepo de diferena demarcada pelo corpo que rompe padres
de sade, funcionalidade, esttica, convencionalidade. Ambos aspectos fazendo parte da
mesma vivncia.
Dando meu testemunho, colaborando com a percepo dos entrevistados, em vrios
momentos de minha vida por vezes me esqueo de que sou deficiente. No dia a dia, na rotina
do existir o estado de vivencia automtica resignifica o fato de existir e ter de conviver com a
deficincia, em meu caso a cegueira. Todavia percebo claramente que o confronto com a
percepo das pessoas no jogo social, traz uma carga adicional a minha prpria percepo
sobre o que ser cego.
Em vrios momentos de meu dia- a dia, fazendo as coisas do cotidiano, no fico lembrando
que sou cego. Todavia para os outros a todo o tempo isto claro, perceptvel tomando a frente
dos relacionamentos interpessoais. Para ilustrar cito um caso que vivenciei: certa vez em que
ia telefonar em um orelho, h alguns anos atrs, e como toda a gente, parei para ligar para
um conhecido. Tudo transcorria normal at uma senhora dizer na fila do telefone a outra
senhora: "viu que bonitinho, ele sabe telefonar sozinho, no precisa de ajuda".
Aqui reflito diretamente como mesmo minha prpria percepo delineada pelo jogo
social, na cobrana pela diferena, que reafirma um lugar para existir. Um lugar de diferena,
demarcado e imposto. Mostro aqui como tambm pequenos fatos da existncia so
supervalorizados o que em vrios momentos desta pesquisa foi evidenciado, nas falas dos
sujeitos que entrevistei.
Em minha percepo, no caso de deficientes, no h um descolamento entre a construo
da identidade de ser deficiente e o jogo dos papis sociais que ressaltam as diferenas.
A identidade nesta pesquisa assume um atributo de categoria de anlise como uma
construo social, marcada por um contraste polifnico que necessita ser compreendido em
um contexto especfico que atribui sentido. Sentido desenvolvido por uma construo
paradoxal em quase toda sua extenso, segundo o que captei em minha pesquisa de campo.
O ser deficiente participa de um movimento dialtico, e constri-se como "identidade"
a partir da diferena. O Ser transmigra a identidade em um fenmeno dinmico e contextual,
assim ser deficiente uma questo de identidade social, em uma perspectiva relacional. A
198
ideia de alteridade j foi apontada por Plato no Sofista ao refletir que as "identidades" so
construdas por meio de um jogo dialtico de semelhana e diferena. Processos de formao
de identidade tem por base o fato de que somos sempre o outro de algum; o outro de um
outro (Plato, 1972. Todavia no podemos deixar de observar o que foi apontado, segundo
Hall 2006 que as identidades esto sujeitas s mudanas sociais e aos desdobramentos das
conjunturas polticas locais e globais. Neste sentido o ser deficiente desta pesquisa
delineado em uma estrutura social de subdesenvolvimento, em um pas que deixa a realidade
de ser deficiente mais difcil a proporo que mesmo no contexto de polticas pblicas, o
estado desconstri as prprias propostas que cria, descumpre as legislaes que desenvolve,
trata com morosidade aes que deveriam ser feitas, o que tambm ocorre em outras reas
sociais como sade e educao. Neste cenrio se desenvolve um discurso de identidade, uma
distinta forma de ser em sociedade.
Esta forma de ser um importante fator neste estudo a proporo que identidades so criadas
em uma mescla de realidade e fico. O contraste existente entre sentir se e ser evidencia a
problemtica da estereotipia criado pela sociedade. Estereotipia que aparece quando
independente do tipo de deficincia, e do grau de sua desfuncionalidade, um indivduo
taxado de incapaz, de invlido, e de diferente. O esteretipo apresenta uma srie de
predicados fixos que so atribudos a um objeto. Ramificaes so criadas a partir deste
atributo em variaes narrativas, dentro de um eixo temtico. O poder do esteretipo elimina
outros atributos positivos suplantando os nas narrativas e discursos, mostrando um papel
central de sobreposio imagtica. Assim o jogo existente que impe um atributo
desconsiderando outros. Isto parte da vivencia de ser deficiente. Outra forma de mutilao
que ressoa em um processo de identidade social. Os discursos que transcrevi mostram em
falas a queixa: "no sou o deficiente invlido que as pessoas querem. estudo, trabalho e
tento levar a vida". Mostro aqui como nas narrativas, na sociedade atributos so destinados
aos deficientes, criando no jogo social uma hierarquia, evidenciando nesta diferena, a
valorizando por seu teor negativo, destituindo valores de um indivduo. Este jogo social
evidencia a subalternidade a proporo que a voz do outro destituda, e a proporo que sua
imagem constituda pela estereotipia, e no por sua realidade vivencial. Mostro aqui como a
ideologia pode ser desenvolvida pelo imaginrio. Criar identidade neste sentido um jogo de
papis sociais.
A ideia da Persona Jung 1916 aqui ressoa. Em sua teoria da Personalidade, Jung emprega o
conceito de Persona para delimitar as mscaras sociais, uma parte da personalidade que tem a
funo especfica de agenciar os relacionamentos interpessoais. Assim uma pessoa assume na
vida vrios papis sociais como o de filho, aluno, pai, professor, alternando estes papis de
acordo com a situao vivencial. Neste sentido a estrutura social do papel de ser deficiente
influenciada diretamente pela impozio advinda da estereotipia. Estereotipia que por vezes
assumida pelo prprio individuo deficiente. O tema da superproteo um exemplo disto,
tema que encontrei em minha pesquisa de campo. Vrios deficientes assumem se como
invlidos entrando no jogo social e familiar da superproteo. Quando tentava contatar alguns
deficientes esbarrei com isto junto a funcionrios e com alguns familiares. Medo e
agressividade aparecendo com facilidade...ou como disse uma me quando soube do tema e
do convite para participar da pesquisa para sua filha: "ela no vai participar disto por que ela
no uma destas..." soltando uma srie de improprios. Superproteo que inibe o
desenvolvimento, destitui a voz do indivduo, que cria mecanismos de defesa desnecessrios
que infantiliza o sujeito, que o tolhe de relacionamentos interpessoais. A mtica do ser
"coitado"(agente passivo de um coito) esta no teor da superproteo.
199
No paradoxo do existir aqui observa se como narrativas podem ser assumidas pelo
Complexo Jung 1916 tornando se um aspecto do Eu ou da construo do ego. Tornando-se
uma forma distinta de identidade. No por uma identificao especfica, mas pela presso
social, no encaixe no jogo dos papis sociais.
A ligao estreita entre o aspecto simblico denotado em narrativas presentes a
estereotipia, mostra nos como o corpo tem teor representativo ideia apresentada por Durand
2002. Resumindo as ideias do antroplogo corpos mutilados tem ligao com elementos
noturnos nas classificaes da arquetipologia geral. A sobreposio do teor imagtico e
simblico, arquetpico, somado ao posicionamento da estereotipia presentificado no contexto
do jogo social interessante reforando em dois aspectos um mesmo teor significativo. Isto
especialmente quando a realidade sobreposta pelo esteretipo, a fico torna se centro do
roteiro, e os defeitos centro da ideia de pessoa. A forma desta construo que vem do social e
que reproduzida de forma inconsciente um ponto de minha observao que recai na ideia
de imaginrio. Narrativas construdas que so introjetadas por vezes sem a percepo do
indivduo que tambm podem ser vistas como categorias de anlise social.
"...Muita gente me olha com cara de bobo por que tenho rosto paralisado. Vrias vezes fui
tratado como imbecil ou como nenenzinho. Gente que no me conhece por minha cara me
trata assim. Tenho deficincia fsica sou um PC(paralisado cerebral) mas s isto. De resto
sou como toda gente. S que cada coisa que fao tem gente que acha que maravilhosa, por
exemplo o fato de estudar, de ler filosofia e histria, fica dai um pessoal com cara de bobo
querendo me levar pro "fantstico" como se eu fosse um novo tipo de gnio ou algo assim"...
T. deficiente fsico
"O fato de no me comunicar direito no implica que eu no penso ou no tenho sentimentos.
Eu trabalho, namoro, tenho minha vida como todo mundo, e luto pra sobreviver, to estudando
por que quero melhorar de vida. No sou super heri, que tudo que faz maravilhoso. Sou
gente que luta pra sobreviver"...
S. deficiente auditivo estudante
Recorri ao conceito de Imaginrio nesta altura pelo teor de fico presente em algumas
narrativas que tenho encontrado. Esteretipos forjando mitos para uma realidade vivencial.
Isto formatando a ideia de ser, de pessoa, a identidade a ideologia e a representao da
categoria dos deficientes. Especialmente quando em discursos o deficiente ou retratado
como invlido ou como um super heri, aspecto presente a fala de vrios sujeitos que
entrevistei, deficientes e no deficientes.
O conceito de imaginrio delimita uma rea de estudos multidisciplinar que agrega a
filosofia, psicologia profunda, cincias sociais, antropologia, sociologia, educao,
comunicao, estudos literrios , artes e comunicao. Segmentada na Frana na dcada de
1960 sofre influncia pela filosofia de Bachelard. O Centre de Recherche sur'Imaginaire na
Frana dirigido pelo antroplogo Gilbert Durand tambem professor na USP um dos
expoentes na disseminao destes estudos. Nomes como David L. Miller ou Marc Beigbeder
denotam o questionamento das estruturas sociais e sua ligao pelo vis do imaginrio.
Antes de delimitar o conceito de imaginrio nesta pesquisa gostaria de ressaltar um
problema metodolgico. O termo imaginrio h dcadas vem sendo empregado de vrias
formas e maneiras. Vrios autores ligados ao positivismo apontam que o imaginrio
representa apenas o lado no racional, e por isto o que no pode ser validado cientificamente,
200
o que neste estudo descaracterizo. O imaginrio no deve ser adjetivado. A semelhana do
conceito de mito, ou o de inconsciente, conceitos que por vrias dcadas receberam teor
negativo.
O imaginrio que me refiro conceitua o campo que estuda as imagens e seus
desdobramentos em narrativas, no processo lingustico, psicolgico e social. Segmenta o
estudo do simblico e seus desdobramentos, criando um dilogo entre a sociologia e a
psicologia profunda. O imaginrio est relacionado com a capacidade imaginativa dos seres
humanos, com a criatividade e as diversas formas de expresso singular e coletiva. Assim o
imaginrio delimita
normas e valores de sujeitos histricos, que criam suas instituies. O imaginrio a
contextura do mundo humano, uma suturao histrica, que delimita vrias formas de
narrativa, a ideologia, a representao. Segundo o antroplogo Durand 2002"...o Imaginrio -
ou seja, o conjunto das imagens e relaes de imagens que constitui o capital pensado do
homo sapiens - aparece-nos como o grande denominador fundamental onde se vm encontrar
todas as criaes do pensamento humano. O Imaginrio esta encruzilhada antropolgica
que permite esclarecer
um aspecto de uma determinada cincia humana por um outro aspecto de uma
outra"...(Durand 2002 pag 14).
Segundo o cientsta social e psiclogo social Serbena 2003:
"... O imaginrio possui uma funo social e aspectos polticos, pois na luta poltica,
ideolgica e de legitimao de um regime poltico existe o trabalho de elaborao de um
imaginrio por meio do qual se mobiliza afetivamente as pessoas. Nele as sociedades definem
suas identidades e objetivos, definem seus inimigos, organizam seu passado presente e
futuro...O imaginrio social constitudo e se expressa por ideologias e utopias ...[e]...por
smbolos, alegorias, rituais, mitos.(Serbena 2003 pag9)
O autor ainda afirma:
"... o campo do imaginrio tambm um campo de enfrentamento poltico, extremamente
importante nos momentos de mudana poltica e social e quando se configuram novas
identidades coletivas. Isto coloca a questo da duplicidade dos fatos sociais, isto , a sua
dupla referncia a um real emprico e a sua funo imaginal, isto , a sua posio ocupada no
imaginrio do grupo social em questo. Deste modo, parece no haver dvida sobre a
importncia da fantasia e das imagens no mundo social. A abordagem deste campo
proporcionou vrias descobertas e foram relacionadas vrias e complexas funes do
imaginrio na vida coletiva e no exerccio do poder pois o poder, especialmente o poltico,
explora e suscita representaes coletivas"... (Serbena 2003 pg 4)
At aqui demonstrei como o imaginrio interfere na construo de conceitos e prticas
sociais distintas. Mostra outro ponto de vista que delimita e organiza ideologias e identidades.
Ao estudar o grupo dos deficientes em uma universidade tornou se evidente como boa
parte dos discursos ligam-se a destituio da realidade de indivduos. Uma populao oculta
com hbitos distintos, que desconhecida, e que tem uma representao recheada por
ideologias que destituem seu real valor. Um jogo social perverso de dominao feito por
narrativas em que a distoro imagtica comum. Os discursos existentes mostram
contrastes, alguns so forjados irreais. Como exemplo cito o discurso existente de igualdade
proposto pela educao inclusiva. Trs entrevistados no deficientes o reproduziram. Este
discurso mostra uma fantasia. Ter direitos iguais muito diferente de ser igual a outras
pessoas. Este discurso tem como fundamentao a ideia de normalidade e anormalidade,
201
carregando novamente a proposta de tratamento a problemtica da diferena. Todavia sem
que as pessoas percebam, h uma reproduo deste discurso que apregoa a igualdade para os
deficientes. Ser deficiente constitutivamente ser diferente, ter aspectos cognitivos, de
locomoo, de tempo e espao diferenciados. Assim como diferenciada a diversidade da
percepo, as formas de interao com o mundo, e por vezes o sistema de comunicao
distinto. Como que poderamos encaixar a a ideia de igualdade nisto? E por que ela ainda
difundida, reproduzida pelas pessoas? Evidencio aqui que h na sociedade uma mistura ampla
entre realidade e fico e que ambos constroem as definies, crenas e tradies do que so
os deficientes.
Mostro como a ideologia e seus discursos influenciada pelo imaginrio, ideia tambm
apontada por Serbena 2003:
"...O importante no mais necessariamente o contedo falso ou no, mas as suas condies
de enunciao e seu entendimento, isto , como se configura sua funo de discurso dentro da
dinmica social. Como se engendra, articula, dissemina, reproduz e se mantm um discurso
que assume uma funo ideolgica?
Neste sentido, as justificativas ideolgicas so fundamentalmente discursivas, uma
narrativa racionalizada sobre um tema, mas elas possuem elementos que extravasam o
meramente discursivo, o cientificamente demonstrvel. (Serbena 2003, pag 06)
Buscando outro referencial temos um fenmeno significante para este estudo quando
avaliamos a iconografia de elementos folclricos do Brasil. Duas figuras mticas presentes em
contos e lendas populares como o Saci Perer ou o Curupira. O primeiro um negrinho sem
uma perna que andava pulando, um capetinha que fazia travessuras e que era mal visto por
toda a gente. O segundo uma entidade protetora das matas com os ps invertidos, virados para
traz, ser que confundia os caadores fazendo os perderem se na mata e morrerem. O lado
sinistro de seres que em sua iconografia tem deficincia seria casual? Por que a existncia de
uma distinta iconografia? Poderia citar vrios outros exemplos presentes a quadrinhos, a
histrias populares o que seria outro estudo a parte.
Todavia interessante a observao de que seja pelo lado arquetpico extrado de lendas,
contos de fada, de mitos, ou seja, pelo jogo social na estratificao recorrente uma mesma
temtica a da desvalia, que subverte uma ordem moral, destinando certos indivduos a um
termo de confinamento existencial.
Referencias bibliogrficas:
Amaral, rita/ Coelho, Antnio Carlos- NEM SANTOS NEM DEMNIOS consideraes
sobre a imagem social e a auto-imagem das pessoas ditas "deficientes". in: OS URBANITAS
Revista Digital de Antropologia Urbana vol. 1 outubro de 2003
http://www.osurbanitas.org/antropologia/osurbanitas/revista/urbanitas1.html pgina acessada
em 5/10/2013 as 10:32
Campbbell, Joseph "As mscaras de Deus So Paulo Palas athena 2002
Camus, Albert. o estrangeiro. 16. ed. rio de janeiro: Record, 1997.
202
CARMO, Apolnio A. Deficincia fsica: a sociedade brasileira cria, recupera, discrimina.
Braslia: PR/Secretaria dos Desportos, 1991.
CANESQUI, A.M. Estudos socio-antropolgicos sobre os adoecidos crnicos. So Paulo:
Hucitec, 2007.
Ceccarelli, Paulo Roberto - "UMA BREVE HISTRIA DO CORPO" in Corpo, Alteridade e
Sintoma: diversidade e compreenso. Lange & Tardivo (org.). So Paulo: Vetor editora 2011,
p. 15-34
Celeguim, Cristiane Regina Jorge/ Roesler, Helosa Maria Kiehl Noronha "A
INVISIBILIDADE SOCIAL NO MBITO DO TRABALHO" INTERAO Revista
Cientfica da Faculdade das Amricas Ano III - nmero 1 - 1 semestre de 2009 Serbena,
CARLOS AUGUSTO- " IMAGINRIO, IDEOLOGIA E REPRESENTAO SOCIAL"
Cadernos de Pesquisa Interdisciplinar em Cincias Humanas UFSC N 52 - Florianpolis
Dezembro de 2003
in:https://periodicos.ufsc.br/index.php/cadernosdepesquisa/article/download/1944/4434
pgina acessada em 08 de agosto de 2013 as 14h33
DINIZ, Dbora. O que deficincia. So Paulo: Brasiliense, 2007, 89p. (Coleo Primeiros
Passos).
DOUGLAS, Mary. Pureza e perigo(1966). So Paulo: Perspectiva, 1976
Durand,Gilbert. AS ESTRUTURAS ANTROPOLGICAS DO IMAGINRIO.
INTRODUO ARQUETIPOLOGIA GERAL. Traduo HLDER GODINHO Martins
Fontes So Paulo 2002
Francis, Paulo - "Cabea de papel" Editora Civilizao Brasileira Rio de Janeiro 1995.
GESSER, MARIVETE - "GNERO, CORPO E SEXUALIDADE: PROCESSOS DE
SIGNIFICAO E SUAS IMPLICAES NA CONSTITUIO DE MULHERES COM
DEFICINCIA FSICA" - Tese de doutorado em psicologia - UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SANTA CATARINA FLORIANPOLIS 2010
GESSER, Marivete; BROGNOLI, Felipe Faria; GRANDO, Jos Carlos. Excluso e
preconceito: do padro ao corpo diferente. Dynamis, Blumenau, v. 9, n. 37, p. 88-96, 2001.
HALL, Stuart. Quem precisa da identidade? In: SILVA, Tomaz Tadeu (org. e trad.).
Identidade e diferena: a perspectiva dos estudos culturais. Petrpolis: Vozes, 2000. p. 103-
133.
______ A identidade cultural na ps-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A editora, 2006
HILLMAN, JAMES- "O CDIGO DO SER" editora OBJETIVA, 1996, Rio de Janeiro;
203
Jodelet, Denise-: Reprsentations sociales: un domaine en expansion. In D. Jodelet (Ed.) Les
reprsentations sociales. Paris: PUF, 1989, pp. 31-61. Traduo: Tarso Bonilha Mazzotti.
Reviso Tcnica: Alda Judith Alves - in Mazzotti. UFRJ- Faculdade de Educao, dez. 1993.
# HYPERLINK "http://portaladm.estacio.br/media/3432753/jodelet-drs-um-dominio-em"
#http://portaladm.estacio.br/media/3432753/jodelet-drs-um-dominio-em# expansao.pdf
pgina acessada em 06/05/2012 13h29
JUNG, Carl Gustav- O homem e seus smbolos Ed. Nova Fronteira So Paulo 1989 captulo 1
Chegando ao inconsciente. (obra que encontrei digitalizada sem numerao especfica de
pginas)
______.O ESPRITO NA ARTE E NA CINCIA -Paracelso (1929). Ed. Vozes Petrpolis
1999
---- "A PERSONA COMO SEGMENTO DA PSIQUE COLETIVA "( 1916) in O Eu e o
inconsciente. Traduo de Dra. Dora Maria Ferreira da Silva. Petrpolis: Vozes, 2001, 15
edio, volume VII/2 das Obras Completas, parte I, captulo 3.
______-"Aion o estudo sobre a simbologia do simesmo" (1945) Petrpolis: Vozes, 2006
Kant deLIMA, Roberto . "ticas e identidades profissionais em uma perspectiva comparada".
In: VICTORA, Ceres et al. (Orgs). Antropologia e tica: o debate atual no Brasil. Niteri:
EdUFF. 2004. Pp. 73-77.
LE BRETON, D. Antropologia del cuerpo y mordernidad. Buenos Aires: Nueva Vision,
1995.
Leenhardt, Maurice. Gens de la Grande Terre. Paris: ditions de la Maison des sciences de
l'homme, 1987.
Lima, Jorge Antonio Monteiro de -"Tirsias- A busca da doena e o encontro com a sade"
Ed. Vetor psicopedagogia So Paulo 1999.
________. Deficincia visual e sonhos arquetpicos . Revista Viver Psicologia, n. Ano XII,
N 130, So Paulo, Novembro/2003, p. 16-19, 2003.
Melo-Dbora - " Mais de 45 milhes de brasileiros tm alguma deficincia; 9,5 milhes so
idosos" in UOL notcias # HYPERLINK "http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-
noticias
/2012/06/29/idosos-e-mulheres-sao-maioria-entre-portadores-de-deficiencia-aponta-ibge.htm"
#http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2012/06/29/idosos-e-mulheres-sao-m
aioria-entre-portadores-de-deficiencia-aponta-ibge.htm# pgina acessada em 29/06/2012 as
13h34
MELLO, Anahi Guedes. "Por uma abordagem antropolgica da deficincia: pessoa, corpo e
subjetividade" Trabalho de Concluso de Curso apresentado ao curso de graduao em
Cincias Sociais da Universidade Federal de Santa Catarina 2010. Disponvel em:
204
http://www.faders.rs.gov.br/uploads/1260958580TCCxAnahi.pdf pgina acessada em
12/05/2012 as 21h 49
MOUKARZEL, M.G.M. Sexualidade e deficincia: superando estigmas em busca da
emancipao. 2003. Dissertao (Mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, So Paulo.
2003.
PLATO. Timeu - Crtias - O Segundo Alcebades - Hpias Menor 3a. Ed., Belm:
EDUFPA, 2001.
RADCLIFFE-BROWN, Alfred R. O mtodo comparativo em Antropologia Social (1952)In:
MELATTI, Jlio Csar (org.) Radcliffe-Brown: Antropologia. So Paulo: tica, 1978, p. 43-
58.
SADE, Marqus de. A filosofia na alcova. So Paulo: Iluminuras, 2000.
SAID, Edward W. Orientalismo: o oriente como inveno do ocidente. Companhia das letras,
2007.
TUCHERMANN, Ieda. Breve histria do corpo e de monstros. Lisboa: Vega, 1999.
Revisitando as estruturas de Regimes do Imaginrio: smbolos e metfora
Maria Thereza de Queiroz Guimares Strngoli
35
INTRODUO
Muito se tem discutido sobre a natureza da metfora e sua criao de sentido no
processo de comunicao; entretanto vrias questes continuam ainda motivando
35
Professora Titular do Departamento de Portugus da PUC-SP e coordenadora do Ncleo de Pesquisa: Lngua,
Imaginrio e Narratividade - NUPLIN. A sntese deste texto foi apresentada no 12th World Congress of Applied
Linguistics - AILA99, Tokio, Japo, em 1999.
205
pesquisas. At que nvel do real pode a metfora se aproximar? Que grau de persuaso
consegue atingir? E como seus efeitos de sentido intervm na organizao do pensamento
ou na revelao da identidade do usurio? A busca para essas respostas implica examinar
como se tem desenvolvido a pesquisa nesse campo.
O interesse pela metfora articula-se, a princpio, aos estudos da retrica clssica.
Somente em 1890, aps M. Bral formalizar a Semntica como uma disciplina que se centra
na anlise do sentido das palavras, formalizam-se tambm as pesquisas sobre as criaes
metafricas. Assim, pode-se acompanhar mais facilmente tais pesquisas, apontando-se,
embora rapidamente, alguns fatos do percurso dessa disciplina.
Do final do sculo passado at parte deste, a semntica lexical tradicional focaliza,
segundo M. Bonhomme (1995), a metfora como um recurso da polissemia para
enriquecer a lngua em uso ou o seu prprio sistema, estudando, como fazem A.
Darmesteter (1887) e Nyrop (1913), sua lexicalizao nos dicionrios.
A semntica componencial desenvolvida pelo Groupe , em Lige, nos anos 60 e 70,
por sua vez, preocupa-se em observar nos vocbulos as operaes de adio e supresso de
semas com o objetivo de descrever a metfora como o produto de duas sindoques.
Na dcada seguinte, amplia-se o campo de estudos com o aparecimento da semntica
discursiva e cognitiva. A primeira centra-se no exame dos contrastes predicativos da figura:
ou percebida como uma tenso semntico-sintxica entre uma determinada figura e seu
quadro sintagmtico, como o faz M. Black (1979), ou como um duplo jogo de neutralizao e
ativao semntica em um dado contexto, como o reconhece F. Rastier (1987). A segunda, a
cognitiva, defendida por P. Ricouer (1975), volta-se para a antropologia e examina a criao
do sentido metafrico do ponto de vista da experincia humana, focalizando a metfora como
um insight da assimilao predicativa que, fundamentada na similitude, revelada pela
imaginao em termos de verbal e no verbal.
A busca de solues para as questes acima pode encontrar bom caminho na discusso
da metfora do ponto de vista da experincia como a descreve P. Ricoeur. Nesse caso,
necessrio focalizar dois pressupostos: o primeiro refere-se natureza da imaginao e do
imaginrio, o segundo, da comunicao e informao.
1. IMAGINAO E IMAGINRIO
Ao acompanhar a meticulosa pesquisa realizada por M. Warnock (1976), verifica-se que
na antigidade grega os filsofos consideram a imaginao a faculdade de reproduzir
mentalmente objetos e fatos do mundo ou, como faz Plato, de criar realidades que,
ancorando-se na subjetividade, escapam da concretude da objetividade. Nos tempos
modernos, D. Hume, E. Kant e F. Schelling estudam a imaginao do ponto de vista da
percepo e da criao artstica, enquanto T. S. Coleridge e W. Wordsworth buscam no
exerccio das imagens mentais ou poticas uma teoria que as explicite. Mais recentemente, J.
P. Sartre enfatiza o emprego da palavra imaginrio e, juntamente com L. Wittgenstein, centra-
se na natureza da imagem para verificar fenomenologicamente sua relao com a imaginao.
J no campo da psicanlise, J. Lacan d palavra imaginrio uma pontuao especfica ao se
fundamentar nas duas modalidades interativas do indivduo: a intra-subjetiva do Eu com o
Ego, e a inter-subjetiva do Eu com o Outro.
Tais abordagens descrevem a faculdade da imaginao, mas no explicitam claramente
as modalidades que a caracterizam como faculdade, porque no se aprofundam no exame da
natureza de seus processos. Somente em 1960, o antroplogo G. Durand, continuando o
trabalho de sistematizao das imagens empreendido por seu mestre G. Bachelard, publica
obra na qual d um sentido preciso noo de imaginrio, distinguindo-a da de imaginao.
206
Esta corresponde a um complexo de faculdades, como perceber, reproduzir, memorizar ou
criar imagens; o imaginrio, maneira particular de como tais faculdades so
operacionalizadas. Assim, enquanto as faculdades da imaginao so comuns a todos os
homens, sua operacionalizao atividade diferenciada em todos eles. Ao oper-las, o
indivduo mobiliza imperativos bio-psquico-pulsionais, ou seja, ativa as funes vitais que
definem a especificidade de seu biologismo, os traos particulares que marcam seu psiquismo
e identidade, a fora ou energia de suas pulses, origem das (re)aes que o caracterizam
como um indivduo, um ser nico. A tais marcas de ordem subjetiva, acrescentam-se outras de
ordem objetiva: as solicitaes ou imposies prprias da poca e do meio social. As marcas,
distinguindo cada indivduo, diferenciam, portanto, todo e qualquer imaginrio.
A articulao da identidade com as atividades do imaginrio fundamentada em G.
Bachelard (1938)
36
que, ao discorrer sobre a formao do esprito cientfico, declara que todas
as experincias ou aquisio de conhecimento ocorrem atravs de trs estados diferentes.
Estes so descritos como: a) estado da concretude, pois se constitui de experincias fsicas ou
sensveis resultantes da percepo; b) estado da concretude/abstrao, no qual a experincia
perceptiva torna-se, ao mesmo tempo, o suporte e a motivao para se traduzir o sensvel em
inteligvel; c) estado da abstrao, instaurado quando esta se desliga da experincia imediata e
passa a compor, de maneira autnoma, a base do conhecimento.
A abstrao e a construo do pensamento no so, portanto, atividades simples, so
processos complexos que se desenvolvem atravs de vrias passagens, de saltos para nveis
sempre reelaborados, revelando constantemente traos da identidade, marcas nicas ou
exclusivas de uma pessoa ou, quando focalizadas em sentido mais amplo, de determinada
cultura, poca ou povo. a essa particularidade operacional dos vrios estados/estgios de
aquisio de conhecimento, atividade constante no espao e tempo da imaginao do homem
ou da cultura, que a antropologia durandiana denomina imaginrio.
Considerando que todo processo de passagem ou mudana implica decises ou rupturas
e, consequentemente, cria tenso, o imaginrio tende a operar a imaginao de forma a
encontrar um sistema de equilbrio entre a subjetividade e a objetividade. Por essa razo, o
exame das operaes da imaginao revela no somente os graus de tenso do indivduo ou de
seu meio, como a relao desse indivduo e meio com as foras de coeso que caracterizam o
prprio dinamismo das imagens. A anlise do imaginrio, do ponto de vista da antropologia,
no , por conseguinte, uma simples anlise de contedo, mas a descrio de formas
processuais da interao do homem com os valores sociais e psicolgicos manifestados nesse
contedo.
As teorias da imagem, em geral, centram-se na linguagem para focalizar a interao do
homem com o meio e examinar a natureza de o que ou de como o enunciador diz seu discurso.
Tais teorias, porm, no se fixam no porqu da ocorrncia de tal modo de dizer ou, se o
fazem, privilegiam a questo do locutor/interlocutor ideal ou dados da biografia do autor.
Alm disso, a viso geral que norteia tal exame sempre a do homo rationalis, enquanto a
perspectiva introduzida pela abordagem durandiana contempla tambm a simbolizao.
A inclinao para valorizar o simbolismo, a despeito do racionalismo e positivismo to
enfatizados na primeira metade do sculo XX, manifesta-se tambm em R. Barthes. Em um
pequeno livro escrito na dcada de 60, no qual examina a relao da crtica com a verdade, e
trilhando outros caminhos que no o da antropologia, esse autor enfatiza veementemente a
necessidade de o homem perder o medo da simbologia e entender que o signo, por si
mesmo, vazio, temporal; somente o smbolo lhe d a consistncia de verdade por meio da
pluralidade de sentidos.
36
As obras so referidas com a data da edio original para facilitar o conhecimento histrico das teorias.
Havendo citao retirada de outra edio, sua pgina referida aps a data dessa edio na bibliografia.
207
A mesma inclinao se encontra em P. Ricoeur (1965: 25)
37
que julga necessrio buscar-
se no signo o simblico e atentar-se para o fato de existir smbolo sempre que a linguagem
produz signos de grau compsito em que o sentido, alm de designar algo, designa um outro
sentido, s atingvel dentro e atravs do seu prprio mbito.
Tal perspectiva possibilita acrescentar s teorias que norteiam os estudos do discurso,
como a da enunciao ou a da pertinncia, a abordagem que, partindo tambm dos fatos da
lngua, articula sua interpretao a processos de simbolizao.
No caso particular da antropologia durandiana, a imagem entendida, como a
manifestao do sensvel (o aspecto vivido ou subjetivo) conjugado ao inteligvel (o
componente social ou objetivo) e implica sempre processos de figurativizao. Para
compreenderem-se melhor esses processos, focaliza-se a narratividade dos enunciados que
abrem o Livro da Gnese no texto bblico: se Deus cria as formas por meio do logos,
porque, no imaginrio do homem que cria e acredita nesse deus, o processo de figuratividade
surge inseparvel da palavra. A iconicidade do simbolizante , desse modo, um acidente
imprescindvel para a manifestao do sentido, pois somente por seu intermdio que o
simbolizado se torna inteligvel.
A simbolizao, entretanto, comporta uma dimenso sinttica ou intuitiva que no se
confunde com a estrutura analtica da palavra. Conforme assinala R. Gunon (apud J.-J.
Wunenburger, 1991: 102) no deve haver oposio entre o emprego das palavras e o dos
smbolos; eles so, na verdade, complementares um do outro. P. Ricoeur (1975:264) julga
ainda que no se deve superestimar o verbal em detrimento das funes visionrias da
imaginao; a concepo de uma metfora viva ou de uma metfora simblica, e no
apenas alegrica, possibilita operar a ligao entre um momento lgico e um momento
sensvel ou, caso se prefira, um momento verbal e um momento no verbal.
Desse ponto de vista, o potico constitui atividade geradora de texto simblico, porque
sua sonoridade ou composio seqencial enfatizam a carga simblica e favorecem a
densidade ou profundidade da significao figurada. A linguagem potica no revela
simplesmente o logos, mas pontua a atividade do imaginrio, na qual se percebe de tal forma
a interao do simbolizante sensvel (figura) com o simbolizado inteligvel (palavra) que o
texto ganha uma vibrao especial.
2. COMUNICAO E INFORMAO
Se a preocupao com a imagem est na lembrana imemorial do homem, a histria da
comunicao inicia-se com a do universo porque, voltando ao texto bblico, a atividade de
criar o mundo, no imaginrio dos homens, pressupe ao mesmo tempo comunicar (Disse
Deus: haja luz), informar (e houve luz) e nomear (Chamou Deus luz Dia, e s trevas
Noite). A criatividade humana se atualiza, desse modo, no verbo, ou melhor, na
verbalizao.
Comentando a relao do falante com a lngua, na pr-histria, O. Ducrot & J.-M.
Schaeffer (1995: 25) declaram que, nesse tempo, a lngua no era um meio, mas um fim: o
esprito humano a modelava como uma obra de arte, na qual procurava representar a si
mesmo. Ora, se o verbo a ao do homem que resulta da faculdade de perceber o meio
exterior e de, neste, reproduzir a prpria figura (imaginao), a verbalizao a forma
particular e dinmica como tal faculdade operada para criar a linguagem (imaginrio).
Conclui-se, ento, que da organizao do sentir (pathos) com o pensar (logos) ou da passagem
pelos trs estados a que se refere Bachelard, surgem o signo/palavra, o smbolo/sentido e a
linguagem/metfora.
37
As citaes em lngua estrangeira foram traduzidas por mim.
208
O. Ducrot & J.-M. Schaeffer (ibidem) observam ainda que a organizao interna das
formas das palavras nas lnguas indo-europias ocorreu por meio de sucessivas etapas:
predominou, primeiro, a forma isolada, depois, a aglutinante, finalmente, a flexional. Somente
na ltima o esprito verdadeiramente representado: a unidade radical e as marcas
gramaticais na palavra, cimentadas por regras morfolgicas, representam a unidade do dado
emprico e das formas a priori no ato de pensar. Entretanto, continuam esses lingistas, o
homem, preocupado em fazer histria, coloca a lngua a servio da comunicao e a
transforma no principal instrumento da vida social. A partir da, no cessou mais de destruir
sua prpria organizao, enfraquecendo a importncia da conscincia dos processos de
simbolizao e figurativizao.
A preocupao com uma teoria cientfica sobre a comunicao e a informao surgiu na
primeira metade do sculo XX, embora, na verdade, declara R. Escarpit (1991:11), ela tenha
sido o resultado de longa pesquisa que remonta ao sculo XV, na Europa ocidental. O
desenvolvimento dessas teorias na atualidade tem motivado a lingstica e a semitica a se
voltarem para a busca de critrios que possibilitem distinguir, privilegiar ou mesmo impor um
tratamento digital para o simblico no processo de comunicao. Segundo tal tratamento,
focaliza-se a informao como constituda de elementos descontnuos e atomizados, fato que
torna possveis as operaes de clculo ou de substituio, as quais, por sua vez, so
compatveis com o pensamento abstrato, racional, no figurativo.
A insistncia no uso de tal tratamento motiva o surgimento de outra abordagem, a da
fenomenologia que, contrapondo-se ao tratamento digital, busca outro tipo de pensamento, o
analgico. Este implica seguir novos procedimentos: a) centrar-se em um continuun espacial
e sensvel; b) ancorar-se no inteligvel resultante de operaes de similitude, seja esta patente
ou latente; c) prever a estreita ligao entre o simbolizante e o simbolizado. Entende-se, desse
ponto de vista, que o processo de simbolizao, visto como a conjugao do concreto com o
abstrato, auxilia a lngua a recuperar a conscincia de sua prpria organizao j que, como
comentam Ducrot & Schaeffer, esta tem se enfraquecido.
3. SMBOLO E SIGNO
A noo de imaginrio, aqui proposta, privilegia o eixo semntico ancorado na
abordagem analgica, eixo que possibilita (re)avaliar, de modo diferente da abordagem
semitica, a dimenso icnica do smbolo. O smbolo visto, conforme declara G. Durand,
no somente como um meio de expresso, comunicao ou codificao: ele o impulso para
a reflexo, a matriz do pensamento racionalizado, e constitui, como afirma J.-J. Wunenburger
(1991:100), fundamentando-se em E. Kant, um terceiro-estado intermedirio entre os
sentidos, a abstrao e, mais profundamente ainda, um nvel de especificidade, uma hipstase
ontolgica entre o sensvel e o inteligvel.
Reafirma-se, portanto, que a imagem sempre smbolo e este se revela conscincia
sob a forma de signo ou qualquer manifestao icnica, figurao material ou mental,
aspectos imprescindveis e necessariamente notveis para que se perceba a profundidade dos
sentidos. No caso da lngua natural, sua manifestao a palavra, entidade imperfeita,
incompleta, ambgua e instvel, pois que tanto a subjetividade (o sensvel), como a
objetividade (o social), da qual se origina, so aspectos descontnuos da unicidade ou
totalidade do conhecimento. Ora, como essa totalidade jamais alcanada, a natureza da
imagem/palavra apresenta-se inquestionavelmente dinmica, polissmica, em constante busca
de sentido.
Da mesma forma, o smbolo que se manifesta nessa palavra tambm descrito como
manifestao incompleta, ambgua e, sobretudo, paradoxal: est sempre livre para ter seu
significado (re)criado em todo e qualquer instante; est sempre aprisionado materialidade do
209
significante. Assim, declara Wunenburger (1991:106), citando P. Ricouer,o smbolo revela
um sentido transcendente na transparncia opaca de um enigma .
A antropologia do imaginrio busca afastar-se de qualquer possibilidade de
reducionismo, como o apregoado no tratamento digital e aceito pela lingstica ou semitica,
e procura centrar seus estudos na fenomenologia imediata da imagem/smbolo.
Retomando a questo da articulao do indivduo com o outro ou com a objetividade
social por meio da linguagem, observa-se que a lngua pode exercer nessa articulao duas
funes: semitica, quando possibilita o locutor a falar de si, do outro ou do mundo;
simblica, quando motiva o locutor a constituir-se como pessoa que participa na construo
do outro ou da realidade social. De acordo com a etnometodologia (apud J. M. Colletta,
1995:33), a funo semitica remete s propriedades de indexao; a simblica, s de
reflexividade.
Voltando estreita dependncia que liga o smbolo ao signo, nota-se que a interao
verbal qualifica-se como semio-simblica: apresenta, ao mesmo tempo, natureza semitica,
porque sua produo e interpretao repousam sobre significantes, referentes concretos; e
natureza simblica, porque constitui o espao do encontro do sujeito com o outro e a
realidade social.
Todas as imagens, na funo semitica (indexao) ou simblica (reflexividade) tm
como denominador comum, por conseguinte, natureza dupla, identidade pela metade. ndice
ou reflexo, ambos so somente semi-concretos e semi-abstratos, j que sua natureza se forma
de duas metades, sensibilidade e inteligibilidade, assim como a interao do homem com o
outro atualiza-se em duas metades tambm intrinsecamente ligadas para constituir um todo:
corpo e esprito.
Tais fatos motivam a reconhecer que, apesar de a imaginao ser um complexo de
faculdades, sua operacionalidade pelo imaginrio evidencia, na atividade de comunicar como
na de refletir, que tanto os significantes como os significados apresentam nveis de
impropriedade ou de deficincia na criao de sentido. Esses nveis podem ser sintetizados
como:
falha na percepo, reproduo e memorizao dos dados da realidade objetiva ou
subjetiva (campo perceptivo da imaginao);
dificuldade de figurar ou criar imagens que expressem com preciso e consistncia idias
ou sentimentos e desejos (campo operacional do imaginrio);
incapacidade de compreender, explicar e comunicar claramente todos os fatos do mundo
(campo pragmtico da comunicao).
4. METFORA E SENTIDO
Examinando-se a metfora do ponto de vista da problemtica apresentada acima, infere-
se que sua natureza resulta de experincia duplamente imperfeita, pois se o falante no
encontra na lngua paradigmas prprios da expresso de todos os matizes do pensamento, tal
pensamento, por sua vez, no corresponde percepo da totalidade dos fatos do mundo
objetivo ou mesmo da integridade das reaes da subjetividade.
Tal constatao possibilita comentar e ampliar algumas inferncias feitas por lingistas:
a criao da metfora pode ser vista como a tentativa de compensar ou de eufemizar, por meio
do exerccio da transcendncia de sentidos, no apenas a imperfeio da atividade de
comunicao, mas tambm a da operacionalizao do imaginrio quando este se manifesta
por meio da lngua natural. Assim, a atividade de metaforizar poderia ser descrita como
originada, de um lado, na fragilidade da percepo de dados objetivos e subjetivos; de outro,
210
na impreciso dos mecanismos subjetivos que, se atualizando em significantes lingsticos,
apresentam formas lexicais e processos operacionais ou discursivos por natureza redutores e
inapropriados.
Focalizando a experincia criativa das metforas como criao seja de intimidade, como
proclama T. Cohen (1978), seja de tenso interativa, como declara M. Black (1979), no plano
social ou cognitivo, nota-se que ela resulta da transao de um saber ver e figurar (atividade
da imaginao) com um saber reproduzir e dizer (atividade da comunicao). A conscincia e
o exerccio da transferncia de sentidos (atividade do imaginrio), proporcionados por esses
dois saberes pode levar ao insight, criao ou percepo de uma nova direo para o sentido.
Tal direo ser nova porque sobrepe o plo significativo de uma estrutura semntica
conhecida ao plo de outra, aceita, em geral, como sua contrria. A metfora, refletindo o
smbolo, constitui jogo de transcendncia e transposio de sentidos, pois exige habilidade
para se reconhecer, avaliar ou descobrir os nveis de similaridade, tanto do real no texto, como
do real no mundo.
A criao de uma nova perspectiva a partir de um velho sentido, por meio da metfora,
faz lembrar a questo levantada por M. Pcheux (1975) que, ao estudar as formaes
ideolgicas no discurso, declara que o indivduo no fala a lngua, essa lngua que fala nele.
ela a matria prima da comunicao ou, do ponto de vista do imaginrio, da simbolizao,
matria cuja natureza dupla permite que somente as duas metades, signo-lingstico e sentido-
smbolo, motivem e possibilitem a reorganizao do sentido. Pode-se dizer, desse modo, que
h uma inverso na hierarquia da criao do sentido novo pelo falante: a lngua e os smbolos
so os que chamam o falante para falar sua reorganizao e atualizar sua natureza dinmica.
A primeira pergunta, colocada no incio deste texto At que nvel do real pode a
metfora se aproximar? encontra nessas reflexes boa matria para discusso.
Sabe-se que a maioria das representaes so focalizadas simplesmente como signos:
seja para apresentar o sentido sensorial, o resultado da memorizao ou a mimese do mundo
exterior; seja para reproduzir um sentido literal ou uma definio. Tal imagem/signo isola-se
semanticamente; sua identificao no implica nenhuma pluralidade, seu sentido singular,
reduzido; sua compreenso ocorre facilmente.
A imagem/smbolo, ao contrrio, apresenta-se com uma autonomia especial, como
constituda de um quadro, no qual se delineia um arqutipo que serve de pano de fundo para o
qual convergem outros sentidos. Nesse quadro, a imagem se revela smbolo porque, mantendo
suas razes tanto no sensvel, como no inteligvel, recebe igualmente as significaes das
experincias vividas tanto na subjetividade como na objetividade do cotidiano. Dessa
maneira, organiza-se de forma emblemtica: distancia-se ao mesmo tempo do particular como
do universal, mas com o objetivo de articular os dois de modo a fazer o universal ser intudo
no particular, assim como o global ser formado do local. Essa articulao a responsvel pela
transformao da imagem/signo em imagem/smbolo.
Ora, uma expresso somente se torna metafrica quando se sujeita a essa transformao,
isto , quando sua imagem/signo assume a natureza de imagem/smbolo, na qual o particular
se estrutura com o geral e possibilita a transcendncia de um sentido local para um sentido
global, ou vice-versa. A metfora no se aproxima, por conseguinte, do realismo comum,
apenas desse realismo paradoxal, em que, por exemplo, a particularidade de determinado
indivduo aceita somente se ele a apresentar articulada generalidade das condies que o
caracterizam como ser humano. Da mesma forma, o tempo particular na metfora coloca-se,
paradoxalmente, estruturado na atemporalidade; assim como o espao, na pluriespacialidade.
No plano do simbolismo, a metfora no diz, portanto, respeito realidade especfica de
uma situao ou pessoa; confirma apenas uma realidade universal: a da humanidade ou do
mundo em geral, ou melhor, dos arqutipos. Assim, se a metaforizao pode servir
pontuao da identidade de um indivduo, tal pontuao ocorre porque o sentido profundo da
211
metfora no se origina na identidade particular desse indivduo, mas no fato de este possuir
um trao da identidade geral do gnero humano, ou do arqutipo que constitui seu pano de
fundo.
A relao do indivduo com a imagem tambm paradoxal: esta lhe possibilita
liberdade ningum obrigado a v-la como smbolo , mas torna-se, ao mesmo tempo,
imposio intrnseca, pois sem as ligaes desse indivduo com o universo simblico a
comunicao se empobrece. A metfora, participando da natureza do smbolo pela atividade
de substituio possibilita, assim, ao indivduo a liberdade de aceit-la como imagem
metafrica ou apenas como signo vazio de seu simbolismo. Entretanto, se h liberdade para
escolha, no h liberdade para se chegar ao insight: o indivduo necessita aderir
imagem/smbolo para esta iluminar a compreenso da nova realidade ou direo semntica.
A segunda pergunta Que grau de persuaso a metfora consegue atingir? pode ser
esclarecida tambm segundo esse ponto de vista.
A persuaso metafrica apresenta-se em duas frentes: a primeira, no enunciador ou
enunciatrio; a segunda, no enunciado. ao indivduo que cabe a liberdade, como j se viu,
de sentir-se persuadido a criar ou a interpretar a metfora, esteja essa persuaso dependente ou
no de seu repertrio ou contexto. Para o enunciador ou enunciatrio a metfora viva nada
mais que fora de persuaso: o jogo da surpresa da transcendncia ou do transporte de
sentido exige obrigatoriamente participao, seja tensiva, se transgredir normas semnticas;
seja relaxada, se j estiver incorporada no sistema.
A segunda frente da persuaso de ordem menos subjetiva, pois pressupe o exame do
sistema da lngua ou da pragmtica discursiva: a fora persuasiva da metfora est na
pertinncia da criao de efeitos sinttico-semnticos. Do ponto de vista da imaginao e
imaginrio importa, ento, examinar que lies se tiram dos processos de simbolizao para a
compreenso dos nveis do sentido persuasivo. Considerando que a fora persuasiva do
smbolo ancora-se menos na preciso e mais na complexidade da semelhana ou da
correspondncia de coisas ou idias entre si, acredita-se que o fundamento persuasivo da
metfora no esteja simples e unicamente em uma lgica identitria; ao contrrio, concentra-
se na densidade e pluralidade de sentidos criados pelos movimentos perceptivo-reflexivos do
imaginrio.
A metfora , ento, menos a representao clara de um fato ou realidade e mais a
instaurao do confronto com um sentido complexo ou mesmo indizvel, um insight, cuja luz
volta sua intensidade para iluminar a interioridade do esprito. Sua criao privilegia outra
inclinao persuasiva que, se quisermos falar metaforicamente, pode ser descrita como a
nostalgia de um conhecimento profundo, ou, ao contrrio, o apetite desse conhecimento. Em
outras palavras, o objeto maior da persuaso metafrica encobrir a impropriedade e a
deficincia da comunicao, como j se referiu acima.
A terceira pergunta Como os efeitos do sentido metafrico intervm na organizao
do pensamento ou na revelao da identidade do usurio? pede que se ampliem as
consideraes acima.
Vrios foram os estudiosos que se debruaram sobre a descrio ou classificao da
metfora; a preocupao deste trabalho, porm, focalizar que espao o aspecto simblico
ocupa na natureza funcional da criao metafrica. Reafirma-se, por essa razo, que essa
criao est ntima ou epistemologicamente ligada simbolizao. E esta , sobretudo,
exerccio de ausncia ou de distanciamento de dados concretos, conforme atesta Wunenburger
(1991:116), citando Baudelaire: os smbolos nos olham; quando sentimos seu olhar, temos a
impresso de uma presena vinda de um alhures que no pde ser referendado. Se isso ocorre,
porque os smbolos anunciam muito mais que enunciam
38
.
38
Os grifos so meus.
212
Para continuar a reflexo motivada por essa terceira questo, julga-se necessrio ir alm
da materialidade do texto e descrever as funes da metfora do ponto de vista da interao
das estruturas discursivas com as do imaginrio. Seguindo as indicaes de E. Benveniste
(1966), para quem todo falante tem a inteno de influenciar, de algum modo, o outro,
examinam-se como as manifestaes lingsticas das modalidades imaginrias podem,
manifestando intenes, apontar funes.
5. FUNES DA METFORA
De acordo com a abordagem analgica, buscam-se as funes da metfora no exame da
interao do falante com a natureza ambgua ou deficitria tanto da comunicao como do
imaginrio. Retoma-se, por conseguinte, o eixo da linguagem e da imaginao para se
procurar a correlao da criatividade comunicativa com a dinmica dos trs regimes de
imagens descritos por G. Durand (1960).
Para se entender a noo de regime preciso ter presente o fato de que a imagem,
mesmo sendo polissmica e, portanto, assumindo sentidos diferenciados conforme o contexto,
conserva sempre um ncleo de significao simblica para o qual convergem esses sentidos.
Tal convergncia foi estudada por G. Durand, no plano antropolgico, segundo os processos
de homologia ou isomorfismo
39
e os princpios da reflexologia, tecnologia e sociologia
40
.
Os regimes so grandes agrupamentos de imagens reunidas porque h isomorfismo
simblico em seus ncleos. Nestes, reconhecem-se, por conseguinte, imagens que
representam modelos de comportamento ou linguagem, sistemas de pensamento, arqutipos e
configurao de pulses ou mistrios existenciais desenvolvidos de forma homloga. A
observao dos regimes de imagens possibilita a distino e a descrio das particularidades
dos traos biolgicos, psicolgicos, tecnolgicos e sociolgicos tanto do indivduo como dos
grupos sociais. Os regimes congregam, portanto, os modos de o indivduo ou o grupo
interagir consigo prprio, com o outro, ou com a cultura e a natureza.
Como as homologias ou isomorfismos no so excludentes ou fixos, porque alguns
desses ncleos so complexos, as imagens podem transitar pelos trs regimes e expressar a
modalidade de representao daquele que naquele momento as acolhe. O signo, ao ser
empregado em um contexto que o situa em regime que no lhe habitual, ativa o pluralismo
semntico de sua simbologia de maneira a se recobrir com o sentido que corresponde ao
isomorfismo que norteia o movimento de convergncia para esse regime.
A pesquisa das funes da metfora fundamenta-se no dinamismo de tais homologias
ou isomorfismo e, consequentemente, nas modalidades do imaginrio dos trs regimes.
A modalidade mstica congrega as imagens do regime noturno, cujos sentidos apontam
para: realismo sensorial; tendncia para a miniaturizao; desdobramento de um mesmo tema;
desfuncionalizao de situaes de agressividade e de perigo; nfase no aspecto esttico;
busca de harmonia e esprito conciliatrio com relao natureza ou ao grupo social; e
inclinao para buscar todo e qualquer tipo de abrigo ou profundidade de sentimentos. A
forma de expresso lingstica caracteriza-se por perodos longos e compostos, predicao
abundante, repeties, digresses e uso da funo ftica.
A modalidade herica rene as formas dialticas do regime diurno, cujas imagens
privilegiam: realismo seletivo motivado ou por impulso de luta contra qualquer
39
Nas cincias exatas, tais palavras indicam que alguns organismos apresentam a mesma origem ou
desenvolvimento, apesar de sua natureza diferente. Na antropologia durandiana, significam semelhana de
efeitos simblicos em imagens de natureza ou forma diferente.
40
As categorias da convergncia fundamentam-se em: a) reflexologia da Escola de Leningrado, cujos princpios
so reafirmados posteriormente pela etologia; b) tecnologia, segundo pesquisas de A. Leroi-Gourhan; c)
sociologia da tripartio do poder nas culturas indo-europias, desenvolvida por G. Dumzil.
213
figurativizao do mal ou por atos de enfrentamento decisivo; temtica com fragmentao ou
abstrao de dados por meio de sindoque ou metonmia; processos de idealizao que
enfatizam a perfeio, a separao ou o radicalismo. Em seus processos sinttico-semnticos
predominam oraes curtas, pouca adjetivao, figuras de palavras, preponderncia de verbos
de ao e asseres categricas.
Finalmente, a modalidade sintetizadora presentifica o regime crepuscular
41
, no qual se
colocam imagens, cujos ncleos semnticos se mobilizam segundo sua homologia com o
tempo e o espao cclicos, tendo como objetivo: estabelecer o realismo norteado pela razo ou
reflexo; promover deslocamentos de pontos de vista, progresses temticas e sntese
dialtica; desenvolver temtica em que h eliminao do mal por meio de processos
organizacionais ou racionais; transformao do perigo do presente em recompensa no futuro,
por meio de teorias e sistemas filosficos ou religiosos. Suas formas de expresso privilegiam
a coeso argumentativa, os processos de causa e efeito ou de comparao; e a alternncia de
perodos longos e explicativos com curtos e conclusivos, pontuados por marcadores de tempo
e de espao.
Para exemplificar o princpio de homologia ou isomorfismo que rege a plurisignificao
das imagens e sua interao com os trs regimes, utilizo a imagem sol para compor
enunciados que correspondam aos diferentes contextos semnticos dos trs regimes.
Um sol de felicidade derramou-se em seu corao e, aquecendo-o branda e docemente,
iluminou seu sorriso e olhar de criana abandonada.
Reconhece-se a modalidade mstica do regime noturno porque h: realismo sensorial
articulado ao sentimentalismo, inclinao para o aprofundamento ou desdobramento temtico,
busca de harmonia e conciliao dos efeitos eufricos da natureza com os sentimentos
humanos, expressos em perodo composto de oraes que destacam a predicao.
O sol da liberdade acirra os nimos: irrompe a luta, mostra-se a Morte.
A mesma imagem coloca-se, agora, no regime diurno, pois torna presente o impulso de
ao agressiva, enfrentamento decisivo e radical para matar ou morrer, manifestao,
portanto, de fixao idealista levado s ltimas conseqncias, transmitidos em oraes curtas
e incisivas.
O sol no horizonte a esperana da noite tenebrosa.
Fica clara, neste enunciado, a inteno de deslocamento de ponto de vista, de progresso
ou de racionalizao por meio do cclico, da marcao do tempo e da predisposio filosfica,
prprios do regime crepuscular.
So as modalidades dos trs regimes do imaginrio que vo nortear a classificao que
se far em seguida.
A primeira funo da metfora traz a marca da eufemizao ou os traos do regime
noturno. Por essa razo, denomino-a funo eufemstica. Como a atividade metafrica
desenvolve-se no campo da linguagem, a eufemizao diz respeito incapacidade de o
homem representar lingisticamente (plano da comunicao), ou figurativamente (plano do
imaginrio) tanto o mundo objetivo como o subjetivo, conforme j se observou. Aqui, a
metfora funcionalmente a suavizao da conscincia de que no se fala a lngua: esta se re-
cria no falante e este constitui uma parte do social que ela, lngua, cria. verdade que esse
41
G. Durand no considerou essa modalidade um regime, mas um grupo de imagens integrado no regime
noturno. A proposta de transformar tal grupo em regime e denomin-lo crepuscular foi-lhe apresentada e por
ele aprovada no Coloque sur loeuvre de Gilbert Durand, realizado em Cerisy la Salle, Frana, em 1991. Essa
proposta est sintetizada em um captulo da obra Semitica: olhares.
214
falante uma parte privilegiada, porque todo indivduo tem, mesmo em nveis diferenciados,
uma competncia: distingue semas, reconhece homologias e similitudes, percebe matizes e os
escolhe e combina. O valor da criao metafrica est em enfatizar o grau da conscincia
desse saber e da competncia no uso da lngua para se reparar no somente a incapacidade
lingstica, mas para se explorar ao mximo os recursos do imaginrio.
Tal funo, correspondendo modalidade mstica do regime noturno, ocorre sobretudo
no discurso potico. A preocupao maior do poeta transformar a expresso lingstica em
uma ferramenta perfeita porque profunda para comunicar cenrios grandiosos ou
impresses fortes, como os que se reconhecem nas metforas
42
:
O sol, em agonia, esbraseia o ocidente...
fecha-se a plpebra do dia...
Raimundo Correia
Meu corao um balde despejado.
Fernando Pessoa
Uma palavra morre no silncio.
R. M. Rilke
A lngua, ao falar na voz do poeta, busca suavizar ou reparar a incapacidade de se
descreverem em poucas palavras todas as sensaes profundas e infindveis de um espetculo
ou de um sentimento, cuja grandeza ou extenso parecem indescritveis. Tais metforas so,
portanto, o exerccio bem sucedido de a lngua e o imaginrio representarem o indizvel,
recobrindo a fragilidade natural da comunicao com acento potico.
A segunda funo a compensadora e se manifesta no regime diurno. Seu objetivo
no compensar a imperfeio somente da comunicao do homem, mas tambm de
situaes ou contextos sociais em que esse homem vive. Esse tipo de metfora focaliza a
rejeio a determinados fatos; investe claramente contra situaes ou pessoas; e pontua a
ironia, a stira ou a crtica mordaz. Ao empreg-la, o enunciador acredita equilibrar em seu
psiquismo sua relao subjetiva com a objetividade do mundo, pois assim como este nele
intervm de forma eufrica ou disfrica, ele se estabiliza intervindo tambm no mundo,
opinando subtilmente sobre ele ou corrigindo-o mordazmente. Desse modo faz com que os
valores que julga eufricos se sobreponham aos que cr serem disfricos. Tal funo norteia-
se, por conseguinte, pela interao dos princpios do indivduo com os costumes e as regras de
conduta admitidos pelos grupos que compem a sociedade qual pertence.
A relao do enunciador com a moral ou amoralidade permeada, entretanto, pela
agressividade, pois esse tipo de metfora se sustenta da intransigncia ou da fixao na
perfeio que no admite transgresses. Para exemplific-la, pode-se inverter os dados de
conhecida expresso e criar uma nova:
D a Deus o que de Csar.
Evidencia-se aqui facilmente que, se na funo eufemstica ou potica a criao da nova
forma de dizer se deve necessidade de compensar a impropriedade natural da lngua e a
fragilidade da percepo comunicativa do sujeito, nesta, o problema no est propriamente
nesse sujeito, mas na situao em que se colocam os atores discursivos: quem fala, para quem
e de quem se fala. Tal fato no ocorre to enfaticamente na expresso tradicional:
D a Deus o que de Deus e a Csar o que de Csar.
42
Os exemplos so de obras ou culturas diversas no somente porque o texto foi apresentado em congresso
internacional, mas sobretudo para se avaliar a extenso da propriedade das funes.
215
A expresso, na qual se fez a inverso, focaliza o ethos para, por meio da ambigidade
de um querer-fazer ou de um dever-fazer ou no-fazer, levantar a questo dos valores
(materiais ou espirituais), da hierarquia (superior ou inferior) e da convenincia (pessoal ou
social) a fim de equilibrar a interao do psiquismo com os costumes por meio de um insight,
cujo ridculo, chacota ou crtica investem contra certos costumes.
A primeira funo, a eufemstica, implica a relao do falante com o sistema lingstico
e enfatiza a possibilidade de harmonia entre eles, valorizando tanto um quanto outro. Esta
segunda funo centra-se na interao do falante tambm com esse sistema, mas serve-se dele
para destacar outro, o social. Na construo desse tipo de metfora, o enunciador afronta os
representantes do sistema social para denegar seus valores e, revertendo situao que
considera imperfeita, purificar posies inaceitveis de seu ponto de vista moral. As criaes
metafricas nessa funo ressaltam, portanto, confrontamentos e marcam diferenas na
interao da objetividade (grupo social) com a subjetividade (indivduo). Tais objetivos
confirmam as modalidades hericas do regime diurno.
O sentido metafrico do verbo, dos objetos direto e indireto da expresso invertida
exige do enunciatrio repertrio referente ao significante, significado e contexto cultural, ou
seja, conhecimento de toda a cenografia discursiva, j que esta, focalizando a parte e no a
totalidade significativa, no se explicita totalmente. Usar essa metfora possibilita, mais que
apresentar uma realidade nova, tornar possvel a convivncia do falante com determinados
fatos, crenas ou afirmaes categricas impostos pelo contexto social, porque permite a esse
falante evidenciar sua convico de forma indireta, pouco explicita, portanto sem se
comprometer com o que dito. H nela tambm eufemizao, mas menos da fragilidade
comunicativa ou reflexiva.
D a Csar o que de Deus
Tanto a outra como esta expresso, tambm invertida, representam mais a iluso de
equilibrar o psiquismo do homem do ponto de vista de sua interao com a organizao
social, religiosa ou poltica imposta em seu meio ambiente. Tal funo reconhecida em
outras expresses como:
O que o sacramento? o recheio em uma azeitona catlica.
Apud T. Cohen
Os avies de caa so a isca. Voc o peixe.
Apud Richard Bah
Esta sindicncia vai acabar em uma enorme pizza.
(expresso popular brasileira)
No ltimo exemplo, o sentido metafrico da palavra pizza exige repertrio especfico,
porque pontuado por fatos de determinada cenografia discursiva. Deixar entender com
clareza, mas sem afirmar o que se pretende de forma objetiva, revela a fora do fraco, do
submisso. Tal fora busca seu vigor no afrontamento inteligente, na habilidade dos cortes
sutis e eficientes de fatos e princpios. A astcia criativa ou destrutiva da crtica irnica ou
satrica confirma o regime diurno.
A terceira funo coincide com a modalidade sintetizadora do regime crepuscular e,
por isso, pode receber a denominao de reveladora.
O homem o lobo do homem.
T. Hobbes
O homem no seno um canio, o mais fraco da natureza,
216
mas um canio pensante.
B. Pascal
Observa-se facilmente que nessas clebres metforas a imperfeio perceptiva ou
comunicacional situa-se no campo do conhecimento, da natureza psicolgica ou do
desvendamento do destino do homem. o conhecimento ontolgico, cujo objetivo
apreender sob as aparncias as coisas em si, que norteia ou preside essa funo. Seu foco a
transcendncia humana, cuja complexidade dificilmente percebida, explicada e comunicada.
T. Hobbes, por exemplo, somente compreende a impossibilidade de suprimir a violncia
natural, substituindo a natureza do homem pela do animal. Esse enunciado, que supostamente
no originrio do autor (apud P. Desalmand & Ph. Forest, 1991:173-5), compe a epgrafe
de um de seus livros e est antecedido por outro:
E certamente, igualmente verdadeiro que um homem um deus para outro homem, e
que um homem tambm um lobo para outro homem.
Tal construo mostra menos o pessimismo de Hobbes e mais a importncia da
estruturao metafrica como um sistema criado para encobrir o perigo que representa o
homem para o outro homem. Seu uso d ao falante a iluso de, alm de eufemizar ou
equilibrar a fragilidade cognitivo-social humana, atenuar a angstia existencial. Ao cristalizar
a percepo do perigo de sua fragilidade em figuras longnquas ou estranhas, o falante afasta
esse perigo, fecha-o em um espao imaginrio, impede-o de participar de seu cotidiano.
Devido a esse distanciamento, o homem no consegue mais claramente ver ou conhecer esse
inimigo e, assim, no receia enfrent-lo.
A metfora torna-se, nessa funo, a epifania do mistrio: ao apont-lo e ao faz-lo
irromper no discurso, o homem transforma, metamorfoseia, materializa esse mistrio pela e na
lngua. Transfigurado em palavra, em enunciado, tal mistrio torna-se simplesmente smbolo
(o que est em lugar de), revela-se objeto dominado pelo falante. A funo desse tipo de
metfora criar a iluso de afastar, minimizar, prender o perigo do desconhecido em imagens
pertinentes e originais. a conquista do poder pela palavra sobre o desconhecido. Outras
expresses famosas demonstram essa iluso:
O inferno, so os outros.
Sartre
A criana o pai do homem.
Wordsworth
A religio o pio do povo.
Marx
Tais metforas exemplificam igualmente o deslocamento do ponto de vista da disforia,
originada na imperfeio do conhecimento, para a euforia, nascida da criatividade da forma
inteligente e sinttica de formulaes que confrontam os contrrios, ou causa e efeito.
As funes no so excludentes, exercem-se separadamente ou no; em alguns casos a
construo metafrica pode, ao mesmo tempo, compensar a imperfeio comunicativa e
revelar seja a sensibilidade esttica, seja a ironia inteligente, seja o mistrio da complexidade
do ser humano, como se reconhece nas famosas palavras de Brs Cubas:
Marcela amou-me durante quinze meses e onze contos de reis. Nada menos.
Machado de Assis
Retomando a polaridade do eixo, comunicao e imaginrio, observa-se que, na
217
organizao do pensamento, os efeitos do uso da metfora manifestam-se de forma
igualmente positiva tanto em um plo como no outro. No primeiro, o da comunicao, a
criao metafrica no somente compensa a fragilidade da lngua, como a enriquece, anima,
vivifica, caso se pense que a lngua que fala no enunciador. No segundo, o do imaginrio,
ela se mostra estimulante, instigante, pois pode dinamizar tanto a criatividade do sensvel
(funo eufemstica do regime noturno) como a do inteligvel (funo compensadora do
regime diurno) ou ainda a articuladora dos contrrios (funo reveladora do regime
crepuscular).
Retomando a terceira pergunta, a que indaga dos efeitos do uso da metfora na
revelao da identidade do usurio, destacam-se duas situaes: a da criao e a do uso dessa
metfora. Notou-se que esta se constri sobre um pano de fundo em que se delineia a
identidade no de um indivduo, mas de arqutipos do gnero humano. Desse ponto de vista, a
metfora no identifica o sujeito que a utiliza, mas sua relao com determinado aspecto da
condio humana, j que so esses aspectos que se revelam nas funes estudadas.
A descrio da natureza das funes, segundo os regimes do imaginrio, entretanto,
demonstra que essa relao pode ser indicadora de tendncias que pontuam determinada
identidade. Considerando que o imaginrio a forma de todo indivduo operar a imaginao
e esta a faculdade de se perceber o mundo conhecer as modalidades do imaginrio desse
indivduo chegar ao limiar de sua identidade.
Fala-se em limiar, porque deste que o analista, se quiser se alar ao plano do
conhecimento das tendncias da identidade, vai observar e estudar a expressividade das
recorrncias funcionais do uso da metfora. No resultado dessas ocorrncias projeta-se o
perfil da identidade. Afinal, na fluidez da imagem/palavra e no estatuto metafsico da
operacionalizao do imaginrio que est o simblico, fonte da criao metafrica. E esse
simblico, declara Wunenburger (1991: 116), sempre torna-se um espelho, remetendo o
homem para si mesmo.
CONCLUSO
A reflexo sobre as trs funes no esgota todas as possibilidades funcionais da
natureza da metfora. Sua descrio objetiva abrir espao para se discutir a interao das
noes de imagem, imaginao e imaginrio com os efeitos de sentido criados pelas estruturas
sinttico-semnticas dessa metfora. Certamente tais funes podem ser ampliadas ou
desdobradas e sua pesquisa levar ao reconhecimento de outras, mais refinadas e precisas.
O importante a considerar que as funes, ou seus desdobramentos, demonstram o
esforo do homem para lidar com a complexidade de sua imperfeio: conhecer e explicar
sentimentos, comunicar idias ou desejos, instaurar a verdade. O olhar do analista pode, ao
focalizar a imaginao e as articulaes do imaginrio, enriquecer tanto a criao como a
percepo da arte de conviver com tal imperfeio, demonstrando que no exerccio metafrico
o falante revitaliza a lngua e a si prprio ao transformar a imagem/palavra em refgio
(regime noturno), arma contundente (regime diurno), ou sistema filosfico (regime
crepuscular). E por meio de qualquer desses exerccios esse falante transporta ou metaphora
para longe as imperfeies.
RESUM: En remontant aux tudes sur la smantique et les images, on peut
concevoir le procs mtaphorique comme l xercice de la tranformation de
signes en symboles. Dans cet exercice on tudie la complexit des facults de
limagination pour prciser comment ces facults sont opres par limaginaire.
218
La conclusion qui se dgage est que ltude de limaginaire peut enrichir la
cration ou la perception des sens cachs dans les mtaphores, et permettre
dentrevoir les trois principales fonctions de la dynamique des images, savoir:
euphmiser limperfection de lhomme, quilibrer lactivit interactive de son
psychisme avec le milieu social, et illuminer les mystres du monde.
MOT-CLS: imagination et imaginaire; signe et symbole; communication et
identit.
BIBLIOGRAFIA
BACHELARD, G. (1938). A formao do esprito cientfico. Rio: Contraponto, 1996, p.11.
BARTHES, R. (1966). Crtica e verdade. Lisboa: Ed. 70, 1987, p.50.
BENVENISTE, E. (1966) Problemas de lingstica geral. Campinas: Pontes, 1995, p. 267.
BLACK, M. (1979). More about metaphor. In: A. Ortony (org.) Metaphor and thought.
Cambridge: Cambridge Univ. Press.
BONHOMME, M. (1997). Smantique de la mtaphore et argumentation par les valeurs. In
Proceedings of the 16th International Congress of Linguists. Oxford: Pergamon, paper
n 0256.
BRAL, M. (1890). Ensaio de semntica - cincia das significaes. So Paulo:
EDUC/Pontes, 1992.
COHEN, T. (1978) A metfora e o cultivo de intimidade. In: S. Sacks, Da metfora, So
Paulo/Campinas: EDUC/Pontes, 1992.
COLLETTA, J.-M. (1995) Qui parle, et pourquoi? A propos de la dimension symbolique des
conduites langagires. In: Langage et socit. N 73, sept/95, Paris: Maison des
Sciences de l Homme.
DSALMAND, P. & FOREST, Ph. (1991) 100 grandes citations expliques. Alleur:
Marabout.
DUBOIS, J. et alii. (1970) Os metasememas In Retrica geral. So Paulo: Cultrix, 1974.
DUCROT, O. & SCHAEFFER, J.-M. (1995). Nouveau dictionnaire encyclopdique des
sciences du langage. Paris: Seuil.
DURAND, G. (1996). Champs de l imaginaire. Grenoble: Ellug.
_____. (1994). L imaginaire Essai sur les sciences et la philosophie de l image. Paris:
Hatier.
.
_____. (1960) As estruturas antropolgicas do imaginrio (trad. de Hlder Godinho). So
Paulo: Martins Fontes, 1997.
ESCARPIT, R. (1991). Linformation et la communication - Thorie gnrale. Paris:
Hachette.
KLINKENBERG, J.-M. (1996). Sept leons de smiotique et de rhtorique. Toronto: Gref.
LOPES, E. (1987). Metfora: da Retrica Semitica. So Paulo: Atual.
219
ORTONY, A. (1979). Metaphor and thought. Cambridge: Cambridge Un. Press.
PCHEUX, M. (1975). Semntica e discurso - Uma crtica afirmao do bvio. Campinas:
Ed. da UNICAMP, 1988.
RASTIER, F. (1987). Smantique interprtative. Paris: P.U.F.
RICOEUR, P. (1975). La mtaphore vive. Paris: Seuil.
_____. (1965) De linterprtation - Essai sur Freud. Paris: Seuil.
_____. (1960) Finitude et culpabilit. Tome II, Paris: Aubier-Montaigne.
SACKS, S. (1978). On metaphor. Chicago: Un. Of Chicago Press.
STRONGOLI, M. T. (2000) Do signo ao smbolo: as figurativizaes do imaginrio. In: D.
del Pino (org.) Semitica: olhares. Porto Alegre: EdPUC/RS.
_____ (1998) Do signo retrica do imaginrio. In: A. C. Oliveira & Y. Fechine (org.)
Semitica da arte. So Paulo: Hacker.
WARNOCK, M. (1976). Imagination. Berkley/Los Angeles: Un. of California Press.
WUNENBURGER, J.-J. (1997). Philosophie des images. Paris: PUF.
_____. (1991) Le tiers-tat symbolique. In Cahiers de limaginaire Mythologie et vie
sociale. Paris: LHarmattan.
PAISAGEM SONORA EM PENTGONO DE HAHN, DE OSMAN LINS
Poliana Queiroz BORGES
Universidade Federal de Gois
Programa de Ps-Graduao em Letras e Lingustica
contosdetarsila@yahoo.com.br
Resumo: Na narrativa Pentgono de Hahn, da obra Nove, novena Lins inicia o texto com
uma imagem que a fuso de duas figuras pertencentes ao sistema grfico musical. O autor,
ento, aponta que entrar por um sistema de representao que ir ultrapassar o sistema
grfico da lngua portuguesa, transpondo limites. Somam-se a isso, inmeros outros
elementos constituintes de uma paisagem sonora, como entendido por Murray Schafer, como
220
os sons fundamentais da gua, da pedra, da madeira e da luz. Considera-se a hiptese de que
em Pentgono de Hahn os smbolos musicais, geomtricos e alqumicos esto
configurados em uma rede sinestsica, que extrapola as fronteiras das artes, marcando o fazer
literrio caracterstico do autor. O objetivo dessa pesquisa buscar uma perspectiva de leitura
que considere a paisagem sonora nesse texto osmaniano a partir da perspectiva do Regime
Noturno Sinttico da Imagem, de Gilbert Durand, pois, os elementos que a constituem
apresentam-se com a funo de harmonizar os contrrios, complementando-se.
Palavras-chave: Osman Lins; Pentgono de Hahn; Paisagem sonora.
Mrio de Andrade (1995) refere-se sensao sonora como uma impresso captada
pelo nervo acstico e conduzida ao crebro, que passando pelo estado de conscincia, torna-se
conhecida. Apesar da impossibilidade de ouvir a obra de Osman Lins, em uma leitura
individual, silenciosa, a sensao sonora pode ser percebida atravs das figuras que
representam as personagens, devido s equivalncias que apresentam com figuras musicais;
por meio da inconstncia temporal nos tempos verbais, que gera uma espcie peculiar de linha
meldica e, ainda, nas sucesses de movimentos rtmicos, provocadas pelas caractersticas
desses personagens.
A quantidade de marcas musicais presentes na narrativa Pentgono de Hahn (LINS,
1994) faz com que o leitor seja inundado por uma onda sonora, que provocada por um
complexo de smbolos estilizados, representativos de uma partitura musical. Cada um dos
cinco personagens-ncleo da narrativa encerra um ncleo de ao que delineia, atravs de
seus monlogos interiores, um traado geomtrico em torno do personagem ttulo: Hahn. Esse
personagem, uma elefanta, em si mesmo, nada tem de dramtico, mas pela sua presena ou
ausncia, que vai se formando a polifonia de grande expresso simblica que perpassa o conto
de Lins.
A partir das diferentes perspectivas nas quais observada Hahn elevada a um
patamar de pureza, soberanamente perfeita e, por tudo o que representa, capaz de modificar
radicalmente o rumo da vida de quem, por puro acaso, estiver sua volta. Atua no limite da
natureza animal e vai adquirindo, ao longo do texto, um status emblemtico, figurado. a
pea fundamental e garantia de unidade da narrativa fragmentada, no s pela presena fsica,
mas pela configurao de aura mtica do universo de significaes, que est representada em
si mesma.
De acordo com Cirlot (1984, p. 220), o elefante em sentido amplo, o smbolo da
221
fora da potncia e da libido, e representao do universo na tradio indiana, remetendo
imagem de Ganesh, deus hindu das cincias e das letras, que se apresenta com corpo de
homem representando o microcosmo, a manifestao e a cabea de elefante a
representao do macrocosmo. Desta forma, o elefante considerado, paradoxalmente, ao
mesmo tempo, comeo e fim. Formando o pentgono proposto por Lins esto as imagens-
personagens , , , , . As trs primeiras sugerem uma equivalncia imediata com o
sistema musical; o quarto smbolo pertence ao sistema astrolgico zodiacal; e o ltimo um
smbolo alqumico, representativo do elemento Sal, e est inscrito nas quatro extremidades da
cruz-smbolo da Ordem Rosa Cruz Hermtica e Alqumica.
De acordo com Murray Schafer
43
uma anlise mais aprofundada dos sons ambientais
descritos na composio das narrativas, composta por uma escrita sonora recheada de
recursos, pode explicitar os estados emocionais dos personagens e o espao onde se
movimentam.
O estudo estende-se do texto msica da pera de Verdi, Marcha da Ada e Danbio
Azul, de Johann Strauss Jr., como uma espcie de trilha sonora do desenrolar dos
acontecimentos em torno da elefanta de circo Hahn. As duas peas musicais escolhidas por
Lins apresentam compassos diferentes: a primeira, em compasso binrio e a segunda, em
compasso ternrio. A somatria dessas duas diferentes marcaes de tempo o nmero cinco.
Esse nmero assume um significado importante na obra de Lins que, com relaes
numerolgicas advindas das teorias pitagricas, estabelece uma interdependncia entre
microcosmos (relaes humanas) e macrocosmos (todo harmonizante/ universo).
Matila Ghyka e Gyrgy Doczi
44
iluminam a compreenso da construo do pentgono
de Lins a partir do estabelecimento de relaes entre a estrutura da obra; a estrutura das peas
musicais; e as relaes cosmognicas recorrentes tanto em Pentgono de Hahn como em
outros textos do autor (como exemplo, Avalovara, livro ao qual se refere o autor no fragmento
citado a seguir). Em entrevista inserida no livro Evangelho na Taba, Lins aborda essa
identidade com os nmeros e seu carter ordenador:
Posso, entretanto, adiantar que a minha atrao pelas estruturas de
inspirao geomtrica no se definiu a partir da leitura de outros
romances, e sim a partir da leitura dos ensaios de Matila C. Ghyka:
43
Raymond Murray Schaffer (nascido em 1933) compositor, escritor, educador musical e ambientalista
canadense, preocupado com a ecologia acstica, prope uma nova concepo sonora e musical a partir dos sons
que nos cercam. Cunhou ou termo paisagem sonora e discorre sobre seus conceitos nos livros: O ouvido
pensante (1991) e A afinao do mundo (2001).
44
Gyrgy Doczi, arquiteto hngaro, nascido em 1909, naturalizado americano. Escreveu o livro O poder dos
limites (1990).
222
Esthtique des Proportions dans laNature et Art e Le Nombre Dor [...]
Tambm Pitgoras e a alquimia no so estranhos minha atrao pelas
figuras geomtricas. Quanto aos nmeros, tem fascinado aos homens
desde sempre, na Idade Mdia, como podemos ler em Curtius, eram
frequentes as obras redigidas por uma estrutura numeral. A Divina
Comdia, baseada na trade e na dcada culminncia dessa tendncia.
E o meu livro, j disse mais de uma vez, constitui entre outras coisas,
uma homenagem ao poema de Dante. tambm construdo com base
na trade e na dcada (LINS, 1979, p. 179).
Na geometria, entende-se que o pentagrama est contido em um pentgono regular e
composto por cinco tringulos issceles, ou seja, que apresentam ao menos dois lados com a
mesma medida. Entre os pitagricos, a analogia privilegia a relao de proporo e o nmero
cinco constitui o que esta Escola da Antiguidade chamou de nmero de ouro, por ser parte da
seo urea
45
. Em termos geomtricos o pentgono e o pentagrama, como todos os padres,
so definidos pelos seus limites. Essas formas geomtricas exemplificam um epigrama
atribudo a Pitgoras, que diz que o limitado d forma ao ilimitado (DOCZI, 1990, p.7).
O smbolo da escola pitagrica o pentagrama, na forma de uma estrela. Na msica,
convencionou-se chamar as cinco linhas paralelas que compem a pauta musical tambm por
este nome. No por acaso, a msica uma representao adequada para analisarmos o sujeito
e sua relao com o mundo, no que diz respeito narrativa de Osman Lins. Isso se d,
especialmente, pelo fato de que as analogias musicais frequentemente estiveram associadas
com a mitologia, com as representaes imaginrias, com o senso comum e, por outro lado,
com relaes ou argumentos na metafsica e na teologia (NUNES, 1997, p. 21).
Essa ordem geomtrica e harmnica das propores que se repetem pode ser
observada na natureza: um crescimento dinmico de todas as coisas pela unio dos opostos
complementares. Osman Lins se vale desses conceitos e consegue materializar, em
Pentgono de Hahn, essa ordenao csmica, provocando no leitor uma nsia de reunir os
fragmentos narrativos a fim de encontrar uma unidade. A sensao de que h algo em
suspenso, esperando o tom harmonizante, gera no leitor uma expectativa que prenuncia a
descoberta dessa proporo que, atravs da repetio, se intensifica e ganha sentido. A ordem
desses padres repetitivos dada pela natureza humana dos personagens. Apesar de cada um
deles vivenciar situaes que os individualizem, esto contidos, nesses personagens,
elementos inerentes s propores e padres dos fenmenos naturais, no caso, o movimento
45
Espiral logaritma em que os estgios sucessivos de expanso so marcados por quadrados e retngulos ureos,
expandindo-se em progresso harmnica a partir do centro. a relao recproca entre duas partes desiguais de
um todo. Utilizada pelos gregos em sua arquitetura, literatura e artes em geral, a seo urea considerada como
o elo entre a matemtica humana e a natureza. (DOCZI, 1990, p. 53)
223
incessante do tempo.
Para Gilbert Durand os padres que se repetem tambm esto contidos na msica, ou
melhor, na imaginao musical, como estrutura harmnica, cuja funo essencial ao
mesmo tempo conciliar os contrrios e dominar a fuga existencial do tempo (2002, p. 347).
Assim, esse aspecto harmonizante pode ser encontrado na organizao dos contrastes do
sistema sonoro criado por Lins, atravs da harmonia rtmica da narrativa.
A partir da perspectiva das analogias musicais, o autor prope um exerccio que,
simultaneamente, se revela verbal e visual, reproduzindo no texto o estado imagtico da cena.
Esse recurso faz com que o leitor no s compreenda o que exatamente o estado imagtico,
mas possa v-lo, literalmente, no texto. Assim, o fruidor de Pentgono de Hahn
convidado a, por meio das analogias, buscar as referncias dos smbolos dispostos ao longo da
narrativa. A analogia, em geral, implica uma operao de identificar semelhanas e
diferenas (NUNES, 1997, p. 19). Levando-se em conta, ainda, a escola pitagrica, da qual
Lins se serviu - atravs de Matila Ghyka para a sustentao da formulao de seu trabalho
esttico, importante lembrar que na Antiguidade clssica, as analogias musicais envolviam
elementos cosmognicos que resultavam em uma verdadeira concepo musical do Universo.
No livro As Estruturas Antropolgicas do Imaginrio (2002), Durand categoriza as
imagens em dois tipos de regimes: Diurno e Noturno. O Regime Noturno da Imagem se
subdivide em Noturno Mstico e Noturno Sinttico. Em Pentgono de Hahn possvel
encontrar vrios elementos que credenciam a narrativa para uma anlise a partir do Regime
Noturno Sinttico da Imagem. Durand subdivide esse regime em quatro estruturas. A primeira
estrutura a harmonizante, a segunda, diz respeito aos processos dialticos, a terceira,
refere-se histria e a quarta, recebe a denominao de progressista. A primeira estrutura
do imaginrio noturno sinttico aquela que mais ir satisfazer polifonia, organizando os
contrastes e os contrrios do sistema, criando uma unidade sonora. A segunda, evidencia os
contrastes harmonizados, valorizando as antteses do tempo e integrando todos os dramas
csmicos. A terceira, aniquila a fatalidade da cronologia e permite as inconstncias temporais
criadas por Lins e a quarta estrutura, a que ilustra a relao da alquimia com o domnio do
tempo: o crculo zodiacal e as posies planetrias constituindo a lei dos determinismos
individuais.
Na primeira estrutura do regime noturno sinttico, Durand prope uma harmonizao
dos contrrios, como uma energia mvel na qual adaptao e assimilao esto em
harmonioso concerto (2002, p.346). Dessa forma, possvel enxergar o movimento
produzido pelo traado pentagonal constitudo pelos personagens da trama narrativa. Essa
224
energia e harmonizao dos contrrios sero melhor compreendidas medida que as teorias
de Doczi iluminarem a leitura, especialmente, no que diz respeito formao de padres e
unio de opostos complementares como comum na prpria Natureza (sol e lua, macho e
fmea, eletricidade positiva e negativa).
Imaginao musical o termo utilizado por Durand para definir a estrutura harmnica
numa organizao conveniente das formas meldicas e rtmicas que contemplam um sistema
sonoro. Como uma abertura musical, o autor apresenta os primeiros contrastes do mltiplo
sistema de significaes pelo qual o fruidor da obra est prestes a experimentar:
Tapete carmesim na testa, tapetes persas no lombo, aparecia,
surge, orelhas abanando, as presas faiscantes sob as lmpadas,
danava, dana, com seu domador, com o grande general,
uma valsa, trechos do Danbio azul; juntava, junta unia
as patas sobre dois tambores coloridos, erguendo a tromba e
girando lentamente, com extremo cuidado, naquele reduzido pedestal,
onde bebia, onde bebe onde tomava um copo de cerveja;
ofertava, entrega, oferecia, a algum sentado na primeira fila,
um ramalhete de dlias, trs rosas amarelas; partia, vai-se,
desaparecia, pisando o cho com brandura; tinha-se tenho
a impresso de que, encontrando um ovo no caminho, ficaria,
ficar ficaria no ar, suspensa, para no quebr-lo (LINS, 1994, p.
30-31).
Um profissional da msica, diferentemente do que possa acontecer com leigos na rea,
no s ouve msica, como pode e deve saber ler uma msica em seu cdigo. Isso diz respeito
no s s notas musicais, mas a todos os elementos grficos que so dispostos em uma
partitura para que se possa dar o sentido exato composio, quais sejam: andamento (rpido
ou lento), ritmo, pulsao, intensidade (etc.) No fragmento apresentado acima o que salta aos
olhos so as figuras musicais, apresentadas pelo autor de forma estilizada. Vemos no texto
dois smbolos: e . Como pode ser observado na tabela abaixo, cada figura possui um
valor e esse valor um dos indicativos do modo como essa msica soar ritmicamente.
225
Tabela musical
46
Com a fuso de + temos uma nova figura: . Uma criao do autor para se
referir s duas vozes narrativas que observam ao mesmo espetculo sob ngulos diversos. A
quebra da linearidade temporal oferece essa perspectiva da fuso de dois tempos cronolgicos
diferentes em um s smbolo, o que d ao pentgono uma forma aparentemente rgida
uma sensao de movimento e harmonia, em termos musicais.
Os outros smbolos que aparecem em Pentgono de Hahn ( , , ) podem no ter
uma equivalncia musical to explcita como os primeiros, mas do ao texto um movimento
musical, na medida em que imprime uma dinmica de acontecimentos. A anlise dos aspectos
anteriormente citados comprova um projeto esttico racional e arquitetnico, no qual cada um
46
Equivalncias
= mnima
= semnima
= mnima + semnima
= barra dupla
= smbolo zodiacal; no h equivalncia musical
= smbolo alqumico representativo do elemento Sal
226
dos elementos de analogia, simetria e harmonia esto meticulosamente inseridos na
construo dos textos, conferindo-lhes intensidade e poesia, como argumenta Todorov (2008):
O objetivo desse estudo [anlise estrutural da literatura] propor uma
teoria da estrutura e funcionamento do discurso literrio, apresentar um
quadro dos possveis literrios, do qual as obras literrias existentes
aparecem como casos particulares realizados.
Nove, novena, obra na qual se inscreve a narrativa O Pentgono de Hahn,
inaugural de uma nova fase na escrita de Lins e, por isso, foi escolhida como ponto de partida
dessa pesquisa:
[...] inaugura uma fase de maturidade, talvez de plenitude, em minha
vida de escritor. Com ele (no momento em que alcano a quarentena),
suponho haver resolvido problemas literrios que h anos me
perseguiam e conquistado uma expresso pessoal. Quero dizer,
mtodos de concepo e de execuo que devem relativamente pouco
a obras alheias (LINS, 1979, p. 141).
Coerente com sua viso da verdadeira obra de arte, Lins no revela ao leitor todas as
interconexes que permitem descortinar a sua obra, abrindo para o leitor um vasto leque de
reflexes e dilogos. Fica, ento, a cargo deste essa tarefa investigativa e de deleite pessoal
que, no entanto, no tem como objetivo esgotar as possibilidades de leitura da obra,
engessando-a em conceitos ou categorias estticas, mas habilit-la para uma leitura de
rompimento de fronteiras entre linguagens artsticas.
A proposta de paisagem sonora como entende Schaffer , de alguma forma,
extrapolada nesta pesquisa, pois, buscou-se uma perspectiva de leitura da narrativa
Pentgono de Hahn, da obra Nove, novena, de Osman Lins, que considerasse uma analogia
com os smbolos musicais, no que tange mesmo escrita musical. Percebe-se, ento, que a
manifestao sonora dada pelo elemento escrito da msica, que sugere o som, e no somente
pelos sons que podem surgir de um dilogo, ou vindos dos sons da rua que descrita no texto,
por exemplo. Em verdade, isso tambm. Mas considerando a parte escrita da msica, Lins
conecta sua constante preocupao esttica, ornamental e de estilo literrio com essas mesmas
questes que so tambm preocupaes de compositores musicais. Interessante notar que, da
capo a coda de Pentgono de Hahn, o autor parte do elementar da escrita musical, criando
uma partitura composicional peculiar, por ser literria.
Perceber o desenho da imagem sonora que emana do texto e as consequentes reaes
nos personagens submetidos a essa ordem um exerccio sinestsico que pode ser encarado
227
como um presente dado aos leitores pelo autor.
REFERNCIAS
ANDRADE, Mrio. Introduo esttica musical; pesquisa, estabelecimento de texto,
introduo de notas por Flvia Camargo Toni _ So Paulo: Hucitec, 1995.
BENNETT, Roy. Elementos bsicos da msica. Jorge Zahar, 1998.
CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain. Dicionrio de smbolos: mitos, sonhos,
costumes, gestos, formas, figuras, cores, nmeros. 22ed. Rio de Janeiro: J. Olympio, 2008.
CIRLOT, Juan-Eduardo. Diccionario de Smbolos. Barcelona: Labor, 1969
DOCZI, Gyrgy. O poder doslimites: harmonias e propores na Natureza, Arte e
Arquitetura. Trad. Maria Helena de Oliveira Tricca e Jlia Brny Bartolomei. So Paulo:
Mercuryo, 1990.
DURAND, Gilbert. As estruturas antropolgicas do imaginrio: introduo arquetipologia
geral. Trad.: Hlder Godinho. 3. Ed. So Paulo: Martins Fontes, 2002.
GHYKA, Matila C. El numero de oro: ritos y ritmos pitagricos em
eldesarolloenlacivilizacionoccidental. Buenos Aires: Poseidon, 1968,v. I e II
JOURDAIN, Robert. Msica, crebro e xtase: como a msica captura nossa imaginao.
Trad.: Sonia Coutinho. Rio de Janeiro: Objetiva, 1998.
LINS, Osman. Nove, novena: narrativas. 4. Ed. So Paulo: Companhia das Letras, 1994.
___________. Evangelho na taba: outros problemas inculturais brasileiros. So Paulo:
Summus, 1979.
NITRINI, Sandra. Poticas em confronto (Nove, novena e o novo romance). So Paulo:
Hucitec, 1997.
NUNES, Jordo Horta. Diderot e as analogias musicais. Goinia: Editora da UFG, 1997.
SCHAFER, R. Murray. A afinao do mundo: uma explorao pioneira pela histria passada
e pelo atual estado do mais negligenciado aspecto do nosso ambiente sonoro.Traduo:
Marisa TrenchFonterrada - So Paulo: UNESP, 2001.
__________. O ouvido pensante. Traduo: Marisa TrenchFonterrada - So Paulo: UNESP,
1991.
TODOROV, Tzvetan. As estruturas narrativas. Trad. Layla Perrone-Moiss So Paulo:
Perspectiva, 2011. (Debates: 14 / dirigida por J. Guinsburg).
TURCHI, Maria Zara. Literatura e antropologia do imaginrio Braslia: Editora da
Universidade de Braslia, 2003.
Referncia Eletrnica
http://www.osmanlins.nom.org
228
CONCLUSO E FECHAMENTO DOS TRABALHOS
Muito mais teu Pai e tua Me,
so os que te fizeram
em esprito.
E esses foram sem nmero.
O LTIMO OLHAR
Diante das discusses e novos levantamentos ocorridos nesses dois dias, pode-se dizer que
somos privilegiados, pois o mundo do imaginrio, dos mitos, da ecolingustica nos inunda e
nos funda de maneira revigorada. O 1 EBIME fez nascer novas amizades, estreitar ainda mais
os laos fraternos dos membros do NELIM, descobrir e estabelecer paixes acadmicas
valiosas e destacar importantes consideraes da epistemologia da Antropologia do
Imaginrio e da Ecolinguistica. reconfortante perceber que as cincias, assim como a
mitolgica Fnix, podem renascer com mais vigor das cinzas do j visto aps
entrecruzamentos bem fundamentados e exemplificados.
Quero agradecer, sinceramente, aos monitores, alunos da UFG e a todos os participantes que
brilharam em suas apresentaes e aqueceram as discusses que muito contriburam para o
nosso objetivo: pensar o imaginrio, a ecolingustica e refletir sobre suas aplicaes em
campos diversificados. Agradeo de forma particular os pesquisadores que vieram de vrios
estados e cidades por conta prpria, pagando passagens e hospedagem para nos presentear
com reflexes que fortaleceram o 1 EBIME.
Assim, obrigada professores Dra. Maria Thereza de Q. G. Strngoli e Dra. Iduna
MontAlverne Braun Chaves, Universidade Federal Fluminense (Rio de Janeiro); Dr. Adilson
Marques (Fundao Educacional So Carlos FESC- So Carlos, Jorge de Lima ( Instituto
Olhos da Alma S - Goinia).
Obrigada aos responsveis pela concepo, gestao e nascimento do 1 EBIME, orientandos e
membros do NELIM, que fazem parte da minha famlia acadmica, famlia no sentido literal,
pois me acolhem, me protegem, me alimentam e me sustentam com suas energias. O 1
EBIME foi uma vivncia nica: mostrou a fora, a presena e a perpetuao do mito da unio
da famlia NELIM, cujos membros so: Bruna Hanielly A. Gonalves; Ezequiel Martins
Silva; Flvia Cristina Passos de Almeida; Genis Frederico Schmaltz Neto; Henrique Silva
Fernandes, Krita Cristina M. de Oliveiral; Lorena Arajo de Oliveira Borges; Marcos
Paulo de Melo Ramos; Ricardo Sena Coutinho; Samuel de Sousa Silva; Zilda Dourado-
Pinheiro.
Agradecimentos tambm aos alunos que serviram de monitores durante os dois dias do
evento: Amanda Karoline O. Barbosa; Ana Paula Cardoso dos Santos; Pedro Moreira e
Samanta Lima de Oliveira.
.
Finalmente, o agradecimento Universidade Federal de Gois, Faculdade de Letras.
Ginia, Janeiro de 2014.
229
S-ar putea să vă placă și
- Multilinguismo Individual: Uma IntroduçãoDe la EverandMultilinguismo Individual: Uma IntroduçãoÎncă nu există evaluări
- Linguística de Nosso Tempo: Teorias e PráticasDe la EverandLinguística de Nosso Tempo: Teorias e PráticasÎncă nu există evaluări
- Surdez e linguagem: Aspectos e implicações neurolinguísticasDe la EverandSurdez e linguagem: Aspectos e implicações neurolinguísticasEvaluare: 5 din 5 stele5/5 (2)
- Sociolinguística Interacional:: perspectivas inspiradoras e desdobramentos contemporâneosDe la EverandSociolinguística Interacional:: perspectivas inspiradoras e desdobramentos contemporâneosÎncă nu există evaluări
- BELEZA, ESTÉTICA E VIDA: da estética como sensação e da beleza como vidaDe la EverandBELEZA, ESTÉTICA E VIDA: da estética como sensação e da beleza como vidaÎncă nu există evaluări
- Práticas (Trans)formativas em Linguagens - V.2De la EverandPráticas (Trans)formativas em Linguagens - V.2Încă nu există evaluări
- Palavras Na Ponta Da LinguaDocument241 paginiPalavras Na Ponta Da LinguaLiviaherminia araujo mouraÎncă nu există evaluări
- Brasil, Moçambique e Angola: Desvendando relações sociolinguísticas pelo prisma das formas de tratamentoDe la EverandBrasil, Moçambique e Angola: Desvendando relações sociolinguísticas pelo prisma das formas de tratamentoÎncă nu există evaluări
- Contato Interlinguístico Da Interação A GramaticaDocument201 paginiContato Interlinguístico Da Interação A GramaticaJany Eric Queiros Ferreira100% (1)
- Consciência fonológica: coletânea de atividades orais para a sala de aulaDe la EverandConsciência fonológica: coletânea de atividades orais para a sala de aulaEvaluare: 5 din 5 stele5/5 (2)
- Tecendo Conexões EntreDocument495 paginiTecendo Conexões Entreaercio_manuel100% (1)
- O Silenciamento da Cultura Africana, Afro-Brasileira e Indígena no Livro Didático de HistóriaDe la EverandO Silenciamento da Cultura Africana, Afro-Brasileira e Indígena no Livro Didático de HistóriaÎncă nu există evaluări
- Autonomia, Inclusão e Emancipação: Vidas em Construção para Além dos LimitesDe la EverandAutonomia, Inclusão e Emancipação: Vidas em Construção para Além dos LimitesÎncă nu există evaluări
- A semiologia das afasias: Perspectivas linguísticasDe la EverandA semiologia das afasias: Perspectivas linguísticasÎncă nu există evaluări
- Variação Lexical na Sala de Aula: Uma Proposta SociolinguísticaDe la EverandVariação Lexical na Sala de Aula: Uma Proposta SociolinguísticaÎncă nu există evaluări
- A Obra de Gilberto Velho - Uma Leitura DistanteDocument20 paginiA Obra de Gilberto Velho - Uma Leitura DistanteJoanna BentesÎncă nu există evaluări
- O Cabra: As Metáforas Animais e Seus Situamentos SocioculturaisDe la EverandO Cabra: As Metáforas Animais e Seus Situamentos SocioculturaisÎncă nu există evaluări
- Educação e Linguagem: Culturas Plurais, Leituras e Tecnologias na Construção dos SaberesDe la EverandEducação e Linguagem: Culturas Plurais, Leituras e Tecnologias na Construção dos SaberesÎncă nu există evaluări
- A Identidade Linguística Brasileira e Portuguesa: Duas Pátrias, uma Mesma Língua?De la EverandA Identidade Linguística Brasileira e Portuguesa: Duas Pátrias, uma Mesma Língua?Încă nu există evaluări
- Outras histórias: Ensaios sobre a composição de mundos na América e na ÁfricaDe la EverandOutras histórias: Ensaios sobre a composição de mundos na América e na ÁfricaÎncă nu există evaluări
- Uma breve história das palavras: Da pré-história à era digitalDe la EverandUma breve história das palavras: Da pré-história à era digitalÎncă nu există evaluări
- Livro-Texto - Unidade I PDFDocument118 paginiLivro-Texto - Unidade I PDFJessica FontesÎncă nu există evaluări
- Persuasão em charges políticas multimodais: humor e ironia com apoio da relação metáfora/metonímia: um enfoque da linguística sistêmico-funcionalDe la EverandPersuasão em charges políticas multimodais: humor e ironia com apoio da relação metáfora/metonímia: um enfoque da linguística sistêmico-funcionalÎncă nu există evaluări
- Jornal Digital na Educação Básica: Um Exercício de AutoriaDe la EverandJornal Digital na Educação Básica: Um Exercício de AutoriaÎncă nu există evaluări
- Linguistic Historiography in BrazilDocument167 paginiLinguistic Historiography in BrazilPatricia Veronica VeroniksÎncă nu există evaluări
- Língua e Direito: Uma Relação de Nunca AcabarDe la EverandLíngua e Direito: Uma Relação de Nunca AcabarÎncă nu există evaluări
- Umberto Eco e a Semiótica na XI Semana Acadêmica de Letras da UFSCDocument82 paginiUmberto Eco e a Semiótica na XI Semana Acadêmica de Letras da UFSCRodrigo D'AvilaÎncă nu există evaluări
- O Processo De Aquisição De Segunda Língua Em Mulheres Em Situação De Cárcere Pelo Viés Da Linguagem E PsicanáliseDe la EverandO Processo De Aquisição De Segunda Língua Em Mulheres Em Situação De Cárcere Pelo Viés Da Linguagem E PsicanáliseÎncă nu există evaluări
- Ensino de História e MúsicaDocument512 paginiEnsino de História e MúsicaWILSON MÁRIO PINHEIRO SILVAÎncă nu există evaluări
- A Fonologia Diacrônica do Proto-Mundurukú (TUPÍ)De la EverandA Fonologia Diacrônica do Proto-Mundurukú (TUPÍ)Încă nu există evaluări
- Corpo e poesia: para uma educação do sensívelDe la EverandCorpo e poesia: para uma educação do sensívelÎncă nu există evaluări
- Viver bem: várias concepções e diferentes perspectivasDe la EverandViver bem: várias concepções e diferentes perspectivasÎncă nu există evaluări
- Interjeição: Um Fator de Identidade Cultural do BrasileiroDe la EverandInterjeição: Um Fator de Identidade Cultural do BrasileiroÎncă nu există evaluări
- Caderno Sobre Generos Do DiscursoDocument74 paginiCaderno Sobre Generos Do DiscursoLuis Vicente Ferreira0% (1)
- História da psicologia Ibero-americana em autobiografiasDe la EverandHistória da psicologia Ibero-americana em autobiografiasÎncă nu există evaluări
- Educação e Neurociência: processos neurológicos, histórico-culturais, cognitivos, psicossociais e a formação humanaDe la EverandEducação e Neurociência: processos neurológicos, histórico-culturais, cognitivos, psicossociais e a formação humanaÎncă nu există evaluări
- Antrop. VisualDocument401 paginiAntrop. VisualTonatiuh Morgan HernándezÎncă nu există evaluări
- Caderno de Resumos - SdeL 2016Document197 paginiCaderno de Resumos - SdeL 2016Igor GomesÎncă nu există evaluări
- A racionalidade prática da privação de liberdade: Um estudo da execução da medida socioeducativa de internação em São PauloDe la EverandA racionalidade prática da privação de liberdade: Um estudo da execução da medida socioeducativa de internação em São PauloÎncă nu există evaluări
- A nova aventura (auto)biográfica tomo IIIDe la EverandA nova aventura (auto)biográfica tomo IIIÎncă nu există evaluări
- Enfim, Alfabetizadora! E Agora? Uma Releitura da Formação e da PráticaDe la EverandEnfim, Alfabetizadora! E Agora? Uma Releitura da Formação e da PráticaÎncă nu există evaluări
- Plurilinguismo: Por um universo dialógicoDe la EverandPlurilinguismo: Por um universo dialógicoÎncă nu există evaluări
- Linguística aplicada, raça e interseccionalidade na contemporaneidade (vol. 2)De la EverandLinguística aplicada, raça e interseccionalidade na contemporaneidade (vol. 2)Încă nu există evaluări
- Diálogos com a Gramática, Leitura e EscritaDe la EverandDiálogos com a Gramática, Leitura e EscritaEvaluare: 4 din 5 stele4/5 (1)
- Pesquisa-Auto(Trans)formação com Genteidades e com o Mundo: Reinvenções com Freire 100 e Dialogus 10De la EverandPesquisa-Auto(Trans)formação com Genteidades e com o Mundo: Reinvenções com Freire 100 e Dialogus 10Încă nu există evaluări
- A Semântica Formal Das Linguas Naturais - HistoriasDocument31 paginiA Semântica Formal Das Linguas Naturais - HistoriasNei OliveiraÎncă nu există evaluări
- Caderno de Resumos TelaDocument506 paginiCaderno de Resumos Telaisadora6machado-1Încă nu există evaluări
- PAULO FREIRE E A EDUCAÇÃO DAS CRIANÇASDe la EverandPAULO FREIRE E A EDUCAÇÃO DAS CRIANÇASÎncă nu există evaluări
- Ubiratan D'Ambrosio: Memórias Esparsas em MovimentosDe la EverandUbiratan D'Ambrosio: Memórias Esparsas em MovimentosÎncă nu există evaluări
- Libras Que Lingua e Essa IIDocument8 paginiLibras Que Lingua e Essa IIOwllie BornÎncă nu există evaluări
- Cronograma - Segunda - CeDocument1 paginăCronograma - Segunda - CeGenis SchmaltzÎncă nu există evaluări
- N1 - Português - 6e8 - Pedagogia FANDocument5 paginiN1 - Português - 6e8 - Pedagogia FANGenis SchmaltzÎncă nu există evaluări
- PPP Licenciatura Plena em LetrasDocument16 paginiPPP Licenciatura Plena em LetrasGenis SchmaltzÎncă nu există evaluări
- 0.1 Editorial 2-4Document5 pagini0.1 Editorial 2-4Genis SchmaltzÎncă nu există evaluări
- Priorize - 1Document5 paginiPriorize - 1Genis SchmaltzÎncă nu există evaluări
- N1 - Português - 6e8 - Pedagogia FANDocument5 paginiN1 - Português - 6e8 - Pedagogia FANGenis SchmaltzÎncă nu există evaluări
- 0.1 Editorial 2-4Document3 pagini0.1 Editorial 2-4Genis SchmaltzÎncă nu există evaluări
- 0.1 Editorial 2-4Document3 pagini0.1 Editorial 2-4Genis SchmaltzÎncă nu există evaluări
- Priorize - 1Document5 paginiPriorize - 1Genis SchmaltzÎncă nu există evaluări
- A Paixão Pelo BeloDocument12 paginiA Paixão Pelo BeloGenis SchmaltzÎncă nu există evaluări
- Temas Do PASDocument2 paginiTemas Do PASGenis SchmaltzÎncă nu există evaluări
- Mitocrítica e mitanálise na leitura de textosDocument17 paginiMitocrítica e mitanálise na leitura de textosGenis Schmaltz100% (1)
- Psicologia da Educação e Teorias do AprendizadoDocument69 paginiPsicologia da Educação e Teorias do AprendizadorrgsilÎncă nu există evaluări
- Recursos ExpressivosDocument2 paginiRecursos ExpressivosNpt Luso50% (2)
- Karl Korsch Marxismo e FilosofiaDocument170 paginiKarl Korsch Marxismo e FilosofiaPâmela FigueiredoÎncă nu există evaluări
- Orientações para produção textualDocument20 paginiOrientações para produção textualninha68100% (2)
- Islamismo e Império ÁrabeDocument16 paginiIslamismo e Império ÁrabeAndreziimÎncă nu există evaluări
- Autismo: Revisão da literatura sobre diagnóstico e compreensãoDocument10 paginiAutismo: Revisão da literatura sobre diagnóstico e compreensãoPauloBritoÎncă nu există evaluări
- Currículos entre regulação e emancipaçãoDocument82 paginiCurrículos entre regulação e emancipaçãoLuiz Carlos SáÎncă nu există evaluări
- Ernst CASSIRER. A Filosofia Do IluminismoDocument239 paginiErnst CASSIRER. A Filosofia Do IluminismoWellington Gonçalves100% (1)
- Documentos para estágio obrigatórioDocument18 paginiDocumentos para estágio obrigatórioFrancyane Gomes BarradasÎncă nu există evaluări
- Avaliações 4 Bimestre AGHATTADocument21 paginiAvaliações 4 Bimestre AGHATTArosileide mariaÎncă nu există evaluări
- AQUINO, Maria Aparecida. Censura, Imprensa, Estado Autoritário (1968-1978)Document3 paginiAQUINO, Maria Aparecida. Censura, Imprensa, Estado Autoritário (1968-1978)xdalmox0% (1)
- Exercicio Sobre Guerra FriaDocument16 paginiExercicio Sobre Guerra FriaJulio CésarÎncă nu există evaluări
- Ficha Catalográfica: Editor-Chefe: Railson Moura Diagramação e Capa: Editora CRV Revisão: O AutorDocument34 paginiFicha Catalográfica: Editor-Chefe: Railson Moura Diagramação e Capa: Editora CRV Revisão: O AutorrosevanyadefreitasÎncă nu există evaluări
- Paul BairochDocument22 paginiPaul BairochThiago De QueirozÎncă nu există evaluări
- Grelha de Observação Teste Dagnóstico 6º Ano EvtDocument1 paginăGrelha de Observação Teste Dagnóstico 6º Ano EvtAgostinho Neves da Silva100% (6)
- Unidade 4Document38 paginiUnidade 4Cristiane Koehler SjlenderÎncă nu există evaluări
- Fundamentos Do Direito Publico e PrivadoDocument96 paginiFundamentos Do Direito Publico e PrivadoSuellen LyraÎncă nu există evaluări
- Angélica Lovato - Heleieth SaffiotiDocument9 paginiAngélica Lovato - Heleieth SaffiotiCacá SanchesÎncă nu există evaluări
- Libras II: estruturação gramatical e frasalDocument49 paginiLibras II: estruturação gramatical e frasalCarolina Baraky Breder100% (1)
- Populações Meridionais Do Brasil - Oliveira ViannaDocument384 paginiPopulações Meridionais Do Brasil - Oliveira Viannafagner_historia100% (1)
- Estratégias Linguístico-Semânticas Na Tradução para Dublagem Da Série Gilmore GirlsDocument15 paginiEstratégias Linguístico-Semânticas Na Tradução para Dublagem Da Série Gilmore GirlsLoreny GomesÎncă nu există evaluări
- A BASE NAO E CURRICULO, Mas o Que e Curriculo EntaoDocument9 paginiA BASE NAO E CURRICULO, Mas o Que e Curriculo EntaoLilian VeridianoÎncă nu există evaluări
- A Educação em sua TotalidadeDocument10 paginiA Educação em sua TotalidadeLuê S. PradoÎncă nu există evaluări
- Colônia Uma Tragédia Silenciosa PDFDocument62 paginiColônia Uma Tragédia Silenciosa PDFMary KellyÎncă nu există evaluări
- Alfabeto e Idioma JaponêsDocument3 paginiAlfabeto e Idioma Japonêswilliam.fontineleÎncă nu există evaluări
- Teoria da Ação Comunicativa de HabermasDocument24 paginiTeoria da Ação Comunicativa de HabermasBianca GonçalvesÎncă nu există evaluări
- Resumo Pocket Book 4 You: O Novo Código Da Cultura. Sandro Magaldi e José SalibiDocument6 paginiResumo Pocket Book 4 You: O Novo Código Da Cultura. Sandro Magaldi e José SalibiTrash HoldenÎncă nu există evaluări
- "O Homem Que Lê É Cheio. ODocument41 pagini"O Homem Que Lê É Cheio. OaritidesjrÎncă nu există evaluări
- 15 Kimberly Natalie Diehl-160402838633927Document1 pagină15 Kimberly Natalie Diehl-160402838633927Bella carolÎncă nu există evaluări
- Exercícios Fônema Dígrafo Substantivo Artigo NarraçãoDocument10 paginiExercícios Fônema Dígrafo Substantivo Artigo NarraçãoAleSandiÎncă nu există evaluări