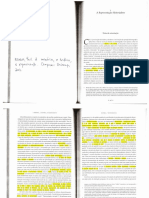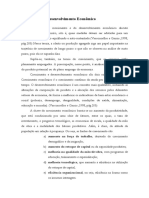Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. O Nativo Relativo PDF
Încărcat de
JucaCavalcanteTitlu original
Drepturi de autor
Formate disponibile
Partajați acest document
Partajați sau inserați document
Vi se pare util acest document?
Este necorespunzător acest conținut?
Raportați acest documentDrepturi de autor:
Formate disponibile
VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. O Nativo Relativo PDF
Încărcat de
JucaCavalcanteDrepturi de autor:
Formate disponibile
O ser humano, tal como o imaginamos, no existe.
Nelson Rodrigues
As pgi nas a segui r foram adaptadas do arrazoado i ntrodutri o a um l i vro
em preparao, onde desenvol vo anl i ses etnogrfi cas anteri ormente
esboadas. A pri nci pal del as foi um arti go publ i cado em Mana, Os Pro-
nomes Cosmol gi cos e o Perspecti vi smo Amer ndi o (Vi vei ros de Castro
1996), cujos pressupostos metateri cos, di gamos assi m, so agora expl i ci -
tados. Embora o presente texto possa ser l i do sem nenhuma fami l i ari da-
de prvi a com o arti go de 1996, o l ei tor deve ter em mente que as refe-
rnci as a noes como perspecti va e ponto de vi sta, bem como i di a
de um pensamento i nd gena, remetem quel e trabal ho.
As regras do jogo
O antropl ogo al gum que di scorre sobre o di scurso de um nati vo.
O nati vo no preci sa ser especi al mente sel vagem, ou tradi ci onal i sta,
tampouco natural do l ugar onde o antropl ogo o encontra; o antropl o-
go no carece ser excessi vamente ci vi l i zado, ou moderni sta, sequer
estrangei ro ao povo sobre o qual di scorre. Os di scursos, o do antropl o-
go e sobretudo o do nati vo, no so forosamente textos: so quai squer
prti cas de senti do
1
. O essenci al que o di scurso do antropl ogo (o ob-
servador) estabelea uma certa relao com o discurso do nativo (o obser-
vado). Essa rel ao uma rel ao de senti do, ou, como se di z quando
o pri mei ro di scurso pretende Ci nci a, uma rel ao de conheci mento.
Mas o conheci mento antropol gi co i medi atamente uma rel ao soci al ,
poi s o efei to das rel aes que consti tuem reci procamente o suj ei to
que conhece e o sujei to que el e conhece, e a causa de uma transforma-
O NATIVO RELATIVO
Eduardo Vi vei ros de Castro
MANA 8(1):113-148, 2002
o (toda rel ao uma transformao) na consti tui o rel aci onal de
ambos
2
.
Essa (meta)rel ao no de i denti dade: o antropl ogo sempre di z, e
portanto faz, outra coi sa que o nati vo, mesmo que pretenda no fazer
mai s que redi zer textual mente o di scurso deste, ou que tente di al ogar
noo duvi dosa com el e. Tal di ferena o efei to de conheci mento
do di scurso do antropl ogo, a rel ao entre o senti do de seu di scurso e o
senti do do di scurso do nati vo
3
.
A al teri dade di scursi va se api a, est cl aro, em um pressuposto de
semel hana. O antropl ogo e o nati vo so enti dades de mesma espci e e
condi o: so ambos humanos, e esto ambos i nstal ados em suas cul tu-
ras respecti vas, que podem, eventual mente, ser a mesma. Mas aqui que
o jogo comea a fi car i nteressante, ou mel hor, estranho. Ai nda quando
antropl ogo e nati vo comparti l ham a mesma cul tura, a rel ao de senti -
do entre os doi s di scursos di ferenci a tal comuni dade: a rel ao do antro-
pl ogo com sua cul tura e a do nati vo com a del e no exatamente a mes-
ma. O que faz do nati vo um nati vo a pressuposi o, por parte do antro-
pl ogo, de que a rel ao do pri mei ro com sua cul tura natural , i sto ,
i ntr nseca e espontnea, e, se poss vel , no refl exi va; mel hor ai nda se for
i nconsci ente. O nati vo expri me sua cul tura em seu di scurso; o antropl o-
go tambm, mas, se el e pretende ser outra coi sa que um nati vo, deve
poder expri mi r sua cul tura cul tural mente, i sto , refl exi va, condi ci onal e
consci entemente. Sua cul tura se acha conti da, nas duas acepes da pal a-
vra, na rel ao de senti do que seu di scurso estabel ece com o di scurso do
nati vo. J o di scurso do nati vo, este est conti do uni vocamente, encerra-
do em sua prpri a cul tura. O antropl ogo usa necessari amente sua cul tu-
ra; o nati vo sufi ci entemente usado pel a sua.
Tal di ferena, oci oso l embrar, no resi de na assi m chamada natu-
reza das coi sas; el a prpri a do jogo de l i nguagem que vamos descre-
vendo, e defi ne as personagens desi gnadas (arbi trari amente no mascul i -
no) como o antropl ogo e o nati vo. Vejamos mai s al gumas regras des-
se jogo.
A i di a antropol gi ca de cul tura col oca o antropl ogo em posi o de
i gual dade com o nati vo, ao i mpl i car que todo conheci mento antropol gi -
co de outra cul tura cul tural mente medi ado. Tal i gual dade , porm, em
pri mei ra i nstnci a, si mpl esmente emp ri ca ou de fato: el a di z respei to
condi o cul tural comum (no senti do de genri ca) do antropl ogo e do
nati vo. A rel ao di ferenci al do antropl ogo e o nati vo com suas cul turas
respecti vas, e portanto com suas cul turas rec procas, de tal ordem que
a i gual dade de fato no i mpl i ca uma i gual dade de di rei to uma i gual -
O NATIVO RELATIVO 114
dade no pl ano do conheci mento. O antropl ogo tem usual mente uma
vantagem epi stemol gi ca sobre o nati vo. O di scurso do pri mei ro no se
acha si tuado no mesmo pl ano que o di scurso do segundo: o senti do que o
antropl ogo estabel ece depende do senti do nati vo, mas el e quem detm
o senti do desse senti do el e quem expl i ca e i nterpreta, traduz e i ntro-
duz, textual i za e contextual i za, justi fi ca e si gni fi ca esse senti do. A matri z
rel aci onal do di scurso antropol gi co hi l emrfi ca: o senti do do antrop-
l ogo forma; o do nati vo, matri a. O di scurso do nati vo no detm o sen-
ti do de seu prpri o senti do. De fato, como di ri a Geertz, somos todos nati -
vos; mas de di rei to, uns sempre so mai s nati vos que outros.
Este arti go prope as perguntas segui ntes. O que acontece se recu-
sarmos ao di scurso do antropl ogo sua vantagem estratgi ca sobre o di s-
curso do nati vo? O que se passa quando o di scurso do nati vo funci ona,
dentro do di scurso do antropl ogo, de modo a produzi r reci procamente
um efei to de conheci mento sobre esse di scurso? Quando a forma i ntr n-
seca matri a do pri mei ro modi fi ca a matri a i mpl ci ta na forma do
segundo? Tradutor, trai dor, di z-se; mas o que acontece se o tradutor deci -
di r trai r sua prpri a l ngua? O que sucede se, i nsati sfei tos com a mera
i gual dade passi va, ou de fato, entre os sujei tos desses di scursos, rei vi ndi -
carmos uma i gual dade ati va, ou de di rei to, entre os di scursos el es mes-
mos? Se a di spari dade entre os senti dos do antropl ogo e do nati vo, l on-
ge de neutral i zada por tal equi val nci a, for i nternal i zada, i ntroduzi da em
ambos os di scursos, e assi m potenci al i zada? Se, em l ugar de admi ti r com-
pl acentemente que somos todos nati vos, l evarmos s l ti mas, ou devi das,
conseqnci as a aposta oposta que somos todos antropl ogos (Wag-
ner 1981:36), e no uns mai s antropl ogos que os outros, mas apenas cada
um a seu modo, i sto , de modos mui to di ferentes? O que muda, em suma,
quando a antropol ogi a tomada como uma prti ca de senti do em conti -
nui dade epi stmi ca com as prti cas sobre as quai s di scorre, como equi -
val ente a el as? Isto , quando apl i camos a noo de antropol ogi a si m-
tri ca (Latour 1991) antropol ogi a el a prpri a, no para ful mi n-l a por
col oni al i sta, exorci zar seu exoti smo, mi nar seu campo i ntel ectual , mas
para faz-l a di zer outra coi sa? Outra coi sa no apenas que o di scurso do
nati vo, poi s i sso o que a antropol ogi a no pode dei xar de fazer, mas
outra que o di scurso, em geral sussurrado, que o antropl ogo enunci a
sobre si mesmo, ao di scorrer sobre o di scurso do nati vo?
4
Se fi zermos tudo i sso, eu di ri a que estaremos fazendo o que sempre
se chamou propri amente de antropol ogi a, em vez de por exempl o
soci ol ogi a ou psi col ogi a. Di go apenas di ri a, porque mui to do que se
fez e faz sob esse nome supe, ao contrri o, que o antropl ogo aquel e
O NATIVO RELATIVO 115
que detm a posse emi nente das razes que a razo do nati vo desconhe-
ce. El e tem a ci nci a das doses preci sas de uni versal i dade e parti cul ari -
dade conti da no nati vo, e das i l uses que este entretm a respei to de si
prpri o ora mani festando sua cul tura nati va acredi tando mani festar a
natureza humana (o nati vo i deol ogi za sem saber), ora mani festando a
natureza humana acredi tando mani festar sua cul tura nati va (el e cogni ti -
za revel i a)
5
. A rel ao de conheci mento aqui concebi da como uni l a-
teral , a al teri dade entre o senti do dos di scursos do antropl ogo e do nati -
vo resol ve-se em um engl obamento. O antropl ogo conhece de jure o
nati vo, ai nda que possa desconhec-l o de facto. Quando se vai do nati vo
ao antropl ogo, d-se o contrri o: ai nda que el e conhea de facto o antro-
pl ogo (freqentemente mel hor do que este o conhece), no o conhece
de jure, poi s o nati vo no , justamente, antropl ogo como o antropl o-
go. A ci nci a do antropl ogo de outra ordem que a ci nci a do nati vo, e
preci sa s-l o: a condi o de possi bi l i dade da pri mei ra a desl egi ti mao
das pretenses da segunda, seu epi stemoc di o , no forte di zer de Bob
Schol te (1984:964). O conheci mento por parte do sujei to exi ge o desco-
nheci mento por parte do objeto.
Mas no real mente preci so fazer um drama a respei to di sso. Como
atesta a hi stri a da di sci pl i na, esse jogo di scursi vo, com tai s regras desi -
guai s, di sse mui ta coi sa i nstruti va sobre os nati vos. A experi nci a pro-
posta no presente arti go, entretanto, consi ste preci samente em recus-l o.
No porque tal jogo produza resul tados objeti vamente fal sos, i sto ,
represente de modo errneo a natureza do nati vo; o concei to de verdade
objeti va (como os de representao e de natureza) parte das regras des-
se jogo, no do que se prope aqui . De resto, uma vez dados os objetos
que o jogo cl ssi co se d, seus resul tados so freqentemente convi ncen-
tes, ou pel o menos, como gostam de di zer os adeptos desse jogo,
pl aus vei s
6
. Recusar esse jogo si gni fi ca apenas dar-se outros objetos,
compat vei s com as outras regras aci ma esboadas.
O que estou sugeri ndo, em poucas pal avras, a i ncompati bi l i dade
entre duas concepes da antropol ogi a, e a necessi dade de escol her entre
el as. De um l ado, temos uma i magem do conheci mento antropol gi co
como resul tando da apl i cao de concei tos extr nsecos ao objeto: sabe-
mos de antemo o que so as rel aes soci ai s, ou a cogni o, o parentes-
co, a rel i gi o, a pol ti ca etc., e vamos ver como tai s enti dades se real i zam
neste ou naquel e contexto etnogrfi co como el as se real i zam, cl aro,
pel as costas dos i nteressados. De outro (e este o jogo aqui proposto),
est uma i di a do conheci mento antropol gi co como envol vendo a pres-
suposi o fundamental de que os procedi mentos que caracteri zam a
O NATIVO RELATIVO 116
i nvesti gao so conceitualmente da mesma ordem que os procedi men-
tos i nvesti gados
7
. Tal equi val nci a no pl ano dos procedi mentos, subl i -
nhe-se, supe e produz uma no-equi val nci a radi cal de tudo o mai s.
Poi s, se a pri mei ra concepo de antropol ogi a i magi na cada cul tura ou
soci edade como encarnando uma sol uo espec fi ca de um probl ema
genri co ou como preenchendo uma forma uni versal (o concei to antro-
pol gi co) com um contedo parti cul ar , a segunda, ao contrri o, sus-
pei ta que os probl emas el es mesmos so radi cal mente di versos; sobretu-
do, el a parte do pri nc pi o de que o antropl ogo no sabe de antemo
quai s so el es. O que a antropol ogi a, nesse caso, pe em rel ao so pro-
bl emas di ferentes, no um probl ema ni co (natural ) e suas di ferentes
sol ues (cul turai s). A arte da antropol ogi a (Gel l 1999), penso eu, a
arte de determi nar os probl emas postos por cada cul tura, no a de achar
sol ues para os probl emas postos pel a nossa. E exatamente por i sso
que o postul ado da conti nui dade dos procedi mentos um i mperati vo
epi stemol gi co
8
.
Dos procedi mentos, repi to, no dos que os l evam a cabo. Poi s tam-
pouco se trata de condenar o jogo cl ssi co por produzi r resul tados subje-
ti vamente fal seados, ao no reconhecer ao nati vo sua condi o de Sujei -
to: ao mi r-l o com um ol har di stanci ado e carente de empati a, constru -l o
como um objeto exti co, di mi nu -l o como um pri mi ti vo no coevo ao
observador, negar-l he o di rei to humano i nterl ocuo conhece-se a
l i tani a. No nada di sso. Antes pel o contrri o, penso. justo porque o
antropl ogo toma o nati vo mui to faci l mente por um outro sujeito que el e
no consegue v-l o como um sujei to outro, como uma fi gura de Outrem
que, antes de ser sujei to ou objeto, a expresso de um mundo poss vel .
por no acei tar a condi o de no-sujei to (no senti do de outro que o
sujei to) do nati vo que o antropl ogo i ntroduz, sob a capa de uma procl a-
mada i gual dade de fato com este, sua sorratei ra vantagem de di rei to. El e
sabe demai s sobre o nati vo desde antes do i n ci o da parti da; el e predefi -
ne e ci rcunscreve os mundos poss vei s expressos por esse outrem; a al te-
ri dade de outrem foi radi cal mente separada de sua capaci dade de al tera-
o. O autnti co ani mi sta o antropl ogo, e a observao parti ci pante
a verdadei ra (ou seja, fal sa) parti ci pao pri mi ti va.
No se trata, portanto, de propugnar uma forma de i deal i smo i ntersubjeti vo,
nem de fazer val er os di rei tos da razo comuni caci onal ou do consenso di a-
l gi co. Meu ponto de apoi o aqui o concei to aci ma evocado, o de Outrem
como estrutura a priori. El e est proposto no conheci do comentri o de Gi l l es
Del euze ao Vendredi de Mi chel Tourni er
9
. Lendo o l i vro de Tourni er como a
O NATIVO RELATIVO 117
descri o fi cci onal de uma experi nci a metaf si ca o que um mundo sem
outrem? , Del euze procede a uma i nduo dos efei tos da presena desse
outrem a parti r dos efei tos causados por sua ausnci a. Outrem aparece,
assi m, como a condi o do campo percepti vo: o mundo fora do al cance da
percepo atual tem sua possi bi l i dade de exi stnci a garanti da pel a presen-
a vi rtual de um outrem por quem el e percebi do; o i nvi s vel para mi m sub-
si ste como real por sua vi si bi l i dade para outrem
10
. A ausnci a de outrem
acarreta a desapari o da categori a do poss vel ; cai ndo esta, desmorona o
mundo, que se v reduzi do pura superf ci e do i medi ato, e o sujei to se di s-
sol ve, passando a coi nci di r com as coi sas-em-si (ao mesmo tempo em que
estas se desdobram em dupl os fantasmti cos). Outrem, porm, no nin-
gum, nem sujei to nem objeto, mas uma estrutura ou rel ao, a rel ao abso-
l uta que determi na a ocupao das posi es rel ati vas de sujei to e de objeto
por personagens concretos, bem como sua al ternnci a: outrem desi gna a
mi m para o outro Eu e o outro eu para mi m. Outrem no um el emento do
campo percepti vo; o pri nc pi o que o consti tui , a el e e a seus contedos.
Outrem no , portanto, um ponto de vi sta parti cul ar, rel ati vo ao sujei to (o
ponto de vi sta do outro em rel ao ao meu ponto de vi sta ou vi ce-versa),
mas a possi bi l i dade de que haja ponto de vi sta ou seja, o conceito de
ponto de vi sta. El e o ponto de vi sta que permi te que o Eu e o Outro ace-
dam a umponto de vi sta
11
.
Del euze prol onga aqui cri ti camente a famosa anl i se de Sartre sobre o
ol har, afi rmando a exi stnci a de uma estrutura anteri or reci proci dade de
perspecti vas do regard sartri ano. O que essa estrutura? El a a estrutura
do poss vel : Outrem a expresso de um mundo possvel. Um poss vel que
exi ste real mente, mas que no exi ste atual mente fora de sua expresso em
outrem. O poss vel expri mi do est envol vi do ou i mpl i cado no expri mente
(que l he permanece entretanto heterogneo), e se acha efetuado na l i ngua-
gem ou no si gno, que a real i dade do poss vel enquanto tal o senti do. O
Eu surge ento como expl i cao desse i mpl i cado, atual i zao desse poss -
vel , ao tomar o l ugar que l he cabe (o de eu) no jogo de l i nguagem. O sujei -
to assi m efei to, no causa; el e o resul tado da i nteri ori zao de uma rel a-
o que l he exteri or ou antes, de uma rel ao qual ele i nteri or: as
rel aes so ori gi nari amente exteri ores aos termos, porque os termos so
i nteri ores s rel aes. H vri os sujei tos porque h outrem, e no o contr-
rio (Deleuze e Guattari 1991:22).
O probl ema no est, portanto, em ver o nati vo como objeto, e a sol u-
o no resi de em p-l o como sujei to. Que o nati vo seja um sujei to, no
h a menor dvi da; mas o que pode ser um sujei to, ei s preci samente o
O NATIVO RELATIVO 118
que o nati vo obri ga o antropl ogo a pr em dvi da. Tal a cogi tao
especi fi camente antropol gi ca; s el a permi te antropol ogi a assumi r a
presena vi rtual de Outrem que sua condi o a condi o de passa-
gem de um mundo poss vel a outro , e que determi na as posi es deri -
vadas e vi cri as de sujei to e de objeto.
O f si co i nterroga o neutri no, e no pode di scordar del e; o antrop-
l ogo responde pel o nati vo, que ento s pode (de di rei to e, freqente-
mente, de fato) concordar com el e. O f si co preci sa se associ ar ao neutri -
no, pensar com seu recal ci trante objeto; o antropl ogo associ a o nati vo a
si mesmo, pensando que seu objeto faz as mesmas associ aes que el e
i sto , que o nati vo pensa como el e. O probl ema que o nati vo certamen-
te pensa, como o antropl ogo; mas, mui to provavel mente, el e no pensa
como o antropl ogo. O nati vo , sem dvi da, um objeto especi al , um obje-
to pensante ou um sujei to. Mas se el e objeti vamente um sujei to, ento
o que el e pensa um pensamento objeti vo, a expresso de um mundo
poss vel , ao mesmo t tul o que o que pensa o antropl ogo. Por i sso, a di fe-
rena mal i nowski ana entre o que o nati vo pensa (ou faz) e o que el e pen-
sa que pensa (ou que faz) uma di ferena espri a. justamente por al i ,
por essa bifurcao da natureza do outro, que pretende entrar o antrop-
l ogo (que fari a o que pensa)
12
. A boa di ferena, ou di ferena real , entre
o que pensa (ou faz) o nati vo e o que o antropl ogo pensa que (e faz com
o que) o nati vo pensa, e so esses doi s pensamentos (ou fazeres) que se
confrontam. Tal confronto no preci sa se resumi r a uma mesma equi voci -
dade de parte a parte o equ voco nunca o mesmo, as partes no o
sendo; e de resto, quem defi ni ri a a adequada uni voci dade? , mas tam-
pouco preci sa se contentar em ser um di l ogo edi fi cante. O confronto
deve poder produzi r a mtua i mpl i cao, a comum al terao dos di scur-
sos em jogo, poi s no se trata de chegar ao consenso, mas ao concei to.
Evoquei a di sti no cri ti ci sta entre o quid facti e o quid juris. El a me
pareceu ti l porque o pri mei ro probl ema a resol ver consi ste nessa aval i a-
o da pretenso ao conheci mento i mpl ci ta no di scurso do antropl ogo.
Tal probl ema no cogni ti vo, ou seja, psi col gi co; no concerne possi -
bi l i dade emp ri ca do conheci mento de uma outra cul tura
13
. El e epi ste-
mol gi co, i sto , pol ti co. El e di z respei to questo propri amente trans-
cendental da l egi ti mi dade atri bu da aos di scursos que entram em rel ao
de conheci mento, e, em parti cul ar, s rel aes de ordem que se deci de
estatui r entre esses di scursos, que certamente no so i natas, como tam-
pouco o so seus pl os de enunci ao. Ni ngum nasce antropl ogo, e
menos ai nda, por curi oso que parea, nati vo.
O NATIVO RELATIVO 119
No limite
Nos l ti mos tempos, os antropl ogos temos mostrado grande i nqui etao
a respei to da i denti dade e desti no de nossa di sci pl i na: o que el a , se el a
ai nda , o que el a deve ser, se el a tem o di rei to de ser, qual seu objeto
prpri o, seu mtodo, sua mi sso, e por a afora (ver, por exempl o, Moore
1999). Fi quemos com a questo do objeto, que i mpl i ca as demai s. Seri a
el e a cul tura, como na tradi o di sci pl i nar ameri cana? A organi zao
soci al , como na tradi o bri tni ca? A natureza humana, como na tradi o
francesa? Penso que a resposta adequada : todas as respostas anteri o-
res, e nenhuma del as. Cul tura, soci edade e natureza do na mesma; tai s
noes no desi gnam o objeto da antropol ogi a, seu assunto, mas si m seu
probl ema, aqui l o que el a justamente no pode assumir (Latour 1991:109-
110, 130), porquanto h uma tradi o a mai s a l evar em conta, aquel a
que conta mai s: a tradi o do nati vo.
Admi tamos, poi s se h de comear por al gum l ugar, que a matri a
pri vi l egi ada da antropol ogi a seja a soci al i dade humana, i sto , o que va-
mos chamando de rel aes soci ai s; e acei temos a ponderao de que a
cul tura, por exempl o, no tem exi stnci a i ndependente de sua atual i za-
o nessas rel aes
14
. Resta, ponto i mportante, que tai s rel aes vari am
no espao e no tempo; e se a cul tura no exi ste fora de sua expresso
rel aci onal , ento a vari ao rel aci onal tambm vari ao cul tural , ou,
di to de outro modo, cul tura o nome que a antropol ogi a d vari ao
rel aci onal .
Mas essa vari ao rel aci onal no obri gari a el a a supormos um
sujei to, um substrato i nvari ante do qual el a se predi ca? Questo sempre
l atente, e i nsi stente em sua suposta evi dnci a; questo, sobretudo, mal
formul ada. Poi s o que vari a cruci al mente no o contedo das rel aes,
mas sua i di a mesma: o que conta como rel ao nesta ou naquel a cul tu-
ra. No so as relaes que variam, so as variaes que relacionam. E
se assi m , ento o substrato i magi nado das vari aes, a natureza
humana para passarmos ao concei to caro tercei ra grande tradi o
antropol gi ca , mudari a compl etamente de funo, ou mel hor, dei xari a
de ser uma substnci a e se tornari a uma verdadei ra funo. A natureza
dei xari a de ser uma espci e de mxi mo denominador comum das cul tu-
ras (mxi mo que um m ni mo, uma humanitas minima), uma sorte de
fundo de semel hana obti do por cancel amento das di ferenas a fi m de
consti tui r um sujei to constante, um emi ssor-referente estvel dos si gni fi -
cados cul turai s vari vei s (como se as di ferenas no fossem i gual mente
naturai s!). El a passari a a ser al go como um m ni mo mltiplo comum das
O NATIVO RELATIVO 120
di ferenas mai or que as cul turas, no menor que el as , ou al go como
a i ntegral parci al das di ferentes confi guraes rel aci onai s que chamamos
cul turas
15
. O m ni mo , nesse caso, a mul ti pl i ci dade comum ao huma-
no humanitas multiplex. A di ta natureza dei xari a assi m de ser uma
substnci a auto-semel hante si tuada emal gum l ugar natural pri vi l egi ado
(o crebro, por exempl o), e assumi ri a el a prpri a o estatuto de uma rel a-
o di ferenci al , di sposta entre os termos que el a natural i za: tornar-se-i a
o conjunto de transformaes requeri das para se descrever as vari aes
entre as di ferentes confi guraes rel aci onai s conheci das. Ou, para usar-
mos ai nda uma outra i magem, el a se tornari a aqui um puro limite mas
no no senti do geomtri co de l i mi tao, i sto , de per metro ou termo que
constrange e defi ne uma forma substanci al (recorde-se a i di a, to pre-
sente no vocabul ri o antropol gi co, das enceintes mentales), e si m no
senti do matemti co de ponto para o qual tende uma sri e ou uma rel a-
o: limite-tenso, no limite-contorno
16
. A natureza humana, nesse caso,
seri a uma operao teri ca de passagem ao l i mi te, que i ndi ca aqui l o de
que os seres humanos so vi rtual mente capazes, e no uma l i mi tao que
os determi na atual mente a no ser outra coi sa
17
. Se a cul tura um si ste-
ma de di ferenas, como gostavam de di zer os estrutural i stas, ento a
natureza tambm o : di ferenas de di ferenas.
O moti vo (caracteri sti camente kanti ano, escusado di zer) do l i mi te-contorno,
to presente no i magi nri o da di sci pl i na, parti cul armente consp cuo quan-
do o hori zonte assi m del i mi tado consi ste na chamada natureza humana,
como o caso das ori entaes natural -uni versal i stas tai s a soci obi ol ogi a ou
a psi col ogi a evol uci onri a, e, em boa medi da, o prpri o estrutural i smo. Mas
el e est presente tambm nos di scursos sobre as culturas humanas, onde d
testemunho das l i mi taes se posso me expri mi r assi m da postura cul -
tural -rel ati vi sta cl ssi ca. Recorde-se o tema consagrado pel a frase de Evans-
Pri tchard a respei to da bruxari a zande os Azande no podem pensar que
seu pensamento est errado ; ou a i magem antropol gi ca corrente da cul -
tura como prtese ocul ar (ou cri vo cl assi fi catri o) que s permi te ver as
coi sas de um certo modo (ou que ocul ta certos pedaos da real i dade); ou
ai nda, para ci tarmos um exempl o mai s recente, a metfora do bocal em
que cada poca hi stri ca estari a encerrada (Veyne 1983)
18
. Seja com respei -
to natureza, seja s cul turas, o moti vo me parece i gual mente l i mi tado. Se
qui sssemos ser perversos, di r amos que sua neutral i dade estratgi ca, sua
co-presena nos campos i ni mi gos do uni versal i smo e do rel ati vi smo, uma
prova el oqente de que a noo de enceinte mentale uma das enceintes
mentales caracter sti cas de nosso comum bocal hi stri co. De qual quer
O NATIVO RELATIVO 121
O NATIVO RELATIVO 122
modo, el a mostra bem que a suposta oposi o entre uni versal i smo natural i s-
ta e rel ati vi smo cul tural i sta , no m ni mo, mui to rel ati va (e perfei tamente
cul tural ), poi s se resume a uma questo de escol her as di menses do bocal ,
o tamanho do crcere em que jazemos pri si onei ros: a cel a i ncl ui ri a catol i ca-
mente toda a espci e humana, ou seri a fei ta sob medi da para cada cul tura?
Haveri a tal vez uma s grande peni tenci ri a natural , com di ferentes al as
cul turai s, umas com cel as tal vez um pouco mai s espaosas que outras?
19
O objeto da antropol ogi a, assi m, seri a a vari ao das rel aes soci ai s.
No das rel aes soci ai s tomadas como uma prov nci a ontol gi ca di sti n-
ta, mas de todos os fenmenos poss vei s enquanto rel aes soci ai s, en-
quanto i mpl i cam rel aes soci ai s: de todas as rel aes como soci ai s. Mas
i sso de uma perspecti va que no seja total mente domi nada pel a doutri na
oci dental das rel aes soci ai s; uma perspecti va, portanto, pronta a admi -
ti r que o tratamento de todas as rel aes como soci ai s pode l evar a uma
reconcei tuao radi cal do que seja o soci al . Di gamos ento que a antro-
pol ogi a se di sti nga dos outros di scursos sobre a soci al i dade humana no
por di spor de uma doutri na parti cul armente sl i da sobre a natureza das
rel aes soci ai s, mas, ao contrri o, por ter apenas uma vaga idia inicial
do que seja uma rel ao. Poi s seu probl ema caracter sti co consi ste menos
em determi nar quai s so as rel aes soci ai s que consti tuem seu objeto, e
mui to mai s em se perguntar o que seu objeto consti tui como rel ao
soci al , o que uma rel ao soci al nos termos de seu objeto, ou mel hor,
nos termos formul vei s pel a rel ao (soci al , natural mente, e consti tuti va)
entre o antropl ogo e o nati vo.
Da concepo ao conceito
Isso tudo no quereri a apenas di zer que o ponto de vi sta aqui defendi do,
e exempl i fi cado em meu trabal ho sobre o perspecti vi smo amer ndi o
(Vi vei ros de Castro 1996), o ponto de vi sta do nati vo, como os antro-
pl ogos professam de l onga data? De fato, no h nada de parti cul armen-
te ori gi nal no ponto de vi sta adotado; a ori gi nal i dade que conta a do
ponto de vi sta i nd gena, no a do meu comentri o. Mas, sobre a questo
de o objeti vo ser o ponto de vi sta do nati vo a resposta si m, e no.
Si m, e mesmo mai s, porque meu probl ema, no arti go ci tado, foi o de saber
o que um ponto de vi sta para o nati vo, entenda-se, qual o concei to
de ponto de vi sta presente nas cul turas amazni cas: qual o ponto de vi s-
ta nati vo sobre o ponto de vi sta. No, por outro l ado, porque o concei to
O NATIVO RELATIVO 123
nati vo de ponto de vi sta no coi nci de com o concei to de ponto de vi sta
do nati vo; e porque meu ponto de vi sta no pode ser o do nati vo, mas o
de mi nha rel ao com o ponto de vi sta nati vo. O que envol ve uma di men-
so essenci al de fico, poi s se trata de pr em ressonnci a i nterna doi s
pontos de vi sta compl etamente heterogneos.
O que fi z em meu arti go sobre o perspecti vi smo foi uma experi nci a
de pensamento e um exerc ci o de fi co antropol gi ca. A expresso
experi nci a de pensamento no tem aqui o senti do usual de entrada
i magi nri a na experi nci a pel o (prpri o) pensamento, mas o de entrada
no (outro) pensamento pel a experi nci a real : no se trata de i magi nar
uma experi nci a, mas de experi mentar uma i magi nao
20
. A experi n-
ci a, no caso, a mi nha prpri a, como etngrafo e como l ei tor da bi bl i o-
grafi a etnol gi ca sobre a Amazni a i nd gena, e o experi mento, uma fi c-
o control ada por essa experi nci a. Ou seja, a fi co antropol gi ca,
mas sua antropol ogi a no fi ct ci a.
Em que consi ste tal fi co? El a consi ste em tomar as idias i nd ge-
nas como conceitos, e em extrai r dessa deci so suas conseqnci as: de-
termi nar o sol o pr-concei tual ou o pl ano de i mannci a que tai s concei -
tos pressupem, os personagens concei tuai s que el es aci onam, e a mat-
ri a do real que el es pem. Tratar essas i di as como concei tos no si gni fi -
ca, note-se bem, que el as sejam objeti vamente determi nadas como outra
coisa, outro tipo de objeto atual. Pois trat-las como cognies individuai s,
representaes col eti vas, ati tudes proposi ci onai s, crenas cosmol gi cas,
esquemas i nconsci entes, di sposi es encorporadas e por a afora estas
seri am outras tantas fi ces teri cas que apenas escol hi no acol her.
Assi m, o ti po de trabal ho que advogo aqui no , nem um estudo de
mental i dade pri mi ti va (supondo que tal noo ai nda tenha um senti do),
nem uma anl i se dos processos cogni ti vos i nd genas (supondo que estes
sejam acess vei s, no presente estado do conheci mento psi col gi co e etno-
grfi co). Meu objeto menos o modo de pensar i nd gena que os objetos
desse pensar, o mundo poss vel que seus concei tos projetam. No se tra-
ta, tampouco, de reduzi r a antropol ogi a a uma sri e de ensai os etnosso-
ci ol gi cos sobre vises de mundo. Pri mei ro, porque no h mundo pron-
to para ser vi sto, um mundo antes da vi so, ou antes, da di vi so entre o
vi s vel (ou pensvel ) e o i nvi s vel (ou pressuposto) que i nsti tui o hori zon-
te de um pensamento. Segundo, porque tomar as i di as como concei tos
recusar sua expl i cao em termos da noo transcendente de contexto
(ecol gi co, econmi co, pol ti co etc.), em favor da noo i manente de pro-
blema, de campo probl emti co onde as i di as esto i mpl i cadas. No se
trata, por fi m, de propor uma interpretao do pensamento amer ndi o,
O NATIVO RELATIVO 124
mas de real i zar uma experimentao com el e, e portanto com o nosso.
No i ngl s di fi ci l mente traduz vel de Roy Wagner: every understandi ng
of another cul ture i s an experi ment wi th ones own (1981:12).
Tomar as i di as i nd genas como concei tos afi rmar uma i nteno
anti psi col ogi sta, poi s o que se vi sa uma i magem de jure do pensamen-
to, i rredut vel cogni o emp ri ca, ou anl i se emp ri ca da cogni o fei -
ta em termos psi col gi cos. A juri sdi o do concei to extraterri tori al s
facul dades cogni ti vas e aos estados i nternos dos sujei tos: os concei tos so
objetos ou eventos i ntel ectuai s, no estados ou atri butos mentai s. El es
certamente passam pel a cabea (ou, como se di ri a em i ngl s, cruzam a
mente): mas el es no fi cam l , e sobretudo, no esto l prontos el es
so i nventados. Dei xemos as coi sas cl aras. No acho que os ndi os ameri -
canos cogni zem di ferentemente de ns, i sto , que seus processos ou
categori as mentai s sejam di ferentes dos de quai squer outros humanos.
No o caso de i magi nar os ndi os como dotados de uma neurofi si ol ogi a
pecul i ar, que processari a di versamente o di verso. No que me concerne,
penso que el es pensam exatamente como ns; mas penso tambm que
o que el es pensam, i sto , os concei tos que el es se do, as descri es
que el es produzem, so mui to di ferentes dos nossos e portanto que o
mundo descri to por esses concei tos mui to di verso do nosso
21
. No que
concerne aos ndi os, penso se mi nhas anl i ses do perspecti vi smo esto
corretas que eles pensam que todos os humanos, e al m destes, mui -
tos outros sujei tos no-humanos, pensam exatamente como el es, mas
que i sso, l onge de produzi r (ou resul tar de) uma convergnci a referenci al
uni versal , exatamente a razo das di vergnci as de perspecti va.
A noo de concei to supe uma i magem do pensamento como ati vi -
dade di sti nta da cogni o, e como outra coi sa que um si stema de repre-
sentaes. O que me i nteressa no pensamento nati vo ameri cano, assi m,
no nem o saber l ocal e suas representaes mai s ou menos verdadei -
ras sobre o real o indigenous knowledge hoje to di sputado no mer-
cado gl obal de representaes , nem a cogni o i nd gena e suas cate-
gori as mentai s, cuja mai or ou menor representati vi dade, do ponto de vi s-
ta das facul dades da espci e, as ci nci as do esp ri to pretendem expl orar.
Nem representaes, i ndi vi duai s ou col eti vas, raci onai s ou (aparente-
mente) i rraci onai s, que expri mi ri am parci al mente estados de coi sas ante-
ri ores e exteri ores a el as; nem categorias e processos cogni ti vos, uni ver-
sai s ou parti cul ares, i natos ou adqui ri dos, que mani festari am propri eda-
des de uma coi sa do mundo, seja el a a mente ou a soci edade. Meu obje-
to so os conceitos i nd genas, os mundos que el es consti tuem (mundos
que assi m os expri mem), o fundo vi rtual de onde el es procedem e que
O NATIVO RELATIVO 125
el es pressupem. Os concei tos, ou seja, as i di as e os probl emas da ra-
zo i nd gena, no suas categori as do entendi mento.
Como ter fi cado cl aro, a noo de concei to tem aqui um senti do
bem determi nado. Tomar as i di as i nd genas como concei tos si gni fi ca
tom-l as como dotadas de uma si gni fi cao propri amente fi l osfi ca, ou
como potenci al mente capazes de um uso fi l osfi co.
Deci so i rresponsvel , di r-se-, tanto mai s que no so s os ndi os
que no so fi l sofos, mas, subl i nhe-se com fora, tampouco o presente
autor. Como apl i car, por exempl o, a noo de concei to a um pensamento
que, aparentemente, nunca achou necessri o se debruar sobre si mes-
mo, e que remeteri a antes ao esquemati smo fl uente e vari egado do s m-
bol o, da fi gura e da representao col eti va que arqui tetura ri gorosa da
razo concei tual ? No exi ste um bem conheci do abi smo hi stri co e psi co-
l gi co, uma ruptura deci si va entre a i magi nao m ti ca pan-humana e
o uni verso da raci onal i dade hel ni co-oci dental (Vernant 1996:229)? Entre
a bri col agem do si gno e a engenhari a do concei to (Lvi -Strauss 1962)?
Entre a transcendnci a paradi gmti ca da Fi gura e a i mannci a si ntag-
mti ca do Concei to (Del euze e Guattari 1991)? Entre uma economi a i nte-
l ectual de ti po i mag sti co-mostrati va e outra de ti po doutri nal -demons-
trati va (Whi tehouse 2000)? Enfi m, quanto a tudo i sso, que caudatri o
mai s ou menos di reto de Hegel , tenho al gumas dvi das. E antes di sso,
tenho meus moti vos para fal ar em concei to. Vou-me ater aqui apenas ao
pri mei ro del es, que decorre da deci so de tomar as i di as nati vas como
si tuadas no mesmo pl ano que as i di as antropol gi cas.
A experi nci a proposta aqui , di zi a eu aci ma, comea por afi rmar a
equi val nci a de di rei to entre os di scursos do antropl ogo e do nati vo,
bem como a condi o mutuamente consti tui nte desses di scursos, que s
acedem como tais exi stnci a ao entrarem em rel ao de conheci mento.
Os concei tos antropol gi cos atual i zam tal rel ao, e so por i sso compl e-
tamente rel aci onai s, tanto em sua expresso como em seu contedo. El es
no so, nem refl exos ver di cos da cul tura do nati vo (o sonho posi ti vi sta),
nem projees i l usri as da cul tura do antropl ogo (o pesadel o constru-
ci oni sta). O que el es refl etem uma certa rel ao de i ntel i gi bi l i dade entre
as duas cul turas, e o que el es projetam so as duas cul turas como seus
pressupostos i magi nados. El es operam, com i sso, um dupl o desenrai za-
mento: so como vetores sempre a apontar para o outro l ado, i nterfaces
transcontextuai s cuja funo representar, no senti do di pl omti co do ter-
mo, o outro no seio do mesmo, l como c.
Os concei tos antropol gi cos, em suma, so rel ati vos porque so rel a-
ci onai s e so rel aci onai s porque so rel atores. Tai s ori gem e funo
O NATIVO RELATIVO 126
costumam vi r marcadas na assi natura caracter sti ca desses concei tos
por uma pal avra estranha: mana, totem, kul a, potl atch, tabu, gumsa/gum-
l ao Outros concei tos, no menos autnti cos, portam uma assi natura eti -
mol gi ca que evoca antes as anal ogi as entre a tradi o cul tural de onde
emergi u a di sci pl i na e as tradi es que so seu objeto: dom, sacri f ci o,
parentesco, pessoa Outros, enfi m, i gual mente l eg ti mos, so i nvenes
vocabul ares que procuram general i zar di sposi ti vos concei tuai s dos povos
estudados ani mi smo, oposi o segmentar, troca restri ta, ci smogne-
se , ou, i nversamente, e mai s probl emati camente, desvi am para o
i nteri or de uma economi a teri ca espec fi ca certas noes di fusas de nos-
sa tradi o proi bi o do i ncesto, gnero, s mbol o, cul tura , bus-
cando uni versal i z-l as
22
.
Vemos ento que numerosos concei tos, probl emas, enti dades e
agentes propostos pel as teori as antropol gi cas tm sua ori gem no esfor-
o i magi nati vo das soci edades mesmas que el as pretendem expl i car. No
estari a a a ori gi nal i dade da antropol ogi a, nessa si nergi a entre as con-
cepes e prti cas proveni entes dos mundos do sujei to e do objeto?
Reconhecer i sso ajudari a, entre outras coi sas, a mi ti gar nosso compl exo
de i nferi ori dade di ante das ci nci as naturai s . Como observa Latour:
A descrio do kula equipara-se descrio dos buracos negros. Os compl e-
xos sistemas de aliana so to imaginativos como os complexos cenrios evo-
l uti vos propostos para os genes ego stas. Compreender a teol ogi a dos abor -
gines australianos to importante quanto cartografar as grandes falhas sub-
mari nas. O si stema de posse da terra nas Trobri and um objeti vo ci ent fi co
to interessante como a sondagem do gelo das calotas polares. Se a questo
saber o que importa na definio de uma cincia a capacidade de inovao
no que diz respeito s agncias que povoam nosso mundo , ento a antropo-
l ogi a estari a bem prxi ma do topo da hi erarqui a di sci pl i nar [] (1996a:5)
23
.
A anal ogi a fei ta nessa passagem entre as concepes i nd genas e
os objetos das ci nci as di tas naturai s. Esta uma perspecti va poss vel , e
mesmo necessri a: deve-se poder produzi r uma descri o ci ent fi ca das
i di as e prti cas i nd genas, como se fossem objetos do mundo, ou mel hor,
para que sejam objetos do mundo. ( preci so no esquecer que os obje-
tos ci ent fi cos de Latour so tudo menos enti dades objeti vas e i ndi fe-
rentes, paci entemente espera de uma descri o.) Outra estratgi a pos-
s vel a de comparar as concepes i nd genas s teorias ci ent fi cas, como
o faz Horton, segundo sua tese da si mi l ari dade (1993:348-354), que
anteci pa al guns aspectos da antropol ogi a si mtri ca de Latour. Outra ai n-
O NATIVO RELATIVO 127
da a estratgi a aqui advogada. Cui do que a antropol ogi a sempre andou
demasi ado obcecada com a Ci nci a, no s em rel ao a si mesma se
el a ou no, pode ou no, deve ou no ser uma ci nci a , como sobre-
tudo, e este o real probl ema, em rel ao s concepes dos povos que
estuda: seja para desqual i fi c-l as como erro, sonho, i l uso, e em segui da
expl i car ci enti fi camente como e por que os outros no conseguem (se)
expl i car ci enti fi camente; seja para promov-l as como mai s ou menos
homogneas ci nci a, frutos de uma mesma vontade de saber consubs-
tanci al humani dade. Assi m a si mi l ari dade de Horton, assi m a ci nci a
do concreto de Lvi -Strauss (Latour 1991:133-134). A i magem da ci nci a,
essa espci e de padro-ouro do pensamento, no porm o ni co terre-
no, nem necessari amente o mel hor, em que podemos nos rel aci onar com
a ati vi dade i ntel ectual dos povos estrangei ros tradi o oci dental .
Imagi ne-se uma outra anal ogi a que a de Latour, ou uma outra si mi -
l ari dade que a de Horton. Uma anal ogi a onde, em l ugar de tomar as con-
cepes i nd genas como enti dades semel hantes aos buracos negros ou s
fal has tectni cas, tomemo-l as como al go de mesma ordem que o cogito
ou a mnada. Di r amos ento, parafraseando a ci tao anteri or, que o
concei to mel ansi o da pessoa como di v duo (Strathern 1988) to i ma-
gi nati vo como o i ndi vi dual i smo possessi vo de Locke; que compreender a
fi l osofi a da chefi a amer ndi a (Cl astres 1974) to i mportante quanto
comentar a doutri na hegel i ana do Estado; que a cosmogoni a maori se
equi para aos paradoxos el eti cos e s anti nomi as kanti anas (Schrempp
1992); que o perspecti vi smo amazni co um objeti vo fi l osfi co to i nte-
ressante como compreender o si stema de Lei bni z E se a questo saber
o que i mporta na aval i ao de uma fi l osofi a sua capaci dade de cri ar
novos concei tos , ento a antropol ogi a, sem pretender substi tui r a fi l o-
sofi a, no dei xa de ser um poderoso instrumento fi l osfi co, capaz de
ampl i ar um pouco os hori zontes to etnocntri cos de nossa fi l osofi a, e de
nos l i vrar, de passagem, da antropol ogi a di ta fi l osfi ca. Na defi ni o
vi gorosa de Ti m I ngol d (1992:696), que mel hor dei xar no ori gi nal :
anthropol ogy i s phi l osophy wi th the peopl e i n . Por people, I ngol d
entende aqui os ordinary people, as pessoas comuns (Ingol d 1992:696);
mas el e est tambm jogando com o si gni fi cado de people como povo,
e mai s ai nda, como povos. Uma fi l osofi a com outros povos dentro, ento:
a possi bi l i dade de uma ati vi dade fi l osfi ca que mantenha uma rel ao
com a no-fi l osofi a a vi da de outros povos do pl aneta, al m de com
a nossa prpri a
24
. No s as pessoas comuns, ento, mas sobretudo os
povos i ncomuns, aquel es que esto fora de nossa esfera de comuni cao.
Se a fi l osofi a real abunda em sel vagens i magi nri os, a geofi l osofi a vi sa-
O NATIVO RELATIVO 128
da pel a antropol ogi a faz uma fi l osofi a i magi nri a com sel vagens reai s.
Real toads in imaginary gardens, como di sse a poeta Mari anne Moore.
Note-se, na parfrase que fi zemos mai s aci ma, o desl ocamento que
i mporta. Agora no se tratari a mai s, ou apenas, da descri o antropolgi-
ca do k ul a (enquanto forma mel ansi a de soci al i dade), mas do k ul a
enquanto descri o melansia (da soci al i dade como forma antropol gi -
ca); ou ai nda, seri a preci so conti nuar a compreender a teol ogi a austra-
l i ana , mas agora como consti tui ndo el a prpri a um di sposi ti vo de com-
preenso; do mesmo modo, os compl exos si stemas de al i ana ou de pos-
se da terra deveri am ser vi stos como i magi naes soci ol gi cas indgenas.
cl aro que ser sempre necessri o descrever o k ul a como uma descri -
o, compreender a rel i gi o abor gi ne como um compreender, e i magi -
nar a i magi nao i nd gena: preci so saber transformar as concepes
em conceitos, extra -l os del as e devol v-l os a el as. E um concei to uma
rel ao compl exa entre concepes, um agenci amento de i ntui es pr-
concei tuai s; no caso da antropol ogi a, as concepes em rel ao i ncl uem,
antes de mai s nada, as do antropl ogo e as do nati vo rel ao de rel a-
es. Os concei tos nati vos so os concei tos do antropl ogo. Por hi ptese.
No explicar, nem interpretar: multiplicar, e experimentar
Roy Wagner, desde seu The I nvention of Culture, foi um dos pri mei ros
antropl ogos que soube radi cal i zar a constatao de uma equi val nci a
entre o antroplogo e o nativo decorrente de sua comum condio cultural.
Do fato de que a aproximao a uma outra cultura s pode se fazer nos ter-
mos daquel a do antropl ogo, Wagner concl ui que o conheci mento antro-
pol gi co se defi ne por sua objetividade relativa (1981:2). Isto no si gni -
fica uma objetividade deficiente, isto , subjetiva ou parcial, mas uma obje-
ti vi dade i ntri nsecamente relacional, como se depreende do que se segue:
A i di a de cul tura [] col oca o pesqui sador em posi o de i gual dade com
aquel e que el e pesqui sa: ambos pertencem a uma cul tura. Como cada cul -
tura pode ser vi sta como uma mani festao espec fi ca [] do fenmeno
humano, e como jamai s se descobri u um mtodo i nfal vel de graduar di fe-
rentes cul turas e arranj-l as em ti pos naturai s, assumi mos que cada cul tura,
como tal , equi val ente a qual quer outra. Tal postul ado chama-se rel ati vi -
dade cul tural . [] A combi nao dessas duas i mpl i caes da i di a de cul tu-
ra, i sto , o fato de que os antropl ogos pertencemos a uma cul tura (objeti vi -
dade rel ati va) e que somos obri gados a postul ar que todas as cul turas se
O NATIVO RELATIVO 129
equi val em (rel ati vi dade cul tural ), l eva-nos a uma proposi o geral a respei -
to do estudo da cul tura. Como atesta a repeti o da i di a de rel ati vo, a
apreenso de outra cul tura envol ve o rel aci onamento [relationship] entre
duas vari edades do fenmeno humano; el a vi sa a cri ao de uma rel ao
i ntel ectual entre el as, uma compreenso que i ncl ua a ambas. A i di a de re-
l aci onamento i mportante aqui porque mai s apropri ada a essa aproxi ma-
o de duas enti dades (ou pontos de vi sta) equi val entes que noes como
anl i se ou exame, que traem uma pretenso a uma objeti vi dade absol u-
ta (Wagner 1981:2-3).
Ou, como diria Deleuze: no se trata de afirmar a relatividade do ver-
dadeiro, mas sim a verdade do relativo. digno de nota que Wagner asso-
cie a noo de relao de ponto de vista (os termos relacionados so pon-
tos de vi sta), e que essa i di a de uma verdade do rel ati vo defi na justa-
mente o que Del euze chama de perspecti vi smo . Poi s o perspecti vi smo
o de Lei bni z e Ni etzsche como o dos Tuk ano ou Juruna no um
rel ati vi smo, i sto , afi rmao de uma rel ati vi dade do verdadei ro, mas um
relacionalismo, pelo qual se afirma que a verdade do relativo a relao.
Indaguei o que aconteceri a se recusssemos a vantagem epi stemo-
l gi ca do di scurso do antropl ogo sobre o do nati vo; se entendssemos a
rel ao de conheci mento como susci tando uma modi fi cao, necessari a-
mente rec proca, nos termos por el a rel aci onados, i sto , atual i zados. Isso
o mesmo que perguntar: o que acontece quando se l eva o pensamento
nati vo a sri o? Quando o propsi to do antropl ogo dei xa de ser o de expl i -
car, i nterpretar, contextual i zar, raci onal i zar esse pensamento, e passa a
ser o de o uti l i zar, ti rar suas conseqnci as, veri fi car os efei tos que el e
pode produzi r no nosso? O que pensar o pensamento nati vo? Pensar,
di go, sem pensar se aqui l o que pensamos (o outro pensamento) apa-
rentemente i rraci onal
25
, ou pi or ai nda, natural mente raci onal
26
, mas
pens-l o como al go que no se pensa nos termos dessa al ternati va, al go
i ntei ramente al hei o a esse jogo?
Levar a sri o , para comear, no neutral i zar. , por exempl o, pr
entre parnteses a questo de saber se e como tal pensamento i l ustra uni -
versai s cogni ti vos da espci e humana, expl i ca-se por certos modos de
transmi sso soci al do conheci mento, expri me uma vi so de mundo cul tu-
ral mente parti cul ar, val i da funci onal mente a di stri bui o do poder pol ti -
co, e outras tantas formas de neutral i zao do pensamento al hei o. Sus-
pender tal questo ou, pel o menos, evi tar encerrar a antropol ogi a nel a;
deci di r, por exempl o, pensar o outro pensamento apenas (di gamos assi m)
como uma atual i zao de vi rtual i dades i nsuspei tas do pensar.
O NATIVO RELATIVO 130
Levar a sri o si gni fi cari a, ento, acredi tar no que di zem os ndi os,
tomar seu pensamento como expri mi ndo uma verdade sobre o mundo?
De forma al guma; esta outra questo mal col ocada. Para crer ou no
crer em um pensamento, preci so pri mei ro i magi n-l o como um si stema
de crenas. Mas os probl emas autenti camente antropol gi cos no se
pem jamai s nos termos psi col ogi stas da crena, nem nos termos l ogi ci s-
tas do val or de verdade, poi s no se trata de tomar o pensamento al hei o
como uma opi ni o, ni co objeto poss vel de crena ou descrena, ou como
um conjunto de proposi es, ni cos objetos poss vei s dos ju zos de ver-
dade. Sabe-se o estrago causado pel a antropol ogi a ao defi ni r a rel ao
dos nati vos com seu di scurso em termos de crena a cul tura vi ra uma
espci e de teol ogi a dogmti ca (Vi vei ros de Castro 1993) , ou ao tratar
esse di scurso como uma opi ni o ou como um conjunto de proposi es
a cul tura vi ra uma teratol ogi a epi stmi ca: erro, i l uso, l oucura, i deol o-
gi a
27
. Como observa Latour (1996b:15), a crena no um estado men-
tal , mas um efei to da rel ao entre os povos e o ti po mesmo do efei to
que no pretendo produzi r.
O ani mi smo, por exempl o, sobre o qual j escrevi antes (Vi vei ros de
Castro 1996). O Vocabulrio de Lal ande, que no se mostra, quanto a i sso,
mui to destoante em face de estudos psi co-antropol gi cos recentes sobre
o tpi co, defi ne ani mi smo nestes exatos termos: como um estado men-
tal . Mas o ani mi smo amer ndi o pode ser tudo, menos i sso. El e uma
imagem do pensamento, que reparte o fato e o di rei to, o que cabe de di -
reito ao pensamento e o que remete contingentemente aos estados de coi-
sas; , mai s especi fi camente, uma conveno de interpretao (Strathern
1999a:239) que pressupe a personi tude formal do que h a conhecer,
fazendo assi m do pensamento uma ati vi dade e um efei to da rel ao (so-
ci al ) entre o pensador e o pensado. Seri a apropri ado di zer que, por exem-
pl o, o posi ti vi smo ou o jusnatural i smo so estados mentai s? O mesmo
(no) se di ga do ani mi smo amazni co: el e no um estado mental dos
sujei tos i ndi vi duai s, mas um di sposi ti vo i ntel ectual transi ndi vi dual , que
toma, al i s, os estados mentai s dos seres do mundo como um de seus
objetos. El e no uma condi o da mente do nati vo, mas uma teori a da
mente apl i cada pelo nati vo, um modo de resol ver, al i s ou mel hor, de
di ssol ver , o probl ema emi nentemente fi l osfi co das outras mentes.
Se no se trata de descrever o pensamento i nd gena ameri cano em
termos de crena, tampouco ento o caso de rel aci onar-se a el e sob o
modo da crena seja sugeri ndo com benevol nci a seu fundo de
verdade al egri co (uma al egori a soci al , como para os durkhei mi anos, ou
natural , como para os materi al i stas cul turai s), seja, pi or ai nda, i magi nan-
O NATIVO RELATIVO 131
do que el e dari a acesso essnci a nti ma e l ti ma das coi sas, detentor
que seri a de uma ci nci a esotri ca i nfusa. Uma antropol ogi a que []
reduz o senti do [meaning] crena, ao dogma e certeza cai forosa-
mente na armadi l ha de ter de acredi tar ou nos senti dos nati vos, ou em
nossos prpri os (Wagner 1981:30). Mas o pl ano do senti do no povoa-
do por crenas psi col gi cas ou proposi es l gi cas, e o fundo contm
outra coi sa que verdades. Nem uma forma da doxa, nem uma fi gura da
l gi ca nem opi ni o, nem proposi o , o pensamento nati vo aqui
tomado como ati vi dade de si mbol i zao ou prti ca de senti do: como di s-
posi ti vo auto-referenci al ou tautegri co de produo de concei tos, i sto ,
de s mbol os que representam a si mesmos (Wagner 1986).
Recusar-se a pr a questo em termos de crena parece-me um tra-
o cruci al da deci so antropol gi ca. Para marc-l o, reevoquemos o Ou-
trem del euzi ano. Outrem a expresso de um mundo poss vel ; mas este
mundo deve sempre, no curso usual das i nteraes soci ai s, ser atual i zado
por um Eu: a i mpl i cao do poss vel em outrem expl i cada por mi m. Isto
si gni fi ca que o poss vel passa por um processo de verificao que di ssi pa
entropi camente sua estrutura. Quando desenvol vo o mundo expri mi do
por outrem, para val i d-l o como real e i ngressar nel e, ou ento para
desmenti -l o como i rreal : a expl i cao i ntroduz, assi m, o el emento da
crena. Descrevendo tal processo, Del euze i ndi cava a condi o-l i mi te
que l he permi ti u a determi nao do concei to de Outrem:
[E]ssas rel aes de desenvol vi mento, que formam tanto nossas comuni da-
des como nossas contestaes com outrem, dissolvem sua estrutura, e a redu-
zem, em um caso, ao estado de objeto, e, no outro, ao estado de sujei to. Ei s
por que, para apreender outrem como tal, sentimo-nos no direito de exigir con-
dies especiais de experincia, por mais artificiais que fossem elas: o momen-
to em que o expri mi do ai nda no possui (para ns) exi stnci a fora do que o
exprime Outrem como expresso de um mundo possvel (1969a:335).
E concl u a recordando uma mxi ma fundamental de sua refl exo:
A regra que i nvocvamos anteri ormente: no se expl i car demai s, si gni -
fi cava, antes de tudo, no se expl i car demai s com outrem, no expl i car
outrem demai s, manter seus val ores i mpl ci tos, mul ti pl i car nosso mundo
povoando-o de todos esses expri mi dos que no exi stem fora de suas
expresses (Del euze 1969a:335).
A l i o pode ser aprovei tada pel a antropol ogi a. Manter os val ores
de outrem i mpl ci tos no si gni fi ca cel ebrar al gum mi stri o numi noso que
el es encerrem; si gni fi ca a recusa de atual i zar os poss vei s expressos pel o
O NATIVO RELATIVO 132
pensamento i nd gena, a del i berao de guard-l os indefinidamente como
poss vei s nem desreal i zando-os como fantasi as dos outros, nem fanta-
si ando-os como atuai s para ns. A experi nci a antropol gi ca, nesse caso,
depende da interiorizao formal das condies especiais e artificiais de
que fal a Del euze: o momento em que o mundo de outrem no exi ste fora
de sua expresso transforma-se em uma condi o eterna, i sto , i nterna
rel ao antropol gi ca, que real i za esse poss vel como virtual
28
. Se h al go
que cabe de di rei to antropol ogi a, no certamente a tarefa de explicar
o mundo de outrem, mas a de multiplicar nosso mundo, povoando-o de
todos esses expri mi dos que no exi stem fora de suas expresses .
De porcos e corpos
Real i zar os poss vei s nati vos como vi rtual i dades o mesmo que tratar as
i di as nati vas como concei tos. Doi s exempl os.
1. Os porcos dos ndios. comum encontrar-se na etnografi a ameri -
cana a i di a de que, para os ndi os, os ani mai s so humanos. Tal formu-
l ao condensa uma nebul osa de concepes suti l mente vari adas, que
no cabe aqui el aborar: no so todos os ani mai s que so humanos, e no
so s el es que o so; os ani mai s no so humanos o tempo todo; el es
foram humanos mas no o so mai s; el es tornam-se humanos quando se
acham fora de nossas vi stas; el es apenas pensam que so humanos; el es
vem-se como humanos; el es tm uma al ma humana sob um corpo ani -
mal ; el es so gente assi m como os humanos, mas no so humanos exa-
tamente como a gente; e assi m por di ante. Al m di sso, ani mal e huma-
no so tradues equ vocas de certas pal avras i nd genas e no esque-
amos que estamos di ante de centenas de l nguas di sti ntas, na mai ori a
das quai s, al i s, a cpul a no costuma vi r marcada por um verbo. Mas
no i mporta, no momento. Suponhamos que enunci ados como os ani -
mai s so humanos ou certos ani mai s so gente faam al gum senti do,
e um senti do que nada tenha de metafri co, para um dado grupo i nd -
gena. Tanto senti do, di gamos (mas no exatamente o mesmo ti po de sen-
ti do), quanto o que a afi rmao aparentemente i nversa, e hoje to pouco
escandal osa os humanos so ani mai s , faz para ns. Suponhamos,
ento, que o pri mei ro enunci ado faa senti do para, por exempl o, os Ese
Eja da Amazni a bol i vi ana: A afi rmao, que eu freqentemente ouvi ,
de que todos os ani mai s so Ese Eja [] (Al exi ades 1999:179)
29
.
Poi s bem. Isabel l a Lepri , estudante de antropol ogi a que hoje traba-
l ha, por coi nci dnci a, junto a esses mesmos Ese Eja, perguntou-me, pen-
O NATIVO RELATIVO 133
so que em mai o de 1998, se eu acredi tava que os pecari s so humanos,
como di zem os ndi os. Respondi que no e o fi z porque suspei tei (sem
nenhuma razo) que el a acredi tava que, se os ndi os di zi am tal coi sa,
ento devi a ser verdade. Acrescentei , perversa e al go menti rosamente,
que s acredi tava em tomos e genes, na teori a da rel ati vi dade e na evo-
l uo das espci es, na l uta de cl asses e na l gi ca do capi tal , enfi m, nesse
ti po de coi sa; mas que, como antropl ogo, tomava perfei tamente a sri o
a i di a de que os pecari s so humanos. El a me contestou: Como voc
pode sustentar que l eva o que os ndi os di zem a sri o? I sso no s um
modo de ser pol i do com seus i nformantes? Como voc pode l ev-l os a
sri o se s fi nge acredi tar no que el es di zem?
Essa i nti mao de hi pocri si a me obri gou, cl aro, a refl eti r. Estou
convenci do de que a questo de Isabel l a absol utamente cruci al , de que
toda antropol ogi a di gna desse nome preci sa respond-l a, e de que no
nada fci l respond-l a bem.
Uma resposta poss vel , natural mente, aquel a conti da em uma
rpl i ca cortante de Lvi -Strauss ao hermeneuti smo m (s)ti co de Ri cur:
preci so escol her o l ado em que se est. Os mi tos no di zem nada capaz
de nos i nstrui r sobre a ordem do mundo, a natureza do real , a ori gem do
homem ou o seu desti no (1971:571). Em troca, prossegue o autor, os
mi tos nos ensi nam mui to sobre as sociedades de onde provm, e, sobre-
tudo, sobre certos modos fundamentai s (e uni versai s) de operao do
esprito humano (Lvi -Strauss 1971:571). Ope-se, assi m, vacui dade
referenci al do mi to, sua pl eni tude di agnsti ca: di zer que os pecari s so
humanos no nos di z nada sobre os pecari s, mas mui to sobre os huma-
nos que o di zem.
A sol uo nada tem de especi fi camente l vi -straussi ana; el a a pos-
tura canni ca da antropol ogi a, de Durkhei m ou dos i ntel ectual i stas vi to-
ri anos aos di as de hoje. Mui to da antropol ogi a chamada cogni ti va, por
exempl o, pode ser vi sta como uma el aborao si stemti ca de tal ati tude,
que consi ste em reduzi r o di scurso i nd gena a um conjunto de proposi -
es, sel eci onar aquel as que so fal sas (al ternati vamente, vazi as) e pro-
duzi r uma explicao de por que os humanos acredi tam nel as, visto que
so fal sas ou vazi as. Uma expl i cao, tambm por exempl o, pode ser
aquel a que concl ui que tai s proposi es so objeto de um embuti mento
ou aspeamento por parte de seus enunci adores (Sperber 1974; 1982); el as
remetem, portanto, no ao mundo, mas rel ao dos enunci adores com
seu prpri o di scurso. Tal rel ao i gual mente o tema pri vi l egi ado das
antropol ogi as di tas si mbol i stas, de ti po semnti co ou pragmti co: enun-
ci ados como esse sobre os pecari s fal am (ou fazem), na verdade, al go
O NATIVO RELATIVO 134
sobre a soci edade, no sobre o que fal am. El es no ensi nari am nada sobre
a ordem do mundo e a natureza do real , portanto, nem para ns, nem para
os ndios. Levar a sri o uma afi rmao como os pecari s so humanos ,
nesse caso, consi sti ri a em mostrar como certos humanos podem l ev-l a a
sri o, e mesmo acredi tar nel a, sem que se mostrem, com i sso, i rraci onai s
e, natural mente, sem que os pecari s se mostrem, por i sso, humanos.
Sal va-se o mundo: sal vam-se os pecari s, sal vam-se os nati vos, e sal va-se,
sobretudo, o antropl ogo.
Essa sol uo no me sati sfaz. Ao contrri o, el a me i ncomoda profun-
damente. El a parece i mpl i car que, para l evar os ndi os a sri o, quando
afi rmam coi sas como os pecari s so humanos , preci so no acredi tar
no que el es di zem, vi sto que, se o fi zssemos, no estar amos nos l evan-
do a sri o. preci so achar outra sa da. Como no tenho espao nem,
sobretudo e evi dentemente, competnci a para repassar a vasta l i teratura
fi l osfi ca sobre a gramti ca da crena, a certeza, as ati tudes proposi ci o-
nai s etc., apresento aqui apenas certas consi deraes susci tadas, i ntui ti -
va mai s que refl exi vamente, por mi nha experi nci a de etngrafo.
Sou antropl ogo, no sui nl ogo. Os pecari s (ou, como di sse um outro
antropl ogo a propsi to dos Nuer, as vacas) no me i nteressam enorme-
mente, os humanos si m. Mas os pecari s i nteressam enormemente que-
l es humanos que di zem que el es so humanos. Portanto, a i di a de que
os pecari s so humanos me i nteressa, a mi m tambm, porque di z al go
sobre os humanos que di zem i sso. Mas no porque el a di ga al go que
esses humanos no so capazes de di zer sozi nhos, e si m porque, nel a,
esses humanos esto di zendo al go no s sobre os pecari s, mas tambm
sobre o que ser humano. (Por que os Nuer, ao contrri o e por exem-
pl o, no di zem que o gado humano?) O enunci ado sobre a humani dade
dos pecari s, se certamente revela ao antropl ogo al go sobre o esp -
ri to humano, faz mai s que i sso para os ndi os: el e afirma al go sobre o
concei to de humano. El e afi rma, inter alia, que a noo de esp ri to
humano, e o concei to i nd gena de soci al i dade, i ncl uem em sua extenso
os pecari s e i sso modi fi ca radi cal mente a i ntenso desses concei tos
rel ati vamente aos nossos.
A crena do nati vo ou a descrena do antropl ogo no tm nada a
fazer aqui . Perguntar(-se) se o antropl ogo deve acredi tar no nati vo um
category mistake equi val ente a i ndagar se o nmero doi s al to ou verde.
Ei s os pri mei ros el ementos de mi nha resposta a I sabel l a. Quando um
antropl ogo ouve de um i nterl ocutor i nd gena (ou l na etnografi a de um
col ega) al go como os pecari s so humanos , a afi rmao, sem dvi da,
i nteressa-l he porque el e sabe que os pecari s no so humanos. Mas esse
O NATIVO RELATIVO 135
saber um saber essenci al mente arbi trri o, para no di zermos burro
deve parar a : seu ni co i nteresse consi ste em ter despertado o i nteresse
do antropl ogo. No se deve pedi r mai s a el e. No se pode, aci ma de
tudo, i ncorpor-l o i mpl i ci tamente na economi a do comentri o antropol -
gi co, como se fosse necessri o expl i car (como se o essenci al fosse expl i -
car) por que os ndi os cremque os pecari s so humanos quando de fato
el es no o so. i nti l perguntar-se se os ndi os tm ou no razo a esse
respei to: poi s j no o sabemos? Mas o que preci so saber justamente
o que no se sabe a saber, o que os ndi os esto di zendo, quando di zem
que os pecari s so humanos.
Uma i di a como esta est l onge de ser evi dente. O probl ema que ela
col oca no resi de na cpul a da proposi o, como se pecari e humano
fossem noes comuns partilhadas pelo antroplogo e pelo nativo, e a ni -
ca di ferena resi di sse na equao bi zarra entre os doi s termos. perfeita-
mente poss vel , di ga-se de passagem, que o si gni fi cado l exi cal ou a i nter-
pretao semnti ca de pecari e humano sejam mai s ou menos os mes-
mos para os doi s i nterl ocutores; no se trata de um probl ema de traduo,
ou de deci di r se os ndi os e ns temos os mesmos natural kinds (tal vez,
tal vez). O probl ema que a i di a de que os pecari s so humanos parte
do senti do dos concei tos de pecari e de humano naquel a cul tura, ou
mel hor, essa i di a que o verdadei ro concei to em potnci a o concei -
to que determi na o modo como as i di as de pecari e de humano se rel a-
ci onam. Poi s no h pri mei ro os pecari s e os humanos, cada qual de seu
l ado, e depoi s sobrevm a i di a de que os pecari s so humanos: ao con-
trrio, os pecaris, os humanos e sua relao so dados simultaneamente
30
.
A estrei teza i ntel ectual que ronda a antropol ogi a, em casos como
esse, consi ste na reduo das noes de pecari e de humano excl usi va-
mente a vari vei s i ndependentes de uma proposi o, quando el as devem
ser vi stas se queremos l evar os ndi os a sri o como vari aes i nse-
parvei s de um concei to. Di zer que os pecari s so humanos, como j
observei , no di zer al go apenas sobre os pecari s, como se humano fos-
se um predi cado passi vo e pac fi co (por exempl o, o gnero em que se
i ncl ui a espci e pecari ); tampouco dar uma si mpl es defi ni o verbal de
pecari , do ti po surubi m (o nome de) um pei xe . Di zer que os peca-
ri s so humanos di zer al go sobre os pecari s e sobre os humanos, di zer
al go sobre o que pode ser o humano: se os pecari s tm a humani dade em
potnci a, ento os humanos teri am, tal vez, uma potnci a-pecari ? Com
efei to, se os pecari s podem ser concebi dos como humanos, ento deve
ser poss vel conceber os humanos como pecari s: o que ser humano,
quando se pecari, e o que ser pecari, quando se humano? Quais as
O NATIVO RELATIVO 136
conseqncias disto? Que conceito se pode extrair de um enunciado como
os pecari s so humanos ? Como transformar a concepo expressa por
uma proposi o desse ti po em um concei to? Esta a verdadei ra questo.
Assi m, quando seus i nterl ocutores i nd genas l he di zem (sob condi -
es, como sempre, que cabe especi fi car) que os pecari s so humanos, o
que o antropl ogo deve se perguntar no se acredi ta ou no que os
pecari s sejam humanos, mas o que uma i di a como essa l he ensi na sobre
as noes i nd genas de humani dade e de pecari tude. O que uma i di a
como essa, note-se, ensi na-l he sobre essas noes e sobre outras coi sas:
sobre as rel aes entre el e e seu i nterl ocutor, as si tuaes em que tal
enunci ado produzi do espontaneamente, os gneros de fal a e o jogo
de l i nguagem em que el e cabe etc. Essas outras coisas, porm e gosta-
ri a de i nsi sti r sobre o ponto esto mui to l onge de esgotar o senti do do
enunci ado. Reduzi -l o a um di scurso que fal a apenas de seu enunci ador
negar a este sua i ntenci onal i dade, e, de quebra, obri g-l o a trocar seu
pecari por nosso humano. O que um pssi mo negci o para o caador
do pecari .
E nesses termos, bvi o que o etngrafo tem de acredi tar (no senti -
do de confi ar) em seu i nterl ocutor: poi s se este no est a l he dar uma
opi ni o, mas a ensi nar-l he o que so os pecari s e os humanos, a expl i car
como o humano est i mpl i cado no pecari A pergunta, mai s uma vez,
deve ser: para que serve essa i di a? Em que agenci amentos el a pode
entrar? Quai s suas conseqnci as? Por exempl o: o que se come, quando
se come um pecari , se os pecari s so humanos?
E mai s: carece ver se o concei to constru vel a parti r de enunci ados
como esse se expri me de modo real mente adequado pel a forma X Y .
Poi s no se trata tanto de um probl ema de predi cao ou atri bui o, mas
de defi ni r um conjunto vi rtual de eventos e de sri es em que entram os
porcos sel vagens de nosso exempl o: os pecari s andam em bando tm
um chefe so barul hentos e agressi vos sua apari o sbi ta e i mpre-
vi s vel so maus cunhados comem aa vi vem sob a terra so
encarnaes dos mortos e assi m por di ante. No se trata com i sso de
i denti fi car os atri butos dos pecari s a atri butos dos humanos, mas de al go
mui to di ferente. Os pecari s so pecari s e humanos, so humanos naqui l o
que os humanos no so pecari s; os pecari s i mpl i cam os humanos, como
i di a, em sua distncia mesma di ante dos humanos. Assi m, quando se
di z que os pecari s so humanos, no para i denti fi c-l os aos humanos,
mas para di ferenci -l os de si mesmos e a ns de ns mesmos.
Di sse anteri ormente que a i di a de que os pecari s so humanos est
l onge de ser evi dente. Por certo: nenhuma i di a i nteressante evi dente.
O NATIVO RELATIVO 137
Esta, em parti cul ar, no no-evi dente porque seja fal sa ou i nveri fi cvel
(os ndi os di spem de vri os modos de verific-la), mas porque di z al go
no-evi dente sobre o mundo. Os pecari s no so evi dentemente huma-
nos, el es o so no-evi dentemente. Isto quereri a di zer que tal i di a si m-
bl i ca, no senti do que Sperber deu a este adjeti vo? Entendo que no.
Sperber concebe os concei tos i nd genas como proposi es, e pi or, como
proposi es de segunda cl asse, representaes semi proposi ci onai s que
prol ongam o saber enci cl opdi co sob um modo no-referenci al i zvel :
confuso do autoposi ti vo com o referenci al mente vazi o, do vi rtual com o
fi ct ci o, da i mannci a com a cl ausura Mas poss vel ver o si mbol i smo
de outro modo que esse de Sperber, que o toma como al go l gi ca e cro-
nol ogi camente posteri or enci cl opdi a ou semnti ca, al go que marca
os l i mi tes do conheci mento verdadei ro ou veri fi cvel , o ponto onde el e se
transforma em i l uso. Os concei tos i nd genas podem ser di tos si mbl i cos,
mas em senti do mui to di ferente; no so subproposi ci onai s, so super-
proposi ci onai s, poi s supem as proposi es enci cl opdi cas mas defi nem
sua si gni fi cao vi tal , seu senti do ou val or. As proposi es enci cl opdi -
cas que so semi concei tuai s ou subsi mbl i cas, no o contrri o. O si m-
bl i co no o semi verdadei ro, mas o pr-verdadei ro, i sto , o i mportante
ou rel evante: el e di z respei to no ao que o caso, mas ao que i mporta
no que o caso, ao que i nteressa para a vi da no que o caso. O que val e
um pecari ? Essa a questo, l i teral mente, interessante
31
.
Profundo: outra pal avra para semi proposi ci onal , i roni zou, certa
vez, Sperber (1982:173). Mas ento caberi a repl i car banal : outra pal a-
vra para proposi ci onal . Profundos, com efei to, os concei tos i nd genas cer-
tamente o so, poi s projetam um fundo, um pl ano de i mannci a povoado
de i ntensi dades, ou, se o l ei tor prefere a l i nguagem de Wi ttgenstei n, um
Weltbild quadri l hado por pseudoproposi es de base que i gnoram e
precedem a parti l ha entre o verdadei ro e o fal so, tecendo uma rede que,
l anada sobre o caos, pode l he dar al guma consi stnci a (Prado Jr.
1998:317). Esse fundo a base sem fundamento que no nem raci o-
nal /razovel nem i rraci onal /i nsensata, mas que si mpl esmente est l
como nossa vi da (Prado Jr. 1998:319).
2. Os corpos dos ndios. Meu col ega Peter Gow narrou-me, certa fei -
ta, a segui nte cena, presenci ada em uma de suas estadas entre os Pi ro da
Amazni a peruana:
Uma professora da mi sso [na al dei a de] Santa Cl ara estava tentan-
do convencer uma mul her pi ro a preparar a comi da de seu fi l ho pequeno
com gua fervi da. A mul her repl i cou: Se bebemos gua fervi da, con-
tra mos di arri a . A professora, ri ndo com zombari a da resposta, expl i -
O NATIVO RELATIVO 138
cou que a di arri a i nfanti l comum causada justamente pel a i ngesto de
gua no-fervi da. Sem se abal ar, a mul her pi ro respondeu: Tal vez para
o povo de Li ma i sso seja verdade. Mas para ns, gente nati va daqui , a
gua fervi da d di arri a. Nossos corpos so di ferentes dos corpos de
vocs (Gow, comuni cao pessoal , 12/10/00).
O que pode o antropl ogo fazer com essa resposta da mul her ndi a?
Vri as coi sas. Gow, por exempl o, teceu comentri os argutos sobre a ane-
dota, em um arti go em preparao:
Este enunci ado si mpl es [ nossos corpos so di ferentes ] captura com el e-
gnci a o que Vi vei ros de Castro (1996) chamou de perspecti vi smo cosmol -
gi co, ou mul ti natural i smo: o que di sti ngue os di ferentes ti pos de gente so
seus corpos, no suas cul turas. Deve-se notar, entretanto, que esse exempl o
de cosmol ogi a perspecti vi sta no foi obti do no curso de uma di scusso eso-
tri ca sobre o mundo ocul to dos esp ri tos, mas em uma conversao em tor-
no de preocupaes emi nentemente prti cas: o que causa a di arri a i nfan-
ti l ? Seri a tentador ver as posi es da professora e da mul her pi ro como repre-
sentando duas cosmol ogi as di sti ntas, o mul ti cul tural i smo e o mul ti natural i s-
mo, e i magi nar a conversa como um choque de cosmol ogi as ou cul turas. Isto
seri a, penso, um engano. As duas cosmol ogi as/cul turas, no caso, esto em
contato j h mui to tempo, sua i mbri cao precede de mui to os processos
ontogenti cos atravs dos quai s a professora e essa mul her pi ro vi eram a for-
mul -l as como auto-evi dentes. Mas sobretudo, tal i nterpretao estari a tra-
duzi ndo o di l ogo nos termos gerai s de uma de suas partes, a saber, o mul ti -
cul tural i smo. As coordenadas da posi o da mul her pi ro estari am sendo si s-
temati camente vi ol adas pel a anl i se. I sso no quer di zer, cl aro, que eu
crei a que as cri anas devem beber gua no-fervi da. Mas i sso quer di zer
que a anl i se etnogrfi ca no pode i r adi ante se j se deci di u de antemo o
senti do geral de um encontro como esse .
Concordo com mui to do argumento aci ma. A anedota reportada por
Gow de fato uma espl ndi da i l ustrao, especi al mente por deri var de
um i nci dente banal mente coti di ano, da di vergnci a i rredut vel entre o
que chamei de mul ti cul tural i smo e de mul ti natural i smo . Mas a an-
l i se sugeri da por el e no me parece a ni ca poss vel . Assi m, sobre a ques-
to da traduo da conversa nos termos gerai s de uma das partes no
caso, a professora: no seri a i gual mente poss vel , e sobretudo necessri o,
traduzi -l a nos termos gerai s da outra parte? Poi s no h tercei ra posi o,
uma posi o absoluta de sobrevo que mostrasse o carter relativo das
duas outras. preci so tomar parti do.
O NATIVO RELATIVO 139
Ser que se poderi a di zer, por exempl o, que cada mul her est cul -
tural i zando a outra nessa conversa, i sto , atri bui ndo a tol i ce da outra
cul tura desta, ao passo que i nterpreta a sua prpri a posi o como natu-
ral ? Seri a o caso de se di zer que o argumento sobre o corpo avanado
pel a mul her pi ro j uma espci e de concesso aos pressupostos da pro-
fessora? Tal vez; mas no houve concesso rec proca. A mul her pi ro con-
cordou em di scordar, mas a professora, de modo al gum. A pri mei ra no
contestou o fato de que as pessoas da ci dade de Li ma ( tal vez ) devam
beber gua fervi da, ao passo que a segunda recusou peremptori amente
a i di a de que as pessoas da al dei a de Santa Cl ara no o devam.
O rel ati vi smo da mul her pi ro um rel ati vi smo natural , no cul -
tural , note-se poderi a ser i nterpretado segundo certas hi pteses a res-
peito da economia cognitiva das sociedades no-modernas, ou sem escrita,
ou tradi ci onai s etc. Nos termos da teori a de Robi n Horton (1993:379-ss.),
por exempl o. Horton di agnosti ca o que chamou de paroqui al i smo de
vi so de mundo (world-view parochialism) como al go caracter sti co des-
sas soci edades: contrari amente exi gnci a i mpl ci ta de uni versal i zao
conti da nas cosmol ogi as raci onal i zadas da moderni dade oci dental , as
cosmol ogi as dos povos tradi ci onai s parecem marcadas por um esp ri to de
grande tol ernci a, mas que na verdade uma indiferena concorrnci a
de vi ses de mundo di screpantes. O rel ati vi smo aparente dos Pi ro no
mani festari a, assi m, sua l argueza de vi stas, mas, mui to ao contrri o, sua
mi opi a: el es pouco se i mportam como as coi sas so al hures
32
.
H vri os moti vos para se recusar uma l ei tura como essa de Horton;
entre outros, o de que o di to rel ati vi smo pri mi ti vo no apenas i ntercul -
tural , mas i ntracul tural e autocul tural , e que el e no expri me nem tol e-
rnci a, nem i ndi ferena, mas si m exteri ori dade absol uta i di a cri pto-
teol gi ca de cul tura como conjunto de crenas (Took er 1992; Vi vei ros
de Castro 1993). O moti vo pri nci pal , entretanto, est perfei tamente prefi -
gurado nos comentri os de Gow, a saber, que essa i di a do paroqui al i s-
mo traduz o debate de Santa Cl ara nos termos da posi o da professora,
com seu uni versal i smo natural e seu di ferenci al i smo (mai s ou menos tol e-
rante) cul tural . H vri as vises de mundo, mas h um s mundo um
mundo onde todas as cri anas devem beber gua fervi da (se, cl aro, se
encontrarem em uma parte do mesmo onde a di arri a i nfanti l seja uma
ameaa).
Em l ugar dessa l ei tura, proponho uma outra. A anedota dos corpos
di ferentes convi da a um esforo de determi nao do mundo poss vel
expresso no ju zo da mul her pi ro. Um mundo possvel no qual os corpos
humanos sejam di ferentes em Li ma e em Santa Cl ara no qual seja
O NATIVO RELATIVO 140
necessrio que os corpos dos brancos e dos ndi os sejam di ferentes. Ora,
determi nar esse mundo no i nventar um mundo i magi nri o, um mundo
dotado, di gamos, de outra f si ca ou outra bi ol ogi a, onde o uni verso no
seri a i sotrpi co e os corpos se comportari am segundo l ei s di ferentes em
l ugares di sti ntos. I sso seri a (m) fi co ci ent fi ca. O que se trata de
encontrar o probl ema real que torna poss vel o mundo i mpl i cado na rpl i -
ca da mul her pi ro. O argumento de que nossos corpos so di ferentes
no expri me uma teori a bi ol gi ca al ternati va, e, natural mente, equi voca-
da, ou uma bi ol ogi a objeti va i magi nari amente no-standard
33
. O que o
argumento pi ro mani festa uma idia no-biolgica de corpo, i di a que
faz com que questes como a di arri a i nfanti l no sejam tratadas enquan-
to objetos de uma teori a bi ol gi ca. O argumento afi rma que nossos cor-
pos respecti vos so di ferentes, entenda-se, que os conceitos pi ro e oci -
dental de corpo so di vergentes, no que nossas bi ol ogi as so di versas.
A anedota da gua pi ro no refl ete uma outra vi so de um mesmo corpo,
mas um outro concei to de corpo, cuja di ssonnci a subjacente sua ho-
mon mi a com o nosso , justamente, o problema. Assi m, por exempl o, o
concei to pi ro de corpo pode no estar, tal o nosso, na al ma, i sto , na
mente, sob o modo de uma representao de um corpo fora del a; el e
pode estar, ao contrri o, i nscri to no prprio corpo como perspecti va
(Vi vei ros de Castro 1996). No, ento, o concei to como representao de
um corpo extraconcei tual , mas o corpo como perspecti va i nterna do con-
cei to: o corpo como i mpl i cado no concei to de perspecti va. E se, como di zi a
Spi noza, no sabemos o que pode um corpo, quanto menos saber amos o
que pode esse corpo. Para no fal ar de sua al ma.
Recebi do em 15 de janei ro de 2002
Aprovado em 18 de feverei ro de 2002
Eduardo Vi vei ros de Castro professor de etnol ogi a no Museu Naci onal /
UFRJ, e membro da Equi pe de Recherche en Ethnol ogi e Amri ndi enne
(Pari s).
O NATIVO RELATIVO 141
Notas
1
O fato de o di scurso do antropl ogo consi sti r canni ca e l i teral mente em
um texto tem mui tas i mpl i caes, que no cabe desenvol ver aqui . El as foram obje-
to de ateno exausti va por parte de correntes recentes de refl exo auto-antropo-
l gi ca. O mesmo se di ga do fato de o di scurso do nati vo no ser, geral mente, um
texto, e do fato de el e ser freqentemente tratado como se o fosse.
2
O conheci mento no uma conexo entre uma substnci a-sujei to e uma
substnci a-objeto, mas uma rel ao entre duas rel aes, das quai s uma est no
dom ni o do objeto, e a outra no dom ni o do sujei to; [] a rel ao entre duas rel a-
es el a prpri a uma rel ao (Si mondon 1995:81, nfases removi das). Traduzi
por conexo a pal avra rapport, que Gi l bert Si mondon di sti ngue de relation, re-
l ao: podemos chamar de rel ao a di sposi o dos el ementos de um si stema
que est al m de uma si mpl es vi sada arbi trri a do esp ri to, e reservar o termo
conexo para uma rel ao arbi trri a e fortui ta [] a rel ao seri a uma conexo
to real e i mportante como os prpri os termos; poder-se-i a di zer, por consegui nte,
que uma verdadei ra rel ao entre doi s termos equi val e, de fato, a uma conexo
entre trs termos (Si mondon 1995:66).
3
Veja-se M. Strathern (1987), para uma anl i se dos pressupostos rel aci o-
nai s desse efei to de conheci mento. A autora argumenta que a rel ao do nati vo
com seu di scurso no , em pri nc pi o, a mesma que a do antropl ogo com o seu, e
que tal di ferena ao mesmo tempo condi ci ona a rel ao entre os doi s di scursos e
i mpe l i mi tes a toda empresa de auto-antropol ogi a.
4
Somos todos nati vos, mas ningum nativo o tempo todo. Como recorda
Lambek (1998:113) em um comentri o noo de habitus e congneres, as pr-
ti cas encorporadas so real i zadas por agentes capazes tambm de pensar con-
templ ati vamente: nada do que no preci so di zer [goes without saying] perma-
nece no-di to para sempre . Pensar contempl ati vamente, subl i nhe-se, no si gni -
fi ca pensar como pensam os antropl ogos: as tcni cas de refl exo vari am cruci al -
mente. A antropol ogi a reversa do nati vo (o cargo cult mel ansi o, por exempl o;
Wagner 1981:31-34) no a auto-antropol ogi a do antropl ogo (Strathern 1987:30-
31): uma antropol ogi a si mtri ca fei ta do i nteri or da tradi o que gerou a antropo-
l ogi a no si mtri ca a uma antropol ogi a si mtri ca fei ta fora del a. A si metri a no
cancel a a di ferena, poi s a reci proci dade vi rtual de perspecti vas em que se pensa
aqui no nenhuma fuso de hori zontes. Em suma, somos todos antropl ogos,
mas ningum antroplogo do mesmo jeito: est mui to bem que Gi ddens afi rme
que todos os atores soci ai s [] so teri cos soci ai s, mas a frase vazi a se as tc-
ni cas de teori zao tm pouca coi sa em comum (Strathern 1987:30-31).
5
Vi a de regra, supe-se que o nati vo faz, sem saber o que faz, as duas coi -
sas a raci oci nao natural e a raci onal i zao cul tural , em fases, regi stros ou
si tuaes di ferentes de sua vi da. As i l uses do nati vo so, acrescente-se, ti das por
O NATIVO RELATIVO 142
necessri as, no dupl o senti do de i nevi tvei s e tei s (so, di ro outros, evol uci ona-
ri amente adaptati vas). tal necessi dade que defi ne o nati vo, e o di sti ngue do
antropl ogo: este pode errar, mas aquel e preci sa i l udi r-se.
6
A i mpl ausi bi l i dade uma acusao freqentemente l evantada pel os pra-
ti cantes do jogo cl ssi co contra os que preferem outras regras. Mas essa noo
pertence s sal as de i nterrogatri o pol i ci al : l que devemos tomar o mxi mo cui -
dado para que nossas hi stri as sejam pl aus vei s.
7
assi m que i nterpreto a decl arao de Wagner (1981:35): Estudamos a
cul tura atravs da cul tura, e portanto as operaes, sejam quai s forem, que carac-
teri zam nossa i nvesti gao devem ser tambm propri edades gerai s da cul tura.
8
Ver, sobre i sso, Jul l i en (1989:312). Os probl emas reai s de outras cul turas
so probl emas apenas poss vei s para a nossa; o papel da antropol ogi a o de dar
a essa possi bi l i dade (l gi ca) o estatuto de vi rtual i dade (ontol gi ca), determi nando
ou seja, construi ndo sua operao l atente em nossa prpri a cul tura.
9
Publ i cado em apndi ce Logique du Sens (Del euze 1969a:350-372; ver
tambm Del euze 1969b:333-335, 360). El e retomado, em termos prati camente
i dnti cos, em seu quase-l ti mo texto, Quest-ce que la Philosophie? (Del euze e
Guattari 1991:21-24, 49).
10
[O]utrem para mi m i ntroduz o si gno do no-percebi do naqui l o que per-
cebo, determi nando-me a apreender o que no percebo como percept vel para
outrem (Del euze 1969a:355).
11
Esse el e que Outrem no uma pessoa, uma tercei ra pessoa di versa do
eu e do tu, espera de sua vez no di l ogo, mas tambm no uma coisa, um i sso
de que se fal a. Outrem seri a mai s bem a quarta pessoa do si ngul ar si tuada,
di gamos assi m, na tercei ra margem do ri o , anteri or ao jogo perspecti vo dos pro-
nomes pessoai s (Del euze 1995:79).
12
Que fari a o que pensa porque a bi furcao de sua natureza, ai nda que
admi ti da por uma questo de pri nc pi o, di sti ngue, na pessoa do antropl ogo, o
antropl ogo do nati vo, e portanto v-se expul sa de campo antes do jogo. A
expresso bi furcao da natureza de Whi tehead (1964: cap. I I ); el a protesta
contra a di vi so do real em qual i dades pri mri as, i nerentes ao objeto, e qual i da-
des secundri as, atri bu das ao objeto pel o sujei to. As pri mei ras so a meta pr-
pri a da ci nci a, mas ao mesmo tempo seri am, em l ti ma i nstnci a, i nacess vei s;
as segundas so subjeti vas e, em l ti ma i nstnci a, i l usri as. Isto produz duas natu-
rezas, das quai s uma seri a conjetura e a outra, sonho (Whi tehead 1964:30; ver a
ci tao e seu comentri o em Latour 1999:62-76, 315 n. 49 e n. 58). Tal bi furcao
a mesma presente na oposi o antropol gi ca entre natureza e cul tura. E quan-
do o objeto ao mesmo tempo um sujei to, como no caso do nati vo, a bi furcao
de sua natureza transforma-se na di sti no entre a conjetura do antropl ogo e o
sonho do nati vo: cogni o vs. i deol ogi a (Bl och), teori a pri mri a vs. secundri a
O NATIVO RELATIVO 143
(Horton), model o i nconsci ente vs. consci ente (Lvi -Strauss), representaes pro-
posi ci onai s vs. semi proposi ci onai s (Sperber), e assi m por di ante.
13
Ver M. Strathern (1999b:172), sobre os termos da rel ao poss vel de
conheci mento entre, por exempl o, os antropl ogos oci dentai s e os mel ansi os:
Isto nada tem a ver com compreenso, ou com estruturas cogni ti vas; no se trata
de saber se eu posso entender um mel ansi o, se posso i nteragi r com el e, compor-
tar-me adequadamente etc. Estas coi sas no so probl emti cas. O probl ema come-
a quando comeamos a produzi r descri es do mundo .
14
A ponderao de Al fred Gel l (1998:4); el a poderi a, cl aro, apl i car-se
i gual mente natureza humana.
15
Esse argumento apenas aparentemente semel hante ao que Sperber
(1982: cap. 2) avana contra o rel ati vi smo. Poi s esse autor no cr que a di versi -
dade cul tural seja um probl ema pol ti co-epi stemol gi co irredutvel. Para el e, as
cul turas so exempl ares conti ngentes de uma mesma natureza humana substanti -
va. O mxi mo de Sperber um denomi nador comum, jamai s um ml ti pl o ver a
cr ti ca de Ingol d (2000:164) a Sperber, fei ta de outro ponto de vi sta, mas compat -
vel com o aqui adotado.
16
Sobre estas duas i di as de l i mi te, uma de ori gem pl atni ca e eucl i di ana, a
outra de ori gem arqui medi ana e esti ca (que reaparece no cl cul o i nfi ni tesi mal
do scul o XVII), ver Del euze (1981).
17
Ver, no mesmo senti do, a densa argumentao fenomenol gi ca de Mi mi ca
(1991:34-38).
18
Veyne parafrasei a i nadverti damente Evans-Pri tchard, ao escrever, sobre
essa condi o (uni versal ) de pri si onei ro de um bocal hi stri co (parti cul ar), que
quando no se v o que no se v, no se v sequer que no se v (Veyne
1983:127, nfases mi nhas, para mai or cl areza).
19
Estou aqui , obvi amente, i nterpretando o ensai o de Veyne com um tanto
de m vontade. El e bem mai s ri co (porque mai s amb guo) do que i sso, extrava-
sando o bocal da i nfel i z i magem do bocal .
20
Essa l ei tura da noo de Gedankenexperiment apl i cada por T. Marchai s-
se obra de F. Jul l i en sobre o pensamento chi ns (Jul l i en e Marchai sse 2000:71).
Ver tambm Jul l i en (1989:311-312), sobre as fi ces comparati vas.
21
Respondendo aos cr ti cos de sua anl i se da soci al i dade mel ansi a, que a
acusam de negar a exi stnci a de uma natureza humana i ncl usi va dos povos
daquela regio, Marilyn Strathern (1999b:172) esclareceu: [A] diferena que exis-
te est no fato de que os modos pel os quai s os mel ansi os descrevem, do conta
da natureza humana, so radi cal mente di ferentes dos nossos e o ponto que
s temos acesso a descries e explicaes, s podemos trabalhar com isso. No h
O NATIVO RELATIVO 144
meio de eludir essa diferena. Ento, no se pode dizer: muito bem, agora entendi,
s uma questo de descri es di ferentes, ento passemos aos pontos em comum
entre ns e el es poi s a parti r do momento em que entramos em comuni cao,
ns o fazemos atravs dessas autodescri es. essenci al dar-se conta di sso . O
ponto, com efei to, essenci al . Ver tambm o que di z F. Jul l i en, sobre a di ferena
entre se afi rmar a exi stnci a de di ferentes modos de ori entao no pensamento
e se afi rmar a operao de outras l gi cas (Jul l i en e Marchai sse 2000:205-207).
22
Sobre a assi natura das i di as fi l osfi cas e ci ent fi cas e o bati smo dos
concei tos, ver Del euze e Guattari (1991:13, 28-29).
23
A ci tao, e o pargrafo que a precede, foram cani bal i zados de Vi vei ros
de Castro (1999:153).
24
Sobre a no-fi l osofi a o pl ano de i mannci a ou a vi da , ver Del euze e
Guattari (1991:43-44, 89, 105, 205-206), bem como o bri l hante comentri o de Pra-
do Jr. (1998).
25
A expresso aparentemente i rraci onal um cl i ch secul ar da antropol o-
gi a, de Andrew Lang em 1883 (cf. Deti enne 1981:28) a Dan Sperber em 1982.
26
Como professam as que poder amos chamar antropol ogi as do bom sen-
so , no dupl o senti do do geni ti vo, como a de Obeyesekere (1992) contra Sahl i ns e
a de Li Puma (1998) contra Strathern.
27
As observaes de Wi ttgenstei n sobre o Golden Bough permanecem, a
esse t tul o, compl etamente perti nentes. Entre outras: Um s mbol o rel i gi oso no
se funda sobre nenhuma opinio. E somente em rel ao opi ni o que se pode
fal ar em erro ; Crei o que o que caracteri za o homem pri mi ti vo que el e no age
a parti r de opinies (ao contrri o, Frazer) ; O absurdo consi ste aqui no fato de
que Frazer apresenta tai s i di as [sobre os ri tos da chuva etc.] como se esses povos
ti vessem uma representao compl etamente fal sa (e mesmo i nsensata) do curso
da natureza, quando el es possuem apenas uma i nterpretao estranha dos fen-
menos. Isto , se el es pusessem por escri to seu conheci mento da natureza, el e no
se di sti ngui ri a fundamentalmente do nosso. Apenas sua magia outra (Wi tt-
genstei n 1982:15, 24, 27). Sua magi a, ou, poder amos di zer, seus concei tos.
28
A exteri ori zao dessa condi o especi al e arti fi ci al , i sto , sua general i za-
o e natural i zao, gera o equ voco cl ssi co da antropol ogi a: a eterni dade formal
do poss vel fantasmada sob o modo de uma no-contemporanei dade hi stri ca
entre o antropl ogo e o nati vo tem-se ento a pri mi ti vi zao de Outrem, seu
congel amento como objeto (do) passado absol uto.
29
Al exi ades ci ta seu i nterl ocutor em espanhol Todos l os ani mal es son
Ese Eja . Note-se j aqui uma toro: todos os ani mai s (o etngrafo mostra que
h numerosas excees) no so humanos, e si m Ese Eja, etnni mo que pode
ser traduzi do como pessoas humanas, em oposi o a esp ri tos e a estrangei ros.
O NATIVO RELATIVO 145
30
No estou aqui me referi ndo ao probl ema da aqui si o ontogenti ca de
concei tos ou categori as, no senti do que a psi col ogi a cogni ti va d a estas pal a-
vras. A si mul tanei dade das i di as de pecari , humano e de sua i denti dade (condi -
ci onal e contextual ) , do ponto de vi sta emp ri co, uma caracter sti ca do pensa-
mento dos adul tos dessa cul tura. Ai nda que se admi ti sse que as cri anas come-
am por adqui ri r ou mani festar os concei tos de pecari e de humano antes de
serem ensi nadas que os pecari s so humanos , resta que os adul tos, quando
agem ou argumentam com base nesta i di a, no reencenam em suas cabeas tal
suposta seqnci a cronol gi ca, pri mei ro pensando nos humanos e nos pecari s,
depoi s em sua associ ao. Al m di sso e sobretudo, tal si mul tanei dade no emp -
ri ca, mas transcendental : el a si gni fi ca que a humani dade dos pecari s um com-
ponente a priori da i di a de pecari (e da i di a de humano).
31
As noes de i mportnci a, de necessi dade, de i nteresse so mi l vezes
mai s determi nantes que a noo de verdade. No, de forma alguma, porque elas
a substituam, mas porque medem a verdade do que digo (Del euze 1990:177,
nfases mi nhas).
32
E com efei to, a rpl i ca da mul her pi ro i dnti ca a uma observao dos
Zande, consi gnada no l i vro que a b bl i a dos antropl ogos da persuaso de Hor-
ton: Uma vez, ouvi um zande di zer de ns: Tal vez l no pa s del es as pessoas
no sejam assassi nadas por bruxos, mas aqui el as so (Evans-Pri tchard 1978:274).
Agradeo a Ingri d Weber a l embrana.
33
Como adverti a Gel l (1998:101) em um contexto semel hante, a magi a no
uma f si ca equi vocada, mas uma meta-f si ca: O engano de Frazer foi , por
assi m di zer, o de i magi nar que os prati cantes da magi a di spunham de uma teori a
f si ca no-standard, quando, na verdade, magi a aqui l o que se tem quando se
dispensa uma teori a f si ca em vi sta de sua redundnci a, e quando se busca apoi o
na i di a, em si mesma perfei tamente prati cvel , de que a expl i cao de qual quer
evento dado [] que el e causado i ntenci onal mente .
O NATIVO RELATIVO 146
Referncias bibliogrficas
ALEXIADES, Miguel. 1999. Ethnobotany
of the Ese Eja: Pl ants, Heal th, and
Change i n an Amazoni an Soci ety.
Tese de Doutorado, Ci ty Uni versi ty
of New York.
CLASTRES, Pierre. 1974 [1962]. chan-
ge et Pouvoi r: Phi l osophi e de l a
Chefferi e Indi enne . In: La Socit
contre ltat: Recherches dAnthro-
pologie Politique. Pari s: Mi nui t. pp.
25-42.
DELEUZE, Gi l l es. 1969a. Logique du
Sens. Paris: Minuit.
___
. 1969b. Diffrence et Rptition.
Paris: PUF.
___
. 1981. Aul a sobre Spi noza, 17 de
fevereiro.
___
. 1990. Pourparlers. Paris: Minuit.
___
. 1995 [1979]. Dialogues. Pari s:
Flammarion.
___
e GUATTARI, Fl i x. 1991. Quest-ce
que la Philosophie? Paris: Minuit.
DETI ENNE, Marcel . 1981. LI nvention
de la Mythologie. Paris: Gallimard.
EVANS-PRITCHARD, Edward. 1978 [1937].
Bruxaria, Orculos e Magia entre os
Azande (edi o resumi da por Eva
Gi l l i es). Ri o de Janei ro: Zahar Edi -
tores (trad. E. Viveiros de Castro).
GELL, Alfred. 1998. Art and Agency: An
Anthropological Theory. Oxford:
Clarendon.
___
. 1999. The Art of Anthropology: Es-
says and Diagrams. London: Athlone.
HORTON, Robi n. 1993. Patterns of
Thought in Africa and the West: Es-
says on Magic, Religion and Sci-
ence. Cambri dge: Cambri dge Uni -
versity Press.
I NGOLD, Ti m. 1992. Edi tori al . Man,
27(1):694-697.
___
. 2000. The Perception of the En-
vironment. Essays on Livelihood,
Dwelling and Skill. London: Rout-
ledge.
JULLIEN, Franois. 1989. Procs ou Cra-
tion: Une I ntroduction la Pense
Chinoise. Paris: Seuil.
___
e MARCHAISSE, Thierry. 2000. Pen-
ser dun Dehors (la Chine). Entreti-
ens dExtrme Occident. Paris: Seuil.
LAMBEK, Mi chael . 1998. Body and
Mi nd i n Mi nd, Body and Mi nd i n
Body: Some Anthropol ogi cal Inter-
venti ons i n a Long Conversati on .
In: A. Strathern e M. Lambek (orgs.),
Bodies and Persons: Comparative
Perspectives from Africa and Mela-
nesia. Cambri dge: Cambri dge Uni -
versity Press. pp. 103-122.
LATOUR, Bruno. 1991. Nous nAvons J a-
mais t Modernes. Pari s: Dcou-
verte.
___
. 1996a. Not the Question . Anthro-
pology Newsletter, 37(3):1-5.
___
. 1996b. Petite Reflxion sur le Cul-
te Moderne des Dieux Fatiches. Le
Pl essi s/Robi nson: I nsti tut Synth-
labo.
___
. 1999. Politiques de la Nature:
Comment Faire entrer les Sciences
en Dmocratie. Paris: Dcouverte.
LVI-STRAUSS, Claude. 1962. La Pense
Sauvage. Paris: Plon.
___
. 1971. LHomme Nu. Paris: Plon.
LIPUMA, Edward. 1998. Modernity and
Forms of Personhood in Melanesia .
In: A. Strathern e M. Lambek (orgs.),
Bodies and Persons: Comparative
Perspectives from Africa and Mela-
nesia. Cambri dge: Cambri dge Uni -
versity Press. pp. 53-79.
MIMICA, Jadran. 1991. The Incest Pas-
si ons: An Outl i ne of the Logi c of
I qwaye Soci al Organi zati on (part
1) . Oceania, 62(1):34-58.
O NATIVO RELATIVO 147
MOORE, Henri etta. 1999. Anthropo-
l ogi cal Theory at the Turn of the
Century . I n: H. Moore (org.), An-
thropological Theory Today. Lon-
don: Polity Press. pp. 1-23.
OBEYESEKERE, Gananath. 1992. The
Apotheosis of Captain Cook: Euro-
pean Mythmaking in the Pacific.
Princeton: Princeton University Press.
PRADO JR., Bento. 1998. Sur l e Pl an
dImmanence . In: E. Al l i ez (org.),
Gilles Deleuze: Une Vie Philosophi-
que. Le Pl essi s/Robi nson: I nsti tut
Synthlabo. pp. 305-324.
SCHOLTE, Bob. 1984. Reason and Cul-
ture: The Universal and the Particu-
lar Revisited . American Anthropol-
ogist, 86(4):960-965.
SCHREMPP, Gregory. 1992. Magical Ar-
rows: The Maori, the Greeks, and the
Folklore of the Universe. Madi son:
University of Wisconsin Press.
SIMONDON, Gi l bert. 1995 [1964]. LI n-
dividu et sa Gense Physico-Biolo-
gique. Paris: Millon.
SPERBER, Dan. 1974. Le Symbolisme en
Gnral. Paris: Hermann.
___
. 1982. Le Savoir des Anthropolo-
gues. Paris: Hermann.
STRATHERN, Mari l yn. 1987. The Li m-
i ts of Auto-Anthropol ogy . I n: A.
Jack son (org.), Anthropology at
Home. London: Tavistock. pp. 16-37.
___
. 1988. The Gender of the Gift: Pro-
blems with Women and Problems
with Society in Melanesia. Berk e-
ley: University of California Press.
___
. 1999a. Property, Substance and
Effect: Anthropological Essays on Per-
sons and Things. London: Athlone.
___
. 1999b. No Li mi te de uma Certa
Linguagem: Entrevista com Marilyn
Strathern . Mana, 5(2):157-175.
TOOKER, Deborah. 1992. Identi ty Sys-
tems of Hi ghl and Burma: Bel i ef,
Akha zan, and a Cri ti que of I nteri -
ori zed Noti ons of Ethno-Rel i gi ous
Identity . Man, 27(4):799-819.
VERNANT, Jean-Pi erre. 1996 [1966].
Rai sons dHi er et dAujourdhui .
I n: Entre Mythe et Politique. Pari s:
Seuil. pp. 229-236.
VEYNE, Paul . 1983. Les Grecs Out-I ls
Cru Leurs Mythes? Paris: Seuil.
VI VEI ROS DE CASTRO, Eduardo. 1993.
Le Marbre et le Myrte: De lIncons-
tance de l me Sauvage . I n: A.
Becquel i n e A. Mol i ni (orgs.), M-
moire de la Tradition. Nanterre: So-
cit dEthnologie. pp. 365-431.
___
. 1996. Os Pronomes Cosmol gi -
cos e o Perspecti vi smo Amer ndi o .
Mana, 2(2):115-144.
___
. 1999. Etnologia Brasileira . In: S.
Mi cel i (org.), O que Ler na Cincia
Social Brasileira (19701995) Volu-
me I : Antropologia. So Paul o: Ed.
Sumar/ANPOCS. pp. 109-223.
WAGNER, Roy. 1981. The I nvention of
Culture (2 ed.). Chicago: University
of Chicago Press.
___
. 1986. Symbols than Stand for
Themselves. Chi cago: Uni versi ty of
Chicago Press.
WHI TEHEAD, Al fred N. 1964 [1920].
Concept of Nature. Cambri dge:
Cambridge University Press.
WHITEHOUSE, Harvey. 2000. Arguments
and Icons: Divergent Modes of Reli-
giosity. Oxford: Oxford Uni versi ty
Press.
WI TTGENSTEI N, Ludwi g. 1982 [1930-
48]. Remarques sur le Rameau dOr
de Frazer. Pari s: LAge dHomme
(trad. J. Bouveresse).
O NATIVO RELATIVO 148
Resumo
Este arti go tenta extrai r as i mpl i caes
teri cas do fato de que a antropol ogi a
no apenas estuda rel aes, mas que o
conheci mento assi m produzi do el e
prpri o uma rel ao. Prope-se, assi m,
uma i magem da ati vi dade antropol gi -
ca como fundada no pressuposto de que
os procedimentos caractersticos da dis-
ci pl i na so concei tual mente de mesma
ordem que os procedimentos investiga-
dos. Entre tais implicaes, est a recu-
sa da noo corrente de que cada cultu-
ra ou soci edade encarna uma sol uo
espec fi ca de um probl ema genri co,
preenchendo uma forma uni versal (o
concei to antropol gi co) com um con-
tedo parti cul ar (as concepes nati -
vas). Ao contrri o, a i magem aqui pro-
posta sugere que os problemas eles mes-
mos so radi cal mente di versos, e que o
antroplogo no sabe de antemo quais
so eles.
Palavras-chave Conhecimento Antropo-
lgico, Imaginao Conceitual, Cultura,
Relao, Perspectivismo
Abstract
Thi s arti cl e attempts to extract the the-
oreti cal i mpl i cati ons ari si ng from the
fact that anthropol ogy not onl y studi es
relations, but that the knowledge it pro-
duces i n the process i s i tsel f a rel ati on.
I t therefore proposes an i mage of an-
thropol ogy as an acti vi ty founded on
the premi se that the procedures char-
acteri sti c of the di sci pl i ne are concep-
tual l y of the same order as those i t i n-
vesti gates. Among these i mpl i cati ons i s
the rejecti on of the contemporary no-
ti on that each cul ture or soci ety em-
bodi es a speci fi c sol uti on to a generi c
probl em, fi l l i ng a uni versal form (the
anthropol ogi cal concept) wi th a parti c-
ul ar content (the nati ve concepti ons).
Much the opposite: the image proposed
here suggests that the probl ems them-
sel ves are radi cal l y heterogeni c, and
that the anthropol ogi st cannot k now
beforehand what these wi l l be.
Key words Anthropological Knowledge,
Conceptual Imagination, Culture, Rela-
tion; Perspectivism
S-ar putea să vă placă și
- Manual Jeep Renegade 2016Document268 paginiManual Jeep Renegade 2016Pedro Brandão80% (5)
- Abu-Lughod - Escrita Contra A Cultura PDFDocument34 paginiAbu-Lughod - Escrita Contra A Cultura PDFGraziele DaineseÎncă nu există evaluări
- Ricoeur A Representacao Historiadora PDFDocument26 paginiRicoeur A Representacao Historiadora PDFCícero GarciaÎncă nu există evaluări
- Fichamento Sherry Ortner Poder e Projetos Reflexoes Sobre AgenciaDocument2 paginiFichamento Sherry Ortner Poder e Projetos Reflexoes Sobre AgenciaKelvisNascimento0% (1)
- Seduzidos Pela Memoria Andreas HuyssenDocument19 paginiSeduzidos Pela Memoria Andreas HuyssenJayme PignotÎncă nu există evaluări
- A Persistência Da RaçaDocument6 paginiA Persistência Da RaçaPatricia MartinezÎncă nu există evaluări
- Clifford, James. A Experiência Etnográfica Antropologia e Literatura No Século XXDocument23 paginiClifford, James. A Experiência Etnográfica Antropologia e Literatura No Século XXmarina_novoÎncă nu există evaluări
- Ai FGV CronogramaDocument16 paginiAi FGV Cronogramafabar200075% (8)
- Clifford, J. Sobre A Autoridade EtnográficaDocument26 paginiClifford, J. Sobre A Autoridade EtnográficaVivian Lee100% (4)
- sAHLINS, ESTRUTURA E HISTÓRIADocument4 paginisAHLINS, ESTRUTURA E HISTÓRIAJúlia Pessôa100% (1)
- Steil e Toniol. Crise No Conceito de Religião e Sua Incidência Na AntropologiaDocument21 paginiSteil e Toniol. Crise No Conceito de Religião e Sua Incidência Na AntropologiaRodrigo ToniolÎncă nu există evaluări
- Seminário Writing Against CultureDocument5 paginiSeminário Writing Against CultureEduardoÎncă nu există evaluări
- Maurice Godelier Tribo PDFDocument8 paginiMaurice Godelier Tribo PDFAdemário AshantiÎncă nu există evaluări
- Resenha A Outra Questão BhabhaDocument3 paginiResenha A Outra Questão BhabhaLuciana Novais MacielÎncă nu există evaluări
- Radcliffe-Brown - A Interpreta - o Dos CostumesDocument25 paginiRadcliffe-Brown - A Interpreta - o Dos Costumeslubuchala5592Încă nu există evaluări
- Tristes TrópicosDocument2 paginiTristes TrópicosJefferson Virgílio100% (3)
- Movimentos Cruzados, Historias Especificas, Greves Dos Metalurgicos e Canavieiros - Beatriz Heredia e José Sergio Leite LopesDocument562 paginiMovimentos Cruzados, Historias Especificas, Greves Dos Metalurgicos e Canavieiros - Beatriz Heredia e José Sergio Leite LopesMarcelo RamosÎncă nu există evaluări
- Georg Simmel e A Sociologia Da ModaDocument21 paginiGeorg Simmel e A Sociologia Da Modatheusma5Încă nu există evaluări
- Boleiros Do CerradoDocument4 paginiBoleiros Do CerradoAntonio Luis FerminoÎncă nu există evaluări
- 3 Desvio e Divergencia Gilberto VelhoDocument10 pagini3 Desvio e Divergencia Gilberto VelhoDaniela CardosoÎncă nu există evaluări
- SCHNEIDER, D. M. - O Parentesco AmericanoDocument10 paginiSCHNEIDER, D. M. - O Parentesco AmericanoLorraine Ribeiro MoiaÎncă nu există evaluări
- Resenha Espleho de Herodoto François HartogDocument4 paginiResenha Espleho de Herodoto François HartogAlan RodriguesÎncă nu există evaluări
- DESCOLA, Philippe. As Duas Naturezas de Lévi-Strauss PDFDocument17 paginiDESCOLA, Philippe. As Duas Naturezas de Lévi-Strauss PDFsegataufrn100% (1)
- James George Frazer O Escopo Da Antropologia SocialDocument4 paginiJames George Frazer O Escopo Da Antropologia SocialInocêncio pascoal100% (1)
- Otávio Velho - A Antropologia e o Brasil, HojeDocument6 paginiOtávio Velho - A Antropologia e o Brasil, HojeSarine SchneiderÎncă nu există evaluări
- Os Nuer Resumo Sist PoliticoDocument4 paginiOs Nuer Resumo Sist PoliticoDaniela CostaÎncă nu există evaluări
- Resenha KuperDocument6 paginiResenha KuperJosé GlebsonÎncă nu există evaluări
- Tese Breno Alencar - Versão Final Corrigida PDFDocument477 paginiTese Breno Alencar - Versão Final Corrigida PDFBreno AlencarÎncă nu există evaluări
- Sobre o Modo de Existencia Dos ColetivosDocument23 paginiSobre o Modo de Existencia Dos ColetivosKauã VasconcelosÎncă nu există evaluări
- Resenha - Antropologia Da CidadeDocument4 paginiResenha - Antropologia Da CidadeMiguel BustamanteÎncă nu există evaluări
- Explorando A Cidade: em Busca de Uma Antropologia UrbanaDocument20 paginiExplorando A Cidade: em Busca de Uma Antropologia UrbanaJulyana KetlenÎncă nu există evaluări
- Fichamento - Saberes Localizados - Donna HarawayDocument8 paginiFichamento - Saberes Localizados - Donna HarawayAlanna OliveiraÎncă nu există evaluări
- Resenha Do Artigo Algumas Formas Primitivas de Classificacao de Marcel Mauss e Emile DurkheimDocument9 paginiResenha Do Artigo Algumas Formas Primitivas de Classificacao de Marcel Mauss e Emile DurkheimArthur RamalhoÎncă nu există evaluări
- ANTROPOLOGIA Ensaios em Antropologia HistóricaDocument6 paginiANTROPOLOGIA Ensaios em Antropologia HistóricaLaura DouradoÎncă nu există evaluări
- AdlP U III Fonseca - Classe - e - A - Recusa - Etnografica - 2006 - 1 - PDFDocument21 paginiAdlP U III Fonseca - Classe - e - A - Recusa - Etnografica - 2006 - 1 - PDFDaniel Pedrito SaraviaÎncă nu există evaluări
- (Resenha) Boris KOSSOY - Realidades e Ficções Na Trama FotográficaDocument3 pagini(Resenha) Boris KOSSOY - Realidades e Ficções Na Trama FotográficaVachevertÎncă nu există evaluări
- Geertz, Clifford. Nova Luz Sobre A Antropologia PDFDocument14 paginiGeertz, Clifford. Nova Luz Sobre A Antropologia PDF_834222783Încă nu există evaluări
- O Método Compativo de RadcliffeDocument4 paginiO Método Compativo de RadcliffeHelem FogaçaÎncă nu există evaluări
- Inventario FundajDocument107 paginiInventario FundajIza RayanaÎncă nu există evaluări
- CARDOSO Ciro Como Elaborar Projeto PesquisaDocument6 paginiCARDOSO Ciro Como Elaborar Projeto PesquisaMariana de Oliveira SousaÎncă nu există evaluări
- Fichamento - Estrutura Ou Sentimento - A Relação Com o Animal Na Amazônia. Descola, PhilippeDocument2 paginiFichamento - Estrutura Ou Sentimento - A Relação Com o Animal Na Amazônia. Descola, PhilippeTatiÎncă nu există evaluări
- Briga de GalosDocument4 paginiBriga de GalosLP LppÎncă nu există evaluări
- A Experiencia FilosoficaDocument40 paginiA Experiencia Filosoficaotanerdias7641723100% (2)
- GEERTZ, C. Um Beliscão Do DestinoDocument10 paginiGEERTZ, C. Um Beliscão Do DestinoJordana BarbosaÎncă nu există evaluări
- Debate Entre Obras: Pacheco de Oliveira e Viveiros de CastroDocument6 paginiDebate Entre Obras: Pacheco de Oliveira e Viveiros de CastroAna Alice Lima100% (1)
- RADCLIFFE-BROWN - 1978 - O Método Comparativo em AntropologiaDocument9 paginiRADCLIFFE-BROWN - 1978 - O Método Comparativo em AntropologiaUgo MaiaÎncă nu există evaluări
- Da Memória Ao Arquivo, JESUS, A. S.Document14 paginiDa Memória Ao Arquivo, JESUS, A. S.Alexandro JesusÎncă nu există evaluări
- Trabalho Hsitoria Antiga Finalisado Nalise FilmicaDocument8 paginiTrabalho Hsitoria Antiga Finalisado Nalise FilmicaJoão GuilhermeÎncă nu există evaluări
- Renzo Taddei - O Lugar Do Saber Local Sobre Ambiente PDFDocument16 paginiRenzo Taddei - O Lugar Do Saber Local Sobre Ambiente PDFAnita LinoÎncă nu există evaluări
- O Método GenealógicoDocument17 paginiO Método GenealógicoQuentin Xquire100% (1)
- Resenha Lévi-StraussDocument8 paginiResenha Lévi-StraussWillian SousaÎncă nu există evaluări
- O Nativo e o NarrativoDocument12 paginiO Nativo e o NarrativosermolinaÎncă nu există evaluări
- Wamreme Zara Nossa Palavra Mito e Historia Do PovDocument16 paginiWamreme Zara Nossa Palavra Mito e Historia Do PovEduardoÎncă nu există evaluări
- SAHLINS, Marshall. A Sociedade Afluente Original. in Cultura Na Prática. Rio de Janeiro, Editora UFRJ, 2007Document20 paginiSAHLINS, Marshall. A Sociedade Afluente Original. in Cultura Na Prática. Rio de Janeiro, Editora UFRJ, 2007Jaoa de MelloÎncă nu există evaluări
- As Religiões Africanas No BrasilDocument9 paginiAs Religiões Africanas No BrasilGiulia BenvenutiÎncă nu există evaluări
- Aqui se jaz, aqui se paga: a mercantilização da morte, do morrer e do lutoDe la EverandAqui se jaz, aqui se paga: a mercantilização da morte, do morrer e do lutoÎncă nu există evaluări
- Resistir para existir: O samba de véio da ilha do MassanganoDe la EverandResistir para existir: O samba de véio da ilha do MassanganoÎncă nu există evaluări
- Maquinaria da unidade; bordas da dispersão: Estudos de antropologia do EstadoDe la EverandMaquinaria da unidade; bordas da dispersão: Estudos de antropologia do EstadoÎncă nu există evaluări
- Somos Todos Primatas. E o Que a Antropologia Tem a Ver Com Isso?De la EverandSomos Todos Primatas. E o Que a Antropologia Tem a Ver Com Isso?Încă nu există evaluări
- RGPS - Características e Regras Gerais PDFDocument162 paginiRGPS - Características e Regras Gerais PDFLaryssa RodriguesÎncă nu există evaluări
- ELI DimensionamentoDocument37 paginiELI Dimensionamentoscorpion-acmÎncă nu există evaluări
- Descritivo Com Fazer Cerveja Com Kit Extrato e GraosDocument8 paginiDescritivo Com Fazer Cerveja Com Kit Extrato e GraosKati RodriguesÎncă nu există evaluări
- Memorial Descritivo SaneamentoDocument9 paginiMemorial Descritivo Saneamentovinicius frazetoÎncă nu există evaluări
- 006 Seletivo Aluno SJR EDITAL #162020Document72 pagini006 Seletivo Aluno SJR EDITAL #162020alvesyan683Încă nu există evaluări
- Lista de Exercício Operações Unitária - EXTRAÇÃODocument4 paginiLista de Exercício Operações Unitária - EXTRAÇÃOBruno SantosÎncă nu există evaluări
- Métodos e Princípios de Sistemática BiológicaDocument42 paginiMétodos e Princípios de Sistemática BiológicaNatália SouzaÎncă nu există evaluări
- Metodologia Do Trabalho CientíficoDocument4 paginiMetodologia Do Trabalho CientíficoLucas CostaÎncă nu există evaluări
- Ficha 8 Nov., 14 - 11º AnoDocument2 paginiFicha 8 Nov., 14 - 11º AnofurmarioÎncă nu există evaluări
- Tabela Dos Coeficientes e Fatores Da Vantagem Da Coisa FeitaDocument1 paginăTabela Dos Coeficientes e Fatores Da Vantagem Da Coisa FeitaSamuelOliveiraÎncă nu există evaluări
- Manual Do Estudante Abepro e Abepro Jovem Edia A o 2014 1 PDFDocument51 paginiManual Do Estudante Abepro e Abepro Jovem Edia A o 2014 1 PDFElsin SilvaÎncă nu există evaluări
- Questões - Música Na EducaçãoDocument7 paginiQuestões - Música Na EducaçãoSalatiel NunesÎncă nu există evaluări
- Ficha de Trabalho EquaçõesDocument10 paginiFicha de Trabalho EquaçõesEmilia ReisÎncă nu există evaluări
- Atividade Contextualizada - SISTEMA DE CONTROLE E QUALIDADE - 01196094 - ENG. MECÂNICA - SÉRGIO HENRIQUE TEIXEIRA MELLODocument2 paginiAtividade Contextualizada - SISTEMA DE CONTROLE E QUALIDADE - 01196094 - ENG. MECÂNICA - SÉRGIO HENRIQUE TEIXEIRA MELLOSérgio Mello100% (1)
- Biblioteconomia Alexandria em Chamas FichamentoDocument9 paginiBiblioteconomia Alexandria em Chamas FichamentoOlivia DiasÎncă nu există evaluări
- Faturando Com PLR - Sua Receita de Ganhar DinheiroDocument3 paginiFaturando Com PLR - Sua Receita de Ganhar DinheiroRodnei OliveiraÎncă nu există evaluări
- Lista 3Document4 paginiLista 3ghdfgÎncă nu există evaluări
- U1 Aula8 Escalas CartograficasDocument10 paginiU1 Aula8 Escalas CartograficasIgor Amaral PessoaÎncă nu există evaluări
- AminaDocument3 paginiAminaMicas MachavaÎncă nu există evaluări
- Rochas MetamórficasDocument15 paginiRochas MetamórficasjoaoÎncă nu există evaluări
- Crescimento e Desenvolvimento EconomicoDocument4 paginiCrescimento e Desenvolvimento EconomicoGustavo TonettoÎncă nu există evaluări
- Apostila - Educação AmbientalDocument147 paginiApostila - Educação AmbientallukazoxboyÎncă nu există evaluări
- Entrega 04 - Carta A Um Jovem Investigador em EducaçãoDocument2 paginiEntrega 04 - Carta A Um Jovem Investigador em EducaçãoRodrigo Medeiros LehnemannÎncă nu există evaluări
- Iii 021Document7 paginiIii 021Renata SilvaÎncă nu există evaluări
- N1228Document9 paginiN1228Jose Alejandro Mansutti GÎncă nu există evaluări
- Apostilha - Vetores Mecnica-2011-1Document13 paginiApostilha - Vetores Mecnica-2011-1Schena94Încă nu există evaluări
- Física 23 - Princípios Da Eletricidade e Lei de CoulombDocument7 paginiFísica 23 - Princípios Da Eletricidade e Lei de CoulombPaulo VieiraÎncă nu există evaluări
- Sistema de Gestao Ambiental (ISO 14001)Document14 paginiSistema de Gestao Ambiental (ISO 14001)Wanderson MouraÎncă nu există evaluări