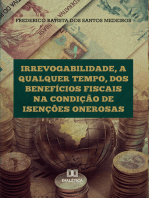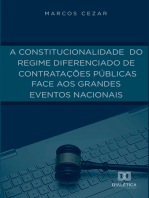Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Princípio Da Anualidade
Încărcat de
api-194973700 evaluări0% au considerat acest document util (0 voturi)
347 vizualizări26 paginiTitlu original
Princípio da Anualidade
Drepturi de autor
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formate disponibile
DOC, PDF, TXT sau citiți online pe Scribd
Partajați acest document
Partajați sau inserați document
Vi se pare util acest document?
Este necorespunzător acest conținut?
Raportați acest documentDrepturi de autor:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formate disponibile
Descărcați ca DOC, PDF, TXT sau citiți online pe Scribd
0 evaluări0% au considerat acest document util (0 voturi)
347 vizualizări26 paginiPrincípio Da Anualidade
Încărcat de
api-19497370Drepturi de autor:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formate disponibile
Descărcați ca DOC, PDF, TXT sau citiți online pe Scribd
Sunteți pe pagina 1din 26
FINANÇAS PÚBLICAS
Docentes: Prof. Doutora Nazaré da Costa
Cabral
Mestra Maria João
Palma
O PRINCÍPIO DA ANUALIDADE
DO ORÇAMENTO DO ESTADO
Ricardo M. N. Bernardes
Aluno nº 15768, Turma de Dia, Subturma 3
Ano Lectivo 2008/09
I – INTRODUÇÃO
O princípio da anualidade do Orçamento do Estado tem a sua
sede
jurídico-positiva nos arts. 106 da CRP e 4 da Lei de
Enquadramento Orçamental (doravante designada LEO), Lei
nº 91/2001, de 24 de Agosto, com as alterações introduzidas
pela Lei nº 48/2004, de 24 de Agosto.
O objectivo do pequeno estudo que ora se apresenta, será
determinar o conteúdo e implicações do princípio em apreço e
bem assim, detectar momentos de aplicação prática do
mesmo na jurisprudência nacional, com especial destaque
para o Acórdão nº 108/88 do Tribunal Constitucional, que será
objecto de análise, com as limitações inerentes ao âmbito de
trabalho que delineámos.
II – ORIGEM E ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Como nota SOUSA FRANCO1, não pode afirmar-se que a
anualidade seja uma regra implícita na própria ideia de
Orçamento. Com efeito, existiram experiências históricas que
depõem em sentido contrário, hoje abandonadas, e na Europa
a regra só começou a afirmar a sua centralidade no Direito
Financeiro com a Revolução Inglesa de 1688/89 e o Bill of
Rights, texto fundamental do Direito Público daquele Estado.
Entre nós, a anualidade teve acolhimento formal expresso
desde os primeiros textos do Constitucionalismo liberal
incluindo na versão original da CRP de 1976, de onde foi
eliminada com a Revisão Constitucional de 1982.
Desde essa data, apesar de só voltar a ser restaurada em
1997, houve um consenso doutrinário e jurisprudencial no
sentido da afirmação desta directriz como eixo fundamental
da Constituição Financeira, argumentando-se,
nomeadamente, que ela se extraía do disposto nos arts2. 93
c) e 108/2.
III – CONTEÚDO
I – A anualidade, enquanto regra de observância necessária,
exprime-se em duas premissas fundamentais:
o Aprovação de um Orçamento por cada ano;
o Execução do Orçamento no decorrer de um só
ano (ie, apenas no ano para o qual foi aprovado);
Previamente, haveria que delimitar temporalmente esse ano,
o qual, de acordo com o disposto no art. 4/4 LEO, coincide
com o ano civil, opção fundada em imperativos de ordem
prática, que não foi sempre a seguida em termos históricos,
nem encontra eco noutras experiências de Direito Comparado
(as especificidades do ritmo de funcionamento do Parlamento
e outras razões ponderosas, podem ditar, como acontece na
Grã-Bretanha, nos EUA ou na Suécia, a adopção doutro
sistema. Mesmo em Portugal não foi sempre esta a escolha
feita, pelo menos até 1936)3.
Tradicionalmente a opção pela anualidade funda-se em duas
ordens de razões: de tipo económico e de tipo político.
No primeiro caso, costuma afirmar-se que este é um bom
período para os cálculos económicos, pois é o período normal
de referência para os restantes agentes económicos (os
particulares, que normalmente organizam o sistema de
despesas e receitas da vida familiar, planeando-a em
horizontes de um ano, mas sobretudo as empresas, por ser
este o lastro temporal que serve de referência às obrigações
contabilísticas e fiscais), além de que, um horizonte temporal
mais longo, como bem se compreende, aumentaria os riscos
de incerteza e falibilidade das previsões orçamentais –
proposição que nos parece de especial acuidade nos tempos
que correm, marcados pela incerteza no campo económico e
pela necessidade de revisão das previsões feitas quanto à
evolução dos principais indicadores económicos – e
concomitantemente traria mais dificuldades à execução do
Orçamento.
Do ponto de vista político, agita-se a bandeira da maior
facilidade de controlo da AR sobre a actividade do Governo,
i.e., argumenta-se que o acompanhamento parlamentar da
execução orçamental, se diferido para um período mais
extenso, tornar-se-ia menos eficiente por não ser tão regular.
Esta acepção envolve uma petição de princípio: a de que o
mecanismo de gestão da actividade económica do Estado
deve passar pelo modelo de repartição de funções entre o
poder Legislativo e o Executivo gizado pela CRP, nos termos
do qual, a definição e aprovação da política orçamental
caberiam ao Parlamento, sob proposta do governo4, mas a
sua execução5 ficaria a cargo daquele, sob controlo e
fiscalização da AR.
No entanto, em parte, entre nós, esta é uma tradição que
encontra os seus vestígios enraizados em momentos
temporais muito anteriores ao Constitucionalismo liberal,
quando as premissas da limitação e da separação de poderes
se afirmaram nas sociedades ocidentais. Com efeito, as
Cortes Medievais dos primeiros tempos da Independência do
Reino, já assentavam largamente neste entendimento, pois,
muito embora fosse ao Rei que competisse governar, era
habitual que colocasse à consideração dos representantes dos
três braços das ordens sociais do Reino, as questões
económicas mais relevantes, como sejam a fixação dos
impostos e a definição do valor da moeda.
Já a necessidade de a AR sindicar a actividade do Governo,
designadamente em matéria de execução orçamental,
inscreve-se no âmbito da responsabilidade política,6
especificidade dos Regimes Democráticos e, muito em
particular, de sistemas de governo com matriz parlamentar,
como o nosso.
II – Para garantir a aprovação atempada do OE e para que
este possa entrar em vigor logo no início do ano, o legislador
sentiu necessidade de definir algumas regras, maxime
tendentes à simplificação e maior celeridade do procedimento
de emissão desta lei. Assim, a proposta de lei do Orçamento
deverá ser apresentada pelo Governo impreterivelmente até
dia 15 de Outubro de cada ano (art. 38/1 LEO) e a sua
discussão e votação deverá fazer-se no prazo máximo de 45
dias, após a data da respectiva admissão na Assembleia da
República (art. 39/2).
Por outro lado, o art. 39/4 da LEO vem afastar o disposto no
art. 168/3 CRP7, ao determinar, ao contrário do que a
Constituição estipula para a generalidade dos casos, que a
votação na especialidade da proposta de Orçamento se faz,
não no Plenário, mas em Comissão especializada8, sem
prejuízo de algumas matérias terem de ser obrigatoriamente
votadas no Plenário (art. 39/5: criação, extinção e alteração
de impostos, bem como matérias relativas a empréstimos e
outros meios de financiamento do Estado). É um regime que
responde não só às necessidades de celeridade e
simplificação procedimental, mas também à especificidade da
matéria em causa, marcada por um elevado nível de
tecnicidade que recomenda a sua análise por parlamentares
especializados, em Comissão, vocacionando-se, o Plenário
preferencialmente, para a discussão de questões políticas
gerais.
Os prazos referidos anteriormente podem ser afastados
mediante factos político-económicos relevantes, tipificados na
própria lei. Nessa linha, a obrigação de apresentação da
proposta de Orçamento até 15 de Outubro não se aplica (art.
38/2):
1. Se o Governo se encontrar demitido9 nessa data – o
que é um reflexo do disposto no art. 186/5 CRP, nos
termos do qual, os governos de gestão só podem
praticar “os actos estritamente necessários para
assegurar a gestão dos negócios públicos”;
2. Se a tomada de posse do novo Governo ocorrer
entre 15 de Julho e 14 de Outubro – por razões
meramente de ordem prática, porque se considera que
um governo empossado em data tão próxima àquela
em que deveria apresentar a proposta de Orçamento,
não teria tempo de elaborá-la correctamente;
3. Se o termo da legislatura ocorrer entre 15 de
Outubro e 31 de Dezembro – com esta exigência o
legislador pretendeu assegurar, não só o tempo e a
serenidade necessárias para a apreciação de um
documento fundamental para a vida do país – que
estariam em perigo se os Deputados, prestes a ver o
seu mandato cessar, tivessem que apreciar o
Orçamento apressadamente – mas também a não
contaminação do debate do Orçamento com a
discussão política acesa dos períodos prévios a eleições
legislativas, e a não vinculação da nova maioria a sair
de eleições, às decisões tomadas pela anterior, quase a
cessar funções. Teve-se, talvez, ainda em vista, evitar a
caducidade da proposta e a necessidade da sua
reapresentação, no caso de a legislatura terminar antes
que a mesma tenha sido votada10.
Nesses casos, o governo dispõe de um novo prazo (art. 38/3)
– que é de três meses a contar da data da sua posse.
Tenha-se presente, contudo, que ao acolher as exigências de
celeridade que a matéria impõe, o legislador procurou não
obnubilar as garantias de um procedimento legislativo
esclarecido e contraditório, pois que cuidou de ressalvar a
possibilidade de avocação, pelo Plenário, da discussão e
votação na especialidade (art. 39/6) e ainda de garantir que
podem ser feitas quaisquer audições e consultas, nos termos
gerais (art. 39/7/8).
III – Para concluir, importa determinar que tipo de despesas e
receitas previstas concretamente se inscrevem no
Orçamento. Teoricamente seriam possíveis dois modelos: o
do Orçamento de Gerência – segundo o qual se inscrevem na
lei orçamental as receitas e despesas a cobrar e realizar
efectivamente durante o ano de execução,
independentemente do momento em que tenham sido
constituídas – e do Orçamento de Exercício – que postula uma
inscrição dos créditos e débitos gerados num dado período de
execução, abstraindo do momento em que venham a cobrar-
se ou a pagar-se.
Por outras palavras, no Sistema de Exercício atende-se ao momento
em que são criadas despesas e receitas de tal forma que, se o acto
jurídico criador das mesmas ocorrer p. exº no ano de 2008, é no
Orçamento desse ano que elas se inscrevem, mesmo que só se
venham a realizar e cobrar muito tempo depois.
Já no Sistema de Gerência o que interessa é o que se vai pagar ou o
que se vai cobrar no concreto ano a que se reporta o Orçamento.
Assim, se p. exº no ano de 2008 for criada uma receita, mas essa
receita só é recebida nos anos seguintes, ela só se inscreve nos
Orçamentos dos anos seguintes e na proporção em que for
efectivamente recebida em cada um desses anos.
O legislador português optou pelo primeiro deles, embora a
previsão de um período complementar de Execução
Orçamental, nos termos que analisámos supra, represente um
aceno ao segundo modelo (que não permite, em absoluto,
referir que foi aquele o escolhido por o citado mecanismo de
execução parlamentar, ser, aos olhos da lei, uma mera
possibilidade). 11
As vantagens e desvantagens de cada um dos sistemas são
controvertidas, mas reservamos uma referência a esta
questão para a parte final deste trabalho, onde tomaremos
posição sobre o problema.
IV – DESVIOS À REGRA DA ANUALIDADE
O princípio conhece três desvios legalmente previstos, que
passaremos a analisar:
A. O Período Complementar de Execução Orçamental,
genericamente admitido pelo art. 4/5 da LEO;
12
B. O Período Transitório de Execução Orçamental –
art. 41, sob a designação, de “Prorrogação do
Orçamento”;
C. Os Instrumentos económicos assentes num
enquadramento de médio prazo;
A. Período Complementar de Execução
Orçamental
I – Corresponde a uma possibilidade, genericamente prevista
pelo
art. 4/5, de o fecho da execução orçamental das despesas13
acontecer depois do término do ano a que se refere o
Orçamento. 14É o DL que define as regras da Execução
Orçamental para cada ano que deve prever ou não a
existência deste período e delimitá-lo temporalmente. A
opção habitual ia no sentido de prolongá-lo até 15 de
Fevereiro, mas, nos últimos anos tem durado apenas até 21
de Janeiro.
Como pode facilmente inferir-se do que ficou dito, esta é uma
opção que tem sido invariavelmente utilizada por todos os
governos, ano após ano e, por isso, não causa particular
surpresa que possamos detectar tal período expressamente
consagrado no art. 9º do DL 41/2008, de 10 de Março, que
define as regras de execução orçamental para 2008 – de
harmonia com o número 1 do preceito citado, prolonga-se até
7 de Janeiro de 2009.
II – Apesar da assiduidade com que é previsto, ele já foi
considerado inconstitucional por violação da regra da
anualidade, por o texto constitucional não lhe prever
excepções e por, a coincidência do ano orçamental com o ano
civil conduzir a que, começando um novo ano, entre de
imediato em vigor o respectivo Orçamento, desembocando-se
assim numa situação de sobrevigência de Orçamentos, não
querida pela Constituição, se o referente ao ano anterior
ainda estiver a executar-se.15
B. Período Transitório de Execução Orçamental
I – Já o Período Transitório de Execução visa responder a
situações de excepção em sentido próprio, enunciadas nas
als. a) a d) do número 1 do
art. 41, a saber:
1. Rejeição da proposta de lei de OE apresentada pelo
Governo – como o Estado não pode ficar sem
Orçamento, entende-se que, até ser aprovada nova
Proposta, o Orçamento do ano anterior deve continuar a
vigorar. No entanto, como se trata de uma solução de
emergência isso não isenta o Governo de reapresentar
outras propostas, designadamente, alterando os
aspectos que tenham motivado a discordância
parlamentar.
Quid iuris, porém, se a AR não aprovar, sistematicamente,
nenhuma das propostas apresentadas pelo Governo? SOUSA
FRANCO 16entende que “ a votação do Orçamento é um dever,
mas a sua não aprovação (…) equivale a uma não confiança
prática no Governo ou em algum dos seus membros”.
Ao prever a prorrogação de vigência, terá o legislador querido
também referir-se a esta situação de crise? Acreditamos que
não, ou seja, que o preceito citado visa dar resposta a
discordâncias pontuais entre Executivo e Parlamento e não a
situações como esta, que denunciam uma clara quebra da
relação de confiança política entre o Corpo Legislativo e o
Executivo. Como essa relação de confiança é condictio sine
qua non da manutenção do Governo em funções, a solução do
impasse deve seguir os quadros gerais do Direito
Constitucional: cabe ao Presidente da República, de harmonia
com a sua função de moderador do sistema que, no limite,
poderá optar por uma dissolução parlamentar (arts. 172,
113/6 e 133 e) CRP) ou pela mera demissão do Governo (art.
195/2).
2. Se tiver entrado em funções um novo Governo e a
sua posse se tenha dado entre 1 de Julho e 30 de
Setembro17 – aqui pretendeu-se salvaguardar a hipótese
de o Governo, por ter sido recentemente empossado,
não ter tempo de preparar a proposta a apresentar,
maxime se a posse tiver ocorrido nos meses de Verão,
depois do término da sessão legislativa.
Para entender o exacto alcance desta disposição é preciso
articulá-la com o preceituado nos arts. 38/2 b) e 38/3 que
permitem um prolongamento do prazo de iniciativa legislativa
de OE para três meses a contar da data da posse do Governo,
se esta ocorrer entre 15 de Julho e 14 de Outubro. Assim, ao
prever o disposto na al. b) do art. 41/1, o legislador deverá ter
pensado especialmente na hipótese de a posse se dar em
data que, atentos os 90 dias do art. 38/3, apenas obrigasse à
apresentação da proposta de OE depois do início de um novo
ano, havendo que acautelar que algum Orçamento vigoraria
quando o ano anterior terminasse e enquanto o novo OE não
tivesse sido aprovado.
3. Caducidade da proposta de Lei do OE por demissão
do Governo proponente ou de o governo anterior não
ter apresentado qualquer proposta – a razão de ser
deste preceito não é muito clara: mesmo que um
governo demitido tenha apresentado uma proposta que
caduque, ou não tenha apresentado proposta alguma,
se o novo Governo não tomar posse em data próxima
ao final do ano económico não se vê onde esteja o risco
de não aprovação atempada de um OE justificador da
prorrogação do anterior!
Se tal acontecer não será resultado de escassez de tempo ou
qualquer outro factor compreensível, mas apenas de mera
passividade e displicência do novo Executivo. Ainda assim o
legislador quis acautelar essa hipótese, prevendo que não
seria por isso que o país ficaria sem Orçamento.
Consequentemente, a
al. c) parece-nos uma espécie de válvula de escape que
garante uma solução para o problema da inexistência de OE
aprovado ao tempo em que deveria entrar em vigor, sem
pesar se existem ou não motivos atendíveis para essa não
aprovação.
Não dizemos que um preceito deste tipo não seja necessário,
desde logo, porque o que se visa com esta disposição não é
dar mais tempo ao Governo ou isentá-lo do cumprimento dos
prazos apertados que resultam das regras gerais – já que essa
é a função do art. 38/3 – ante razões ponderosas, mas apenas
acautelar que existe uma solução e evitar o caos que seria se
se entrasse num novo ano e não houvesse Orçamento pronto
para começar a vigorar.
Mas, se assim é, por que razão insistir em requisitos atinentes
a vicissitudes do funcionamento das instituições Democráticas
(ie, exigir, em qualquer caso, que tenha havido sucessão de
dois governos, um empossado e outro demitido)? Parece-nos
que teria sido mais fácil transformar esta disposição numa
cláusula geral, do género “ se, em qualquer caso, terminar o
ano económico sem que nenhum Orçamento novo tenha sido
aprovado”.
Ainda uma precisão: só a demissão do governo anterior
importa a caducidade da proposta que ele tenha apresentado
(se não votada). No caso de não ter sido apresentada
proposta alguma, não há o que caducar!
4. A não votação parlamentar da proposta de lei do
18
OE – a não votação de uma proposta de lei é que
importa a sua caducidade. Parece ter havido aqui um
equívoco por parte do legislador: esta hipótese é que
cabia nos casos de caducidade enunciados na al.
anterior, enquanto que a ausência de iniciativa por
parte de um governo que termina as suas funções
deveria ter tido previsão autónoma;
Ao confrontarmos as als. do art. 41/1 parece claramente que
estamos diante de uma enumeração taxativa. O que
acontecerá assim se, no início do ano económico, não houver
nenhum Orçamento pronto a entrar em vigor, mas nenhum
destes requisitos estiver preenchido? Aparentemente, o OE do
ano anterior não poderia continuar a vigorar. No entanto,
remetemos uma referência mais aprofundada a esta questão
para momento posterior quando nos debruçarmos sobre a
admissibilidade dos chamados Orçamentos Provisórios.
II – Numa tentativa de síntese, dir-se-ia que pode lançar-se
mão desta solução de recurso sempre que seja impossível a
votação do Orçamento de modo a entrar em vigor a 1 de
Janeiro: até que seja possível entrar em vigor o novo, o
Orçamento antigo continua a vigorar. No entanto, algumas
disposições não podem subsistir após 31 de Dezembro,
caducando imediatamente nessa data – são as enunciadas no
art. 41/3.
Um exemplo importante de disposições que caducam no final
do ano será o das autorizações legislativas em matéria fiscal:
é relativamente comum que o Governo aproveite a Lei do
Orçamento para se munir de autorizações legislativas19
parlamentares sobre certas matérias integradas na reserva
relativa de competência legislativa da AR;20 porém, versando
essas autorizações matéria fiscal, seguirão um regime próprio
na medida em que não caducam nos termos gerais do art.
165/4 CRP, mas apenas com o termo do ano económico a que
respeitam (art. 165/5), devendo entender-se, pela
interpretação sistemática dos arts. 165/5 CRP e 41/3 a) LEO,
que não subsistem para além desse ano económico, não
podendo continuar em vigor transitoriamente.
Uma questão controversa, foi a de saber se a prorrogação só
abrangia as disposições relativas às despesas ou também as
que versassem receitas, pois o art. 15 da LEOE referia que “se
mantém em vigor por duodécimos o orçamento do ano
anterior” e a execução orçamental por duodécimos21 diz
apenas respeito às despesas (cfr. art. 41/4). Hoje, perante a
redacção do
art. 41/3 b), parece dever entender-se que também subsistem
as autorizações para cobrança de receitas, a não ser que dos
respectivos regimes se retire que se destinavam somente a
vigorar até ao final do ano económico.
Diversamente, não oferece dúvidas à face da letra da lei (art.
41/2) que a vigência transitória abrange tanto o articulado
como os Mapas Orçamentais, e bem assim os diplomas que
regulam a execução orçamental, ficando ressalvada a
possibilidade de o Governo aprovar novos diplomas para esse
período, se entender necessário (art. 41/8).
Por outro lado, o carácter excepcional da situação económica
associada ao prolongamento de OE que não foi pensado para
aquele ano económico, não retira à Administração poder para
realizar certas operações económicas de relevo,
designadamente emitir dívida pública e conceder crédito ou
garantias pessoais – tal o que resulta do disposto no art. 43/5.
Um aspecto importante a frisar é que, um pouco à
semelhança do que acontece com o período complementar de
execução orçamental, as operações de receita e despesas
executadas depois do início de um novo ano, mas ainda ao
abrigo do OE do ano anterior, são imputadas ao Orçamento
novo, assim que ele entrar em vigor (art. 41/6). Na prática,
isto significa que, independentemente do momento em que
comece a vigorar, o novo OE produzirá efeitos retroactivos
(retroage a 1 de Janeiro, momento em que devia ter entrado
em vigor), circunstância que torna relativamente insólita a
designação de “prorrogação da vigência da lei do Orçamento”
que o legislador atribuiu a este instituto, por desaguar numa
sobrevivência de dois Orçamentos enquanto o do ano anterior
se executar transitoriamente.22 Mas a imputação da
actividade orçamentar desenvolvida no período transitório ao
novo Orçamento aprovado com atraso, poderia igualmente
colocar problemas no caso de este não prever certas
dotações ou alterar certas rubricas ao abrigo das quais
tenham sido realizadas despesas na fase de prorrogação da
vigência do OE do ano anterior.
Assim, imagine-se p. exº que o OE de 2008 previa dotações para a
realização de despesas ao abrigo de um determinado programa e que
em 1 de Janeiro de 2009 não havia novo OE pronto para entrar em
vigor, tendo que recorrer-se à prorrogação da vigência do anterior.
Quid iuris no caso de, no período de vigência transitória do OE de
2008 continuarem a realizar-se despesas por conta das dotações
feitas para esse programa, se o OE de 2009, ao qual essas despesas
devem ser imputadas, eliminasse as dotações para esse programa?
A questão é, no entanto, resolvida pela própria lei que
determina (art. 41/7) que, nessa eventualidade, o DL emitido
para regular a execução orçamental do novo OE, aprovado
tardiamente, deve conter disposições para fazer face ao
problema.
III – O período transitório de vigência tem hoje (felizmente)
pouca aplicação prática, mas já se revelou fundamental nos
primeiros tempos da Democracia Constitucional, quando, por
força da instabilidade política reinante, poucos governos
conseguiram permanecer em funções o tempo necessário
para aprovar atempadamente os Orçamentos que lhes
competiam.23 Todavia,
trata-se de uma figura de contornos jurídicos bem definidos,
que não pode confundir-se com outras vicissitudes da lei ou
da proposta de OE:
a. Primo, não se confunde com os chamados
Orçamentos Provisórios24 em que o está em causa não é
o prolongamento da vigência de um OE para além do
ano económico a que se reporta, mas a aprovação de
um novo OE, à margem das regras legais e
procedimentais estabelecidas para o efeito, para fazer
face às necessidades da vida económica do Estado,
quando começar um novo ano e nenhum Orçamento
exista pronto para entrar em vigor.
Trata-se de um mecanismo já usado pelo VIII Governo
Constitucional (PINTO BALSEMÃO) que, demissionário à data
em que deveria apresentar ao Parlamento um OE, e por
entender que o do anterior, se prorrogado, não poderia fazer
face às necessidades do Estado, apresentou mesmo assim
uma proposta de Orçamento, dita (impropriamente)
provisória25 no sentido em que não seguia as regras
estabelecidas e visava apenas fazer face “às maiores
emergências”.
A sua admissibilidade é controvertida à face do art. 186/5 CRP
que limita os poderes dos governos de gestão à prática dos
actos estritamente necessários para gerir os “negócios
públicos”. Mas não há consenso na doutrina quanto a saber o
que venham a ser estes actos, e há quem defenda que podem
incluir a apresentação de uma proposta de OE “verificando-se
manifesta insuficiência dos meios financeiros previstos do ano
anterior” 26.
Esta figura (que opera pela alteração do Orçamento anterior)
pode ter virtualidades em duas situações: se o governo
estiver impossibilitado de apresentar uma proposta de
Orçamento a tempo de entrar em vigor no início do ano
(porque está demissionário, não em mais nenhum outro caso)
e, ou não puder aplicar-se o instituto da prorrogação da
vigência (art. 41), por falta de preenchimento dos respectivos
pressupostos, ou o Orçamento anterior prolongado não
permitir fazer face às necessidades do país.
Repare-se que no primeiro caso, o principal óbice no não
reside no
art. 186/5 CRP (pois há quem entenda que os actos
necessários para fazer face aos “negócios públicos” podem
incluir legislar, ou promover uma iniciativa legislativa27) mas
no facto de a própria legitimidade democrática do Executivo
estar muito abalada. Além disso, não pode deixar de ter-se
em conta que esta figura não tem qualquer base jurídico-
constitucional expressa.
O Orçamento Provisório não pode reflectir novas opções de
política económica, em coerência com o estatuto do Governo,
enquanto governo de Gestão, que se recorta de uma
interpretação cuidada do art. 186/5 CRP.
Por fim, deve salientar-se que o mesmo instituto pode
apresentar-se sob múltiplas designações (p. exº Orçamento
de Emergência, Orçamento de Salvação Nacional…). As
considerações atrás feitas valem, pois, independentemente
do nomen iuris.
b. Também não se confunde com as Alterações
Orçamentais reguladas nos arts. 49 ss. Aqui nem se
prolonga a vigência de um Orçamento, nem se aprova
outro novo provisoriamente, apenas se altera o
Orçamento em vigor por as projecções que contém em
matéria de despesas e receitas estarem distanciadas da
realidade económica vivenciada e se prever que
venham a falhar.
A confusão poderia advir da circunstância de termos referido
há pouco que o Orçamento provisório operaria através de
uma proposta de alteração do OE existente: pois bem, aquela
alteração resulta de o mesmo permanecer em vigor depois do
ano económico para o qual foi aprovado (daí poder estar
naturalmente desajustado da realidade económica, uma vez
que não foi pensando para vigorar além do período de um
ano), enquanto esta da circunstância de, muito embora ainda
se estar no mesmo ano económico, algum circunstancialismo
económico imprevisto ou uma mera deficiência nas
projecções do Governo, o terem tornado manifestamente
desajustado do ciclo económico. Quer dizer: altera-se o OE
para não o fazer andar a contra ciclo, não por qualquer desejo
de perenizá-lo para além do termo do ano económico.
Quando assim acontecer, estamos diante de um
procedimento Orçamental derivado que segue, mutatis
mutandis, as regras do procedimento Orçamental Originário
(art. 50/1), sem prejuízo da possibilidade de a própria lei de
OE 28definir algumas directrizes complementares que
nortearão a sua alteração (art. 49/2) e de o Governo poder
fazer outro tanto por DL (art. 50/2).
Um importante desvio à equiparação do procedimento orçamental
derivado ao originário é a possibilidade de o próprio Governo poder,
internamente e por DL, aprovar certas alterações ao Orçamento – as
previstas no art. 51.
Note-se, também, que no actual quadro jurídico-
constitucional, não há a mínima hipótese de o Governo tentar
fazer aprovar alterações ao OE por DL, para lá dos casos do
art. 51, argumentando v.g. a existência de uma situação de
emergência que impossibilitaria a apresentação da
competente proposta de Lei ao Parlamento. Nem mesmo no
caso de a AR se encontrar dissolvida (pois subsiste, enquanto
isso, uma Comissão Permanente que poderá ser convocada se
necessário – art. 172/3 CRP), ou ter sido declarado um estado
de excepção (porque a declaração do Estado de Sítio ou do
Estado de Emergência não afecta a competência nem o
normal funcionamento dos órgãos de soberania art. 19/7
CRP).
Mais uma vez vale aqui um princípio de substancialidade:
deve entender-se que estas alterações estão vedadas, quer a
DL que expressamente se disponha a fazê-lo, quer a outro
que o faça indirectamente ou sem alusão expressa, como
seria o caso de se tentar fazer passar tais alterações no
próprio DL de Execução Orçamental.
c. Algo diverso seria também a possibilidade de
efectivação de alterações ao Orçamento por outras leis
29
, o que poria em risco a regra da anualidade na
medida em que deixaria um OE, pensado e aprovado
para vigorar durante todo o ano económico, exposto a
qualquer acto legislativo posterior que, tendo
implicações em matéria financeira, viesse directa ou
indirectamente a abalá-lo. A matéria prestar-se-ia a
desenvolvimentos mas cumpre-nos apenas referir que
essa possibilidade foi recusada pelo legislador
constitucional português, na hipótese de os outros
legislativos implicarem aumento do valor da despesa ou
diminuição do valor da receita, inscritos no Orçamento.
Tal o que resulta do disposto no art. 167/2 CRP um
mecanismo-travão (a chamada lei-travão) que, entre
nós, tem feito a sua História;
d. Por último, o Período Transitório e todas as outras
vicissitudes citadas não se confundem com o chamado
Orçamento Rectificativo, forma como é designada,
impropriamente, na nossa vida mediática, uma
alteração ao OE que siga as regras dos arts. 49 ss.
Trata-se de um mecanismo utilizado nos anos 30, mas
que já não vigora entre nós, que permitia o recurso a
dois instrumentos orçamentais ao longo de um mesmo
ano: o primeiro, dito Orçamento Preventivo, fazia
projecções para todo o ano económico, mas vigorava
apenas até ao termo do primeiro semestre; o segundo,
o dito Orçamento Rectificativo, entrava em vigor em
Junho/Julho e corrigia as projecções realizadas pelo
instrumento anterior para os restantes meses do ano.
C. Instrumentos de Enquadramento de Médio
Prazo
I – Finalmente, apesar do Orçamento ser anual, a Ordem
Jurídica permite (ou certos casos impõe) ao poder político a
necessidade de prospectivar a sua actuação e a evolução dos
principais indicadores macroeconómicos, igualmente de um
ponto de vista plurianual. Essas prospecções
fazem-se através da chamada Programação Financeira
Plurianual, que consiste, como o próprio conceito sugere, no
estabelecimento de previsões dos valores das receitas e
despesas para agregados de tempo superior a um ano.
A primeira experiência de Planificação Económica terá acontecido nos
EUA em 1942, como forma de prospectivar as despesas bélicas,
resultantes do envolvimento do país na II Grande Guerra, no ano
anterior. Veio depois a conhecer o seu período áureo nos anos 80,
época em que era utilizada generalizadamente por vários Estados
europeus, apresentando uma dupla vantagem: por um lado, funciona
como um instrumento de controlo da despesa pública; por outro, está
ao serviço do investimento, pois é utilizada como suporte de grandes
programas de investimento do Estado (em infra-estruturas, na
modernização da própria Administração, entre outros) obedecendo à
lógica Keynesiana de que o investimento público seria o “motor” da
economia e que, em nome dos benefícios que ele acarreta, não era
especialmente alarmante que causasse deficit orçamental.
Foi nesta linha que, em 1977, surgiu o chamado Programa de
Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração
Central (PIDDAC). Actualmente consagrado nos mapas XV e XV-A,
planifica a despesa pública de investimento realizada pela
Administração Central30, concretizando-a localmente ao nível de cada
região e articulando-se com as Grandes Opções do Plano (GOP) e o
Quadro Comunitário de Apoio (actualmente o QCA III). Este
investimento é financiado por recursos comunitários – através do QCA
–, pelo próprio OE, e pelos recursos dos fundos e serviços autónomos
que integram a Administração Directa do Estado, fundos esses que
podem ser próprios ou resultantes de crédito.
De uma óptica jurídico-positiva, como ponto de partida para
este instituto, há que considerar fundamentalmente quatro
disposições legais31:
• Arts. 4º, nº 3e 18/1;
• Arts. 4º, nº 2 e 18 nº 3;
Da primeira delas (art. 4/3) consta a regra geral nesta
matéria: a apresentação de programas plurianuais na
elaboração dos Orçamentos dos organismos do SPA é
facultativa (“ podem integrar programas”), o que é secundado
pelo
art. 18/1 (“ podem estruturar-se, no todo ou em parte, por
programas”).
De seguida, dos arts. 4/2 e 18/3 constam regras especiais,
nos termos das quais, a programação plurianual das despesas
será obrigatória:
a. Quando assim for determinado por exigências de
estabilidade financeira
(art. 4/2) – trata-se de um conceito indeterminado
(porventura, excessivamente indeterminado…) que o
legislador se preocupou em densificar com recurso ao
método exemplificativo. Assim, entende-se que a
estabilidade financeira reclama programação plurianual
para dar cumprimento às vinculações externas do OE,
enunciadas no art. 1732, a saber:
o Despesas obrigatórias decorrentes de lei,
contrato ou sentença jurisdicional – ou seja, as
previstas no art. 16;
o Vinculações resultantes de compromissos
decorrentes do TUE – deve entender-se que
cabem aqui as obrigações resultantes da
apresentação do Programa de Estabilidade e
Crescimento33 e outros eventuais compromissos
no quadro comunitário;
o Directrizes financeiras contidas noutros
instrumentos de Planeamento como sejam as
Grandes Opções do Plano (GOP)34 e outros
programas a aprovar pelo Governo (p. exº o
próprio Programa de Governo);
b. Para fazer face às despesas enunciadas no art.
18/3, correspondentes, grosso modo, a despesas de
investimento;
Do número 2 do art. 18 consta depois uma indicação genérica
da forma como devem desagregar-se estes instrumentos de
planificação de médio prazo, desenvolvida nos arts. 19 ss: a
desagregação é feita em programas (art. 19), medidas (art.
20/1/2/3) e projectos (art. 20/3/4/5/6).
II – A Estruturação orçamental das despesas por
programa trata-se, no fundo, de elencar um conjunto de
medidas ou investimentos a desenvolver em certo período de
tempo, inscrevendo-se no OE, não apenas as despesas que
essas medidas implicam no ano a que este se reporta, mas
todas as despesas necessárias para a execução da totalidade
do programa e uma previsão da parcela dessas despesas a
realizar em cada ano
de execução (art. 4/3 in fine).
Note-se, porém, que só são vinculativas as inscrições relativas
a despesas a efectuar no ano em que se define o programa.
As restantes, têm que voltar a ser inscritas no Orçamento do
ano em que se prevê que sejam efectivamente
realizadas/concretizadas (sendo aí vinculativas), podendo
fazer-se ajustes em relação aos valores inicialmente
previstos. Na falta dessa inscrição, entende-se que a despesa
não pode ser feita por falta de cabimento Orçamental (art.
106 CRP).
Uma questão importante a colocar é a da duração dos
programas. A lei não fixa qualquer meta rígida, mas
determina no art. 4/3 a obrigação de discriminação de
despesas num horizonte correspondente a “pelo menos cada
um dos dois anos seguintes”. Daí se infere a um patamar
mínimo de duração de pelo menos três anos (o próprio, mais
dois) que geraria ilegalidade, por violação de lei de valor
reforçado, no caso de não ser acatado.
A prática seguida é largamente tributária deste
entendimento, podendo detectar-se programas com durações
variando entre três e cinco anos.
Deve ainda acrescentar-se que a plurianualidade seguida não
é rígida, quer dizer, os programas não são elaborados e
permanecem inalterados ao longo do período de tempo a que
refere, dando lugar a outros novos no termo desse período.
Pelo contrário, verifica-se uma revisão anual de cada
programa, com adição de um novo exercício em cada revisão
e alteração/ajustamento das projecções feitas para os
restantes. Nesse sentido, pode qualificar-se como
Plurianualidade Rolante ou Deslizante.35
Por outras palavras, em cada ano revêem-se as previsões feitas para
os seguintes, adiciona-se um novo ano e retira-se o ano já executado.
Assim, se p. exº o programa se reportar a 2009-2014 e for aprovado
em 2008, no final de 2009 revêem-se as projecções para 2010, 2011,
2012, 2013 e 2014, acrescentam-se projecções para 2015 e elimina-
se as de 2009 porque já foram executadas.
Os programas são essencialmente de investimento, mas
também podem assumir outras configurações como sejam, a
prospecção, pelos serviços, das despesas que estimam
realizar em face dos objectivos que pretendem prosseguir
(Programas baseados na Orçamentação de Performance,
mapa XVI).
V – APLICAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO PRINCÍPIO – o
caso concreto do Ac. 108/88
Apesar da aparente simplicidade com que pode ser
enunciado, que inculcaria elevadas probabilidades de
cumprimento, o princípio da anualidade já foi discutido várias
vezes pela jurisprudência portuguesa, chamada a pronunciar-
se sobre situações concretas em que teoricamente teria sido
violado.
De entre as várias possibilidades plausíveis, vamos centrar-
nos na análise do Ac. 108/88 do Tribunal Constitucional, um
dos mais importantes para o Direito Económico e Financeiro
Português, desde a entrada em vigor da actual Constituição.
O aresto, que conta com declarações de voto dos conselheiros
RAUL MATEUS, VITAL MOREIRA, MÁRIO DE BRITO, CARDOSO
DA COSTA e ARMANDO MARQUES GUEDES, vencidos total ou
parcialmente, foi proferido na sequência de um pedido de
fiscalização preventiva da constitucionalidade, feito pelo PR,
do Decreto 83/V da AR36, que regulava a transformação das
empresas públicas, parte delas resultantes das
Nacionalizações dos anos 70, em sociedades anónimas
(portanto: pessoas colectivas de direito privado) de capitais
total ou maioritariamente públicos.
Num esforço de simplificação, e abstraindo-nos de enunciar
outros detalhes da matéria de facto, resumimos em três
pontos os principais problemas jurídicos colocados à
apreciação do Tribunal:
1. A questão de saber se a transformação das
empresas públicas, resultantes de Nacionalizações, em
sociedades anónimas e a permissão da posterior
privatização do capital daquelas sociedades, embora
apenas da parte do capital que excedesse o existente à
data da nacionalização, não colidiria com o disposto no
art. 83/1 CRP37, que consagrava o princípio da
irreversibilidade das nacionalizações;
2. A questão de saber se ao transformar as referidas
empresas públicas em sociedades comerciais de direito
privado, não se estaria a deslocá-las do Sector Público,
para o Sector Privado, pondo-se assim em causa o
disposto no art. 85/3 – que determinava a necessidade
de o legislador vedar à iniciativa privada, certos
sectores fundamentais da economia – relativamente
àquelas que exercessem uma actividade legalmente
vedada à iniciativa privada.;
3. A questão de saber se as normas do referido
decreto, que permitiam que as despesas e receitas
feitas em cada alienação de capital público fossem
escrituradas em operações extra-orçamentais, que
podiam ser regularizadas no ano seguinte ao da sua
efectivação, não ofendiam os princípios da anualidade e
da plenitude38 orçamentais;
A primeira e a segunda questões são tradicionalmente
tratadas no âmbito da disciplina de Direito da Economia: para
lá remetemos. Quanto à terceira, limitaremos a nossa análise
à parte em que se equaciona a violação do princípio da
anualidade, por ser esse o âmbito do nosso trabalho.
A principal singularidade deste aresto, é que apreciou uma
eventual inconstitucionalidade por violação do princípio da
anualidade, num momento em que o mesmo não tinha
consagração constitucional expressa, gerando alguma
expectativa quanto a saber se os juízes do Palácio Ratton
optariam por subscrever a posição doutrinal maioritária (que,
como sabemos, sustentava, ainda assim a existência do
princípio) ou seguiriam uma interpretação mais literal do
texto Constitucional.
A questão parece não ter levantado grandes dúvidas, a provar
pela ausência de referências a este problema nas declarações
de voto vencido anexas ao Acórdão: considerou-se, com
efeito, que a RC 1982 não tinha beliscado a existência do
princípio da anualidade, que continuava a vigorar, embora
sem consagração expressa, por duas ordens de razões:
• Porque em 82 o legislador constitucional se limitou
a introduzir na CRP, o conceito de «Orçamento do
Estado» na sua acepção tradicional. E, na história
constitucional portuguesa, os orçamentos sempre
foram anuais;
• Porque o art. 93 c) determinava que o “plano anual
há-de ter a sua expressão financeira no Orçamento de
Estado” o que, necessariamente, os associaria ao nível
temporal;
O primeiro parece inatacável. O segundo, corresponde às
posições de SOUSA FRANCO39, VITAL MOREIRA E GOMES
CANOTILHO40, GUILHERME DE OLIVEIRA MARTINS41 e
DOMINGOS PEREIRA DE SOUSA.42
À primeira vista, tenderíamos a considerar esta interpretação
como abusiva por insistir em afirmar algo que o próprio
legislador cuidou de eliminar. No entanto, fazendo uma leitura
sistemática dos preceitos implicados, não podemos deixar de
admitir que é a única visão coerente (assim, p. exº, parece
óbvio que se a expressão financeira do plano é o Orçamento,
e aquele é anual, este não pode deixar de o ser!) que se
poderá adoptar.
A supressão deste princípio foi, pois, fruto de uma intervenção
desastrada do legislador Constitucional de 1982. E a prova de
que nunca deixou de querer a anualidade, se dúvidas
houvessem, está na circunstância de, quinze anos depois, e
para acabar com a polémica, ter “emendado a mão” e
reintroduzido tal princípio em disposição expressa.
Assente este ponto, não oferece dúvidas a conclusão do
Tribunal de que a anualidade não foi respeitada pois que, a
alienação de capital público permitido pela Lei analisada, não
podia deixar de ver as receitas e despesas em que se
traduzisse, expressamente inscritas no Orçamento do ano em
que foram efectivamente apuradas.
VII – CRÍTICA
I – A enunciação, já clássica nos Manuais da especialidade,
dos citados motivos económicos e políticos justificativos da
adopção da regra da anualidade, não a isenta de críticas, que
se têm feito sentir de forma mais aguda nos últimos anos.
Com efeito, pode sustentar-se que um lastro temporal mais
longo seria preferível, na medida em que existem decisões
políticas dos Governos cuja execução implica despesas não
realizáveis em apenas um ano (v.g. investimento em infra-
estruturas como aeroportos ou Hospitais, equipar as Forças
Armadas ou despesas com certos serviços que têm uma
componente de despesas de financiamento da instalação e
despesas de financiamento do próprio serviço).43
Ao contrário, em defesa de períodos de tempo mais
reduzidos, pode
invocar-se a volatilidade da evolução dos ciclos
macroeconómicos que implica frequentes desactualizações e
desfasamentos entre as previsões orçamentais e o
comportamento da economia ao longo da fase de Execução.
Nesse sentido, previsões para períodos de tempo longos,
arriscam-se a não se coadunar com ciclo económico, ou seja,
fazem o OE “andar a contra-ciclo”.
Pela nossa parte, aplaudimos a opção do legislador pela
consagração do princípio da anualidade, quanto mais não
seja, porque consideramos ser possível ultrapassar as
principais críticas que lhe são apontadas.
No que ao primeiro aspecto diz respeito, face a investimentos
que se desdobrem em mais do que um ano de execução
orçamental, poder-se-á recorrer à apresentação de programas
plurianuais, contemplando as despesas previstas para a
concretização dos mesmos, na sua totalidade.44
Quanto à desarticulação entre o orçamento e a realidade
macroeconómica, chamamos à atenção para a circunstância
de a própria lei ter acautelado essa possibilidade e previsto
mecanismos para a ultrapassar, ao admitir a aprovação de
alterações ao Orçamento (arts. 49 ss). Pode argumentar-se,
em sentido contrário, que esta solução apenas responde a
situações de emergência e que, politicamente, tende a
penalizar a imagem pública dos Governos que a ela
recorrerem pois, como se sabe, a “falibilidade” das projecções
do Governo em matéria económica é particularmente
explorada pelas Oposições, em Regimes Democráticos.
No entanto, uma variação do ciclo económico tão profunda e
tão rápida que não possa ser suficientemente salvaguardada
por previsões orçamentais “sensatas” e “previdentes” não é
frequente, e, quando acontece, é porque estamos
precisamente num cenário de emergência, devidamente
acautelado pela possibilidade de alteração do Orçamento. Por
outro lado, a sujeição do poder à crítica, justa ou
politicamente oportunista, é uma característica necessária
das Democracias mediáticas, que quem está na vida pública
conhece e tem que aceitar.
Há ainda uma razão adicional que nos leva a advogar este
modelo: é que ele é o generalizadamente utilizado pelos
Estados-Membros da UE, e, no quadro de uma União
Económica e Monetária em funcionamento, não deixa de ser
desejável a harmonização de regras e procedimentos em
matéria de Direito Orçamental.
II – Por fim, cabe fazer uma referência à bondade da opção
por um Sistema de Gerência em detrimento de um Sistema
de Exercício. Assim, teremos que inventariar sumariamente
as vantagens e desvantagens que costumam ser apontadas a
cada um destes modelos.
Quanto ao primeiro, afirma-se correntemente ter a vantagem
de facilitar, quer a execução orçamental, quer a elaboração
da própria Conta Geral do Estado45 pois trabalha com dados
mais concretos e “palpáveis” (as receitas e as despesas
realmente concretizadas e não meramente criadas). No
entanto, tem o inconveniente de, nas palavras de SOUSA
FRANCO, dificultar “a responsabilização de cada Governo pela
elaboração e execução dos orçamentos que lhe são
imputáveis”.46
E compreende-se facilmente porquê: se a
penas se mencionam estimativas de valores de receitas e despesas a
realizar naquele ano, é por essa realização que o Governo irá
responder e não pelo montante total da despesa ou da receita criada,
tanto mais que, quando esse total vier a ser pago ou arrecadado, o
Governo que o orçamentou pode já nem sequer estar em funções.
Assim, imagine-se p. exº que em 2008 o Governo encontra um
mecanismo de criação de receitas (v.g. lança um crédito de imposto)
que previsivelmente renderia, aos cofres do Estado, um total de 1000,
dos quais, 500 a obter nesse ano e 500 no ano seguinte. Segundo
este modelo, só vai inscrever no OE de 2008 500, e, no final do ano,
só é responsabilizado pela efectiva percepção desses 500. Se no ano
seguinte esse Governo já não estiver em funções, e o valor
arrecadado for apenas de 300 (garantindo um total de 800 e não de
1000) ele não pode ser directamente responsabilizado por isso!
Inversamente, o Sistema de Exercício, se é mais
responsabilizador dos Governos, não garante tanta
objectividade e clareza no balanço da execução orçamental,
dado que não se conseguirá saber, em rigor, qual o montante
das receitas realmente recebidas naquele ano, nem das
despesas efectivamente feitas (apenas se estimam as que
vão ser criadas).
No cômputo geral das mais-valias e dos inconvenientes de
cada sistema, o legislador português, optou, como se disse,
pelo Orçamento de Gerência. Mas cuidou de prever alguns
mecanismos que permitem mitigar a limitada
responsabilização dos governos que ele acarreta,
designadamente impondo, em certos casos, a criação de
instrumentos de Enquadramento Plurianual, maxime
Programas Plurianuais (cfr. supra) os quais, muito embora não
isentem o Governo de inscrever no OE de cada ano a que se
reportam, a parcela correspondente de despesas e receitas
estimadas, permitem que se tenha uma perspectiva mais
clara sobre a evolução dos cenários futuros, e, de certa
maneira, acabam por “vincular” o Governo às suas
prospecções, aumentando o seu grau de responsabilidade.
Por outro lado, ex vi do art. 22 do DL 197/99, o desencadear
de procedimento geradores de despesas que dêem lugar a
encargos orçamentais em mais do que um ano económico, ou
num ano económico diferente do da sua realização, depende
de prévia autorização por Portaria Ministerial, a não ser que
constem de programa plurianual legalmente aprovado .
III – Cumpre pois referir, em conclusão, que se ambos os
modelos têm vantagens e inconvenientes igualmente
ponderosos – a ponto de não poder liminarmente considerar-
se um deles preferível em relação ao outro – o legislador
conseguiu engendrar um Regime que torna a aplicação do
Sistema de Gerência, pelo menos tolerável.
VII – CONCLUSÃO
No termo da análise que nos propusemos efectuar,
ponderadas críticas e suas refutações, vantagens e
inconvenientes, não podemos deixar de considerar sensata a
opção pela consagração do princípio da anualidade e do
Sistema de Gerência.
S-ar putea să vă placă și
- Amortização de Ágio em Operações Societárias como Instrumento de Planejamento Tributário: limites e possibilidades na perspectiva da CSRFDe la EverandAmortização de Ágio em Operações Societárias como Instrumento de Planejamento Tributário: limites e possibilidades na perspectiva da CSRFÎncă nu există evaluări
- O orçamento público como meio de promoção do desenvolvimento regional: a importância da garantia das prerrogativas das micro e pequenas empresas, no contexto da despesa públicaDe la EverandO orçamento público como meio de promoção do desenvolvimento regional: a importância da garantia das prerrogativas das micro e pequenas empresas, no contexto da despesa públicaÎncă nu există evaluări
- Livro Ibdf A Lei 4.320 e A LroDocument22 paginiLivro Ibdf A Lei 4.320 e A LroMagno Marcoski MarcelinoÎncă nu există evaluări
- Medida Provisória e Tributação: a Reserva de Lei na Teoria dos Direitos Fundamentais e na Doutrina dos Precedentes JudiciaisDe la EverandMedida Provisória e Tributação: a Reserva de Lei na Teoria dos Direitos Fundamentais e na Doutrina dos Precedentes JudiciaisÎncă nu există evaluări
- Reflexos Jurídicos da Desvinculação de Receitas na Destinação dos TributosDe la EverandReflexos Jurídicos da Desvinculação de Receitas na Destinação dos TributosÎncă nu există evaluări
- A Revisão Constitucional Na Obra Constituição e Cidadania de Jorge MirandaDocument9 paginiA Revisão Constitucional Na Obra Constituição e Cidadania de Jorge MirandaFellipe DominguesÎncă nu există evaluări
- Orçamento PúblicoDocument19 paginiOrçamento PúblicoJoao FelixÎncă nu există evaluări
- Aula 03Document86 paginiAula 03Joao FelixÎncă nu există evaluări
- Temas de Direito Tributário e Empresarial: Volume 5De la EverandTemas de Direito Tributário e Empresarial: Volume 5Încă nu există evaluări
- Aspectos centrais de controle externo na visão do Tribunal de Contas do Estado do TocantinsDe la EverandAspectos centrais de controle externo na visão do Tribunal de Contas do Estado do TocantinsÎncă nu există evaluări
- Octalberto No Sapo PT Fontes de Direito Fiscal HTMDocument5 paginiOctalberto No Sapo PT Fontes de Direito Fiscal HTMromeonederlandsÎncă nu există evaluări
- Transação Tributária Federal: análise de impacto legislativo da Lei n. 13.988/2020De la EverandTransação Tributária Federal: análise de impacto legislativo da Lei n. 13.988/2020Încă nu există evaluări
- Irrevogabilidade, a qualquer tempo, dos Benefícios Fiscais na condição de Isenções OnerosasDe la EverandIrrevogabilidade, a qualquer tempo, dos Benefícios Fiscais na condição de Isenções OnerosasÎncă nu există evaluări
- O NOVO CÓDIGO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - Docx ComporDocument11 paginiO NOVO CÓDIGO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - Docx ComporVera Coimbra GonçalvesÎncă nu există evaluări
- Trabalho de Finanças PúblicasDocument9 paginiTrabalho de Finanças PúblicasSophia VianaÎncă nu există evaluări
- 1000-Texto Do Artigo-1670-1-10-20141009Document19 pagini1000-Texto Do Artigo-1670-1-10-20141009Djilva ChipindoÎncă nu există evaluări
- Isenção do Imposto sobre a Renda: uma análise das possibilidades de isenção do pagamento do IRPF a trabalhadores ativos que possuem patologias gravesDe la EverandIsenção do Imposto sobre a Renda: uma análise das possibilidades de isenção do pagamento do IRPF a trabalhadores ativos que possuem patologias gravesÎncă nu există evaluări
- Apostila Leis Orçamentárias - PPA, LDO e LOADocument24 paginiApostila Leis Orçamentárias - PPA, LDO e LOAlika-chanÎncă nu există evaluări
- Resumo Lei Oe 2.parte FPDocument6 paginiResumo Lei Oe 2.parte FPMarta PimentelÎncă nu există evaluări
- Manual Ufcd 6220 FinalDocument24 paginiManual Ufcd 6220 FinalPaulo Cruz100% (2)
- A penalidade pecuniária no direito tributário brasileiroDe la EverandA penalidade pecuniária no direito tributário brasileiroÎncă nu există evaluări
- Conceito, Objeto e Autonomia Do Direito FinanceiroDocument9 paginiConceito, Objeto e Autonomia Do Direito FinanceiroAndréÎncă nu există evaluări
- A constitucionalidade do regime diferenciado de contratações públicas face aos grandes eventos nacionaisDe la EverandA constitucionalidade do regime diferenciado de contratações públicas face aos grandes eventos nacionaisÎncă nu există evaluări
- As Despesas PublicasDocument44 paginiAs Despesas Publicasdavidson.mendesÎncă nu există evaluări
- Comentários à Nova Lei de Licitações Públicas e Contratos Administrativos: Lei nº 14.133, de 1º de Abril de 2021De la EverandComentários à Nova Lei de Licitações Públicas e Contratos Administrativos: Lei nº 14.133, de 1º de Abril de 2021Încă nu există evaluări
- Principios Contencioso TributarioDocument93 paginiPrincipios Contencioso TributarioJose Oliveira OliveiraÎncă nu există evaluări
- Termo de Ajustamento de Gestão no âmbito dos Tribunais de Contas: o controle preventivo das contas públicas e o paradigma da consensualidade administrativaDe la EverandTermo de Ajustamento de Gestão no âmbito dos Tribunais de Contas: o controle preventivo das contas públicas e o paradigma da consensualidade administrativaÎncă nu există evaluări
- Código de Registo Predial e Comercial STPDocument76 paginiCódigo de Registo Predial e Comercial STPHomildo FortesÎncă nu există evaluări
- Aulas Praticas Do Olivera MartinsDocument26 paginiAulas Praticas Do Olivera MartinsAfonso Costa GomesÎncă nu există evaluări
- As Revisões Da Constituição de 1976Document23 paginiAs Revisões Da Constituição de 1976JosefinaÎncă nu există evaluări
- (M. Matilde Lavouras) O Proccesso Orçamental 2022-2023Document15 pagini(M. Matilde Lavouras) O Proccesso Orçamental 2022-2023Raquel CaldasÎncă nu există evaluări
- Leis OrçamentáriasDocument9 paginiLeis OrçamentáriasFabrine SouzaÎncă nu există evaluări
- As Revisões Da Constituição de 1976Document22 paginiAs Revisões Da Constituição de 1976Leonor LopesÎncă nu există evaluări
- João Caupers e Vera Eiró - Introdução Ao Direito Administrativo, 12 EdiçãoDocument305 paginiJoão Caupers e Vera Eiró - Introdução Ao Direito Administrativo, 12 EdiçãoJoão AscensoÎncă nu există evaluări
- Revisões ConstitucionaisDocument3 paginiRevisões Constitucionaisanarocha3Încă nu există evaluări
- As Revisões ConstitucionaisDocument18 paginiAs Revisões Constitucionaisanarocha3Încă nu există evaluări
- Dotações e Alterações OrçamentaisDocument10 paginiDotações e Alterações OrçamentaisSergio Alfredo MacoreÎncă nu există evaluări
- O princípio da inafastabilidade de jurisdição e a resolução de conflitosDe la EverandO princípio da inafastabilidade de jurisdição e a resolução de conflitosÎncă nu există evaluări
- Revisao de LiteraturaDocument5 paginiRevisao de LiteraturaShelton UamusseÎncă nu există evaluări
- Participação Na Audiência Do Decreto Regulamentador Da Lei Complementar 187Document2 paginiParticipação Na Audiência Do Decreto Regulamentador Da Lei Complementar 187Cris CezarÎncă nu există evaluări
- Direito Financeiro - Aula 10 - Ciclo OrçamentarioDocument17 paginiDireito Financeiro - Aula 10 - Ciclo Orçamentariovictoriarafaelle711Încă nu există evaluări
- Direito Tributário Aplicado: 2ª Edição Revista e AtualizadaDe la EverandDireito Tributário Aplicado: 2ª Edição Revista e AtualizadaÎncă nu există evaluări
- Aula 5Document8 paginiAula 5Fernanda RealeÎncă nu există evaluări
- Elementos de Direito Tributário: contribuições especiaisDe la EverandElementos de Direito Tributário: contribuições especiaisÎncă nu există evaluări
- Falta de Qualidade Legislativa em Matéria TributáriaDocument11 paginiFalta de Qualidade Legislativa em Matéria TributáriaRui AzevedoÎncă nu există evaluări
- Aulas de Finanças - Princípios PDFDocument27 paginiAulas de Finanças - Princípios PDFBeatriz F. P. SousaÎncă nu există evaluări
- DORNELLES, Francisco - O Sistema Tributario Da Constituição de 1988Document28 paginiDORNELLES, Francisco - O Sistema Tributario Da Constituição de 1988Flaviano NetoÎncă nu există evaluări
- Direito Tributário Constitucional: Temas Atuais RelevantesDe la EverandDireito Tributário Constitucional: Temas Atuais RelevantesÎncă nu există evaluări
- FinançasDocument4 paginiFinançasÉrica SilvaÎncă nu există evaluări
- As Emendas de Relator-Geral Do PLOA - XI Prêmio SOFDocument77 paginiAs Emendas de Relator-Geral Do PLOA - XI Prêmio SOFGuilherme Simões ReisÎncă nu există evaluări
- Súmulas Vinculantes No Direito TributárioDe la EverandSúmulas Vinculantes No Direito TributárioÎncă nu există evaluări
- Anotações A Lei De Introdução Às Normas Do Direito BrasileiroDe la EverandAnotações A Lei De Introdução Às Normas Do Direito BrasileiroÎncă nu există evaluări
- SARMENTO, Joaquim Miranda - A Reforma Da Lei de Enquadramento OrçamentalDocument49 paginiSARMENTO, Joaquim Miranda - A Reforma Da Lei de Enquadramento Orçamentalantonio napkinÎncă nu există evaluări
- A Contagem Dos Prazos Nos Processos Administrativos AmbientaisDocument6 paginiA Contagem Dos Prazos Nos Processos Administrativos AmbientaisMarlon LelisÎncă nu există evaluări
- A NOVA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOSDe la EverandA NOVA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOSÎncă nu există evaluări
- CEDIPRE On-Line Nº 6 Impugnações AdministrativasDocument69 paginiCEDIPRE On-Line Nº 6 Impugnações AdministrativasLuis SousaÎncă nu există evaluări
- O Processo Judicial Tributário: Tutelas Jurisdicionais da Fazenda Pública e dos ContribuintesDe la EverandO Processo Judicial Tributário: Tutelas Jurisdicionais da Fazenda Pública e dos ContribuintesÎncă nu există evaluări
- RESOLUÇÃO - DO - CASO - PRÁTICO - # - 1 (2parte)Document3 paginiRESOLUÇÃO - DO - CASO - PRÁTICO - # - 1 (2parte)api-19497370Încă nu există evaluări
- Resolução Do Caso Prático #5Document6 paginiResolução Do Caso Prático #5api-19497370Încă nu există evaluări
- RESOLUÇÃO - DO - CASO - PRÁTICO - # - 1 (1parte)Document4 paginiRESOLUÇÃO - DO - CASO - PRÁTICO - # - 1 (1parte)api-19497370Încă nu există evaluări
- Resolução Do Caso Prático #3Document2 paginiResolução Do Caso Prático #3api-19497370Încă nu există evaluări
- Resolução Do Caso Prático #7Document2 paginiResolução Do Caso Prático #7api-19497370Încă nu există evaluări
- Resolução Do Caso Prático #6Document3 paginiResolução Do Caso Prático #6api-19497370Încă nu există evaluări
- Aulas Desgravadas FinançasDocument4 paginiAulas Desgravadas Finançasapi-19497370Încă nu există evaluări
- Aulas Desgravadas FinançasDocument4 paginiAulas Desgravadas Finançasapi-19497370Încă nu există evaluări
- Aulas Desgravadas FinançasDocument4 paginiAulas Desgravadas Finançasapi-19497370Încă nu există evaluări
- Aulas Desgravadas FinançasDocument5 paginiAulas Desgravadas Finançasapi-19497370Încă nu există evaluări
- Aulas Desgravadas FinançasDocument5 paginiAulas Desgravadas Finançasapi-19497370Încă nu există evaluări
- Aulas Desgravadas FinançasDocument3 paginiAulas Desgravadas Finançasapi-19497370Încă nu există evaluări
- Aulas Desgravadas FinançasDocument4 paginiAulas Desgravadas Finançasapi-19497370Încă nu există evaluări
- Aulas Desgravadas FinançasDocument3 paginiAulas Desgravadas Finançasapi-19497370Încă nu există evaluări
- Aulas Desgravadas Finanças (1-5)Document15 paginiAulas Desgravadas Finanças (1-5)api-19497370Încă nu există evaluări
- Aulas Desgravadas FinançasDocument3 paginiAulas Desgravadas Finançasapi-19497370Încă nu există evaluări
- Aulas Desgravadas FinançasDocument4 paginiAulas Desgravadas Finançasapi-19497370Încă nu există evaluări
- Aulas Desgravadas FinançasDocument3 paginiAulas Desgravadas Finançasapi-19497370Încă nu există evaluări
- Aulas Desgravadas FinançasDocument2 paginiAulas Desgravadas Finançasapi-19497370Încă nu există evaluări
- (Resumo-V2) Catherine Barnard - UEMDocument8 pagini(Resumo-V2) Catherine Barnard - UEMapi-19497370Încă nu există evaluări
- Aulas Desgravadas FinançasDocument4 paginiAulas Desgravadas Finançasapi-19497370Încă nu există evaluări
- Aulas Desgravadas FinançasDocument2 paginiAulas Desgravadas Finançasapi-19497370Încă nu există evaluări
- (Resumo-V3) Catherine Barnard - UEMDocument6 pagini(Resumo-V3) Catherine Barnard - UEMapi-19497370Încă nu există evaluări
- Casos Práticos Finanças - Vol1Document12 paginiCasos Práticos Finanças - Vol1api-19497370100% (1)
- (Resumo) PEC - Hugo J. HahnDocument4 pagini(Resumo) PEC - Hugo J. Hahnapi-19497370Încă nu există evaluări
- (Resumo-V1) Catherine Barnard - UEMDocument10 pagini(Resumo-V1) Catherine Barnard - UEMapi-19497370Încă nu există evaluări
- Estratégia e NegociaçãoDocument24 paginiEstratégia e NegociaçãoIsabel AntunesÎncă nu există evaluări
- Gestao Capital Giro Matriz Ai Josué BesenDocument7 paginiGestao Capital Giro Matriz Ai Josué BesenJosué Victor Besen100% (4)
- Organização, Processos e Tomada de DecissãoDocument5 paginiOrganização, Processos e Tomada de DecissãoxcarllajayaraÎncă nu există evaluări
- Lei 11.901 - Bombeiro CivilDocument5 paginiLei 11.901 - Bombeiro Civildive43Încă nu există evaluări
- PDFDocument154 paginiPDFeduardoÎncă nu există evaluări
- Aula 02 - Ética e DeontologiaDocument22 paginiAula 02 - Ética e DeontologiaBruna Maria de Lima SampaioÎncă nu există evaluări
- Rebeca 2Document293 paginiRebeca 2Rodrigo CarreiroÎncă nu există evaluări
- BDXP 191203 100531278 31 5177201975310875259 0 003027 PDFDocument7 paginiBDXP 191203 100531278 31 5177201975310875259 0 003027 PDFrandhomykÎncă nu există evaluări
- MG Itaobim Pref Edital Ed 1986.PDF 60302Document52 paginiMG Itaobim Pref Edital Ed 1986.PDF 60302LorenneDrfoÎncă nu există evaluări
- USG Na Avaliação de Gestações GemelaresDocument4 paginiUSG Na Avaliação de Gestações GemelaresEdilson AragãoÎncă nu există evaluări
- Logoterapia Uma Visão de Psicoterapia PDFDocument7 paginiLogoterapia Uma Visão de Psicoterapia PDFfrancischettoÎncă nu există evaluări
- Ilustrações para Sermões e PalestrasDocument20 paginiIlustrações para Sermões e Palestraslenondantas100% (1)
- Trabalho de Campo - Desenvolvimento e Mudanca Organizacional (Salvo Automaticamente)Document11 paginiTrabalho de Campo - Desenvolvimento e Mudanca Organizacional (Salvo Automaticamente)RafaelÎncă nu există evaluări
- 05 - Lista 06Document3 pagini05 - Lista 06ONLINE Tese ConcursosÎncă nu există evaluări
- Os Ingarikó (Kapon)Document38 paginiOs Ingarikó (Kapon)Amazoner ArawakÎncă nu există evaluări
- Universidade Cesumar - Unicesumar: Plano de EnsinoDocument4 paginiUniversidade Cesumar - Unicesumar: Plano de EnsinoGuilherme GonçalvesÎncă nu există evaluări
- GuiaPagamento 04171572000194 091220210843532446Document1 paginăGuiaPagamento 04171572000194 091220210843532446Michelle Pereira da SilvaÎncă nu există evaluări
- Naves de ConhecimentoDocument92 paginiNaves de Conhecimentonicoros8Încă nu există evaluări
- Modelo Folha-Redação-EnemDocument1 paginăModelo Folha-Redação-Enemfelipe.telesÎncă nu există evaluări
- VIG Aula8-4Document3 paginiVIG Aula8-4Victor VitorianoÎncă nu există evaluări
- O Jogo Desafio SEBRAE 2003Document7 paginiO Jogo Desafio SEBRAE 2003Anderson da Silva MenezesÎncă nu există evaluări
- Vulnerabilidade e Classificação Das Dunas Da Praia de Capão Da Canoa Litoral Norte Do Rio Grande Do SulDocument14 paginiVulnerabilidade e Classificação Das Dunas Da Praia de Capão Da Canoa Litoral Norte Do Rio Grande Do SulMatheus MagnusÎncă nu există evaluări
- Desafios Das Mulheres Na Ciência - CECDocument2 paginiDesafios Das Mulheres Na Ciência - CECGabriela OliveiraÎncă nu există evaluări
- BEAUVOIR S O Pensamento de Direita LivroDocument120 paginiBEAUVOIR S O Pensamento de Direita LivroJúlio BataioteÎncă nu există evaluări
- UECE 2006 1ºsemestre GeografiaDocument3 paginiUECE 2006 1ºsemestre GeografiaFábio MatosÎncă nu există evaluări
- Avaliação Diagnóstica - Fase 1 - 1 Série - Biologia - Prof. ValquíriaDocument3 paginiAvaliação Diagnóstica - Fase 1 - 1 Série - Biologia - Prof. Valquíriasarah limaÎncă nu există evaluări
- Aula 1Document6 paginiAula 1rafaelaÎncă nu există evaluări
- Raymond Boudon e A Teoria Da Escolha RacionalDocument15 paginiRaymond Boudon e A Teoria Da Escolha RacionaljairpopperÎncă nu există evaluări
- Manejo Da Pesca Dos Grande BagresDocument116 paginiManejo Da Pesca Dos Grande Bagrescleo_heckÎncă nu există evaluări
- Divulgação Seleção Proformar 2014Document16 paginiDivulgação Seleção Proformar 2014Marizeth Delegada ZihivaÎncă nu există evaluări