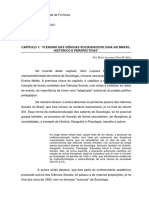Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Doença, Sofrimento, Pertubação - Perspectivas Etnográficas
Încărcat de
Héctor Pérez RTitlu original
Drepturi de autor
Formate disponibile
Partajați acest document
Partajați sau inserați document
Vi se pare util acest document?
Este necorespunzător acest conținut?
Raportați acest documentDrepturi de autor:
Formate disponibile
Doença, Sofrimento, Pertubação - Perspectivas Etnográficas
Încărcat de
Héctor Pérez RDrepturi de autor:
Formate disponibile
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros
DUARTE, LFD., and LEAL, OF., orgs. Doena, sofrimento, perturbao: perspectivas etnogrficas
[online]. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 1998. 210 p. ISBN 85-85676-46-9. Available from
SciELO Books <http://books.scielo.org>.
All the contents of this chapter, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non
Commercial-ShareAlike 3.0 Unported.
Todo o contedo deste captulo, exceto quando houver ressalva, publicado sob a licena Creative Commons Atribuio -
Uso No Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 No adaptada.
Todo el contenido de este captulo, excepto donde se indique lo contrario, est bajo licencia de la licencia Creative
Commons Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.
Doena, sofrimento, perturbao
perspectivas etnogrficas
Luiz Fernando Dias Duarte
Ondina Fachel Leal
(orgs.)
Doena, Sofrimento,
Perturbao: perspectivas
etnogrficas
F U N D A O O S W A L D O C R U Z
Presidente
Eloi de Souza Garcia
Vice-Presidente de Ambiente, Comunicao e Informao
Maria Ceclia de Souza Minayo
E D I T O R A F I O C R U Z
Coordenadora
Maria Ceclia de Souza Minayo
Conselho Editorial
Carlos E. A. Coimbra Jr.
Carolina . ri
Charles Pessanha
Hooman Momen
Jaime L. Benchimol
Jos da Rocha Carvalheiro
Luiz Fernando Ferreira
Miriam Struchiner
Paulo Amarante
Paulo Gadelha
Paulo Marchiori Buss
Vanize Macedo
Zigman Brener
Coordenador Executivo
Joo Carlos Canossa P. Mendes
COLEO ANTROPOLOGIA SADE
Editores Responsveis: Carlos E. A. Coimbra Jr.
Maria Ceclia de Souza Minayo
Doena, Sofrimento,
Perturbao: perspectivas
etnogrficas
Luiz Fernando Dias Duarte
Ondina Fachel Leal
organizadores
Copyr i ght
1998 dos autores
Todos os direitos desta edio reservados
FUNDAO OSWALDO CRUZ / EDITORA
ISBN: 85-85676-46-9
Projeto Grfico e Editorao Eletrnica:
Anglica Mello
Capa:
Danowski Design
Ilustrao da Capa:
A partir de desenho de Hans Arp, 1919.
Copidesque e Reviso:
Marcionlio Cavalcanti de Paiva
Superviso Editorial:
Walter Duarte
Catalogao-na-fonte
Centro de Informao Cientfica e Tecnolgica
Biblioteca Lincoln de Freitas Filho
D812d Duarte, Luiz Fernando Dias (org.)
Doena, sofrimento, pertubao: perspectivas etnogrficas. / organi-
zado por Luiz Fernando Dias Duarte e Ondina Fachel Leal - Rio de Janeiro:
FIOCRUZ, 1998.
210p.
1.Antropologia cultural. 2.Processo sade-doena. 3.Doena-etnologia.
CDD. - 20. ed. - 306
1998
EDITORA FIOCRUZ
Rua Leopoldo Bulhes, 1480, Trreo / Manguinhos
21041-210 / Rio de Janeiro / RJ
Tel.: (021) 590-3789 Ramal 2009
Fax.: (021)280-8194
AUTORES
Ana Paula Portella
(Mestrado em Cincia Poltica; pesquisadora do sos CORPO GNERO CIDADANIA)
Carlos Alberto Caroso
(Doutor em Antropologia; professor do Departamento de Antropologia / Universidade
Federal da Bahia)
Cecilia de Mello e Souza
(Doutora em Antropologia, professora do Instituto de Psicologia / Universidade Federal
do Rio de Janeiro)
Daniela Riva Knauth
(Doutora em Antropologia; professora do Departamento de Medicina Social e do Programa
de Ps-graduao em Antropologia Social / Universidade Federal de Minas Gerais)
Eduardo Viana Vargas
(Mestre em Antropologia Social; doutorando em Antropologia; professor do Departamento
de Antropologia / Universidade Federal de Minas Gerais)
Francisco J. Arsego de Oliveira
(Mestrando em Antropologia Social; mdico geral comunitrio)
Helen D. Gonalves
(Mestranda em Antropologia Social; pesquisadora do Centro de Pesquisas Epidemiolgicas
do Departamento de Medicina Social / Universidade Federal de Pelotas)
Helosa Helena Salvatti Paim
(Mestranda em Antropologia Social)
Henrique Caetano Nardi
(Mestre em Sociologia; mdico; pesquisador do Ncleo Interdisciplinar de Pesquisa
em Sade Coletiva)
Iara Maria de Almeida Souza
(Mestre em Sociologia; professora do Departamento de Sociologia / Univerdade Federal
da Bahia)
Jaqueline Ferreira
(Mestre em Antropologia Social; mdica geral comunitria)
Luiz Fernando Dias Duarte
(Doutor em Cincias Humanas; professor do Programa de Ps-Graduao em Antropologia
Social / Museu Nacional / Universidade Federal do Rio de Janeiro)
Maria Teresa Citeli
(Doutoranda em Sociologia; Secretria-Executiva da Comisso de Cidadania e Reproduo)
Nubia Rodrigues
(Mestre em Sociologia; Secretria-Executiva da Comisso de Cidadania e Reproduo)
Ondina Fachel Leal
(Doutora em Antropologia; professora do Programa de Ps-Graduao em Antropologia
Social / Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
Patrice Schuch
(Mestranda em Antropologia Social)
Zulmira Newlands Borges
(Doutoranda em Antropologia Social)
SUMRIO
INTRODUO 9
PARTE I: CORPO REPRODUO
1 . Marcas no Corpo: gravidez e maternidade em grupos populares
Helosa Helena Salvatti Paim 31
2 . Cuidados do Corpo em Vila de Classe Popular
Jaqueline Ferreira 49
3 . Reveses da Anticoncepo entre Mulheres Pobres
Maria Teresa Citeli, Cecilia de Mello e Souza & Ana Paula Portella 57
PARTE II: INSTITUIES TRAJETRIAS
4. Concepes de Doena: o que os servios de sade tm a ver com isto?
Francisco J. Arsego de Oliveira 81
5 . O Ethos Masculino e o Adoecimento Relacionado ao Trabalho
Henrique Caetano Nardi 95
6. Corpo Doente: estudo acerca da percepo corporal da tuberculose
Helen D. Gonalves 105
PARTE : Os LI MI TES DA PESSOA
7 . Os Corpos Intensivos: sobre o estatuto social do consumo de drogas legais e ilegais
Eduardo Viana Vargas 121
8 . Idia de ' Sofrimento' e Representao Cultural da Doena na Construo da Pessoa
Nubia Rodrigues & Carlos Alberto Caroso 137
9 . Um Retrato de Rose: consideraes sobre processos interpretativos e elaborao
de histria de vida
Iara Maria de Almeida Souza 151
1 0 . Motivaes para Doar e Receber: estudo sobre transplante renal entre vivos
Zulmira Newlands Borges 169
PARTE IV: SEXUALIDADE GNERO
1 1 . Morte Masculina: homens portadores do vrus da AIDS sob a perspectiva feminina
Daniela Riva Knauth 183
1 2 . AIDS e Sexualidade entre Universitrios Solteiros de Porto Alegre: um estudo an-
tropolgico
Patrice Schuch 199
Investigao Antropolgica sobre Doena,
Sofrimento e Perturbao: uma Introduo
1 . Esta coletnea integra-se a esforos empreendidos, nos ltimos anos, pela co-
munidade nacional dos cientistas sociais voltados para os temas de ' sade' e ' doena' ,
com o intuito de organizar uma rede de interlocuo mais sistemtica que, a um s
tempo, expresse a crescente riqueza dos seus investimentos em pesquisa e propicie
novos patamares de percepo crtica aos trabalhos da rea.
O projeto geral delineou-se a partir do I Encontro Nacional em Antropologia
Mdi ca,
1
ocasio em que as principais lideranas do campo se encontraram em
auspicioso ambiente de cooperao. Os sucessivos congressos da Associao Nacio-
nal dos Programas de Ps-Graduao e Pesquisa em Cincias Sociais (ANPOCS) e da
Associao Brasileira de Antropologia (ABA) facultaram a organizao de grupos de
trabalho e mesas-redondas centrados em torno da temtica "Pessoa, Corpo e Doena"
- recorte que visava a proporcionar uma perspectiva mais abrangente dos fenmenos
ligados ao ' adoecimento' .
Muitos dos trabalhos apresentados nesses encontros cientficos j se encontram
publicados em sua forma original ou modificados, no formato de duas outras coletne-
as - Alves & Minayo (1994) e Leal (1995) - , bem como individualmente - Souza &
Rabelo (1996); Diniz (1996) e Guimares (1996), entre outros.
Os 12 trabalhos inditos aqui reunidos recortam o universo daquelas exposi-
es sob o prisma mais especfico da ' doena' , por conseguinte, da relao com os
onipresentes sinais da 'instituio mdica' . Os trabalhos de Knauth, Vargas, Ferreira,
Souza e de Citeli, Mello e Souza & Portella foram apresentados no XIX Encontro
Anual da ANPOCS, que teve lugar no ano de 1995; os de Borges, Oliveira, Gonalves,
Paim e Nardi, apresentados na V Reunio Regional da ABA (Merco)SUL, tambm
realizado em 1995; e os de Schuch e de Rodrigues & Caroso, apresentados no XX
Encontro Anual da ANPOCS, efetuado em 1996.
No irrelevante ressaltar o carter de 'comunicao cientfica' de que se re-
vestem todos os textos: so curtos, economizam estrategicamente a informao sobre
fundamentao terica e procedimentos de pesquisa para concentrar-se na exposio
de um ndulo significativo de informao, em um problema analtico capaz de ali-
mentar as perspectivas comparativas, suscitar o interesse etnogrfico da comunidade
dos pesquisadores e estimular o debate sobre o prprio recorte produzido do objeto e
acerca de suas alternativas e fronteiras.
O principal interesse desta coletnea o de divulgar o potencial dos mtodos
da anlise antropolgica no estudo de questes que, pela sua gritante relevncia social
e imediata Objetividade' , costumam ser objeto privilegiado de anlise e interpretao
pelo ngulo dos grandes nmeros da Sociologia e da Epidemiologia. Todos estes traba
lhos representam o que se convencionou denominar ' metodologia qualitativa' , em
reconhecimento ao privilgio concedido ao controle do sentido, da significao, da
dimenso valorativa ou qualitativa dos fenmenos observados e da atitude cognoscitiva
do observador - que constitui certamente a essncia do esprito antropolgico.
A maior parte dos trabalhos opera nos quadros cannicos das anlises de repre-
sentaes baseadas em material emprico obtido mediante entrevistas e observao par-
ticipante. Apenas um - o de Citeli, Mello e Souza & Portella - fundamenta-se em mate-
rial essencialmente quantitativo, formalizado por meio de questionrios. Contudo, neste
mesmo estudo, a presena paralela de entrevistas e do mtodo de discusso em grupos
focais aprofunda a capacidade de discernimento quanto a valores e representaes. Tor-
na-se testemunha, assim, de como a fronteira entre as duas metodologias est longe de
ser estanque, uma vez que expe o uso crtico da quantificao como veculo to preci-
oso de objetivao antropolgica quanto a observao ou a coleta de narrativas.
O trabalho de Vargas, por sua vez, no se alicera em material etnogrfico
convencional. A anlise antropolgica se processa, neste caso, sobre dados histricos
gerais, tentando discernir o trao dos valores e representaes em processos de larga
escala da cultura ocidental moderna, relativizados pela perspectiva comparativa. Esse
tipo de trabalho, influenciado pela interlocuo com as idias de Foucault e com as
novas vertentes da cincia histrica - social, das mentalidades, das idias etc. - cada
vez mais expressivo dentro do horizonte antropolgico, produzindo equilbrio salutar
com as indispensveis anlises micro.
Por fim, o trabalho de Souza mostra outra derivao importante dentro da An-
tropologia contempornea: a das anlises de narrativas influenciadas pela fenomenologia
e pela etnometodologia. Faz-se uma tentativa de formalizao dos processos subjacentes
aos fenmenos de significao, entendidos como manifestaes da ' experincia' soci-
al. Embora o interesse se descentre das representaes enquanto sinais de sistemas de
valor e significao, bem se poder ver - ao ler o texto, junto com os dos demais -
como as duas perspectivas podem complementar-se e produzir avantajados lucros no
esclarecimento das condies de efetivao dos fenmenos sociais.
Pela leitura dos ttulos dos trabalhos, percebe-se imediatamente a amplitude
das situaes etnogrficas brasileiras em que se aglutinam essas ' doenas' , 'sofrimen-
tos' e ' perturbaes' . Temas clssicos dos estudos antropolgicos - como ' famlia' ,
' pessoa' , ' identidade' , ' troca' , ' gnero' , ' trabalho' , ' pureza' e ' ritual' - se condensam
em situaes concretas que pem em ao a reflexo sobre 'ascenso social' , ' respos-
tas aflio' , 'reconstruo de identidades sociais' , 'dispositivos disciplinares' , 'se-
xualidade' , ' medicalizao' , 'servios de sade' , 'escolhas teraputicas' ou 'transio
demogrfica'. Mais empiricamente, a esto as disfunes renais, a AIDS e a tuberculo-
se, assim como a chamada doena mental. Todavia, tambm constam a contracepo
e a gravidez, a suspenso do trabalho masculino, a higiene corporal ou o consumo de
drogas legais e ilegais.
2. A oportunidade de publicao desta coletnea suscita algumas observaes mais
amplas concernentes ao universo de pesquisa, rea temtica dos fenmenos que a
cultura ocidental moderna designa como ' doena' , ' sade' e ' medicina' , incluindo-se
a a chamada ' doena mental' , e s teraputicas ' psicolgicas' ou ' biopsicolgicas' .
A importncia ' social' do tema no precisa ser demonstrada. Impem o inves-
timento de pesquisa e reflexo acerca de uma das reas mais crticas da experincia
humana - ao mesmo tempo, universal e multifacetada - no s a experincia universal
da ' doena' , da ' enfermidade' , do 'sofrimento', da 'aflio', da ' perturbao' , do ' mal-
estar' - com seus recortes e expresses lingsticas e culturais especficas, tais como
os que em lngua inglesa procuram distinguir entre sickness, disease, illness e distress -,
como tambm, e sobretudo, a experincia especfica da cultura ocidental de concep-
o de ' doenas fsicas', s quais corresponde a instituio de uma ' Medicina' ou
'Cincia Mdica' .
Esse universo abrange, atualmente, estudos realizados do ponto de vista de
muitas cincias humanas. Alm, obviamente, da Sociologia, da Antropologia Social e
da Cincia Poltica, ocupam-se dessa rea os saberes psicolgicos - Psiquiatria, Psico-
logia e Psicanlise - , em maior ou menor compatibilidade com a perspectiva das Cin-
cias Sociais em sentido estrito - como no caso da chamada Psicologia Social - e uma
srie de disciplinas prximas aos saberes mdicos ou biolgicos, tais como a
Epidemiologia, a Sade Pblica ou a Antropologia Fsica - tambm com relao de
compatibilidade varivel com as Cincias Sociais. Sem contar a permanente e relevan-
te produo no campo da Histria em geral - ou da Histria das Idias ou da Histria
das Mentalidades - , de enorme importncia para a compreenso da dinmica dos pr-
prios estudos sociolgicos em torno desse tema.
No interior das prprias Cincias Sociais multiplicou-se a complexidade do
campo, em vista da emergncia e consolidao, nas ltimas dcadas, de reas de espe-
cializao comprometidas com certas perspectivas epistemolgicas e metodolgicas,
tais como: a Antropologia Mdica, sobretudo a norte-americana; a Antropologia da
Doena, em especial, a francesa; a Etnomedicina; a Etnopsiquiatria; a Etnopsicanlise;
a Sade Coletiva; e a Sociologia Mdica.
Esse universo espelha sua riqueza at na existncia de numerosos peridi-
cos cientficos especializados, o que no exclui a presena de produo nos peri-
dicos mais gerais. No exterior, revistas como a Medical Anthropology, a Social
Science & Medicine, a Culture, Medicine & Psychiatry, o Medical Anthropological
Quarterly, a Ethos, a Culture & Psychology, o Bulletin d'Ethnomedicine e o Journal
of Psychohistory (antigo Journal of Ethnopsychiatry) so exempl os dessa flo-
rescent e literatura. Mesmo no Brasil, di spomos hoje de pel o menos cinco ve-
culos especi al i zados para esse tipo de publ i cao: os Cadernos de Sade Pbli-
ca, a Revista de Sade Pblica, a Physis - Revista de Sade Coletiva, a Sade e
Sociedade, a Histria, Cincias, Sade - Manguinhos e o Jornal Brasileiro de
Psiquiatria.
Nos diversos centros de cincias sociais brasileiros, a quantidade de pesquisa-
dores envolvidos com o estudo desse tema vem crescendo e, mais ainda, vem exigindo
a reordenao do campo, com vistas maior visibilidade e integrao. Recentemente,
importantes esforos tm sido envidados no seio das reunies cientficas da Associa-
o Brasileira de Ps-Graduao em Sade Col et i va- ABRASCO, da ABA e da ANPOCS,
como mencionado anteriormente. O I Encontro Brasileiro de Cincias Sociais em Sa-
de, realizado em Belo Horizonte, em meados de 1993, e o I Encontro Nacional de
Antropologia Mdica, que teve lugar em Salvador, em fins de 1993, mostraram a
abrangncia e pujana desse campo, suas possibilidades de articulao mais sistemti-
ca com o mbito internacional e, concomitantemente, a convenincia de garantir espa-
o propriamente ' sociolgico' ao trabalho desenvolvido.
Com efeito, uma das caractersticas dessa rea, pelas propriedades mesmas do
objeto, a forte proximidade dos saberes biomdicos, epidemiolgicos ou psicolgi-
cos - em sentido lato - e de suas instituies. Essa contigidade necessria, sem
dvida; mas tanto pode ser enriquecedora quanto restritiva e enrijecedora. Muitas das
disscnses internas do campo se armam, por exemplo, em face da oposio entre a
perspectiva pragmtica, operativa, interventiva, inevitvel nos saberes mdicos e psi-
quitricos, e aquela concernente aos saberes sociolgicos, supostamente mais reflexi-
va ou relativizadora.
Isso certamente significa alimentar os fruns de interlocuo mais marcados
pela outra perspectiva - tais como as reunies da ABRASCO, os Congressos Brasileiros
de Neurologia, Psiquiatria e Higiene Mental, as Conferncias Nacionais de Sade para
os Povos Indgenas, os Encontros Brasileiros de Interconsulta Psiquitrica, os Encon-
tros de Histria e Sade da Casa dc Oswaldo Cruz/ Fi ocruz, as Jornadas de Psiquiatria
do Rio de Janeiro, os Encontros Nacionais de Antropologia Mdica, entre tantos ou-
tros - , mas, igualmente, lutar por abrir e manter alternativas mais propriamente 'soci-
olgicas' ou 'de Cincias Sociais' .
Foi justamente a preocupao com a demarcao desse foco mais especifica-
mente ' sociolgico' que orientou o recorte mediante o qual se props os Grupos de
Trabalho da ABA e da ANPOCS em que foram apresentados os presentes textos: "Pes-
soa, Corpo e Doena". Consideramos, alguns de ns - pesquisadores da rea - , que a
contextualizao da questo da ' doena' no interior de uma problemtica nomeada
como da ' pessoa' e do ' corpo' pode ser ' gancho' estratgico til para reentranhar,
reintegrar, na totalidade da experincia social, um conjunto de categorias, representa-
es, prticas e instituies que so solidrias da disembeddedness caracterstica da cul-
tura ocidental moderna e que pedem - para serem convenientemente tratadas sociolgi-
ca ou antropologicamente - a reimerso no contexto significativo em que se desenham.
Trata-se certamente de estratgia analtica especfica, que no compartilhada
- pelo menos, no no mesmo nvel de comprometimento - por todos os pesquisadores
envolvidos na rea. Poder-se-ia mesmo dizer que se trata de estratgia mais ' antropo-
lgica', medida que se pretende metodologicamente mais ' holista' . Na impossibili-
dade, unanimemente reconhecida, de formular proposta que seja epistemologicamente
neutra, justifica-se esta, presente, pelo menos enquanto mais distante da que tende a
prevalecer nos meios marcados pela interlocuo mdica e psiquitrica e - last but not
least - enquanto necessria e claramente aberta a todos os grupos e tendncias hoje
encontrveis na comunidade de Cincias Sociais brasileiras.
A opo holista permite que os fenmenos da ' doena' ou ' perturbao' sejam
sistematicamente associados ou cotejados com as perspectivas mais amplas dos estu-
dos dc 'construo social' da Pessoa, do Corpo ou das Emoes, mais tradicionais nos
estudos antropolgicos. Com efeito, embora eles tenham florescido mais facilmente
associados aos estudos das sociedades ' simples' ou das culturas ' clssicas' , vem-se
avolumando a produo sobre esses eixos no interior das prprias sociedades ociden-
tais modernas com implicaes analticas notoriamente abrangentes e desafiadoras.
No recorte desta coletnea, a dimenso holista do englobamento por ' pessoa' e
' corpo' mantm-se visvel nos ttulos das Partes em que se congregam os artigos.
Permanece tambm no ttulo geral, ao justapor-se a categoria ' doena' s de 'sofri-
mento' e ' perturbao' . Com efeito, o uso de noes semanticamente mais abrangentes
- e, notoriamente, de 'senso comum' - , ao referir-se ' doena' , tem efeito relativizador
fundamental em face dos pesados reducionismos 'fisicalistas' que cercam essa repre-
sentao entre ns, por fora da instituio mdica e de sua inarredvel legitimidade.
2
Nas lnguas latinas, a categoria 'sofrimento', alternativa de ' dor' , constitui
uma dessas formas inevitveis para lidar com a dimenso entranhada do adoecimento.
O que faz o essencial da ' doena' , ou seja, a experincia de uma disrupo das formas
e funes regulares da pessoa, implica necessariamente o ' sofrimento' , quer se o en-
tenda no sentido 'fsico' mais restrito, quer se o entenda no sentido ' moral' , abrangente,
em que o estamos aqui empregando e que engloba, inclui, o sentido fsico.
De um ponto de vista antropolgico, no entanto, a gama dos 'sofrimentos'
nomeveis pela experincia humana muito mais ampla que a sucesso de idias
pelas quais algumas culturas - e, em particular, a ocidental - os entendem como ' do-
ena' , ou seja, a ocorrncia efetiva de uma disrupo fsica (o disease da antropologia
mdica norte-americana) ou o reconhecimento culturalmente sancionado de uma for-
ma de evento ou situao disruptiva definida (a illness). As imprecises e vicissitudes
da categoria 'doena mental' , criada para abarcar a maior parte das antigas formas da
' loucura' no Ocidente, bem demonstram as dificuldades de se estender a conveno
fisicalista da ' doena' para as formas globais do 'sofrimento'.
O esforo de relativizao antropolgica desses fenmenos conduz ainda ao
recurso categoria ' perturbao' , herdada da antiga tradio 'mdico-filosfica' do
Ocidente. Evocar as ' doenas' e os 'sofrimentos' no quadro mais abrangente das 'per-
turbaes' significa admitir que muitas das situaes reconhecidas como ' patolgicas'
em nossa cultura - pelo menos em suas verses mais eruditas ou oficiais - podem ser
consideradas ' regulares' em outras, deixando mesmo de implicar qualquer 'sofrimen-
to' peculiar.
claro que as ' perturbaes' a que me refiro tendem a apresentar-se sob forma
Tsico-moral', se no exclusivamente ' moral' , lembrando-nos de que esta categorizao
s faz sentido com base na nossa peculiar concepo dualista do humano (cf. Duarte,
1994). Mais uma vez, os fenmenos associados ao que se pode chamar de ' doena
mental' se impem reflexo. Sua relao freqente com crenas ou explicaes ' re-
ligiosas', por um lado, ou com manifestaes do 'cultivo de si' , tais como a criatividade
artstica ou o consumo de drogas, por outro, demonstram o quanto so cruciais para a
vida humana e podem distanciar-se da negatividade do ' patolgico' .
O certo, porm, que elas tambm podem ser eventualmente consideradas como
relacionadas ao ' adoecimento' em uma cultura fortemente marcada pela hegemonia
das representaes fisicalistas da Biomedicina. O exemplo da gravidez e do parto
particularmente significativo: da mais absolutamente regular ' perturbao' , compro-
metida com a totalidade das crenas ou valores sobre a pessoa reinantes em cada cul
tura, fez-se no Ocidente um evento assimilvel ' doena' , ' medicalizado' , dependen-
te de uma srie de valores especificamente associados ao problema da verdade cient-
fica e da tecnologia mdica.
3. A maior parte dos trabalhos aqui presentes ocupa-se, de uma forma ou de outra,
da ' variao' ou ' modalidade' cultural de representaes de doena, sofrimento ou
perturbao. Por tratarem, no entanto, de situaes etnogrficas ou histricas da nossa
prpria sociedade, no temos aqui a ' grande' variao comparada que se associa
Antropologia: a que se desenha contra outras ' culturas' , sobretudo as ' tribais' . Temos,
pelo contrrio, um tabuleiro de ' pequenas' variaes internas da nossa prpria socie-
dade, cujo estatuto ontolgico muito se discute. Dois vetores avultam nessa diferenci-
ao: o que ope os saberes ' leigos' ou ' ordinrios' aos ' eruditos' ou 'cientficos' -
sobretudo, no caso, os biomdicos e psicolgicos - e o que ope as representaes das
' classes' letradas - mdias e superiores - s 'classes populares' .
A diferenciao entre saberes eruditos e ordinrios sustenta alguns dos temas
fundamentais da etnografia dos fenmenos aqui abordados. Toda a questo da
' medicalizao' , por exemplo, funda-se na diferena vivssima das representaes ati-
vas dos agentes de saberes biomdicos e aquelas que sustentam a experincia cotidia-
na das pessoas - mesmo a desses prprios agentes, sempre que no estiverem agindo
no estrito campo de suas especialidades. preciso levar em conta, enfaticamente, a
dimenso dinmica dessa oposio, na medida em que, desde o sculo XVIII, as fr-
mulas da Biomedicina no tm cessado de influir nas representaes gerais concernentes
ao adoecimento e de modificar os patamares de tolerncia e demanda das instituies
mdicas. Algo, porm, da ordem de uma ' reinveno' parece envolver a forma dessa
difuso, tornando permanentemente fluidas e complexas as fronteiras delineadas por
esse modelo de diferenas.
Possivelmente, ainda mais controvertida a diferenciao entre as representa-
es das classes 'letradas' - ' superiores' , 'mdias e superiores' , ' dominantes' , elites
etc. - c as das classes ' populares' - ' trabalhadoras' , ' pobres' , ' desfavorecidas' , ' domi-
nadas' etc. Embora se apresente com a fora de evidncia etnogrfica recorrente, a
distncia entre aqueles dois plos sociologicamente ancorados nunca facilmente
mensurvel.
Tampouco se encontra critrio unnime para delinear as fronteiras, as zonas dc
transio entre os dois grupos. Eu prprio, em trabalhos antigos, procurei descartar
como impreciso o uso de 'classes populares' para designar o plo que mais se afasta
de nossas prprias representaes - de intelectuais de classe mdia - , considerando,
por muitos motivos, como mais sustentvel a categorizao de 'classes trabalhadoras'
(cf. Duarte, 1986). Posteriormente - apesar de continuar julgando muito bem funda-
dos os argumentos em prol daquela outra delimitao - acabei por tambm utilizar o
designativo menos preciso de 'classes populares' . Dadas as dificuldades de determi-
nao das fronteiras desses espaos culturais, hoje parece-me melhor utilizar justa-
mente a expresso menos precisa. O que um convite renovao de uma discusso
que transcende os textos aqui presentes, mas deles recebe, sem dvida, subsdios.
3
A variedade das informaes etnogrficas apresentadas nesta coletnea e as
formas pelas quais elas foram problematizadas espelham - como j disse - uma quali
dade que se deseja preservar nos trabalhos antropolgicos brasileiros voltados para a
' sade' e a ' doena' : alta flexibilidade das perspectivas metodolgicas, permanente-
mente aliada crtica dos pressupostos analticos. As reiteradas e combinadas refern-
cias a Mauss, a Dumont, a Schutz, a Foucault, a Garfinkel, a Bourdieu, a Goffman, a
Evans-Pritchard, a Boltanski, a Herzlich & Pierret, a Mary Douglas e a Arthur Kleinman
bem demonstram o quanto esses trabalhos se inserem na ' tradio' da Antropologia
brasileira: pluralidade crtica e criativa (cf. Peirano, 1991).
A Antropologia que se faz no Brasil tem efetivamente se caracterizado por uma
exposio regular multiplicidade das influncias internacionais - inclusive
epistemolgicas - , o que torna com freqncia sua contribuio menos ntida ou
tipificada do que a das antropologias nacionais metropolitanas, mas possivelmente
mais gil no enfrentamento da multiplicidade de identidades e foras sociais em jogo
no Ocidente contemporneo.
Essa multiplicidade implica, necessariamente, uma sensibilidade muito peculi-
ar s grandes tenses que atravessam, desde sua origem, as Cincias Humanas ociden-
tais e que continuam a energizar os desenvolvimentos contemporneos. Enfrentam-se,
em nosso campo, todas as configuraes epistemolgicas que se encontram em ao
nos campos metropolitanos, porm sem as tradies hegemonizantes que se pode per-
manentemente reconhecer nas diferentes culturas nacionais centrais.
A preservao dessa tenso pareceria boa empreitada, caso houvesse acordo
em considerar que a riqueza de toda a tradio cientfica ocidental - e, em particular,
das 'cincias humanas' - se sustenta justamente na "inarredvel tenso" entre posi-
es epistemolgicas antpodas em dilogo (cf. Duarte, 1995). inevitvel que, para
garantir a preservao dessa tenso, a cada momento, se v avaliando os desenvolvi-
mentos do campo e propondo correes de rumo sempre que alguma das posies
aproximar-se de uma hegemonizao prejudicial ao fluxo proposto.
Quando se comeou a proceder mencionada e recente reorganizao da frou-
xa rede dos antroplogos operando com Sade/Doena no Brasil, pareceu-me que o
principal obstculo ao referido fluxo seria uma importao mecnica do empirismo
pragmaticista da Antropologia Mdica norte-americana, o qual, combinado com a re-
cente influncia 'neo-romntica' ou 'interpretativista', configura o movimento mais
abrangente que chamei em outro trabalho de 'empirismo romntico' (Duarte, 1985).
A resistncia estratgica a esse movimento se sustentava, alm do mais, na
avaliao mais permanente ou estrutural de que ele representa uma reativao de pres-
supostos da ideologia individualista que d suporte ao senso comum da cultura oci-
dental moderna e que se ope - como permanente resistncia - ' percepo sociol-
gica' mais plena, quilo que se pode denominar 'universalismo romntico' .
Continuo achando que esse o foco principal de debate entre ns, nesta rea temtica,
e nesse sentido que expresso aqui - repetindo palavras que disse em mesa-redonda da XX
Reunio Brasileira de Antropologia (em Salvador, 1996) - uma viso dos investimentos
antropolgicos a respeito dos fenmenos ditos da 'doena' e 'sade' baseada no pressu-
posto de um 'holismo' metodolgico, na presuno de um entranhamento simblico radi-
cal de todas as experincias humanas e de sua inseparabilidade do horizonte integrado de
cada cultura, implicando, portanto, o permanente desafio do ' relativismo' .
Avulta, nessa reflexo, a nfase no fato de que o horizonte simblico da 'cultu-
ra ocidental moderna' subjaz a qualquer esforo de conhecimento ou compreenso
antropolgica e que a percepo controlada desse fundamento a via-rgia do traba-
lho de nossa disciplina. O nosso ' relativismo' possvel , assim, ' relativo' ele prprio,
situacional. Optar por evocar as temticas da Pessoa e do Sofrimento (ou Dor) neste
contexto, significa aproximar-se dos fenmenos em questo, enfrentando-os com base
em categorias consideradas como mais estruturantes ou mais expressivas no quadro da
cosmologia ocidental moderna.
A teoria em que me apoio para oferecer uma interpretao antropolgica sobre
a aqui defendida "inarredvel tenso" a de Dumont (1972): o projeto universalista
racionalista seria a expresso gnoseolgica da ideologia central da cultura ocidental
moderna, o individualismo, e o contraponto romntico no seria seno a retraduo da
percepo hierrquica do mundo vazada nos termos de uma resposta ao individualis-
mo - nesse sentido, literalmente um contraponto. Para meus fins, procuro acrescentar
a esse modelo a compreenso de um terceiro termo ou configurao: o empirismo, que
deveria ser considerado como a expresso operacional ou metodolgica, por assim
dizer, espontnea, do individualismo.
Formula-se, desse modo, o notrio paradoxo: a Cincia Social, para ser cincia
' do social' - no sentido lato do termo - , necessita de 'relativa relativizao' do sistema
ideolgico que sustenta o seu prprio projeto de ser cincia e deve, nesse sentido,
aproximar-se - sempre tendencialmente - do modo pelo qual o homem se realiza no
mundo - mesmo que no seja, ainda ou jamais, absolutamente claro o estatuto ou nvel
ontolgico da qualidade holista dessa experincia - que se pode, ainda assim, tentar
reconhecer.
A aproximao tendencial no se pode completar, porm, sob pena de fazer
ruir o prprio projeto de conhecimento. A repetio, a parfrase ou a modulao do
senso comum so atributos dos mltiplos discursos regulares de qualquer cultura e,
em muitos casos, como o das cosmologias religiosas, faz-se acompanhar das mais
refinadas formas de elaborao cognitiva. A especificidade do projeto cientfico oci-
dental no est na sofisticao dos recursos formais utilizados, mas na maneira pela
qual os faz operar, na recusa da totalizao garantida a priori pela significao, na
manuteno da atitude de suspeita metdica ante as totalizaes reemergentes e
na preservao do horizonte de expectativas ligado ao progressivo desvendamento
das condies de organizao da realidade.
Um dos mais notveis exemplos dessa "inarredvel tenso" , sem dvida, o
fato de que a prpria percepo de uma ' realidade' externa estruturada e cognoscvel
a que est jungido o projeto universalista tenha sido enriquecida e espessada na cons-
tituio das cincias humanas, graas a mltiplas e sucessivas inspiraes dc cunho
' romntico' .
Os investimentos antropolgicos sobre ' doena' ou ' sade' repetem todas as
vicissitudes desses enfrentamentos e tenses. Como a organizao de seu subcampo sc
deu bastante tardiamente - em comparao com outras temticas da disciplina c em
dilogo inevitvel com as ' medicinas' , em particular a Biomedicina ou Medicina
cientificista ocidental moderna - e as 'psicologias' naturalistas, uma boa parte do es
foro fundante teve que se concentrar na oposio ao 'reducionismo biomdico' , pro-
curando desconstruir, em mltiplas frentes, a arraigada percepo de uma 'naturalida-
de' das experincias do adoecimento e de suas teraputicas.
Embora muitos textos clssicos encaminhassem aproximaes a temas que fo-
ram particularmente desenvolvidos dentro do novo campo - sobretudo Evans-Pritchard
e seu tratamento da questo da causalidade - , a Antropologia da sade/doena teve
que reconstruir, por sua prpria conta e com base em seus prprios materiais, as pol-
micas que antes haviam atiado as reas mais tradicionais do parentesco, da religio,
da organizao poltica ou da sexualidade.
Podemos reconhecer, nesse trabalho, um primeiro perodo - dos anos 1960 aos
80 - em que prevaleceu linearmente a luta em torno da oposio 'natureza versus
cultura' , com a progressiva afirmao da posio 'construtivista' ou ' nominalista' so-
bre o objetivismo/ realismo associado Biomedicina. Um segundo perodo, iniciado
na dcada de 80, transpe a luta para o eixo 'cultura versus experincia individual' ,
espelhando a generalizada influncia das posies neo-romnticas.
Neste novo plano, a nfase na ' experincia' e a expectativa de recuperao do
carter de ' totalidade' , com que se impe ao humano, implica a busca da superao
das dicotomias entre razo/emoo ou corpo/esprito.
4
Curiosamente, o ' corpo' volta
ao primeiro plano no mais apenas como o organismo natural determinante: agora o
ente de controvertido estatuto que serve de palco ativo da ' experincia' ou ' vivncia'
dos sujeitos.
Essa caracterizao rpida - mais centrada nos desenvolvimentos norte-ameri-
canos do que nos franceses, em boa parte por causa do carter mais macio e sistem-
tico da produo dos primeiros - deixa escapar nuances importantes e no enfatiza
suficientemente a abrangncia da produo etnogrfica decorrente desses investimentos.
Embora muito expostos a crticas mais analticas, como as que eu mesmo for-
mulei a propsito do tratamento especfico da "sndrome dos nervos", no h dvida
sobre a quantidade e peso dos materiais ofertados anlise nesta ltima dcada por um
movimento cada vez mais amplo e articulado de pesquisadores em Antropologia da
sade/doena, na verdade, autonomeadamente ' mdica' (cf. Duarte, 1996a).
O principal obstculo ao bom termo dessa notvel empreitada etnogrfica a
maneira razoavelmente ingnua com que se acreditou resolvida a problemtica da
' cultura' , uma vez subjugada a hidra do biodeterminismo. Desse modo, podemos ve-
rificar que permanece, como substrato profundo de todas as argumentaes, uma no-
o genrica e muito vaga de 'cultura' - que s se atualiza afirmativamente na recusa
ao biodeterminismo. Os empregos subseqentes expem a fragilidade do uso residual
desse conceito nas fmbrias das afirmaes mais categricas sobre a ' experincia' e o
embodiment.
Os autores norte-americanos tendem, nesse sentido, a um uso puramente
emprico de ' cultura' , aplicada a quaisquer subconjuntos com marcadores diacrticos
de experincia social: cultura ocidental, norte-americana, afro-americana, latina, fran
co-canadense, irlandesa, mojave etc. Claro que esse o uso que prevalece hoje, em
geral, no senso comum ocidental, residindo o problema menos nessa utilizao descri-
tiva em si do que na impossibilidade de lidar com marcadores de diferenas efetiva
mente significativos, teis para a compreenso das continuidades e descontinuidades nas
representaes sobre pessoa, corpo, emoo, perturbao, sofrimento, doena e sade.
A proposta, aqui reiterada, de um 'culturalismo radical' procura demonstrar
que esse acervo de sinais empricos acumulados s poder efetivamente brilhar com
toda a pujana, se vier a ser observado luz de teoria consistente e ambiciosa no que
concerne constituio e permanncia das diferenas culturais dentro das sociedades
configuradas, tendo por referncia a cultura ocidental moderna.
5
Esse ponto poderia ser ilustrado por muitos caminhos. Em outros momentos,
utilizei ora o recurso rea semntica mais estrita dos ' nervos' ora rea mais ampla
da Pessoa. Volto a esta ltima, acoplada questo do 'sofrimento', procurando produ-
zir melhor equilbrio argumentative iluminador do tema da ' doena' .
O 'culturalismo radical' significa no perder de vista que a Antropologia que
fazemos e toda a cultura que nos sustenta - a ns, intelectuais das classes mdias e
superiores das sociedades ocidentais - so solidrias de amplo sistema de representa-
es - que tanto pode ser visto como ' cosmologia' quanto como 'ideologia' - a que se
tem dado o nome de ' individualismo' . O carter axial desse sistema vem sendo apon-
tado desde h muito tempo, ainda que no necessariamente sob tal nome.
Para no sairmos dos mais bvios de nossos pais fundadores, Marx descreveu-
o sob a espcie de sua verso ' poltico-econmica' : o liberalismo contratualista;
Durkheim analisou-o indiretamente em toda a sua obra, porm, mais explicitamente,
em seu notvel O Individualismo e os Intelectuais (1970 [1898]); e Weber ocupou-se
dele sob o ponto de vista das modificaes de ethos e racionalidade que implicara o
triplo processo da "desmagicizao", "fraternizao" e "mundanizao", caractersti-
co da modernidade. Mais perto de ns, Norbert Elias ampliou a compreenso da
hegemonizao do individualismo mediante sua anlise do regime de "autocontrole"
intrnseco ao "processo civilizatrio", e Foucault esmiuou diversos dos seus meca-
nismos condutores - sobretudo no que toca "individualizao" - pelo poder discipli-
nar e pelo dispositivo de sexualidade.
Mesmo autores recentes, em posio antpoda a qualquer ' culturalismo' , aca-
bam oferecendo precioso material de corroborao dessa hiptese, como o caso do
La Souffrance Distance, de Luc Boltanski, que descreve mi nuci osament e a
concomitncia da constituio da esfera pblica moderna com a produo da atitude
de distanciamento dos sujeitos em relao ao mundo e s emoes alheias, em que
consiste a prpria interiorizao do indivduo moderno (cf. Boltanski, 1993; resenha
em Duarte, 1996b).
A mais notvel qualidade dessa configurao de valores - descrita por Louis
Dumont como paradoxal justamente por privilegiar, como chave da totalidade, a par-
te, o ' indivduo' - a de que ela se ordena pautada em uma representao especfica e
obsessiva da Pessoa; diferente, nisso, de todas as demais culturas, cujas teorias da
Pessoa se ordenam sobre princpios cosmolgicos que a englobam e situam diferenci
almente. O modelo do individualismo exige ateno particular a esse patamar da com-
parao, transformado em experincia crucial.
Todas as mltiplas outras reas mais especficas da vida social dependem do
modo pelo qual se articulam com o foco central dos valores, ou seja, com a represen
tao da Pessoa individualizada moderna e sua coorte de efeitos concomitantes: a
racionalizao e afastamento do sensvel, a fragmentao dos domnios e a universalizao
dos saberes, a interiorizao e psicologizao dos sujeitos, a autonomizao da esfera
pblica e a institucionalizao do liberalismo em sentido lato, a intimizao da fam-
lia, a autonomizao dos sentidos e, conseqentemente, de uma ' esttica' e de uma
' sexualidade' .
Os fenmenos da ' doena' constituem, na cultura ocidental moderna, um
subproduto do cruzamento daqueles princpios: a ' medicalizao' ou ' naturalizao'
decorre da racionalizao e fragmentao dos domnios do saber, empreendida siste-
maticamente desde a fisiologia do sculo XVII contra os antigos saberes cosmolgicos
holistas - a doutrina dos humores e da melancolia, por exemplo.
A lamentada perda da totalidade da experincia do adoecer em nome de um
privilgio da realidade reificada das ' doenas' , a que se dedica uma crescente 'especi-
alizao' e ' tecnicizao' , no seno um dos aspectos desse longo e inevitvel pro-
cesso. Sobre a ' mercantilizao' dos servios de sade e a 'indstria' do hospital/asilo
nem preciso dizer muito: o senso comum j reconhece sua vinculao com o libera-
lismo econmico.
No plo oposto e em tenso com a ' naturalizao' , a 'responsabilizao' ntima
dos doentes pela ocorrncia de suas 'perturbaes' - outro fenmeno to regularmente
denunciado pelos crticos do nosso estado de coisas - decorre linearmente da interiorizao
e psicologizao dos sujeitos (cf. exemplo etnogrfico em Good, M.-J., 1992).
Por trs de todos esses desenvolvimentos, creio poder demonstrar a preeminn
cia da nossa concepo de Pessoa: seu carter, ao mesmo tempo autonmico, singula
rizado, interiorizado; sua dependncia de um corpo ' naturalizado' , cujo conhecimento
e manipulao depende dos saberes cientficos especializados; sua expectativa tensa
de ver reconhecida a preeminncia de sua vontade interior e de ser coerente com os
regimes contraditrios de verdade com que convive e em que acredita (verdade obje-
tiva versus subjetiva, externa versus interna et c) .
4. menos bvio que se possa ver, por detrs desse quadro, a mediao de um
complexo sistema de representaes concernentes relao da Pessoa com o mundo,
que envolve os temas da Dor e Sofrimento, bem como os da Excitao e do Prazer.
Como ressaltei em outro trabalho, a cultura ocidental moderna herda da tradio crist
uma preocupao instituinte com a corporalidade e a mundanidade (cf. Duarte &
Giumbelli, 1994).
O senso comum contemporneo costuma creditar a essa tradio uma atitude
de desprezo e violncia para com a ' carne' . Muito pelo contrrio, toda a evidncia
histrica aponta na direo de uma atitude de peculiar ' valorizao' , paradoxal aos
nossos olhos laicizados porque voltada para a 'santificao' da matria e do corpo: o
' templo do esprito' . A essa antiga nfase deve-se creditar a sempre crescente ateno
corporalidade humana - sobretudo a partir do Renascimento (cf. Le Breton, 1988) -
e aos mecanismos que permitem que aloje e alimente o esprito divinamente animado.
Toda a filosofia moderna se funda na inquietao a respeito dos sentidos e das paixes
- considerados como materiais - e sua relao com a razo - a res cogitans. Os
' empiristas' levam essa explorao s mais radicais conseqncias, consolidando a
verso mecanicista do Homem, resultado das 'experincias' sensorials registradas pelo
seu 'sistema nervoso' .
Tambm tradio crist pode ser atribuda a pista de outra linha de desenvol-
vimento do ' sensualismo' ou ' sensorialismo' ocidental moderno: a nfase na dor, na
paixo e no sacrifcio de si como acesso ao Valor, proximidade do divino, conforme
radicalmente sublinha desde logo a imagem da Paixo do Cristo. Uma linha de desen-
volvimento, hoje muito bem descrita, carrega o modelo da auto-imolao do pietismo
pr-reformado ao puritanismo, do pietismo reformado ao romantismo, chegando
frmula do ' artista' , do 'cientista' e de uma srie de outros 'profissionais' contempo-
rneos, entre os quais, certamente, os ' mdicos' , 'enfermeiros' etc.
Desse modo, os caminhos da ' doena' no Ocidente foram constrangidos por
essas balizas: de um lado, a racionalizao cientifcista aplicada natureza, em geral,
e corporalidade, em particular - tal como defesa radical da sua integridade material - ,
produziram o que se chama agora de Biomedicina, com todos os seus benefcios e
fraquezas. De outro, a interiorizao auto-responsabilizante produziu os mltiplos sa-
beres ' psi' , com suas eventuais propostas teraputicas - mais ou menos antagnicas
com as ambies da Biomedicina - de ocupar, por intermdio dos ' nervos' e do ' cre-
bro' , tambm as perturbaes morais. A Psiquiatria contempornea expressa muito
bem essa tenso, abrigando desde as verses mais biologizantes s mais morais - tanto
do lado da influncia da Psicanlise quanto da de alguns ' sociologismos' .
Um patamar ampliado de ' sade' fsica foi sendo obtido progressivamente s
custas da ' dor' , em movimento que no deixou de registrar inquietaes acerca da
' perda' desta ltima - na verdade, foi necessrio distinguir entre ' dor patolgica' e
'dor normal' , do que testemunho a polmica em torno do parto natural, por exemplo,
ou o contnuo desenvolvimento e dedicao a disciplinas corporais ' dolorosas' consi-
deradas ' saudveis' . Nunca deixou, porm, de permanecer o tema do valor do 'sofri-
mento' ora como fundante do prprio estado de sociedade ora como condio de aces-
so a patamares legtimos de condio social.
6
De modo geral, no entanto, a tendncia tem sido a de crescente legitimidade da
expulso da dor do horizonte das experincias consideradas como ' corporais' e a
concomitante interiorizao da problemtica de sua ' experincia' . O surgimento re-
cente da idia de ' sofrimento psquico' , que pode no ser consciente, expressa
caricaturalmente esse processo, associado forma peculiar de interiorizao patroci-
nada pela Psicanlise.
7
O impressionante desenvolvimento da literatura - sobretudo antropolgica - a
respeito da ' dor crnica' testemunha, por outro lado, dessa preocupao com a di-
menso ' subjetiva' , 'experiencial' - e, por isso mesmo, supostamente mais verdadeira
- do sofrimento humano (cf., por exemplo, Vrancken, 1989; Baszanger, 1989; Good,
M.-J. et al., 1992). Hoje assistimos - em especial, nos meios neo-romnticos - a reto-
mada da expectativa de reunificao da 'totalidade perdida' que - como j mencionei
- procura recusar a dicotomia 'corpo/esprito', mas no pode prescindir de linguagem
psicologizante ou, pelo menos, interiorizante (cf. Good, M.-J. et al., 1992, por exemplo).
Herzlich & Pierret (1984) descreveram com preciso o tema da maladie
libratrice, presente em seus informantes franceses, que encena igualmente essa arti
culao hierrquica entre fsico e moral, em contraposio viso habitual, entre ns,
da prevalncia generalizada da dicotomia. A estetizao da experincia humana - ini-
ciada no Renascimento e teorizada e aplicada sistematicamente a partir do final do
sculo XVIII - ensejou fortssimo desenvolvimento de. explorao dos sentidos e sen-
timentos, turvando com freqncia as fronteiras entre dor e prazer sob a rubrica geral
da 'sensibilidade' (cf. Lawrence, 1979). Vincent-Buffault nos d magnficos exem-
plos das diferentes formas histricas dessa dimenso ainda to estruturante entre ns,
como no tocante ao prazer de chorar ante uma obra de arte (Vincent-Buffault, 1988).
O desenvolvimento concomitante da chamada "esttica do mal", de Sade a Nietzsche
ou Bataille, to fundamental para a arte contempornea e para a organizao dos mo-
vimentos hedonistas do sculo XX, mal pode merecer referncia aqui.
Na verdade, toda esta evocao um tanto impressionista do carter fundamental da
dor para a cultura ocidental moderna apenas introduz melhor compreenso dos cami-
nhos que vm trilhando mais recentemente as antropologias da ' doena' , do 'sofrimen-
to' e da 'perturbao'. A nfase na 'experincia' tem tornado inevitvel um deslizamento
crescente na direo de uma antropologia das ' emoes' - s vezes chamada de
'etnopsicologia' - ou de uma antropologia da 'dor' - ambas cada vez mais vigorosamente
presentes no horizonte, tanto independentemente quanto ligadas problemtica da 'sade/
doena' - , incluindo etnografia original dentro ou fora das sociedades ocidentais.
notvel como a projeo dessa preocupao tipicamente ocidental impulsio-
na uma poderosa mquina de captao de informaes, a qual, para muitos, acaba por
encurralar, como tarefa impossvel, a aspirada comparao: ou bem se objetiva e as-
sim se perde ou deslustra a suposta 'subjetividade' desse fenmeno, ou bem no se
objetiva e tampouco se compara.
5. A reviso de algumas das marcas das representaes da cultura ocidental mo-
derna sobre ' doena' e 'sofrimento' j nos permite entrever a complexidade de que se
revestem para ns tais questes e, ao mesmo tempo, a riqueza da utilizao de uma
chave analtica coerente, ainda que tentativa, como todas, para as necessrias emprei-
tadas comparativas. Isso nos possibilita concordar, de nova maneira, com a literatura
antropolgica que fala da multiplicidade dos sistemas de representao de ' doena/
sade' . Permite-nos, sobretudo, distinguir metodologicamente: a-) os testemunhos re-
lativos a situaes culturais com baixa interveno da ideologia individualista e de
seus corolrios - como o caso da maioria das culturas tribais; b-) os que remetem a
situaes culturais em que essa interveno foi profunda, mas seletiva, por aplicar-se
sobre outras formas culturais altamente estruturadas ou maciamente compartilhadas
- como o caso das sociedades ' orientais' ou ' islmicas' ; c-) os relativos s socieda-
des metropolitanas ocidentais - em que a difuso e institucionalizao da ideologia
individualista mxima, mas de modo algum completa ou uniforme; e, d-) finalmente,
os que remetem a situaes culturais basicamente pertencentes cultura ocidental,
mas que, por muitos motivos, manifestam baixa ou heterognea institucionalizao da
ideologia individualista - como o caso das sociedades perifricas do Ocidente, mor-
mente as latino-americanas e as europias orientais.
8
Ao lado do empreendimento etnogrfico comparado em si mesmo, a posio
aqui defendida implica o questionamento concernente a questes que nos formula
mos, a partir desse horizonte cultural que o nosso, nico e inultrapassvel. Esse
controle epistemolgico deveria ensejar pouco a pouco, como j ensejou em outras
subreas do conhecimento antropolgico, a produo de conceitos um pouco menos
etnocntricos, um pouco menos viciados. Isso importa freqentemente na adoo de
novas terminologias ou, pelo menos, na suspenso do sentido das que mais espontane-
amente se apresentam a nosso espirito.
Foi nesse sentido, por exemplo, que defendi a adoo da categoria 'perturba-
es fsico-morais' para designar congregadamente a rea dos fenmenos humanos
que nossa cultura individualista segmenta em 'doena mental' , ' possesso' , ' transe' ,
'distrbio psquico' , 'distrbio psicossocial', ' somatizao' etc. O qualificativo 'fsi
co-moral' procurava justamente reconstituir o carter de vnculo ou mediao de que
esses fenmenos se cercavam nas relaes entre a corporalidade e todas as demais
dimenses da vida social, inclusive, e eventualmente, a espiritual ou transcendental.
As dificuldades de compreenso comparada de tantas dessas situaes no di-
minuem propriamente ao utilizar-se a grade analtica aqui proposta. Afinal de contas
permanecem as complicadssimas questes relativas ao estatuto do 'no-individualis
mo' , presentes desde as propostas originais de Louis Dumont no que diz respeito
"hierarquia", e, de qualquer modo, tambm as relacionadas aos critrios empricos
pelos quais se pode discernir a aplicabilidade e rentabilidade desse esquema de anlise.
O que se ganha a possibilidade de melhor conceber e afinar a comparao, de
melhor controlar as dvidas emergentes, de melhor garantir a preservao de um hori-
zonte universalista de busca e pesquisa. O mais delicado aspecto da atual voga 'empirista
romntica' , a meu ver, a dissoluo desse horizonte, com a singularizao dos esfor-
os analticos sucedendo-se singularizao pretendida para as situaes observadas
e para as prprias situaes de observao - a tal hipocondria a que se referiu mordaz
mente Geertz a propsito de seus herdeiros.
Em seminrio recente, fiz com que se lesse sucessivamente dois belos traba-
lhos antropolgicos que lidam com situaes de destruio corporal e dor: o
L' Experience Concentrationnaire, de Pollak (1990), e o Knowledge and Passion, de
Rosaldo (1980). Entre os mltiplos nveis de anlise que essas obras nos ensejaram e
ensejam chamou a ateno de todos o modo pelo qual a discusso anterior a respeito
do peso das formas de ' interiorizao' na compreenso da ' experincia' do sofri-
ment o das sobrevi vent es do Hol ocaust o permi t i a-nos formular uma quest o
abrangente acerca da rica etnografia de Michel Rosaldo, da qual ela no parecia ter
se apercebido: a experincia da caa s cabeas entre os Ilongot s se apresenta,
tanto para os nativos quanto para a pesquisadora, do ponto de vista dos caadores,
nunca das vtimas. Ao passo que na etnografia de Pollak das vtimas fundamental-
mente que se h de tratar.
Embora tenha havido muitos ensaios sobre a psicologia do torturador nazista, no
houve e, provavelmente, nunca haver nenhuma pesquisa antropolgica sobre este outro
nvel do fenmeno. Na verdade, podia-se perceber que estava claramente em jogo o vetor
das representaes de Pessoa e Sofrimento prevalecentes entre ns: as vtimas dos campos
de concentrao eram sujeitos interiorizados, individualizados, expostos a uma conjuntura
escandalosa de destruio. Sua reflexidade espelho direto de nossa auto-imagem.
Entretanto, os caadores de cabea Ilongot partem de outra concepo de Pes-
soa e Dor: a violncia e o sofrimento so dimenses 'estatuintes' e no ' constitutivas' ;
mesmo esse sofrimento no o sofrimento 'interior' de quem sofre ao exgena -
como no caso, a destruio - , mas o sofrimento 'relacionai' de quem perde um parente
til ou de quem impedido de aceder plena condio de Pessoa por no poder mais
caar a cabea ritual. A pesquisadora enfrenta com galhardia o desafio de fazer a
etnografia da "experincia" de Pessoas que no so ' indivduos' , de sujeitos no-
interiorizados, com as dificuldades que ela minuciosamente reconhece e examina.
Porm, nesse caso, a evidncia da mxima alteridade cultural - tpica da tradio an-
tropolgica -justifica em si o portentoso desafio.
A posio simtrica inversa seria a de enfrentar a etnografia do torturador na-
zista. Esta , para ns, um desafio extenuante, porque cercada do escndalo ou anoma-
lia de compreender sujeitos que foram construdos dentro de nossa cultura, mas que
no s no se comportam como ' indivduos' , como assumem comportamento coletivo
de degradao e destruio de outros ' indivduos' .
claro que nem sempre esto em jogo situaes etnogrficas limite ou nuances
interpretativas como as desse exemplo. O risco mais grave que a presente posio
procura evitar o da repetio das universalizaes ingnuas impostas pela no-
relativizao dos pressupostos ideolgicos de nossa prpria cultura. Em outro texto
(Duarte, 1993), procurei chamar a ateno para a forma pela qual a Antropologia Mdica
norte-americana projetava o esquema tipicamente individualista da ' dominao' de
' classe' ou de ' gnero' - ele prprio necessrio e legtimo para lidar com situaes
relativas institucionalizao da ideologia da igualdade nas sociedades ocidentais -
concernentes a espaos ou questes culturais completamente alheios a essa configura-
o. No que tocava interpretao dos fenmenos do ' nervoso' popular, substitua-se
assim o temido ' reducionismo biomdico' por outros ' reducionismos' no menos
etnocntricos (ver, sobretudo, Cayleff, 1988; Van Schaik, 1989; Lock, 1989, e Scheper-
Hughes, 1992).
6. As presentes ponderaes, que reenfeixam muito do que tenho defendido
nos ltimos anos, no tm por objetivo substituir - pela desqualificao - os em-
preendimentos ora em curso sob tantas perspectivas no que tange pessoa, dor,
doena, sade e s emoes. Visam a, pelo contrrio, enriquec-los mediante a
oferta de interlocuo com perspectiva mais englobante ou abrangente, capaz de
reformular as contradies e aporias em que se tm enredado as interpretaes
mais empiristas.
Lendo recentemente uma boa resenha das posies epistemolgicas neste nos-
so campo, feita por Bibeau & Corin - fundamentada, alis, em perspectiva diferente
da minha - , ocorreu-me aproveitar uma referncia histrica, cuja memria ela me
refrescava (cf. Bibeau & Corin, s/d). Entre os quatro nveis tradicionais da interpreta-
o bblica - atribudos a Orgenes e Santo Agostinho - , de cuja herana se desentra-
nha a moderna hermenutica, alinha-se, aps as interpretaes ' literal' , 'alegrica' e
' moral' , a interpretao ' anaggica' , como a ltima e sempre mais obscura de todas.
Conforme lembram todos os comentadores, trata-se a de tudo o que respeita a
percepo dos significados mais elevados, sublimes, teleolgicos ou abrangentes do
texto sagrado. Talvez mais ' englobantes' pudssemos dizer, nesse caso, na linguagem
da ' teoria da hierarquia' - querendo com isso sublinhar que uma laica anagoge
deve englobar as mltiplas outras interpretaes que se produz sobre os fenme-
nos sociais, de modo a evitar a entropia dos dados empricos desatentos de sua
maior significao.
Os 12 textos que seguem, leitor, devero instru-lo no apenas quanto infor-
mao linear que podem aportar sobre tal ou qual aspecto de seu maior e presente
interesse nas questes da ' doena' , do 'sofrimento' e da ' perturbao' : sua virtude
'etnogrfica' justamente a de nos inquietar e fazer refletir sobre o sentido ltimo de
nossos maiores e mais presentes interesses.
Luiz Fernando Dias Duarte
NOTAS
1 Realizado em Salvador, em fins de 1993, por iniciativa de um grupo de cientistas sociais
reunido na II Conferncia Brasileira de Epidemiologia (Belo Horizonte, 1992) e sob a res-
ponsabilidade principal do Programa de Ps-Graduao em Sade Coletiva da Universida-
de Federal da Bahia (cf. ALVES & MINAYO, 1994: "Introduo").
2 Na tradio anglo-sax, o uso de categorias como affliction e distress envolve justamente
esse efeito de evocao da consideravelmente mais vasta mancha semntica em que se situ-
am os fenmenos do adoecimento em qualquer cultura.
3 Tratarei, adiante, dos condicionantes mais abrangentes desses dois vetores de diferenciao,
que no se deixam compreender sem a referncia aos princpios da ordem cosmolgica
ocidental moderna.
4 Ver os exemplos tpicos, ainda que um tanto aleatrios, de ROSALDO ( 1984) ; SCHEPER-HUGHBS
& LOCK ( 1987) e GOOD, M.-J. et al. ( 1992) .
5 O que hoje inclui praticamente todas as sociedades do planeta, mesmo as mais perifricas ou
mais aparentemente distantes, como as 'orientais' ou as 'islmicas'.
6 Denomino "dor instituinte" aquela que se imagina estar na raiz da instituio da vida em
sociedade e compe, desse modo, o elenco das "emoes originrias" nas sociogneses dos
empiristas e nas sociologias de Durkheim, de Elias ou de Bourdieu, por exemplo. Distingo
como "estatuinte", a dor implicada nas provas de acesso de determinados sujeitos sociais a
estatutos "atribudos", predeterminados (conforme as escarifcaes dos ritos de passagem);
e como "constitutiva", aquela implicada em projetos de "aquisio" pela via da construo,
constituio ou transformao interior - como tudo o que se relaciona tradio do Beruf e
do Bildung no Ocidente.
7 Essa representao, hoje associada necessariamente ao modelo psicanaltico, tem sua pre-
sena retraada no Ocidente Moderno, por GAUCHET & SWAIN ( 1980: 432) , ao alienismo de
ESQUIROL. Ver em MCDOUGALL ( 1972: 177) um uso tpico da categoria no quadro da psica-
nlise contempornea.
8 Os dois vetores de diferenciao presentes nos textos desta coletnea, a que me referi ante-
riormente, s ganham pleno sentido nestas duas ltimas condies. Tanto a oposio entre
saberes eruditos e laicos quanto a oposio entre representaes das "elites" e das "classes
populares" expressam a descontinuidade da difuso da ideologia individualista, ora tendo
em vista sua "racionalizao cientfica" do mundo ora com a finalidade de transformao
das Pessoas relacionais em Indivduos que se pensam como autnomos. Esta ltima ques-
to hoje bem mais visvel na condio ' d' , em que se encontra uma sociedade como a
brasileira, do que nas sociedades metropolitanas - condio ' c' - , que tendem a considerar
a permanncia de bolses relacionais como fenmenos exticos ou exgenos relativos a
minorias "tnicas", por exemplo.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ALVES, P. C. & MINAY O, M. C. de S. (Orgs.)Sade e Doena: um olhar antropolgico.
Rio de Janeiro: Ed. Fiocruz, 1994.
BASZANGER, I. Pain: its experience and treatments. Social Science and Medicine,
29(3), 1989.
BIBEAU, G. & CORIN, E. From Submission to the Text to Interpretive Violence, s/d.
(Mimeo.)
BOLTANSKI, L. La Souffrance Distance. Morale humanitaire, mdias et politique.
Paris: d. Mtaili, 1993.
CAY LEFF, S. Prisoners of their own feebleness: women, nerves and Western Medicine
- a historical overview. Social Science & Medicine, 26(12), 1988.
DI NI Z, D. Di l emas ticos da vida humana: a trajetria hospi t al ar de cri anas
port adoras de paralisia cerebral grave. Cadernos de Sade Pblica, 12(3),
1996.
DUARTE, L. F. D. Da Vida Nervosa (nas classes trabalhadoras urbanas). Rio de Janei-
ro: Zahar/CNPq, 1986.
DUARTE, L. F. D. Os nervos e a Antropologia Mdica norte-americana: uma reviso
crtica. Physis. Revista de Sade Coletiva, 3(2), 1993.
DUARTE, L. F. D. A outra sade: mental, psicossocial, fsico-moral? In: ALVES, P. C. &
MINAY O, M. C. de S. (Orgs.) Sade e Doena: um olhar antropolgico. Rio de
Janeiro: Ed. Fiocruz, 1994.
DUARTE, L. F. D. Formao e Ensi no na Ant ropol ogi a Social: os dilemas da
universalizao romntica. In: OLIVEIRA, J. P. (Ed.) O Ensino da Antropologia no
Brasil. Temas para uma discusso. Rio de Janeiro: Associao Brasileira de An-
tropologia, 1995.
DUARTE, L. F. D. Pain as Human Experience. An Anthropological Perspective.
Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1992. 214p. Resenha-
do por GOOD, -J. D.V. et al. (Orgs.) Mana. Estudos de Antropologia Social,
1(2), 1996a.
DUARTE, L. F. D. Distanciamento, reflexividade e interiorizao da Pessoa no Ociden-
te. A propsito de ' La Soufrance Distance. Morale humanitaire, mdias et
politique' , 1993 - Boltanski, Luc. Paris: d. Mtaili. Mana. Estudos de Antropo-
logia Social, 3(1), 1996b.
DUARTE, L. F. D. & GIUMBELLI, E. A. As concepes de pessoa crist e moderna: para-
doxos de uma continuidade. Anurio Antropolgico, 93. Braslia: Universidade de
Braslia, 1994.
DUMONT, L. Homo Hierarchicus. London: Palladin, 1972.
DURKHEIM, . L' individualisme et les intellectuels. In: FILLOUX, G. (Ed.) La Science
Sociale et l'Action. Paris: PUF, 1970.
GAUCHET, M. & SWAIN, G. La Pratique de l' Esprit Humain (l'institution asilaire et la
revolution dmocratique). Paris: Gallimard, 1980.
GOOD, M.-J. D. V. Work as a haven from pain. In: GOOD, M.-J. D. V. et al. (Eds.) Pain
as Human Experience: an anthropological perspective. Berkeley: University of
California Press, 1992.
GOOD, M.-J. D. V. et al. Pain as Human Experience: an anthropological perspective.
Berkeley: University of California Press, 1992.
GUIMARES, C. D. ' Mais merece!' - o estigma da infeco sexual pelo HIV/Aids em
mulheres. Estudos Feministas, 4(2), 1996.
HERZLICH, C. &PIERRET, J'. Maladies d'hier, malades d'aujourd'hui. De la mort collective
au devoir de gurison. Paris: Payot, 1984.
LAWRENCE, C. J. The nervous system and society in the Scottish Enl i ght enment .
In: BARNES, B. & SHAPIN, S. (Eds.) Natural Order. London: Sage Publications,
1979.
LE BRETON, D. Dualisme et Renaissance. Aux sources d' une representation moderne
du corps. Diogne, 142, avr./mars 1988.
LEAL, O. F. (Org.) Corpo e Significado. Ensaios de Antropologia Social. Porto Alegre:
Ed. da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1995.
LOCK, . Words of fear, words of power: nerves and the awakening of political
consciousness. Medical Anthropology, 11(1):79-90, 1989.
MC D OUG A LL, J. Plaidoyer pour une certaine anormalit. Revue Franaise de
Psychanalyse, 2, 1972.
PEIRANO, M. Uma Antropologia no Plural. Trs Experincias Contemporneas. Braslia:
Universidade de Braslia, 1991.
POLLAK, M. L'Experience Concentrationnaire. Essai sur le Maintien de l'Identit
Sociale. Paris: d. Mtaili, 1990.
ROSALDO, M. Knowledge and Passion. Ilongot notions of self and social life. Cambridge:
Cambridge University Press, 1980.
ROSALDO, M. Toward an Anthropology of self and feeling. In: SCHWEDER, A. &LEVINE,
R. (Eds.) Culture Theory: Essays on Mind, Self and Emotion. Cambridge: Cambridge
University Press, p. 137-157, 1984.
SCHEPER-HUGHES, N. Death without Weeping. The Violence of Every Day Life in Brazil.
Berkeley: University of California Press, 1992.
SCHEPER-HUGHES, N., & LOCK, M. The mindful body: a prolegomenon to future work in
Medical Anthropology. Medical Anthropology Quarterly, 1(4), 1987.
SOUZA, I. & RABELO, . I magens do eu em uma trajetria de enfermidade. Cincias
Sociais Hoje, p.222-233. So Paulo: Anpocs, 1996.
VAN SCHAIK, . Paradigms underlying the study of nerves as a popular illness term in
Eastern K entucky. Medical Anthropology, 11(1):15-28, 1989.
VINCENT-BUFFAULT, A. Histria das Lgrimas: sees. XVIII-XIX. Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 1988.
VRANCKEN, . A. E. Schools of Thought on Pain. Social Science and Medicine, 29(3), 1989.
Corpo e Reproduo
1
Marcas no Corpo:
gravidez e maternidade em grupos populares
Helosa Helena Salvatti Paim
Este estudo tem como objetivo analisar alguns dos significados sociais atri-
budos aos eventos biolgicos da reproduo. Busca-se descrever e estudar algumas
concepes e prticas acerca da vivncia da gravidez e da maternidade de algumas
mulheres de grupos urbanos de baixa renda em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
A gravidez e a maternidade so temas antropologicamente relevantes, uma
vez que no se esgotam apenas como fatos biolgicos, mas abrangem dimenses
que so construdas cultural, social, histrica e afetivamente. A gravidez processa-
se no corpo das mulheres, porm, como outros acontecimentos do mesmo tipo, tem
significados construdos com base na experincia social. Por conseguinte, pode-se
pensar que so variveis conforme a posio social ocupada pelos sujeitos, segundo
classe, sexo, idade etc.
Prope-se, como hiptese, que as mulheres pesquisadas tm um universo sim-
blico especfico, segundo o qual percebem e vivenciam suas experincias corpo-
rais, ao contrrio de segmentos das camadas mdias, que costumam compartilhar
concepes mdico-cientficas do corpo e da sade caracterizadas por viso
compartimentalizada, individualista e normatizada (cf. Motta, 1995). Os membros
de grupos populares adotam outras explicaes para os fenmenos corporais. Mes-
mo quando h utilizao do discurso mdico, verifica-se uma ressemantizao des-
tas informaes.
Neste sentido, entende-se que gravidez e maternidade no devam ser fenme-
nos estudados isoladamente e sim integrados aos sistemas de valores mais amplos dos
grupos populares. Assim, fundamental analis-los no contexto das concepes de
corpo, de reproduo e das relaes de gnero inseridos em situao concreta de clas-
se, onde adquirem significados.
Este trabalho compe-se de uma discusso de cunho terico acerca das con-
cepes de corpo e de gnero como construes sociais e objetos de estudo. Em
seguida, tenta-se ressaltar aspectos de vivncia da gravidez obtidos a partir do
mtodo etnogrfico,
1
traando paralelos com parte da literatura antropolgica.
A sensibilidade, os sentimentos e os afetos, tomados em geral como dados
' naturais' ou biolgicos, tm sido objeto de estudo das reas humanas com o intuito
de demonstrar as dimenses sociais, histricas e culturais destes fenmenos. Pode-
se citar, por exemplo, o trabalho de Aris (1981), que descreve o surgimento do
"sentimento de infncia e de famlia"; o de Badinter (1985), contrapondo-se aos
defensores do instinto materno; o de Leroi-Gourhan (s/d), mostrando que a utiliza-
o do suporte orgnico do homem difere da do animal, na medida em que incorpora
uma rede de smbolos; o de Bastide (1983), que mostra como o "sentimento de can-
sao" no se refere apenas vivncia de certo estado fisiolgico, mas condiciona-
do a "categorias do esprito" que podem estimular ou ocultar a conscincia das sen-
saes do corpo.
Do mesmo modo, as concepes de sade, doena e corpo, os quais em geral
so percebidos como noes meramente biolgicas, tambm tm sido apontadas
como construes sociais. A este respeito, a contribuio fundamental da Antropo-
logia consiste em demonstrar que qualquer apreenso do que seja a natureza j
feita com base em um universo cultural. Dentro desta perspectiva, entende-se que o
corpo, ainda que algo natural e individual, conformado e moldado socialmente. O
corpo , desse modo, compreendido e usado por referncia ao universo cultural es-
pecfico a cada grupo social.
Mauss (1974), em seu texto clssico As Tcnicas Corporais, problematiza as
manifestaes corporais, analisando-as como fenmenos sociais e no apenas como
reflexos mecnicos de um corpo fsico. Fundamenta a sua dimenso social mediante a
enunciao da diversidade de formas que uma atividade pode tomar. Observa, por
exemplo, que, na ndia, muitas mulheres costumam ter seus filhos em p; j nos pases
europeus, opta-se pela posio deitada ou de ccoras. Sua argumentao salienta que
as posies adotadas no parto no derivam de escolhas individuais ou meramente
mecnicas, mas resultam de intenso processo educativo que comea desde a mais ten-
ra idade e que se distingue conforme a idade e o sexo das pessoas.
Percebe-se como possvel vislumbrar inmeros aspectos da organizao soci-
al que expressam presses sociais sobre os indivduos, tomando-se por base o estudo
das concepes, usos e cuidados com o prprio corpo ou com o dos outros. Tais refle-
xes encontram-se de modo bastante desenvolvido nos estudos sobre gnero, que so
uma das preocupaes primordiais neste trabalho.
A utilizao da categoria de gnero expe a preocupao de pesquisadores em
desnaturalizar as identidades sexuais, a diviso sexual do trabalho e as relaes desi-
guais entre homens e mulheres (v. Rosaldo, 1979). Trata-se de tentativa de romper
com explicaes essencialistas acerca da posio de subordinao das mulheres em
diferentes sociedades. Sendo assim, ' gnero' refere-se a uma construo social do
sexo. ' Sexo' , por sua vez, diz respeito ao fenmeno ' natural' - cabe lembrar que, em
CORPO GNERO: CONSTRUES SOCIAIS OBJETOS ANTROPOLGICOS
verdade, toda elaborao sobre este fenmeno natural j social; sexo e natureza tam-
bm so construes histricas e culturais. Contudo, mantm-se estas distines em
termos analticos.
Busca-se ressaltar o carter eminentemente arbitrrio da ordem simblica. No
se est negando a importncia do fator biolgico, mas sim salientando que ele, isola-
damente, no nos informa sobre o mundo social, j que este fator vivido e interpre-
tado no mbito de uma cultura. Desta forma, no se deve interpretar ' gnero' como
noo unvoca que determinada do mesmo modo em todos os lugares e pocas, mas
como produto da interao de foras sociais.
O carter socialmente construdo da gravidez e da maternidade ilustrado pela
diversidade de significados que podem assumir dentro de uma mesma sociedade ou
em sociedades distintas. Como coloca Mead (1979) em seu estudo sobre trs tribos da
Nova Guin, a notcia da gravidez recebida com desgosto entre os Mundugomor,
havendo afastamento dos demais membros quanto ao casal. As mulheres no gostam
de amamentar, caracterizando-se este momento mais pelo incmodo do que pela afei-
o. A relao entre me e filho marcada pela impacincia e por ressentimentos. Os
homens e as mulheres so bastante agressivos, nascendo a criana em um mundo hos-
til, onde ter maior possibilidade de sobreviver se for violenta tambm. J os Arapesh
devotam ateno especial s crianas, procurando deix-las sempre confortveis e bem
alimentadas. Entre os Tchambuli, por sua vez, h fortes laos de solidariedade entre as
mulheres. A responsabilidade pela alimentao e cuidado das crianas dividida entre
as esposas do pai.
Em suma, a gravidez e a maternidade, em particular, e os eventos corporais,
em geral, no so apenas indcios do desempenho de uma atividade biolgica, ou
seja, natural. Constituem tambm eventos culturais: so submetidos a uma constru-
o simblica que se impe aos indivduos. Por esta razo, seus estudos tornam-se rele-
vantes para a Antropologia. Sendo assim, para que se compreenda como so
experienciados estes fenmenos corporais, deve-se inseri-los em contexto mais amplo.
Ainda que as experincias da maternidade e da gravidez sejam experincias
sociais, so percebidas pelos indivduos como meramente naturais. Como argumenta
Bourdieu (1990), se certos fenmenos so considerados naturais, como a diviso se-
xual do trabalho, isto deve-se ao fato de estarem presentes de forma objetiva no
mundo social e por terem sido incorporados prpria estrutura cognitiva do sujeito.
Quer dizer, so pensados como sistema de categorias de percepo e ao. Desse
modo, o arbitrrio torna-se necessrio, assume a aparncia de ter fundamento natu-
ral, quando, em verdade, imposio social que se efetiva por meio do processo de
formao e educao:
no entanto o golpe de fora que o mundo social exerce sobre cada um de
seus sujeitos consiste em imprimir em seu corpo (...) um verdadeiro programa
de percepo e apreciao e de ao que, na sua dimenso sexuada e sexuante,
como em todas as outras, funciona como uma natureza (cultivada, segunda)
isto , com a violncia imperiosa e (aparentemente) cega da pulso ou do fan-
tasma (socialmente construdo). (Bourdieu, 1990:15)
Na concepo de Bourdieu, o mundo social imprime no corpo as categorias
fundamentais de uma viso de mundo baseada em princpios sociais de diviso e opo-
sio que so arbitrrios. A diferena biolgica usada como forma de justificar as
diferenas socialmente construdas:
... o trabalho visando transformar em natureza um produto arbitrrio da hist-
ria encontra neste caso um fundamento aparente nas aparncias do corpo, ao
mesmo tempo que nos efeitos bem reais que produziu, nos corpos e nos cre-
bros... (Bourdieu, 1990:15)
Com base na explicao de Bourdieu, pode-se entender o outro lado da
moeda: em primeiro lugar, vistos como fenmenos biolgicos, em verdade, so
vivenciados mediante um universo cultural; em segundo lugar, compreende-se que
as imposies culturais tornam-se to arraigadas que so percebidas como naturais.
At este momento, procurou-se demonstrar que os aspectos sociais e culturais
perpassam as noes de corpo e de gravidez para, desta forma, salient-los e constru-
los como objetos antropolgicos. Nas sees seguintes, buscar-se- aproximar o uni-
verso dos grupos populares pela descrio e anlise do trabalho etnogrfico, bem como
por intermdio da literatura especfica.
CONSIDERAES ACERCA DA CULTURA POPULAR:
DOMNIO PBLICO PRIVADO
I nicialmente, preciso explicitar aspectos que tm servido como pano de fun-
do para pensar a vivncia da gravidez no universo de estudo escolhido: em primeiro
lugar, noo de cultura popular; em segundo, como se compreende, dentro deste con-
texto, a posio ocupada pela mulher na realidade social. Quanto noo de cultura
popular, ressaltar-se- apenas suas caractersticas principais.
A cultura popular no constitui dimenso completamente autnoma, uma vez
que se pode tomar elementos de outros universos para compor determinada viso de
mundo, como, por exemplo, na apropriao do discurso mdico pelas mulheres de
grupos popul ar es. Em tais processos de negoci ao de si gni fi cados, cert as
ressemantizaes esto presentes. Neste sentido, Fonseca (1992) enfatiza a necessi-
dade de buscar a alteridade do grupo estudado, no negando a "fora da moralidade
vigente", mas ressaltando seu carter criativo.
Tambm Duarte (1987) argumenta ser a cultura popular construo especfica,
que tem lgica prpria, diferenciada do modelo dominante. Salienta que esta cultura
no deve ser tida como resqucio arcaico ou reflexo diludo do presente: "se h a uma
' cultura' , ela diferente da nossa, e diferente no no sentido de pequenas variaes,
mas no sentido forte e verdadeiramente contrastivo" (Duarte, 1987:213), devendo ser
investigada em suas especificidades.
Outra particularidade fundamental da cultura popular mencionada por estes
pesquisadores sua heterogeneidade. Qualquer sistema cultural apresenta diversida
des e tenses internas que devero ser consideradas pelo antroplogo. Sendo assim,
preciso ter claro que a cultura de um grupo produzida historicamente em condies
sociais e materiais especficas.
Neste contexto, Duarte (1986) identificou o elemento feminino subordinado ao
elemento masculino ao descrever as relaes de gnero nas classes trabalhadoras ur-
banas. Os papis sexuais so definidos de modo relacionai; h complementaridade
hierrquica. O homem tem, como espao privilegiado de ao, o domnio pblico,
sendo tambm o mediador entre a mulher e este espao - trabalho, lazer. A mulher
estaria restrita ao espao domstico. O autor estabelece pares de oposio que associ-
am a mulher ao que interno, natural e privado, em oposio exterioridade, ao social
e ao pblico da posio masculina.
Desta perspectiva, constata-se que h atribuies distintas assumidas por ho-
mens e mulheres para que haja a reproduo social. O homem responsvel pelo
sustento familiar - marido provedor - e por garantir o respeito dos membros da fam-
lia. J o desempenho das tarefas consideradas femininas no percebido como se
exigisse o desenvolvimento de habilidades especiais e sim como qualidades inerentes
condio feminina. Estas tarefas consistem primordialmente em cuidar dos filhos e
do marido e em atividades domsticas. Victora (1991), entre outros autores, salienta
que os cuidados com a contracepo, gravidez e amamentao so tambm de respon-
sabilidade feminina.
Ser mulher, nos grupos populares, inclui a maternidade como condio inerente
e necessria para sua completa realizao como sujeito deste universo simblico. As
meninas, desde muito cedo, so preparadas para a maternidade por meio do cuidado dos
irmos menores e das atividades domsticas para auxiliar suas mes. A gravidez e a
maternidade so vividas no apenas como processo corporal, mas como a atribuio de
status superior mulher - em relao s mulheres sem filhos - , como veremos adiante.
No universo pesquisado, fica claro esta posio atribuda s mulheres dos gru-
pos populares. Durante o perodo de trabalho de campo, nenhuma das informantes
tinha emprego fixo e nem demonstrava preocupao em desenvolver carreira profissi-
onal; comentavam que exerciam atividades remuneradas temporariamente em mo-
mentos de dificuldades financeiras. Tambm a escola no apareceu como opo atra-
ente. Todas tiveram sua primeira gravidez entre 14 e 17 anos. A maioria das informan-
tes mantinha relao conjugai estvel com co-residncia. Naquele momento, o cotidi-
ano das informantes era perpassado pelas obrigaes domsticas, pelo cuidado dos
filhos e dos maridos e por redes de troca e de sociabilidade com a vizinhana. Em
resumo, verifica-se que a construo da identidade feminina, nos grupos populares,
parece estar predominantemente associada esfera domstica.
IDENTIDADE FEMININA REPRODUO
Alguns trabalhos antropolgicos tm destacado o papel fundamental que a ca-
pacidade reprodutiva assume na construo da identidade feminina nos grupos popu
lares. A especificidade do corpo feminino tem sido usada como forma de marcar sua
insero na realidade social.
Victora destaca que as mulheres identificam diferentes fases em suas vidas a
partir da seleo (social) de alguns fenmenos biolgicos. Isto fica claro no depoimen-
to de uma de suas informantes:
Antes de menstruar menina, quando menstrua mocinha e quando tem
relao mulher. (Victora, 1991:106)
A menarca, que comumente ocorre em torno dos 11 ou 12 anos, encarada
como marco importante, porque indica aptido reproduo e mais um passo em
direo vida adulta, a qual ser instaurada definitivamente com o primeiro filho. Este
perodo de ' mocinha' em geral curto, pois comum, nos grupos populares, as moas
envolverem-se em relaes sexuais-amorosas que podem resultar em gravidez ou em
casamento
2
ou em ambos, por volta dos 14 ou 15 anos.
Em trabalho anterior (Paim, 1994), procurou-se mostrar a importncia da pri-
meira gravidez para as mulheres de grupos populares. Partiu-se da hiptese de que a
primeira gravidez e a consecutiva maternidade estruturam-se como ritos de passagem
da mocidade para a vida adulta, isto , so tidas como elementos constitutivos da
identidade social feminina em grupos populares. Sendo assim, compreende-se o dese-
j o e a aceitao da gravidez por parte das jovens - e tambm dos familiares - logo aps
ficarem ' mocinhas' . Tais idias e prticas so esclarecidas pelo trabalho de Duarte
(1986), que enfatiza o quanto o status de adulto valorizado nas classes trabalhadoras.
Junto a isto, verificou-se a pouca importncia dada virgindade nos grupos
populares. Fonseca (1986), ao analisar a noo de honra neste universo, argumenta
que "no existe uma noo particular de honra ligada moa solteira", pois a honra da
mulher fundada no espao domstico e a moa solteira ainda no tem este espao
exclusivo para si. Como se v, nos grupos populares a identidade feminina completa
est muito vinculada ao desempenho do papel de me e de esposa.
Knauth (1991) acrescenta que a concepo de sade da mulher est associada a
sua fertilidade. A autora expe que as mulheres percebem-se mais resistentes doena
e dor do que os homens. Esta resistncia, em particular dor, est relacionada ao
parir, caracterizado por dor intensa, mas suportvel pela prpria condio feminina
dada naturalmente.
Neste trabalho etnogrfico, verifica-se igualmente que a gravidez percebida
como manifestao de sade e no como doena. Isto pode ser visualizado no fato de
as mulheres grvidas no abandonarem suas atividades dirias quando grvidas e no
fato de a maioria delas no contar com a ajuda dos familiares, alm dos auxlios co-
muns, a no ser em alguns casos e nos perodos prximos ao parto e no ps-parto.
Deve-se ter em mente, como afirma Duarte, que, nestes grupos, a doena constatada
quando as pessoas deixam de realizar suas atividades rotineiras.
A importncia da gravidez na construo social da identidade feminina pode
ser confirmada tambm nos relatos das informantes, ao falarem, com profundo pesar,
das mulheres estreis ou com dificuldade de engravidar, temendo a manifestao de
conflitos latentes devido a esta situao.
CONTRAPONTO
Lo Bianco (1985) aborda um aspecto da 'cultura psicanaltica', entendida como
difuso das psicologias e da psicanlise em alguns grupos brasileiros, no que se refere
ao cuidado com as crianas. Ela visa a apreender o desenvolvimento de um fenmeno,
denominado "psicologizao do feto", que consiste em tentativas das mulheres em
aperfeioar a relao materno-infantil antes mesmo do nascimento da criana, para
garantir o seu bem-estar emocional. A autora analisa este fenmeno, articulando-o
com as mudanas nos papis sociais da mulher e com as reformulaes de padres
tradicionais de comportamento em relao maternidade. Para isso, Lo Bianco faz
estudo comparativo entre 19 mulheres das camadas mdias (Grupo 1) e 21 mulheres
moradoras do subrbio, em sua maioria migrantes nordestinas (Grupo 2) residentes no
Rio de Janeiro. Nas entrevistas, enfocavam-se as mudanas constatadas durante a gra-
videz, a relao me-feto, a preparao para o parto e o papel atribudo mulher na
sociedade.
Lo Bianco distingue a vivncia da gravidez e maternidade em dois tipos: para o
Grupo 1, a gravidez "estgio transitrio da maternidade"; para o Grupo 2, "perodo
transitrio para a maternidade" (Lo Bianco, 1985:101). Esta diferena estaria presen-
te na forma de a me referir-se sua situao de me e ao feto. Para o Grupo 1, a
mulher se torna me ao engravidar, passando a ter cuidados concretos em relao
constituio fsica e psicolgica do feto. J as mulheres do Grupo 2, segundo Lo Bianco,
pensam que suas obrigaes enquanto me se instauram com o nascimento da criana.
Sendo assim, neste segundo grupo no se tm preocupaes especficas com a gravi-
dez, mas com as condies de sobrevivncia aps o nascimento da criana. Ou seja,
enquanto o Grupo 1 aponta que sua vida sofreu transformaes com a notcia da gravi-
dez, o Grupo 2 espera que as mudanas ocorram aps o nascimento da criana. Para a
autora, isto explicaria porque as mulheres do Grupo 2 respondem de forma breve sobre
a gravidez e tm interesse de falar sobre outros assuntos, como a relao conjugal. J
o Grupo 1 faz detalhadas descries do perodo da gravidez nos aspectos fsicos e
psicolgicos.
Neste universo de pesquisa tem-se verificado, por meio das observaes e dos
relatos sobre o cotidiano no perodo da gestao, diferentes prticas e percepes das
mulheres quanto gravidez daquelas descritas por Lo Bianco como sendo os compor-
tamentos tpicos dos grupos populares.
As informantes fazem recorrentes comentrios acerca das alteraes emocio-
nais e fsicas associadas diretamente gestao. O crescimento da barriga instaura de
forma marcante o estado de gravidez. Uma informante, perguntada se era possvel
esquecer que estava grvida, responde de forma contundente:
No, porque a barriga chega sempre antes, vai lavar a loua, ela chega antes
na pia, vai cortar, ela chega antes na mesa. (Renata, 25 anos, cinco filhos)
A partir do acompanhamento do crescimento da barriga marcado o tempo.
Entre os quatro e cinco meses, a barriga comea a ficar saliente. Nos primeiros meses,
a gravidez parece transcorrer em tempo ' normal' , ou seja, semelhante ao cotidiano
anterior; j nos ltimos meses, vivida de modo mais lento, ' no passa nunca' . No
perodo que antecede o parto, h maior cansao, a barriga torna-se mais pesada, mas
nem por isso h afastamento completo das tarefas, com exceo de duas informantes
que afirmam terem tido deslocamento de placenta e, para manter a gravidez, foram
obrigadas a ficar em repouso total.
As mulheres que esto tendo sua primeira gravidez, como j foi colocado, an
seiam adquirir o status adulto. Com isto, h maior expectativa quanto ao surgimento
da barriga e com o nascimento como indcio deste novo status:
Primeiro eu queria muito que a barriga crescesse e demorou muito, depois
s queria ganhar logo e acabar com a barriga. (Rosane, 16 anos, primeira
gravidez)
No grupo estudado, observa-se que a maioria das mulheres tem relao de
ambivalncia com seus corpos grvidos. Em certos momentos, acham lindas suas bar-
rigas, em outros, tm a sensao de um corpo disforme, gordo. Muitas se deparavam
com comentrios externos de aprovao pela sua aparncia, mas isto nem sempre
correspondia a um sentimento pessoal. Uma das informantes afirma:
... eu olhava [no espelho], via aquele barrigo. Eu achava a minha barriga linda,
isso que eu no entendo, eu achava o corpo horrvel, mas a barriga estava
brillhosa, nem via os ps. (Paula, 16 anos, um filho)
Quanto a manter relaes sexuais, o que parece influir no estar ou no grvi-
da, mas a forma como est sendo experienciada a gestao - nervosismo, fragilidade.
Alm disto, a gravidez no parece ser percebida como empecilho para o estabeleci-
mento de laos amorosos com ou sem co-residncia, mesmo quando o filho esperado
de relao anterior.
Deve-se levar em conta que as diferenas encontradas entre o trabalho de Lo
Bianco e o aqui desenvolvido podem ser causadas pela escolha de diferentes regies
para objeto de estudo, nas quais as pessoas vivem sob condies sociais e histricas
distintas. Acreditamos, porm, que seria possvel considerar outra hiptese. Em texto
anterior, Lo Bianco (1981) parece deixar claro que os grupos populares adotam con-
cepes prprias no que diz respeito famlia, infncia e mulher, o que lhe permi-
tiu analisar o fracasso de atendimento a gestantes em um hospital pblico. Entretanto,
no artigo mencionado inicialmente (1985), ela parece tomar como parmetro a cultura
psicanaltica que prpria de um grupo e de determinado perodo histrico, no conse-
gui ndo perceber a forma especfica como as mul heres dos grupos popul ares
(Grupo 2) vivenciam a gravidez. Lo Bianco poderia ter afirmado que as mulheres
do Grupo 2 no estavam usando o mesmo referencial psicolgico que o usado pelas
mulheres das camadas mdias, para orientar a vivncia da gravidez. Ao invs disto,
assevera que, para o Grupo 2, "a gravidez em si no objeto de consideraes" (Lo
Bianco, 1985:101).
Lo Bianco aparenta julgar como sendo falta de observao o fato de as mulhe-
res dos grupos populares no apontarem transformaes no modo como elas e suas
CORPO: UMA EXPERINCIA PARTICULAR
Victora (1992) trata das representaes sociais de algumas mulheres dos gru-
pos populares acerca de seus corpos e de seus aparelhos reprodutores, a partir de dese-
nhos e das explicaes fornecidas sobre estes ltimos. Ela aponta que as mulheres
percebem seus corpos como nicos. Desta forma, no seria possvel dar explicao
geral nem para o processo menstrual nem para a fecundao, como tambm no para
a vivncia da gravidez. So eventos aleatrios, que podem ou no vir a ocorrer:
... ao falarem sobre o interior do corpo feminino, sobre a vida intra-uterina dos
bebs, sobre a origem e o desenvolvimento da gestao referem-se exclusiva-
mente ao seu corpo. Depreende-se ento que as representaes do corpo embo-
ra construam-se por categorias e sistemas classificatrios coletivos, apresen-
tam-se. de forma particular. Em outras palavras, os corpos mantm-se [sic]
similar enquanto rgos que o compem, mas singular em seu funcionamento.
(Victora, 1992:43)
Neste universo de pesquisa, tambm foram encontradas mulheres que conside-
ravam ter havido variao quanto a sua experincia da gravidez de uma gestao para
outra, que, por sua vez, eram diferentes das experincias das outras mulheres quanto
s sensaes corporais e emocionais, valendo o mesmo para o parto. Isto pode ser
visto no seguinte depoimento:
Cada gravidez diferente da outra, uma se passa bem a outra no, uma se
fica inchada a outra se emagrece. (Renata, 25 anos, cinco filhos)
Contudo, h um repertrio bastante difundido de crenas - que retomarei pos-
teriormente - acerca dos significados destas alteraes corporais, isto , toma-se o tipo
de mudana apresentada pelo corpo, por exemplo, como indcio do sexo do beb.
Alm das alteraes corporais, confirma-se que as mulheres vivenciam mu-
danas em seus estados emocionais. Assim como Lo Bianco verificou nos grupos
mes ' viviam' a gravidez. O que parece que, ao contrrio do outro grupo, que tem
como meta desenvolver um projeto de maternidade e de mulher diferente daquele da
gerao anterior, como descrito pela autora, nos grupos populares esta no a maior
preocupao. Os conhecimentos sobre como cuidar dos filhos so transmitidos de
uma gerao a outra, estando me e filha at mesmo gerando filhos simultaneamente,
ambas se auxiliando nos cuidados que se requere. J os trabalhos de Lo Bianco, Salem
(1985) e Almeida (1987) observam que alguns grupos das camadas mdias vem as
experincias da gerao anterior como parmetro negativo para suas experincias.
Alm disso, para melhor compreenso de como as mulheres dos grupos popu-
lares experienciam suas gestaes, preciso ter clareza acerca de algumas concepes
que elas tm sobre seus corpos, a saber: que cada corpo nico, e que as experincias
podem variar de uma gestao para outra; que o corpo feminino caracterizado por
movimentos de abertura e fechamento.
populares, as informantes desta pesquisa mencionavam que em algumas gestaes
tinham ficado mais irritveis e nervosas. Porm, nem sempre este era o sentimento que
acompanhava a gravidez nem mesmo durante todo o perodo. Por exemplo, Renata diz
que na primeira e na ltima gravidez "no conseguia olhar direito" para seu marido,
pois at a voz dele a incomodava. Nas outras gestaes, gostava de sua companhia.
Andra (23 anos, duas filhas) diz que ficou fragilizada na segunda gravidez e que
qualquer coisa, que antes no a atingiria, quando grvida a fazia chorar. So constan-
tes as referncias ao nervosismo e a um sentimento incmodo sem causa aparente, a
no ser a gravidez, esperando-se que cesse aps este perodo.
Ao contrrio de Lo Bianco, que afirma que as mudanas ocorridas durante a
gravidez, no modo como so constatadas pelas mulheres dos grupo populares, "care-
cem da possibilidade mencionada de desencadear questes acerca dos sentimentos
para com o feto" (Lo Bianco, 1985:104), neste trabalho etnogrfico, ao mesmo tempo
em que se menciona a presena do nervosismo, demonstra-se preocupao em desfaz-
lo, pois pode afetar o beb. A me de uma grvida, sugerindo que a filha e o marido
resolvessem alguns conflitos sem afetar o ' nen' , diz: "no se deve ficar nervosa que
afeta o nen e ele no pode se defender, os grandes [adultos] podem".
Tambm outras mulheres referem-se ao fato de que o feto "sabe tudo o que se
passa com a me" e, em funo disso, procuram evitar incmodos. Acreditam que
exista uma ligao e uma influncia mtua entre mes e filhos. Maria (50 anos, nove
filhos) explica que o sofrimento que passou em decorrncia da venda mal feita de sua
casa, durante a gestao de seu sexto filho, fez com que ele se tornasse muito nervoso.
Quanto comunicao intra-uterina entre me e feto, Lo Bianco destaca que,
nas camadas mdias, elemento tido como importante para a formao psicolgica do
feto; sendo assim, as mes preocupam-se em estabelec-la. J as mulheres do outro
grupo mostram grande estranhamento com esta prtica, pois "ele no t ouvindo mes-
mo" (Lo Bianco, 1985:107). Entretanto, neste trabalho etnogrfico, inmeras vezes
foi mencionado que as informantes e seus maridos costumavam conversar com seus
bebs, principalmente quando eles se mexiam. Uma das informantes sugere a hip-
tese de que talvez sua filha tenha nascido prematura de tanto que ela e o marido
conversavam com o beb antes mesmo dele nascer: diziam que estavam muito feli-
zes e que queriam conhec-lo logo. No se est sugerindo que este comportamento
se baseie nos mesmos fundamentos que o das mulheres das camadas mdias - viso
psicologizada - e sim que h uma ateno e uma interpretao feita pelas mulheres
de grupos populares no que concerne a seus corpos e ao do feto, com base em um
universo simblico prprio.
Verifica-se tambm que, alm dos movimentos fetais estimularem a comunica-
o da me, tambm podem indicar descontentamento ou prazer do beb, ou mesmo
so usados como explicao para certos acontecimentos. Por exemplo, Vanessa (30
anos, dois filhos) revela que, durante sua gravidez, enjoava ao comer frango, pois
estava preparando esse alimento na primeira vez em que sua filha se mexeu.
Durante a gravidez, o corpo manifesta-se tambm quanto a certas comidas, no
desejo e no enjo, que variam de uma mulher para outra. O aspecto enfatizado a
referncia a alimentos aos quais as mulheres no apresentavam as mesmas reaes em
perodo de no-gravidez. Os alimentos que so mencionados como causando desejo
no so exticos ou incomuns ao cotidiano destas mulheres, citando-se, como exem-
plo: goiaba, po com margarina e ch preto. Em geral, o que se ressalta o aumento do
consumo. Apenas uma informante diz ter comido cera e tijolo. Da mesma forma, os
alimentos que causam enjos fazem parte da alimentao ordinria, como carne, feijo,
tomate, pimento; em geral, alimentos a que as informantes se referem como fortes.
Junto a esta compreenso de que as experincias corporais so vivenciadas de
forma particular pelas mulheres, acrescenta-se a noo de que o corpo feminino costu-
ma abrir e fechar.
CORPO: 'ABRINDO OS OSSOS'
O corpo feminino, nos grupos populares, caracterizado por movimentos de
abertura e fechamento que so naturais, indicando, assim, seu bom funcionamento.
Leal (1995) observa que perodos menstruais e fecundao so percebidos como mo-
mentos em que o corpo est aberto. recorrente representao de que ambos os
fenmenos esto vinculados:
No jogo de significaes dos humores do corpo que envolvem a menstruao
e a concepo, a representao do corpo feminino como algo que se abre e se
fecha determinante sobre todas as outras e chave para compreendermos a
lgica da reproduo. O corpo sempre pensado como algo pleno de movi-
mentos internos, uma dinmica de fluidos determinantes do prprio estado de
estar vivo... O corpo da mulher portador de uma cavidade oca, o tero, espa-
o onde se desenvolver o feto. O sangue menstrual especfico e indicador da
condio de fertilidade feminina. (Leal, 1995:27)
As mulheres aqui investigadas so unnimes em afirmar que a gravidez no
atrapalha o desempenho das atividades cotidianas (cuidar da casa, dos filhos, do mari-
do ou o trabalho remunerado). Algumas enfatizam que sentiam vontade de trabalhar
mais durante a gravidez. A constante ressalva de que no h necessidade de romper
com as atividades cotidianas pode ser compreendida a partir de trs elementos: como
j foi dito, a gravidez assimilada como fenmeno saudvel e a doena, em geral,
constatada pela ruptura com as atividades rotineiras, trabalho, sono; o trabalho visto
como ajuda para a preparao para o parto, pois vai 'abrindo os ossos' ; a gravidez e o
trabalho domstico so percebidos como atividades prprias das mulheres, demarcan-
do sua posio social circunscrita ao espao domstico.
O corpo grvido visto como um corpo que se abrir para permitir que o beb
nasa. A me de uma informante justifica que ' a mulher grvida s abre' ; por isso,
ficou apavorada quando viu que uma mdica grvida faria o parto de sua filha. Em
conseqncia desta situao, a filha teria tido vrios problemas com os pontos do corte
feitos em seu parto, que foram cicatrizar apenas quando a mdica teve seu prprio
filho. Verifica-se haver uma concepo mgica associada a esta explicao, que segue
O SEXO DO BEB
Junto s concepes prprias a este grupo acerca de seus corpos, mostram-se
marcantes as elaboraes mgicas que tentam explicar certos fenmenos. Deve-se ter
em mente que as crenas falam das pessoas que as anunciam e no do mundo. A
crena constitui-se de elementos simblicos que produzem uma apreenso do mundo,
isto , lhe atribui significados.
Fundamentando-se nas crenas coletadas, torna-se possvel constatar-se dois
aspectos: as alteraes emocionais e corporais so observadas e fornecem base emprica
para as explicaes elaboradas pelas mulheres e seu grupo de convvio; diferentes
conhecimentos so utilizados e reinterpretados, por eles, para compreender os fen-
menos corporais.
Aqui, apenas sero destacadas as informaes sobre como saber o sexo do beb.
Cabe ressaltar que, mesmo a maioria das mulheres tendo feito acompanhamento pr-natal
em um posto ou hospital, apenas duas fizeram ecografia por terem corrido risco de aborto
espontneo. Assim, eram utilizados outros mtodos para a descoberta do sexo do beb, tais
como o da observao do formato do corpo ou do estado emocional da me. Por exemplo:
se a me fica com o rosto inchado menino; se fica com o rosto magro menina. Se as
dores so nas costas menino, se so na barriga menina. Ou ainda: se a me fica 'chata'
um menino; se ficar 'legal' uma menina. Ou quando uma criana fica agressiva e
inquieta em presena da mulher grvida, o beb nascer com o mesmo sexo da criana.
PARTO PS-PARTO
Nesta parte do trabalho, far-se- o registro de alguns dados coletados com rela-
o ao parto e ao ps-parto, esperando que futuramente venham a ser analisados, pois
revelam interessante enfoque de estudo.
Os momentos anteriores ao parto so narrados como constante incmodo do
qual no se consegue desfazer:
Tomei banho no era aquilo, deitei no era aquilo, fui no banheiro no era
aquilo... (Paula, 16 anos, um filho)
Eu no conseguia nem ficar deitada. Deitava e levantava para fazer xixi,
deitava de novo e levantava para fazer xixi. (Renata, 25 anos, cinco filhos)
Apenas duas informantes contaram no ter tido muitas dificuldade e dores para
fazer o parto: uma havia feito duas cesarianas; a outra teve nove filhos e s teve pro
o princpio simptico, ou seja, o semelhante age sobre o semelhante: a mulher grvida
que ' s abre' no poderia fechar um corte feito por ela mesma, sob o risco de isso
trazer problemas para o seu prprio parto.
blemas na primeira - ' porque no tinha experincia' - e na ltima, porque a criana
estava sentada e a mdica preferiu fazer 'parto plvico' ao invs de cesariana.
A maioria dos partos relatados foi normal e ocorreu em hospital; apenas esta
ltima informante fez trs partos com parteira. As descries de movimentos e dores
incontrolveis so recorrentes e colocadas como manifestaes da natureza que
independem da vontade da mulher. Nos depoimentos, no se encontra consenso quan-
to s descries das sensaes corporais:
O segundo parto melhor que o primeiro porque tem experincia e a mulher
j t mais aberta, tem lugar. (Ana, 20 anos, dois filhos)
O pior parto foi este ltimo (terceiro), senti muita dor. Nos primeiros, a dor
era comprida e menos forte; na ltima foi menos comprida e mais forte... nessa
ltima eu no berrava, eu urrava. (Bianca, 35 anos, trs filhos)
Ao narrarem seus partos, as mulheres comumente citam dois novos sujeitos:
os mdicos e os enfermeiros. De modo geral, na viso delas, eles no entendem que
as dores e as foras so independentes delas. Vrias mulheres contam que, ao senti-
rem que o beb ia nascer, avisavam aos atendentes, que pediam que esperassem ' um
pouquinho'. Em conseqncia disto, uma informante teve o filho sozinha, na maca, e a
outra enquanto a suspendiam para coloc-la na cama de parto. Esta ltima me, que
recebeu do mdico a sugesto de colocar na criana o nome de Leandro para formar
outra dupla caipira, referindo-se ao seu prprio nome, que Leonardo, respondeu:
Que dupla? A dupla aqui fui eu e meu filho, porque eu j cheguei ganhando
aqui. (leda, 29 anos, quatro filhos)
Nenhuma das mulheres entrevistadas estava acompanhada do marido durante
o parto. Os comentrios feitos a este respeito confirmam o que j foi colocado por
Knauth, isto , que as mulheres se consideram mais fortes que os homens em relao
resistncia dor. A expectativa delas era de que, se vissem o parto, os homens desmai-
ariam. Ao ouvi-las, fica-se com a impresso de que a presena dos maridos no as
auxiliaria de nenhuma forma.
Ao contrrio do que Salem (1985) e Almeida (1987) encontram ao analisar
casais de camadas mdias da dcada de 80, que se propunham vivenciar conjuntamen-
te a gravidez e o parto, neste universo pesquisado o marido parece no assumir papel
muito ativo, ou melhor, no h alterao das atribuies que so consideradas como
suas durante a gravidez e o parto.
O perodo de repouso de 48 horas aps ter dado luz, prescrito pelo hospital e
l cumprido, tido como suficiente para que as mulheres retomem suas atividades,
exceto nos casos em que tenha havido problemas durante o parto. Neste perodo, pes-
soas do sexo feminino integrantes da famlia, sua ou do marido, residentes em reas
prximas, tanto ' cuidam' seus filhos quanto at mesmo de seu marido, administrando
a alimentao e a casa.
Algumas mulheres relatam dores no ps-parto; uma delas explica que so mo-
vimentos que ocorrem dentro da barriga porque "o corpo da me est procurando o
MARCAS NO CORPO
As marcas inscritas no corpo aps as experincias da gravidez, do parto e alei-
tamento parecem deixar, no corpo das mulheres, o registro da funo social considera-
da ideal neste universo simblico. Junto a estes relatos, as mulheres costumam mostrar
as marcas que ficaram em seus corpos. Como argumenta Fonseca (1995), caracters-
tica da cultura popular ser oral, mas acompanhada por ilustraes, por encenao tea-
tral, enfim, h uma corporalidade das informaes.
Sendo assim, sem maiores constrangimentos, as informantes abrem as calas,
levantam as blusas para que a pesquisadora veja - no sem constrangimento - as in-
meras estrias na barriga e nos seios, a concentrao de pigmentao que forma um
trao entre o umbigo e os seios, o corte da cesariana ou o ventre avantajado, revelando
as marcas permanentes que a experincia da maternidade deixou em seus corpos.
Em apenas um caso, a mulher diz estar 'traumatizada' em virtude da cicatriz
que ficou da cesariana de emergncia a que foi submetida.
3
As demais mulheres no
faziam maiores comentrios, apenas as mostravam.
No se sugere que estas marcas sejam causadas pela falta de ateno com o
corpo ou pela ausncia de preocupao com o embelezamento do corpo da mulher,
pois, alm das cicatrizes, estas exibem ornamentos, como anis, pulseiras, brincos,
unhas pintadas, encontrando-se em suas casas tambm shampoos e cremes. As marcas
parecem ficar como um registro do status de mulher adulta, alcanado atravs da ma-
ternidade e que no se tem a preocupao de prevenir.
CONSIDERAES FINAIS
Este estudo pretende ser apenas uma primeira verso da sistematizao dos
dados coletados no trabalho de campo e do dilogo com parte da literatura antropol-
gica. Mediante a exposio dos elementos que esto envolvidos na gravidez e na ma-
ternidade, procurou-se ressaltar sua importncia na construo social da identidade
feminina em meio aos grupos populares, destacando-se a especificidade da lgica sim-
blica deste universo cultural.
Alguns trabalhos tm trazido contribuies fundamentais acerca das prticas e
das representaes sociais de corpo, de concepo, de gestao e de contracepo em
grupos populares, tais como os de Duarte (1986), Leal (1995), Leal & Lewgoy (1995)
e Victora (1991; 1992). A tentativa aqui realizada foi a de aprofundar a compreenso
da vivncia da gestao neste mesmo universo, procurando demonstrar de que manei-
ra um acontecimento biolgico como a gravidez experienciado a partir de cdigo
cultural prprio, que compreende a posio da mulher como vinculada ao espao do
corpo do filho". No discurso sobre o parto e o ps-parto, verifica-se que as explicaes
recorrem mais a uma sujeio natureza.
mestio e que toma a vivncia da gravidez como um dos pontos altos da construo da
identidade feminina.
Est clara, no discurso a respeito da gravidez das mulheres entrevistadas, uma
tentativa de reforar o desempenho ideal do papel feminino. Este no descrito sob a
forma de comportamentos frgeis; pelo contrrio, as informantes reforam constante-
mente suas grandes responsabilidades junto famlia e expressam a imagem de mu-
lheres valentes ao descreverem os incmodos durante a gravidez, as dores intensas do
parto, as marcas corporais. Tudo, porm, minimizado pelo nascimento de um novo ser.
Sendo assim, constatamos que o corpo feminino neste universo, como coloca
Motta, est fortemente vinculado noo de um corpo que:
... produz, que fabrica atravs de processos incontrolveis e imprevisveis. Um
corpo comunicvel e comunicante com o qual e atravs do qual a mulher dialo-
ga, observa e interpreta sinais. Faz parte de um saber feminino conhec-lo e
interpret-lo, mas talvez manobrar e barganhar com ele (distinguir um cogu-
lo de uma gravidez) ou exercer algum poder sobre ele (como o de interromper
uma gestao. (Motta, 1992:30-31)
As explicaes e as prticas da gravidez destas mulheres no podem ser plena-
mente compreendidas caso se tenha como parmetro o saber mdico-cientfico; ainda
que em algumas de suas explicaes utilizem expresses das quais, provavelmente,
tenham tomado conhecimento a partir do contato com os mdicos e enfermeiras nos
postos de sade ou hospitais, este saber reinterpretado - em alguns casos, at contes-
tado - com base em uma lgica simblica prpria cultura popular em que esto
inseridas as informantes.
Enfim, ao contrrio das mulheres de camada mdia estudadas por Lo Bianco,
que rejeitam ser lembradas apenas e to somente pela gravidez, por no quererem ser
reduzidas dimenso de me, nos grupos populares tem ficado ntido que a experin-
cia de ser me a que garante o ' ser mulher' no sentido pleno da palavra. A
especificidade do corpo feminino foi tomado como determinando sua posio, status
e funo social.
NOTAS
1 O material etnogrfico foi coletado em dois momentos: pesquisa intensiva, iniciada em
abril de 1994, com quatro mulheres que estavam tendo seus primeiros filhos entre 14 e 17
anos; em julho de 1995, foram feitos contatos com seis mulheres, moradoras da Vila Jar-
dim, em Porto Alegre. Procurou-se conversar com pessoas que haviam tido filhos recente-
mente e tambm com mulheres que tinham longa experincia em gestaes. O primeiro
momento foi realizado em companhia de Elisiane Pasini.
2 No se est tratando diferenciadamente se so ou no alianas formais.
3 Talvez ela tenha enfatizado o trauma por associar Antropologia Psicologia.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ALMEIDA, . I. Maternidade', um destino inevitvel. Rio de Janeiro: Campus, 1987.
ARIES, P. Histria Social da Criana e da Famlia. Rio de Janeiro: Guanabara, 1981.
BADINTER, E. Um Amor Conquistado. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985.
BASTIDE, R. Tcnicas de repouso e de relaxamento. In: QUEIROZ. Roger Bastide. So
Paulo: tica, 1983.
BOURDIEU, P. A dominao masculina. Actes de la Recherche en Sciences Sociales,
84, set. 1990. (Traduo de Guacira Lopes Louro - Faculdade de Educao/
UFRGS)
DUARTE, L. F. D. Da Vida Nervosa (nas classes trabalhadoras urbanas). Rio de Janei-
ro: Zahar/CNPq, 1986.
DUARTE, L. F. D. Pouca vergonha, muita vergonha: sexo e moralidade entre as classes
trabalhadoras urbanas. In: LOPES, J. S. L. (Org.) Cultura e Identidade Operria:
aspectos da cultura da classe trabalhadora. Rio de Janeiro: Universidade Federal
do Rio de Janeiro/Marco Zero, 1987.
FONSECA, C. Aliados e rivais na famlia: conflito entre consangneos e afins em uma
vila porto-alegrense. Cadernos de Estudo do Curso de Ps-Graduao em Antro-
pologia, Poltica e Sociologia, 1, set. 1986.
FONSECA, C. Honra, humor e relaes de gnero: um estudo de caso. In: COSTA, A. &
BRUSCHINI, C. (Org.) Uma Questo de Gnero. So Paulo: Rosa dos Tempos, 1992.
FONSECA, C. A mulher valente: gneros e narrativas. Horizontes Antropolgicos - G-
nero, (PPGAS/Universidade Federal do Rio Grande do Sul), 1995.
KNAUTH, D. OS Caminhos da Cura: sistema de representaes e prticas sociais sobre
a doena em uma vila de classes populares, 1991. Dissertao de Mestrado. Porto
Alegre: Programa de Ps-Graduao em Antropologia Social, Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Sul.
LEAL, O. F. Sangue, fertilidade e prticas contraceptivas. In: LEAL, O. (Org.) Corpo e
Significados: ensaios de Antropologia Social. Porto Alegre: Universidade Federal
do Rio Grande do Sul, 1995.
LEAL, O. F. & LEWGOY , B. Pessoa, aborto e contracepo. In: LEAL, O. F. (Org.) Corpo
e Significados: ensaios de Antropologia Social. Porto Alegre: UFRGS, 1995.
LEROI-GOURHAN, A. OS fundamentos corporais dos valores e dos ritmos. In: LEROI-
GOURHAN, . O Gesto e a Palavra. Lisboa: Edies 70, (s/d), v.2.
Lo BIANCO, A. C. Concepes de famlia em atendimentos psicolgicos fora do con-
sultrio: um estudo de caso. In: VELHO, G. & FIGUEIRA, S. (Orgs.) Famlia, Psicolo-
gia e Sociedade. Rio de Janeiro: Campus, 1981.
Lo BIANCO, A. C. A psicologizao do feto. In: FIGUEIRA, S. (Org.) Cultura da Psican-
lise. So Paulo: Brasiliense, 1985.
MAUSS, M. Sociologia e Antropologia. So Paulo: EPU, 1974.
MEAD, . Sexo e Temperamento. So Paulo: Perspectiva, 1979.
MOTTA, F. Bem mulherzinha. Cadernos de Antropologia, (3):17-32, 1992.
MOTTA, F. Sonoro Silncio: por uma histria social do aborto. Projeto de pesquisa,
1995. (Mimeo.)
, . H . S. A Primeira Gravidez e a Maternidade em Grupos Populares. Trabalho
apresentado para ingresso no mestrado de Antropologia Social da Universidade
Federal do Rio G rande do Sul, 1994.
ROSALDO, M. (Org.) A Mulher, a Cultura e a Sociedade. Rio de Janeiro: Paz e Terra,
1979.
SALEM, . A trajetria do 'casal grvido' : de sua constituio reviso de seu projeto.
In: FIGUEIRA, S. (Org.) Cultura da Psicanlise. So Paulo: Brasiliense, 1985.
VICTORA, C. Mulher, Sexualidade e Reproduo: representaes do corpo em uma
vila de classes populares em Porto Alegre, 1991. Dissertao de Mestrado em
Antropologia Social, Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
VICTORA, C. Corpo e representaes: as imagens do corpo e do aparelho reprodutor
feminino. Cadernos de Antropologia, (6):33-54, 1992.
2
Cuidados do Corpo em Vila de Classe Popular
Jaqueline Ferreira
O presente trabalho faz parte de etnografia em andamento em uma vila na peri-
feria de Porto Alegre. A Vila Santssima Trindade, mais conhecida como Vila Dique,
uma das zonas mais pobres de Porto Alegre, contrastando com seus limites - o aero-
porto e o elegante bairro Jardim Lindia.
A populao do local extremamente necessitada e apresenta significativo n-
dice de analfabetismo. A renda de grande parte dos moradores constituda por cerca de
um salrio mnimo. Na Vila Dique, a maioria dos habitantes insere-se no mercado infor-
mal de trabalho; expressivo nmero composto por catadores de papel, ou seja, gente
classificada, pela populao em geral, como da mais baixa hierarquia profissional. O
espao fsico das ruas e dos ptios das casas cercado por lixo. Objetos e restos encon-
trados em meio a este lixo so muitas vezes reaproveitados pelos moradores, fazendo
parte do cotidiano de muitos a busca de recursos alternativos de sobrevivncia.
A maioria dos residentes provm de colnia rural alem do interior do estado
(Ira), havendo muitos parentes entre si, em virtude do que se constitui densa rede de
sociabilidade (cf. Bott, 1957).
A Avenida Dique, de asfalto irregular, o acesso vila. Nas suas margens, h barra-
cos cercados por lixo, onde crianas brincam em frente a casas cujas portas possuem tnue
limite com o asfalto. Esta frgil diviso entre pblico e privado ameaada pelos automveis
que por ali passam em alta velocidade, gerando constantes acidentes por atropelamento.
Lateralmente estrada, h vrios becos e ptios que abrigam moradias do tipo
malocas. Animais domsticos como cachorros, gatos e galinhas fazem parte do ambi-
ente, impregnado com odores caractersticos em razo dos pontos de criao de porcos
e do valo de esgoto que circunda a vila.
Deste cenrio fazem parte, ainda, muitos bares, borracharias, uma creche co-
munitria, uma escola municipal, duas igrejas pentecostais e uma igreja catlica. O
"Galpo", cooperativa de mulheres que realizam a reciclagem do lixo, tambm facil-
mente avistado por quem passa pela avenida principal, devido aos sacos e entulhos de
lixo visveis em frente ao prdio.
Encontra-se, no local, um posto de sade comunitrio do Grupo Hospitalar
Conceio. Ingressei inicialmente neste ambiente como mdica do referido posto, si-
tuao a partir da qual demos comeo pesquisa etnogrfica.
NOES CUIDADOS COM O CORPO
As prticas corporais so orientadas por lgica resultante da experincia social.
Com fundamento nesta experincia, produz-se uma interpretao que adquire signifi-
cado a partir de processos compartilhados no cotidiano (cf. Alves & Rabello, 1995).
Para os no ' nativos' , a vila traz a lembrana de pobreza e sujeira. Uma repor-
tagem de jornal descreve a vila de forma apocalptica, ilustrando a forma como a viso
lixo/valo/odor causa estranhamento:
Porcos e crianas descalas chafurdam em desfiladeiros de lixo. Mulheres,
velhos, gatos e cavalos magros se aquecem ao sol. As colunas de fumaa
provocadas pelos despojos queimados parecem restos de um bombardeio e a
gua negra desprende emanaes nauseantes. (Jornal Zero Hora, 1995)
Tal reportagem, ao associar pessoas a animais, causou indignao aos moradores
que a ela tiveram acesso, como o caso de Miriam, que disse, alguns dias mais tarde: "Que
absurdo, algumas crianas tudo bem, n? Mas nem todas" (Miriam, 28 anos, crecheira).
Neste comentrio est explcita a necessidade de Miriam se diferenciar de uma
populao que ainda mais marginalizada. A prpria questo da periferia envolve a
idia de segregao, marginal em seu espao geogrfico. A precariedade de sanea-
mento e das demais comodidades urbanas, da mesma forma, acentuam a distino
com o centro urbano.
Os moradores que se encontram em ascenso econmica ou que convivem
com pessoas pertencentes a outra classe social fazem esforos para diferenciar-se da-
quela parcela mais marginalizada e que no compartilha dos cdigos dominantes. Uma
das representaes de tais esforos a necessidade de aparentar limpeza na casa. Des-
ta maneira, o 'cuidar da casa' , parte do domnio da mulher, torna-se elemento de dis-
tino entre as mesmas.
1
Quanto relao com o corpo, alguns moradores igualmente evidenciam a
necessidade de distinguir-se de outros que apresentam o esteretipo da pobreza: cor-
pos sujos, desnutridos, s vezes consumidos pelo lcool, com marcas de violncia,
pele marcada por dermatoses, unhas das mos e ps enegrecidos, roupas rasgadas e,
por vezes, sujas. No entanto, a precariedade de condies de saneamento na vila im-
prime, em quase todos os moradores, os signos da pobreza, visveis em seus corpos de
forma mais ou menos acentuada.
Todavia, esta relao de condies de vida versus corpo dada pela biomedicina
no se faz de forma to direta no grupo. Entre os informantes, nunca ouvimos tal
meno. Antes sim, as referncias quanto ao corpo, sua constituio e enfermidades,
caracterizam-se pela necessidade de manipular o ambiente externo mediante a prtica
de certos cuidados e, algumas vezes, executando determinados rituais, nem sempre
ligados diretamente s condies de higiene e moradia, por exemplo. O recurso
biomedicina s acionado quando as percepes de corpo se traduzem em sensaes fsi-
cas interpretadas como medicalizveis. A seguir, exemplificamos alguns destes aspectos.
Tomando essa posio como norteadora, podemos pensar alguns aspectos da
Vila Dique no concernente aos cuidados do corpo. Quanto higiene, a populao
apresenta prticas especficas. Algumas delas so transmitidas oralmente atravs das
geraes. Neste sentido, avs no permitem que suas filhas ou noras dem banho
dirio nos bebs, em razo de o contato do corpo quente com a gua fria poder causar
' pontada' (pneumonia) nas crianas. Da mesma forma, muitas mulheres ' cuidam para
no molhar os ps' a fim de no contrair infeco urinaria.
2
O medo da exposio do
corpo umidade expressa a idia de fragilidade da pele como invlucro corporal.
3
Prticas de resguardo tambm so encontradas na Vila Dique. o caso de Nara,
de 21 anos, que havia realizado seu parto h 30 dias e desde ento no lavara a cabea
em funo de comentrios de sua me e de sua sogra. Muitos so os relatos de mulhe-
res que se tornaram ' loucas' aps o parto, por lavarem a cabea. Isso explicado pela
crena de que a inverso do fluxo sangneo, levando-o a ' subir' cabea, pode vir a
causar tamanho desequilbrio que culmina em loucura.
4
EXTERIORIZAO DA DOENA:
DOENAS DE PELE CABELOS
alta a incidncia de escabiose (sarna) e pediculose (piolho) na Vila Dique. As
condies ambientais e a contigidade das habitaes favorecem as aglomeraes,
apresentando-se como fatores predisponentes, motivo pelo qual h recorrncia destas
patologias. Assim, freqente a referncia de que 'tratar no adianta' ou que rem-
dio no cura' . As reinfestaes continuadas so interpretadas de diversas maneiras na
Vila Dique. Laura, uma dona de casa de 60 anos, por exemplo, acredita que esta doen-
a possua carter intrinsecamente sazonal:
H dois tipos de sarna: sarna galega e sarna preta. Sai no meio dos dedos,
nas dobra do corpo. Passa, recolhe e aparece de novo no outro ano no tempo
da brotao. (Laura, 60 anos, dona de casa)
Eduardo, outro morador, possui um bar no local; tem, por sua vez, outra expli-
cao para o que ele e outros moradores chamam de ' coa-coa' :
Quando eu morava em Irai, uma vez apareceu um claro no cu, tipo um
rojo. Depois de alguns dias comeou a aparecer em uma poro de gente o
'coa-coa'. Eu mesmo cheguei a ficar com feridas grossas nas pernas de tanto
cocar. Sabe como se curava? Pegava uma agulha, esquentava a ponta no fogo
e estourava uma por uma [as feridas]. O que eu acho que foi, foi algum tipo de
teste nuclear que os americanos vieram fazer aqui no Brasil e que depois deu
isto nas pessoas. Eduardo, 42 anos, dono de bar)
Desse modo, a enfermidade transposta como conseqncia de caractersticas
ambientais no manipulveis no cotidiano, o que leva a populao a receber com bas-
tante estranheza o comentrio de que as condies de moradia e higiene podem estar
propiciando a recorrncia das dermatoses. Para exemplificar, h o caso de Helena que,
PRTICAS DE PREVENO EM SADE
As noes de preveno e planejamento em sade fornecidas pela Biomedicina
baseiam-se em um referencial de saber que obedece a parmetros biopsicoqumicos.
No entanto, observa-se que, para esses grupos de baixa renda, as concepes de pre-
veno de doena obedecem a uma lgica de associaes em que necessrio acionar
recursos rituais e simpatias. Destas ltimas, duas servem aqui para contrastar a atitude
destes moradores com a lgica da biomedicina: a 'simpatia dos nomes' e a ' simpatia
para evitar filhos' .
Simpatia dos nomes - Salete explica uma forma segura de prevenir doenas:
"Dizer ' nome' (palavres) chama doena. Quando tu fala, tu tem que bater na madeira
trs vezes e dizer: Jesus, leve estas palavras embora". Exemplifica com uma conheci-
da sua chamada Dalva, que est com a filha doente, o que Salete atribui ao hbito de a
me dizer ' nomes' : "Tu v agora com o que ela est lidando; para se ter sade tem que
se ter pensamentos bons".
Simpatia para evitar filhos - Helena ensina: "Na hora do amor, tu tem o amor,
n? Tu suspende o homem (faz um gesto de que interrompe o ato sexual), te levanta
em seguida, toma trs goles d' gua e reza para Nossa Senhora: minha me s se cui-
dou com esta simpatia e graas a isto s teve seis filhos, porque do jeito como meu pai
era, era para ter tido dez".
Assim, ao contrrio de noes biomdicas, as atitudes preventivas baseiam-se
na real i zao de cert o nmero de passos rituais nem sempre envol vi dos na
medicalizao.
O posto de sade local oferece consulta ginecolgica com o objetivo de fazer a
preveno de cncer de colo de tero e mama. Todavia, vrias mulheres esquivam-se
aps vrias infestaes de escabiose no filho de trs anos, alegou que no poderia ser
tal doena porque o tratamento no surtia efeito:
Na minha casa no tem nada. Os cachorros no entram em casa e ele [o
filho] no brinca com outras crianas. Deve ser alguma coisa no sangue. (He-
lena, 27 anos, dona de casa)
Neste sentido, elementos de contato e recursos de cura tpicos no condizem
com a experincia cotidiana dessa enfermidade.
Quando h procura para tratamento, as 'feridas' ou ' perebas' so relacionadas,
na maioria das vezes, 'alergia' a alguma alimentao ingerida, medicamento ou ao
contato com determinada roupa ou com plantas. O caso de Helena, em que a doena
explicada como proveniente do 'interior' do corpo, mesmo quando ' exposta' na pele,
bastante comum. Estes moradores consideram que as feridas da pele e a coceira so
oriundas de m qualidade sangnea e muitos, com esta perspectiva, recorrem ao pos-
to de sade local solicitando exames ou injees. Neste caso, comum que expli-
quem tal fato como doenas atribudas 'sujeira no sangue' (cf. Ferreira, 1993).
MEDICAMENTO COMO CUIDADO EM SADE
Os moradores da Vila Dique que se dirigem consulta mdica fazem-no,
freqentemente, com a mesma perspectiva de outros grupos de baixa renda quando
procuram este recurso: a resoluo de um sintoma. Muitos trabalhos questionam os
motivos que levam algumas pessoas a consultarem o mdico, ao passo que outras,
com o mesmo tipo de sintomas, no o fazem. Alguns destes estudos indicam, como
fazendo parte desta escolha, a distino entre ' doena espiritual' versus ' doena mate-
rial' ou ainda a concepo de ' doena grave' versus ' doena que pode ser tratada em
casa' (Loyola, 1984; Montero, 1985; Knauth, 1991).
No entanto, na Vila Dique, o que se observa um movimento contrrio em que,
aps acionados os primeiros recursos caseiros, h curta espera para a procura do mdi-
co. Portanto, os motivos de consulta no se dividem entre curativo e preventivo, como
querem os profissionais do posto; eles esto unicamente ligados aos sintomas. Confir-
mando outro estudo (cf. Ferreira, 1993), o principal motivo de procura ao mdico o
sintoma dor, uma vez que a mesma significa experincia negativa. No momento em
que ela ' desaparece' , no h mais motivos para consultar, mesmo que exista enfermi-
dade crnica a exigir controle mdico freqente.
Comparando-se com outros grupos populares, a procura precoce ao recurso
mdico se deve tanto aos aspectos socioeconmicos do grupo enfocado quanto aos
aspectos de medicalizao desta instituio de fcil acesso ao grupo. A expectativa em
relao consulta mdica necessariamente de aquisio de medicamentos. A idia
do remdio como instrumento de medicalizao referida por Luz (1988) como con-
seqncia da difuso de um referencial de saber da Medicina moderna racionalista que
se contrape a uma viso hipocrtica da clnica.
Para os grupos populares, os efeitos dos medicamentos dependem de muitos
fatores, como mercadoria simblica, uma vez que tornam concreta uma entidade abstrata
de tal exame e, quando o fazem, na perspectiva de resolver sintomas e no como
preveno. A idia de preveno, tal como a concebemos, no compartilhada por
este grupo; pelo contrrio, o exame traz o receio de doena e\ou morte iminente, na
medida em que pode constatar algo, conforme esclarece Letcia:
Uma prima minha depois que fez este exame, foi achado uma 'doena ruim',
sabe, n? No durou dois meses a coitada. Por isto que eu digo, eu vou fazer
exame ? Nem pensar. (Letcia, 34 anos, dona de casa)
Aliado a isto, h o fato de que o cncer doena que gera medo de estigmatizao,
como bem observou Sontag (1984). A sua simples nomeao sinal de perigo, de forma
que sempre prefervel no cit-lo e referi-lo como a 'doena ruim' .
A idia de que preveno envolve temporalidade e morte est presente nestas
noes. Assim, a perspectiva de doena a longo prazo est expressa na fala de Ldia:
"Para que fazer exame se um dia eu vou morrer do mesmo jeito?".
e vaga como a sade (cf, Lfevre, 1991). A fim de que se estabelea a relao do
medicamento com os cuidados do corpo, torna-se necessrio que se especifique cer-
tas percepes a respeito das medicaes para o contexto da cura que estes morado-
res possuem.
O medicamento o ponto de interseco entre o terapeuta e seu paciente em
razo de proporcionar atitudes e expectativas quanto ao curso da doena em ambos os
plos. O doente passa a controlar o seu processo de cura medida que decide quanto,
quando e como tomar a sua medicao. Da mesma forma, seleciona os medicamentos
prescritos mediante o auxlio de familiares, vizinhos e balconistas de farmcia.
No que concerne a sua forma de ao, os medicamentos passam por entendi-
mentos diferentes que esto associados s interpretaes sobre o corpo. o caso dos
anticoncepcionais orais, por exemplo. O processo de inibir a ovulao que este medi-
camento realiza fantasiado de outras maneiras por este grupo, conforme se pode
observar na fala de Laura:
Eu acho que os comprimidos ficam todos ao redor do tero e quando termina
de tomar eles saem todos na menstruao. (Laura, 21 anos, dona de casa)
Deste modo, para ela, a anticoncepo d-se por barreira mecnica, como por
meio de agente concreto e no qumico.
Outro exemplo o caso dos anti-hipertensivos que so considerados "bons
remdios para os rins porque fazem a gente urinar" (Clara, 54 anos, dona de casa),
uma vez que alguns deles tm efeitos diurticos.
Igualmente, o medicamento pode determinar o estado orgnico em si, subtrain-
do o sintoma. Assim, por exemplo: Dor = No-Dor; Insnia = Sono.
De maneira anloga, a forma da medicao obedece a uma lgica de efic-
cia de acordo com o potencial ' agressivo' , rapidez de ao e dependncia de mani-
pulao tcnica da medicao. o caso da concepo a respeito de a injeo apre-
sentar maior eficcia que seu similar em forma de comprimidos ou lquidos. As-
sim, pelo fato de a injeo obedecer s caractersticas acima indicadas, torna-se o
medicamento de preferncia para esta populao, em contraposio s pomadas e
xaropes caseiros. nesse sentido que, nos casos de escabiose em que ocorre infec
o bacteriana a exigir o uso de antibiticos, exista a compreenso de que s a
injeo capaz de curar.
A idia de lavar os ferimentos segue uma lgica em que a gua versus medica-
mento decresce em eficcia. No entanto, a substncia medicamentosa freqentemente
assume importncia pela cor. o caso de o uso de mercrio cromo ou violeta de
genciana ser preferido em relao ao de soro ou gua oxigenada. O medicamento
permanganate de potssio, receitado pelo posto de sade, igualmente experienciado
como mais eficaz por ser 'lquido roxo' . Sua potencialidade tanto pode ser relacionada
cor de forte intensidade, em que todas as conotaes simblicas do roxo e do verme-
lho podem ser includas, como pelo fato de sua ' periculosidade' , na medida em que o
mesmo deve ser dissolvido em grande quantidade de gua sob pena de produzir quei-
maduras na pele.
NOTAS
1 Na literatura brasileira, CARDOSO ( 1978) e CALDEIRA ( 1984) contribuem com estudos a res-
peito da representao endmica de pobreza.
2 H outros trabalhos que apontam para a importncia da categoria quente/frio em relao
friagem, dentre eles DUARTE ( 1986) e FERREIRA ( 1993) .
3 VIGARELLO (1985) apresenta como esta noo era corrente no sculo XVI , na Frana.
4 Estes aspectos j foram observados em FERREIRA ( 1993) . Relacionados a eles, outros dados
foram abordados em FERREIRA & BERGER ( 1996) .
A noo de que determinados medicamentos tm seu tempo adequado de ao
ocorre no caso dos vermfugos. Desse ponto de vista, a eficcia desse medicamento
depende das 'fases da lua' . por esse motivo que Eliza s d vermfugo aos filhos na
lua minguante, pois, como afirma, na "lua minguante tudo diminui, da at as ' bicha'
diminui, se for na lua crescente elas aumentam e na lua cheia elas se agitam".
Para estes moradores, o manejo das medicaes obedece a uma lgica par-
ticular, a qual no segue os referenciais da biomedicina. Por conseguinte, nem
sempre o nmero de dias de tratamento seguido, pois o que conta a quantidade
de frascos ingeridos. Desta forma, um tratamento dado por completo quando foi
tomado o ' vidro inteiro' , independente do nmero de dias estabelecido pelo mdi-
co. A falta de relgio em muitas residncias torna difcil estabelecer horrios para
a ingesto de medicaes. Assim, receitas dos mdicos do posto local estabele-
cem, mui t as vezes, a quant i dade de t omada de doses di ri as ao i nvs do
fracionamento do dia em perodos.
Estes so exemplos de atitudes em relao s prticas de cuidados corporais na
Vila Dique. Na concepo de Good (1994), as representaes so construdas de acor-
do com ampla rede de associaes, tais como crenas religiosas e experincias famili-
ares, por exemplo. possvel refletir acerca de cada grupo cultural como consumidor
de diferente modelo e a biomedicina pode ser vista como uma entre tantas referncias
culturais para pensar o corpo e a sade.
Os indivduos vivem a realidade biolgica enquanto trabalhada pela cultura.
As representaes de corpo, sade e doena so uma realidade advinda da experincia
dos indivduos. O corpo surge ento no apenas como objeto de representao, mas
como fundamento de nossa subjetividade. As prticas de cuidados do corpo so orien-
tadas por uma lgica que resulta da experincia social e, com base nesta, produzem-se
interpretaes que adquirem significado a partir de processos compartilhados no coti-
diano. Em resumo, procuramos exemplificar, neste trabalho, de que modo os morado-
res da Vila Dique vivenciam prticas de cuidados com o corpo em que o conhecimen-
to deste, para eles, no se encontra derivado de modelos abstratos eruditos, mas sim
embebido na ao.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ALVES, P. C. & RABELLO, M. C. Significao e Metforas: aspectos situacionais no
discurso da enfermidade. In: , A. (Org.) Sade e Comunicao. So Paulo:
Hucitec/Abrasco, 1995.
BOLTANSKI, L. As Classes Sociais e o Corpo. Rio de Janeiro: Graal, 1984.
BOTT, E. Family and Social Network. London: Tavistock, 1957.
CALDEIRA, . A Poltica dos Outros: o cotidiano da periferia e o que pensam do poder
e dos poderosos. So Paulo: Brasiliense, 1984.
CARDOSO, R. Sociedade e Poder: representaes dos favelados de So Paulo. Ensaios
de Opinio, Rio de Janeiro, 1978. v.6.
DUARTE, L. F. D. Da Vida Nervosa (nas classes trabalhadoras urbanas). Rio de Janei-
ro: Zahar/CNPq, 1986.
FERREIRA, J. O Corpo Sgnico - Representaes Sociais sobre Corpo, Sintomas e Si-
nais em uma vila de Classes Populares, 1993. Dissertao de Mestrado: Porto
Alegre, Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
FERREIRA, J. & BERGER, C. A mulher como alvo de interveno: uma avaliao qualita-
tiva de um Programa de Ateno Sade. Revista Momentos e Perspectivas em
Sade (Grupo Hospitalar Conceio), 1996.
GOOD, . J. Medicine, Rationality and Experience. An anthropological perspective.
The narrative representation of illness. Cambridge: Cambridge University Press,
1994.
JORNAL ZERO H ORA. Vila Dique. Porto Alegre, 17 mar. 1995.
K NAUTH , D. OS Caminhos da Cura: sistema de representaes e prticas sociais sobre
a doena e a cura em uma vila de classes populares, 1991. Dissertao de Mestrado.
Porto Alegre: Programa de Ps-Graduao em Antropologia Social, Universidade
Federal do Rio Grande do Sul.
LEF VRE, F. O Medicamento como Mercadoria Simblica. So Paulo: Cortez, 1991.
LOY OLA, . A. Mdicos e Curandeiros: conflito social e sade. So Paulo: Difel, 1984.
Luz, M. Natural, Racional, Social. Rio de Janeiro: Campus, 1988.
MONTERO, P. Da Doena Desordem: a magia na umbanda. Rio de Janeiro: Graal,
1986.
SONTAG, S. A Doena como Metfora. Rio de Janeiro: Graal, 1984.
VIGARELLO, G. O Limpo e o Sujo. A Higiene do Corpo desde a Idade Mdia. Lisboa:
Editorial Fragmentos, 1985.
3
Reveses da Anticoncepo entre Mulheres
Pobres
Maria Teresa Citeli / Cecilia de Mello e Souza / Ana Paula Portella
Historicamente, as questes ligadas reproduo da espcie ou se tm configu-
rado como questes femininas ou se convertido em questes mdicas e demogrficas
voltadas para a populao feminina. Embora digam respeito sociedade como um
todo, o fato de parte do processo reprodutivo ocorrer no corpo das mulheres - concep-
o, gravidez, gestao, parto e amamentao - tem servido de base para um conjunto
de idias e de prticas sociais que v nas mulheres as depositrias e agentes da repro-
duo em praticamente todas as culturas conhecidas. Neste contexto, a presena mas-
culina restrita, e usualmente recai sobre as mulheres a maior parcela da responsabi-
lidade sobre os processos e atividades ligadas reproduo.
Nos ltimos trinta anos, o desenvolvimento de novas tecnologias anticonceptivas
criou possibilidades inditas de escolhas reprodutivas e sexuais para as mulheres. Esta
oferta ' revolucionria' alcanou as mulheres de modo diferenciado, de acordo com
suas condies de vida; assim, a noo de opo e deciso reprodutiva atravessada
por diversos fatores e obstculos, tais como o conhecimento e o acesso a mtodos
anticoncepcionais variados e seguros, as representaes sociais do corpo, da reprodu-
o e dos prprios mtodos, as relaes de gnero, renda, natureza do trabalho, entre
outros. Por isso mesmo, o uso de mtodos anticoncepcionais refletem desigualdades
sociais e sexuais entre grupos sociais distintos da mesma sociedade, como tambm
entre sociedades dos pases do Norte e do Sul (Scavone et al., 1995).
Este texto
1
toma por base os dados de pesquisa feita em Pernambuco, Rio de
Janeiro e So Paulo, realizada como parte de pesquisa mais ampla, intitulada
International Reproductive Rights Research Action Group (IRRRAG),
2
que envolveu
sete pases, entre os quais o Brasil.
3
O projeto IRRRAG enfocou experincias e decises reprodutivas de mulheres
pobres, utilizando a noo de direitos reprodutivos, surgida nos Estados Unidos du-
rante os anos 70, que ultimamente vem sendo utilizada inclusive em fruns internaci-
onais voltados para formulao de polticas.
4
A noo de direitos reprodutivos adota, como pressuposto bsico, o direito das
mulheres - e tambm dos homens - de direcionarem de modo autodeterminado sua
A PESQUISA I R R R A G NO BRASIL
A escolha do universo de pesquisa guiou-se pela deciso de realizar a investi-
gao entre mulheres organizadas em movimentos de base e tambm pela preocupa-
o de abranger mulheres militantes, representativas de diferentes grupos de trabalha-
doras, em estados que apresentam contextos socioeconmicos diferenciados. Levou-
se em conta, igualmente, o histrico de trabalho de cada uma das sete ONGs envolvi-
das, o que facilitaria a pesquisa com determinados grupos.
Assim, o SOS CORPO de Pernambuco, a partir de contatos anteriores com o
prprio Movimento da Mulher Trabalhadora Rural (MMTR), pesquisou entre traba-
lhadores rurais - pequenos produtores e assalariados pobres do serto nordestino (75
pessoas, sendo 18 homens), em duas microrregies: Serto Central e Serto do So
Francisco. A CEPIA (Cidadania, Estudos, Pesquisa, Informao e Ao), no Rio de
Janeiro, elegeu as trabalhadoras domsticas (54 mulheres) contatadas atravs de seu
vida sexual, sem atrel-la de modo inexorvel possibilidade de procriao, incluindo
as funes reprodutivas na esfera da cidadania, o que significa dotar o campo da repro-
duo de sentido tico e poltico, percebendo-o como lugar de exerccio de direitos
sociais. Esse princpio leva defesa do direito ao acesso a mtodos anticoncepcionais
seguros e disponveis para todas as mulheres e homens em servios de sade capazes de
dar respostas s suas necessidades, sem coao ou controle. Como no existe o anticon-
cepcional infalvel, a defesa do direito de ter filhos, quando, se e como se queira, leva
defesa do direito ao aborto, seguro, legal e acessvel a todas as mulheres. Alm da
anticoncepo, os direitos reprodutivos incorporam o direito assistncia gravidez,
parto e puerprio, bem como de tratamento para a infertilidade (Petchesky, 1990:1-9).
A tenso entre o que temos chamado de reproduo biolgica e reproduo
social tambm est presente nas discusses a respeito de direitos reprodutivos no Bra-
sil. Pensar acerca de direitos reprodutivos implica considerar, pelo menos, dois nveis:
o campo da experincia reprodutiva propriamente dita - que envolve sexualidade,
DSTs, concepo, anticoncepo, gravidez, aborto, parto, puerprio, amamentao -
ao qual passaremos a referir-nos como 'reproduo biolgica' ; e o campo da reprodu-
o social da vida humana - aqui enunciado como o cuidado e a educao das crian-
as, o trabalho domstico e a ateno e cuidados com a sade da famlia.
Estas questes sero tratadas, de incio, com a descrio da pesquisa no Brasil,
seguida de uma exposio dos fatores estruturais que favoreceram a transio
demogrfica brasileira ocorrida em contexto no qual emergiram novos padres cultu-
rais concernentes ao tamanho da famlia e anticoncepo. Segue-se uma interpreta-
o dos dados, em que se considera, de um lado, a identidade de gnero, as represen-
taes sociais da maternidade, os novos valores relativos anticoncepo e, de outro
lado, o peso das condies socioeconmicas e a influncia dos servios de sade na
argumentao das mulheres em busca da anticoncepo. Terminaremos apontando al-
guns dos reveses encontrados no curso de vida reprodutiva das mulheres pesquisadas.
sindicato, com quem j haviam desenvolvido trabalho anterior. Essa ocupao, que
absorve a maior proporo de mo-de-obra feminina urbana no Brasil, emblemtica
da pobreza e subordinao feminina no Pas. As ONGs paulistas, a partir de contato
prvio de vrias integrantes da equipe, optaram por pesquisar militantes (ao todo 53
pessoas, sendo trs homens) do Movimento de Sade da Zona Leste (MSZL) da cida-
de de So Paulo, de expresso nacional e cuja base essencialmente feminina - donas
de casa de baixa renda.
Em Pernambuco, atendendo solicitao das prprias lideranas femininas, a
pesquisa incluiu homens, tendo formado dois grupos masculinos. Em So Paulo, tam-
bm foram entrevistados trs homens.
Dessa forma, a pesquisa abarcou os trs maiores e mais representativos grupos
ocupacionais femininos do Pas - trabalhadoras rurais, trabalhadoras domsticas e
donas de casa - , em amostras que foram sendo redesenhadas de acordo com as deman-
das metodolgicas e os dados emergentes a cada etapa.
De acordo com as orientaes comuns ao IRRRAG em todos os pases, os
instrumentos de pesquisa foram basicamente os mesmos nos trs campos: question-
rio sociodemogrfico (aplicado em 154 participantes); grupos focais; entrevistas em
profundidade (no total de 43). Em todo o Pas, a pesquisa envolveu 182 pesquisados,
161 mulheres e 21 homens. O contedo do questionrio foi definido consensualmente
por toda a equipe brasileira, comportando 40 perguntas gerais relativas a dados
sociodemogrficos e sade e vida reprodutiva e questes especficas ligadas s rea-
lidades locais. Os grupos focais foram utilizados de forma diversa em cada estado.
Pernambuco realizou, ao todo, 32 sesses. No Rio de Janeiro, o grupo foi realizado,
durante um final de semana, sob forma de oficina acerca de sexualidade e sade. Em
So Paulo, a partir de dois grupos-piloto, foram feitas adaptaes para as sete sesses
realizadas posteriormente. As entrevistas foram efetuadas com militantes e no-mili
tantes, com enfoque na gestao/procriao e anticoncepo.
Quatro questes estruturaram a pesquisa: o que as mulheres consideram ser de
seu direito nas reas de sade e famlia; como as mulheres, ao longo de suas vidas,
tomam decises quanto concepo, anticoncepo, ao aborto, ao casamento,
maternidade e sexualidade; quais so as formas de resistncia e acomodao que as
mulheres praticam e que pensam ser possvel; e, finalmente, quais so as condies e
os servios que afetam as decises das mulheres concernentes vida reprodutiva e
seus direitos, segundo a sua experincia e conhecimento.
O questionrio aplicado revelou, entre outros dados, que as pernambucanas
tinham idade mdia de 37 anos, das quais 25% contavam menos de 21 anos, 40%
estavam entre 21 e 45 anos e 35% com mais de 45 anos. As cariocas pesquisadas
tinham idade mdia de 44 anos, das quais 60% estavam entre 21 e 45 anos e 40%,
acima de 45 anos. As paulistas apresentaram a mais alta idade mdia (49 anos); apenas
40% tinham menos de 45 anos enquanto 60%, acima desta idade.
Deve-se ressaltar que quase metade do total de pesquisadas apresentava idade
superior a 45 anos, pertencendo, portanto, gerao de mulheres que nasceu na dca-
da de 40 e 50, tendo, assim, passado por seu curso de vida reprodutiva justamente nas
A TRANSIO DEMOGRFICA
Na dcada de 60 teve incio o acentuado declnio da taxa de fecundidade que se
generalizou por todos os segmentos sociais e por todo o Pas, apesar de diferenas
regionais. A taxa de fecundidade total brasileira despencou de 6,3, em 1960, para 2,7,
em 1991. O fenmeno tem sido qualificado como rpido, abrupto, intrigante, inespe-
rado, imprevisto, no-antecipado, inquo e perverso. nico. Uma das singularidades
do caso brasileiro fica evidente quando se estabelece comparao deste com o proces-
so que aconteceu em outros pases em desenvolvimento no mesmo perodo. Recente
estudo comparativo, efetuado por George Martine, demonstra que, no perodo entre
1960 e 1990,
... a reduo da taxa de fecundidade brasileira foi apenas ligeiramente mais
baixa que a ocorrida na China e Tailndia, e mais rpida do que a ocorrida em
outros pases que implementaram, durante vrias dcadas, agressivos progra-
mas de planejamento familiar, como Indonsia, ndia, Paquisto, Bangladesh
e Mxico. (Martine, 1995)
A particularidade a ser destacada reside no fato de a queda da fecundidade ter
ocorrido sem que o governo tivesse estabelecido qualquer meta demogrfica ou logra-
do implantar, nos servios pblicos, programas efetivos de planejamento familiar que
oferecessem ateno adequada s necessidades de anticoncepo entre a populao.
O restrito impacto das polticas pblicas voltadas para a anticoncepo, consi-
derado, ao lado dos novos padres culturais relativos ao nmero ideal de filhos, so
bsicos para entender os reveses enfrentados pelas mulheres pesquisadas. Elas lida-
ram com a reproduo em cenrio caracterizado pela escassa participao masculina,
pelo uso irregular de anticoncepcionais orais, desprovidas de assistncia adequada,
pelo recurso exagerado esterilizao e ao aborto clandestino, bem como por muito
pouca disponibilidade de mtodos anticoncepcionais nos servios pblicos. Do ponto
de vista quantitativo, as alarmantes taxas de mortalidade materna verificadas at o
presente, em todas as regies do Pas, so uma das conseqncias incontestveis da
ineficcia das polticas de sade voltadas para as questes reprodutivas em geral.
Em cenrio marcado por uma das mais altas desigualdades de renda do mundo
e por cultura poltica autoritria, as brasileiras pobres arcam pessoalmente com os
custos da transio demogrfica tanto em termos econmicos quanto emocionais e de
sade, conforme demonstram os dados de nossa pesquisa.
Como pde acontecer uma transformao social to rpida, profunda e
irreversvel margem de polticas que efetivamente atendessem s necessidades dela
decorrentes e que garantissem o acesso das mulheres e homens anticoncepo? Muitos
estudos tm contribudo para a melhor compreenso dos mltiplos fatores interligados
que favoreceram esse fenmeno.
dcadas de 60 e 70, quando se estabeleceram os novos padres culturais relativos ao
tamanho da prole e ampla aceitao da anticoncepo.
Para explicar o abrupto e, aparentemente, irreversvel processo de declnio das
taxas de fecundidade da mulher brasileira, um nmero substancial de pesquisas e estu-
dos foi produzido por reconhecidos socilogos, demgrafos e economistas, alm de
por rgos governamentais nacionais e estrangeiros e por organizaes no governa-
mentais envolvidas com a questo.
Desde 1977, tais estudos vm iluminando a compreenso desse processo a par-
tir de diferentes perspectivas e abordagens, segundo as diversas reas do conhecimen-
to e as preferncias terico-metodolgicas de seus autores. Com nfase varivel, apon-
tam para mltiplos fatores - muitas vezes, simultneos e conectados - incidentes so-
bre esse processo que estabeleceu novos padres culturais relativos reproduo, tais
como: urbanizao, industrializao, proletarizao da mo-de-obra rural e urbana,
pobreza, entrada massiva da mulher no mercado formal de trabalho, incremento dos
anos de escolaridade de mulheres e homens, introduo (basicamente, no mercado) de
novas tecnologias anticoncepcionais, mudanas institucionais no sistema de sade e
influncia dos meios de comunicao.
Levando em conta boa parte desses estudos, Faria (1989) incorpora, em sua
sugestiva anlise, os resultados - no previstos ou visados - de polticas levadas a
cabo pelo governo brasileiro no perodo ps-64, os quais, embora de cunho econmi-
co e social, teriam tido forte impacto sobre o desejo feminino de reduzir o nmero de
filhos, favorecendo o surgimento de nova mentalidade relativa reproduo. O autor
refere a poltica de crdito direto ao consumidor que, em contexto de renda concentra-
da e achatamento salarial, facilitou o acesso de importante contingente populacional
posse de bens de consumo durveis, como televiso e outros eletrodomsticos.
Esta poltica, aliada de dotar o Pas de infra-estrutura moderna de telecomuni-
cao, contribuiu sensivelmente para que boa parte dos domiclios urbanos tivesse
acesso televiso, veculo que, ao mesmo tempo, induzia ao consumo e difundia no-
vos valores relativos a comportamentos apropriados segundo o sexo, a posio na
sociedade e na estrutura familiar. Temas como relaes sexuais, tamanho e estrutura
da famlia foram tratados de forma cada vez menos tradicional em programao que
inclua novelas e programas atraentes e de grande audincia que, deliberadamente ou
no, teriam incidido diretamente sobre o tamanho da famlia e a posio da mulher na
sociedade, alm de divulgarem e valorizarem os avanos tcnico-cientficos no mbi-
to da Medicina.
A divulgao de avanos e a valorizao da cultura mdica no impediram o
fracasso de polticas sociais voltadas para o atendimento das novas necessidades de
acesso a meios anticoncepcionais. Nenhum dos estudos, bom lembrar, vincula o
fenmeno em questo implementao bem-sucedida de polticas sociais de atendi-
mento s novas demandas. Pelo contrrio,
... a falta de uma poltica pblica de oferta de meios de regulao da fecundidade,
explcita e passvel de controle democrtico, fez com que a demanda por esses
meios tivesse que ser atendida fundamental, embora no exclusivamente, no
mercado, (...) adquirindo um carter profundamente discriminatrio: as pres-
ses para elevar a demanda por regulao incidiram sobre ricos e pobres, (...)
REPRODUO, SADE CONDIES DE VIDA
Nossa pesquisa em Pernambuco, Rio de Janeiro e So Paulo trouxe elementos
que permitem confirmar exaustivamente a vigncia de valores relativos a novo mode
mais sobre os ltimos do que sobre os primeiros; [enquanto] a oferta de meios
de regulao, por seu turno, ficou na dependncia de recursos disponveis para
pessoas e famlias obterem no mercado, desfavorecendo pois as camadas mais
modestas da populao. (Faria, 1989)
Segundo Barroso (1987), "os anticoncepcionais estavam disponveis - para
aquelas que podiam pagar. Certamente, na ausncia de apoio do governo, mulheres
pobres enfrentaram tremendos sacrifcios para obter anticoncepo (...) usando solu-
es desesperadas para evitar crianas indesejadas". Berqu (1995) levanta questes
ticas ao sublinhar a dvida social brasileira para com a sade das mulheres, decorren-
te justamente da falta de polticas na rea da sade reprodutiva.
A mesma pesquisadora ressalta que, hoje, as mulheres brasileiras apresentam
uma taxa de uso de anticoncepo prxima das taxas verificadas em pases desenvol-
vidos; o que diferencia a condio da brasileira sua estreita margem de escolha,
concentrada na plula e na esterilizao, alm do exagerado recurso ao aborto. Dadas
as condies de clandestinidade em que este praticado, sua incidncia s pode ser
inferida, em geral, a partir dos casos de complicaes ou seqelas atendidos pelos
servios de sade. Em 1993, o atendimento a complicaes por aborto provocado foi
a sexta causa de internao paga pelo Sistema nico de Sade em todo o Pas, chegan-
do cifra de 500 mil internaes (Sorrentino, 1994).
Dados de 1992 disponveis para um distrito de sade da cidade de So Paulo
mostram que, no hospital ali existente, as internaes para tratamento de complica-
es por aborto incompleto corresponderam metade das internaes para parto (Pre-
feitura de So Paulo, 1992). Se, por um lado, as estimativas - na casa dos milhes - de
mulheres que recorrem ao aborto remetem discusso de sua descriminalizao, por
outro, reforam a evidncia da omisso dos servios de sade que, com rarssimas
excees, sequer oferecem atendimento aos casos previstos em lei - risco vida da
mulher e conseqncia de estupro. Tambm so notrias as denncias de discrimina-
es e violncias praticadas por profissionais da sade contra mulheres que recorrem
aos servios com casos de aborto incompleto.
O quadro geral do contexto em que se processou a transio demogrfica no
Brasil indica que inmeros fatores interligados resultaram na produo de nova cultura
que alterou profundamente os padres que orientavam, sobretudo as mulheres, na toma-
da de deciso sobre o tamanho da prole, preferindo cada vez mais reduzir o nmero de
filhos. Pelo que foi exposto, pode-se dizer que a reduo das taxas de fecundidade no
Brasil dos anos 60 e 70 dependeu mais de mudanas no mbito da cultura que do impac-
to de polticas pblicas; nisto reside tanto a iniqidade do processo como grande parte
dos infortnios que afetaram mulheres pobres ao buscar meios anticonceptivos.
lo de famlia, os quais permitem s mulheres justificar e valorizar um reduzido nmero
de filhos com a adoo de prticas anticonceptivas, no obstante seja necessrio fazer
distines entre Pernambuco e os dois estados do Sudeste.
Nas prticas relativas reproduo, a realidade no meio rural pouco se diferen-
cia da urbana: tambm decresceu a taxa de fecundidade, elevou-se o nmero de este-
rilizaes e disseminou-se o uso de contraceptivos, em especial os hormonais. O parto
hospitalar substitui progressivamente o parto domiciliar e a medicalizao alcanou o
cotidiano das mulheres por meio dos agentes de sade e das aes das secretarias
municipais e estaduais de sade. A experincia com a cultura mdica, em geral, e a
anticoncepo, em particular, acontece em quadro no qual a presena de alguns sinais
da modernidade - contraceptivos e intervenes cirrgicas - altera representaes,
modifica discursos e condutas, bem como justificativas.
No tradicional iderio rural nordestino, o casamento tem como objetivo central
a procriao - de modo a constituir a famlia, que conforma a fora de trabalho na
pequena produo - tendo a mulher, como um dos seus principais papis, o de servir
sexualmente ao homem para que possam ter filhos. O uso da anticoncepo ou do
planejamento do nmero dos filhos deveria estar, portanto, completamente fora de
questo, fosse pela destinao do casamento procriao fosse pela destinao da
famlia produo familiar.
Prticas tradicionais de cura vm sendo paulatinamente substitudas pelos pro-
cedimentos mdicos sem que, ao mesmo tempo, os servios de sade se aparelhem
para assistir a toda a populao de modo adequado. Cria-se um vcuo, onde o que era
tradicional j no recomendado, podendo at ser visto como ameaador sade, e o
que novo e considerado correto ainda no est disponvel para toda a populao.
O reflexo mais evidente desta passagem est em novo discurso que se constri,
em que a idia de corpo saudvel prevalece, mas ainda convive com a idia anterior de
corpo puramente reprodutor e trabalhador. Parece estar criado o impasse: a reprodu-
o prejudica a sade das mulheres, a qual, por sua vez, prejudica-lhes o exerccio da
maternidade. Portanto, h que intervir sobre este ciclo, de modo a garantir a reprodu-
o, a maternidade e o ncleo familiar, por intermdio da manuteno da integridade
fsica das mulheres.
As aes de sade trazem consigo resultados concretos, que se expressam nos
indicadores sociais da regio, mas acarretam algo muito mais 'perturbador' para a
cultura local: o contato com novas prescries e modelos para uma vida melhor. As-
sim, parece-nos que o que antes era vivido como algo ' natural' , obra do destino ou
desgnio divino - como parir continuadamente durante mais de vinte anos ou a mor-
talidade materna - , passa a ser visto como resultado de um conjunto de condies
concretas que, exatamente por serem concretas, podem ser transformadas. A idia de
sade - e aqui trata-se mesmo de sade individual, a da mulher que reproduz a criana
que nasce - torna-se central para o novo iderio que se constri e confortadora, em
especial para as mulheres, j que pode retirar-lhes um fardo.
No se deve esquecer que, objetivamente, a deteriorao da sade das mulhe-
res liga-se, sim, vivncia reprodutiva, mas est tambm profundamente relacionada
s condies de trabalho, dupla jornada, falta de acesso a servios bsicos - e no
apenas de sade - e desinformao. Neste sentido, a patologizao da reproduo
encobre estes outros aspectos da pobreza.
Embora, no que diz respeito s pernambucanas, um dos principais argumentos
para a reduo do nmero de filhos esteja centrado em razes de sade, no Rio e em
So Paulo as novas idias parecem apoiar-se mais nas condies da vida urbana, nas
dificuldades econmicas e no desejo de proporcionar vida melhor aos filhos do que
nos argumentos de preservao da sade.
O que todas tm em comum so as decises referentes anticoncepo e nme-
ro de filhos - bem distintas daquelas feitas por suas mes. As mes delas tiveram
muitos filhos. A limitao do nmero de filhos significa, para todas as mulheres
pesquisadas, reduo no nmero tido como ideal vinte anos atrs; no entanto, para as
trabalhadoras rurais pernambucanas, este nmero foi e continua sendo maior que para
as cariocas e paulistas da nossa amostra.
A maior parte das pesquisadas desconhecem as prticas utilizadas por suas mes
para contornar a situao da gravidez indesejada, mas vrias acreditam que a me no
usava anticoncepo e sim provocava abortos. Alm disso, o nmero de gestaes era
sempre maior que o nmero de filhos vivos. Hoje, as mulheres mais velhas desejam
algo diferente para suas filhas. Compartilhando do mesmo modelo do nmero ideal de
filhos (um ou dois, no Sudeste), elas incentivam o uso da anticoncepo, como pode-
mos observar nos relatos de trabalhadoras domsticas diaristas e de donas de casa
militantes do movimento de sade em So Paulo:
Selma - Minha sogra achava que se deve ter s um s. Veio o segundo, tudo bem.
No terceiro ela botou a mo na cabea e disse: mulher, voc vai se acabar.
Ceclia - ela teve quantos?
Selma - Ela, sete. (Selma, 27 anos, acompanhante, Rio de Janeiro)
Ceclia - Em relao a ter filhos, o que que voc aconselha a sua filha?
Lenice - A ter s um filho e acabou. A pode dar tudo. Dar tudo vontade. Nesse
mundo que a gente anda, no tem condio de ter mais filho no, pra que? Pra
passar fome, no vai ter estudo. (Lenice, 46 anos, faxineira, Rio de Janeiro)
Porque antes as nossas mes ...os antigos tinham um monte. Agora o contro-
le est maior, eu acho que [por causa] da escassez, tem que trabalhar fora e eu
acho que tem que diminuir cada vez mais. (Grupo3, So Paulo)
Minha me teve vinte e trs. Da morreu catorze, somos em nove filhos, os
outros morriam l. A viemos para So Paulo, todos ns ramos solteiros, ca-
samos aqui. S tem uma irm minha que teve seis, as outras tudo dois ou trs
filhos e eu acho que as minhas filhas deve ter menos ainda! Filho d muita
preocupao, deixa a gente arrasada. (Ana, dona de casa, So Paulo)
Notamos valores referentes famlia em transio, onde a tradio de muitos
filhos abandonada pelo modelo ' moderno' de famlia, justificado sempre pela ' vida
muito difcil' que engloba o trabalho feminino fora de casa, a maternagem solitria e
os baixos salrios. Faz parte deste modelo, se bem que pouco verbalizado, um projeto
de ascenso social. Parece-nos que, de alguma forma, a limitao do nmero de filhos
MATERNIDADE GNERO
A identidade da mulher nas classes populares construda atravs dos laos de
famlia, locus que lhe d sentido e significado (Duarte, 1986). A maternidade tida
como seu destino, seu lugar e funo na sociedade e a reproduo parece estar circuns-
crita em um limbo, marcado pela naturalizao.
Nossos dados mostram a importncia de diferenciar e articular a reproduo
biolgica da social, uma vez que a maior parte das entrevistadas no Rio e em
Pernambuco relatam experincias, enquanto crianas e adultas, em que estes dois as-
pectos so alcanados por mulheres distintas e de modo independente da realizao
concreta da reproduo biolgica.
As domsticas do Rio de Janeiro - grupo constitudo predominantemente por
migrantes rurais do Nordeste - apresentam narrativas de suas infncias e adolescnci-
as muito parecidas com os das militantes pernambucanas. Suas famlias, numerosas e
pobres, recorrem a estratgias diversas na criao dos filhos, visando a subsistncia do
grupo familiar. Uma das prticas mais comuns a circulao de crianas,
5
pela qual um
ou mais filhos so criados temporariamente ou permanentemente por parentes, vizinhos
ou amigos. Outra estratgia recorrente a de delegar as funes de reproduo social
(s) filha(s) mais velha(s). Ambas centram-se nas meninas. Mediante estas estratgias,
a menina socializada para executar as tarefas de reproduo social, desvinculada da
reproduo biolgica ou na sua casa, com seus irmos, ou na dos outros. comum,
para muitas, abrir mo ou adiar a reproduo biolgica em funo das responsabilida-
des domsticas que assumem pela me (biolgica ou de criao) ou pela patroa.
no s valor cultural novo ou resposta s condies socioeconmicas difceis, mas
tambm estratgia de mobilidade social, de conseguir para si e para seu filho aquilo
que seus pais no conseguiram. a expresso de autodeterminao, iniciativa, agncia.
Em Pernambuco, foram comuns as falas do tipo: "se eu soubesse teria tido
menos filhos", "se eu soubesse tinha ligado antes". Fica-nos a impresso de que o
nmero ideal de filhos seria aquele que desse conta da produo familiar, mas as con-
dies concretas - em especial as que tm conseqncias diretas sobre a sade da
mulher - impedem que esse ideal seja realizado. No meio rural, no encontramos a
vontade de reduzir o nmero de filhos como uma das expresses do desejo ou projeto
de mobilidade social.
Importa enfatizar, no entanto, que, quase sempre, o nmero de filhos conside-
rado ideal no eqivale ao nmero real, para estas mulheres. Ento, as domsticas na
faixa de 20 a 35 anos conseguiram limitar em muito a sua prole, mas em geral tm um
ou dois filhos a mais do que pretendiam. A deciso pelo controle da fecundidade ou
pela interrupo da gravidez se faz com base na experincia reprodutiva concreta.
Pode-se dizer que, nos trs grupos pesquisados, o que as mulheres conseguiram fazer
consistiu em um controle da natalidade determinado por diferentes circunstncias,
mas no um planejamento familiar.
o caso das domsticas militantes do Sindicato que, em sua maioria, passaram
do trabalho domstico no remunerado, na infncia, para o remunerado 'em casa de
famlia', comumente no regime de 'mensalista residente'. O casamento e a maternida-
de interferem no desempenho e na disponibilidade da domstica. Ao mesmo tempo, a
natureza e as condies de seu trabalho - jornada de trabalho no delimitada, isola-
mento, pouco contato social com pessoas de sua classe, dificuldade de formar famlia,
baixos rendimentos - dificultam suas possibilidades de vir a conhecer potenciais par-
ceiros, casar e ter famlia prpria. Dadas tais condies, estas mulheres abriram mo
de ter maridos e filhos e mesmo, s vezes, de ter vida sexualmente ativa.
Sua condio de gnero lhes atribui as tarefas domsticas e a funo reprodutiva,
mas sua condio de classe e cor impem-lhes tal trabalho como meio de subsistncia,
executado para outra mulher, fazendo eqivaler reproduo e produo e, em boa
parte dos casos, restringindo suas opes reprodutivas prprias, em particular no caso
das empregadas residentes no emprego. Como nos disse Honria, uma informante:
A empregada domstica ela proibida de t filhos, porque pra voc t um
filho, pra voc criar na casa da madame uma barra. Voc tem que ter seu
canto, assumi, educa, como voc foi criada.
As condies de isolamento no trabalho, principalmente para as mensalistas,
c exacerbada pela moral catlica das militantes, pela ' vergonha' e recato no que diz
respeito s questes sexuais e o envolvimento com os homens. Isto expresso no
discurso das domsticas como dificuldade de encontrar homem ' decente' para na-
morar e na preocupao delas em no passar por ' mulher fcil' . A socializao sexu-
al dessas mulheres, que comumente se deu antes de sua migrao - portanto, no
meio rural - caracterizada pelo silncio em torno de questes do corpo e de sexo e
pelo encobrimento de toda a forma do corpo. Acredita-se que, por no se referir ao
corpo e ao desejo, a virgindade (no amplo sentido do termo) preservada c a sexu-
alidade adormecida. S aps o casamento e a experincia sexual socialmente legiti-
mada c que a mulher deve despertar para as questes do corpo. Os impedimentos
morais e dc trabalho acabam por lev-las a abrir mo de relacionamentos amorosos
c sexuais.
J para as domsticas diaristas, no sindicalizadas, a adoo da anticoncepo c
justificada pela vida difcil, pelo trabalho fora do lar e pelo desejo de proporcionar aos
filhos condies dc vida que favoream sua ascenso social. O direito dc decidir pela
limitao do tamanho da prole e, em conseqncia, pela anticoncepo explcito e decor-
re da noo mais geral de direitos de cidadania, a qual constrem a partir de seu ingresso na
fora de trabalho e a conseqente autonomia econmica, a mobilidade no espao pblico,
um maior acesso informao e a intensificao dos contatos sociais. Essas mulheres
decidem e praticam sozinhas a anticoncepo e, quando h oposio do parceiro, este
convencido pela argumentao de que a escolha da mulher a mais razovel.
Enquanto o discurso das domsticas indica o peso do trabalho domstico remu-
nerado e do cansao gerado pelas tarefas de reproduo social, realado pelas exign-
cias da patroa, o das sindicalistas rurais de Pernambuco aponta para o peso tanto da
reproduo social quanto da biolgica. Mulheres de ambos os grupos relatam histrias
de vida triste, sofrida e penosa, em que a trajetria de dor e esforo no compensado
a justificativa do direito que tm de tentar transformar a prpria vida. No momento
presente, essas mulheres no se vem como vtimas. Pelo contrrio, sentem-se vence-
doras: descobriram uma verdade que lhes permite ' tomar a prpria vida nas mos' .
Mas utilizam recorrentemente este passado opressivo, narrado nos mnimos detalhes,
para justificar a opo que realizaram: participar do movimento, ir para o sindicato,
exigir diviso das tarefas domsticas com a famlia, esterilizar-se.
O trabalho reprodutivo calcado na concepo de maternidade que, na rea
rural, algo amplo, de difcil definio; no se trata apenas de ser me, mas de estar
permanentemente disponvel para a reproduo em todas as suas etapas e desdobra-
mentos. Dificilmente as mulheres se reportam ao exerccio da maternidade no mesmo
sentido que se tornou comum encontrar nas reas urbanas e nos meios de comunica-
o: relao com os filhos, ofcio de educar, cuidados maternos etc. Muitas vezes
deixam a impresso de que ser me ter relaes sexuais, engravidar, parir e amamen
tar. Uma vez os filhos crescidos, fazem-lhes referncias apenas nos casos de doena e
naquelas situaes em que estes transgridem certas normas comunitrias - meninas
que engravidam, rapazes que cometem crimes de morte etc. Circunscrever em que
consiste esta maternidade foi, para ns, tarefa bastante difcil.
Trata-se de uma cultura na qual no parece haver a idealizao da figura da
me, a despeito do forte papel reprodutivo das mulheres. A me , sobretudo, a dona
da casa que garante, com o seu trabalho, o bem-estar dos filhos.
O que parece, de fato, acarretar custos para a vida das mulheres a prpria vivncia
reprodutiva. A reproduo vivida e pensada como algo custoso e mesmo como algo
que se contrape a sua prpria vida: dar a vida a outras pessoas muitas vezes percebido
como se isto lhes tirasse a prpria vida. Dar a vida a outros, para elas, morrer um pouco.
A nfase nas falas se refere tanto reproduo biolgica - gravidez, parto e
amamentao - quanto reproduo social - cuidados com as crianas. Assim, a gra-
videz, o parto e amamentao acarretam sofrimento fsico imediato, vivido sob a for-
ma de doena e de modo bastante solitrio, sem contar mesmo com apoios exteriores,
como os servios de sade. Os relatos so de dores, incapacitao fsica e mental para
o cumprimento dos compromissos do casamento e, por fim, de alteraes definitivas
no funcionamento corporal, as quais levam mutilao, por meio da esterilizao e,
principalmente, da histerectomia.
Eu tive a primeira filha, com onze meses nasceu um menino. A eu no agen-
tei mais e comecei a usar. (...) eu tomei porque eu tinha outros problemas, a
ajudava. Eu tive muita hemorragia. Eu perdi sangue durante 16 anos. Eu fazia
tratamento e melhorava, a pegava uma gravidez. (...) Eu tive sete [filhos]. Eu
fiz trs eletro, trs canais de tero, fiz uma amputao de colo...(...) fiz uma
curetagem porque eu tive um aborto. A depois, com 38 anos eu fiz uma
histerectomia total. A pronto, no sinto mais nada, no. (Grupo de mulheres,
Serto Central, mais de 45 anos)
Eu fiz ligao com medo porque o mdico disse que eu no podia engravidar,
no podia ter filho. (...) Ele falou que quem era que nem eu, pra ter filho, disse
que era como uma vela, quando o vento dava, fuuuu, e arremedou a vela se
apagando. Mas ele no explicou o porqu, s disse que eu no podia ter filho.
(Grupo de mulheres, Serto Central, mais de 45 anos)
A interveno mdica sobre o corpo feminino vivida como situao-limite
provocada pela reproduo continuada, alterando-lhe no apenas o corpo, mas toda a
sua vida, do ponto de vista concreto e simblico. Se, por um lado, isso soluciona para
as mulheres ao menos duas questes - param de reproduzir e recuperam a sade - , por
outro, se d s custas de profunda alterao na subjetividade e quanto a seu lugar no
interior da famlia e da comunidade,
6
percebida como melhoria em suas vidas.
7
As-
sim, no mais reproduzindo biologicamente, a mulher dedica maior ateno produ-
o e, na maioria das vezes, transfere as tarefas domsticas para filhas mais velhas,
ausentando-se um pouco tambm desse lugar. A famlia parece passar por um rearranjo,
em que a adolescente quem passa a ter maior responsabilidade e entra no ciclo da
subordinao familiar, ocupando o lugar da me. As jovens da nossa pesquisa sentem-
se profundamente injustiadas com esta situao e vem, como soluo para suas vi-
das, tornar-se a dona de sua prpria casa mediante o casamento.
Do ponto de vista subjetivo, a discusso mais recorrente localiza-se nas articu-
laes entre as intervenes mdicas e a sexualidade. O tero compreendido como o
lugar de prazer da mulher, motivo pelo qual pensa-se que a histerectomia retiraria das
mulheres a possibilidade de prazer sexual. Por outro lado, este ' dentro-do-corpo' , cuja
porta a vagina, constitui tambm lugar misterioso, a respeito do qual no se conhece
quase nada e onde quase tudo pode perder-se. Pensamos que, por isso, tambm a este-
rilizao pensada como interveno sobre o tero que, em conseqncia, tambm
altera o prazer sexual feminino.
Evidentemente preciso complexificar um pouco esta relao. As mulhe-
res dizem que ficaram frias e, portanto, menos mulheres, mas no aparentam se
lamentar muito por isso. s vezes, transmitem a impresso de que a histerectomia
e a esterilizao livravam-nas de dois fardos. Concretamente, essas intervenes
(1) impossibilitam a vivncia reprodutiva, e aqui achamos importante enfatizar
que no se trata apenas de ter filhos, mas sim, de no engravidar, no ter mais
abortos espontneos, no ter que provocar abortos, no adoecer durante a gravi-
dez, no parir, no ver os filhos morrerem ao nascer, no viver o puerprio e a
amamentao. Trata-se de um conjunto de situaes cujo teor de sofrimento e dor
bastante acentuado e que so extintas de modo imediato e definitivo pela inter-
veno mdica. Do ponto de vista simblico, (2) atravs da idia de que estas
intervenes levam frigidez, autorizam a mulher a recusar as relaes sexuais
com o marido, o que, claramente, resulta na efetiva reduo da freqncia das
relaes sexuais no casamento. Se lembrarmos que, para as mulheres, a vivncia
sexual no casamento comumente permeada pela violncia e realizada como obri-
gao, podemos entender que estar ' frgida' permite-lhes no ter que viver mais
situaes deste tipo.
com base na idia-chave da manuteno da sade da mulher que as decises
reprodutivas so justificadas, indicando dificuldade de se tomar decises no mbito do
ANTICONCEPO, DESCONHECIMENTO POBREZA
A anticoncepo amplamente aceita e mesmo desejada pelos trs grupos
pesquisados. As raras condenaes a ela ou limitao no nmero de filhos ocorreram
em Pernambuco, estando sempre ligadas a argumentos religiosos, os quais, no entan-
to, no atuam como impeditivos para tal prtica. H sempre balanceamento entre as
casal por meio de outros argumentos. Ao olharem para si mesmas, para o corpo cansa-
do e doente, as mulheres encontram a fora justificadora para, sobretudo, decidir pela
esterilizao. Fica-nos a impresso de que, para alm do contato com os agentes de
sade, os servios de sade so utilizados nas situaes-limite: na hora do parto, na
esterilizao e na histerectomia, ou em casos de doenas graves.
8
Os profissionais da sade, neste caso, funcionam como ' aliados' das mulhe-
res, pois convencem os maridos e a famlia de que a mulher no pode reproduzir.
Isso ocorre porque h muita resistncia por parte dos homens a que suas mulheres
parem de ter filhos. No ter mais filhos indica uma alterao radical naquilo para
que o casamento foi destinado; esta instituio - e parece-nos que tambm o sexo -
perderia o sentido; todavia, na pequena produo rural por demais dramtica qual-
quer mudana de significado no casamento e na famlia. Os homens resistem idia
de limitao no nmero de filhos at a situao tornar-se insustentvel, quando a
mulher adoece, precisa recorrer ao mdico e ele, ento, que indica o fim da vida
reprodutiva dela com argumentos irrefutveis e, muitas vezes, ameaadores. No pla-
no das condutas pessoais, ' utilizam-se' das recomendaes mdicas para resolver
situaes de conflito.
Se, por um lado, a fraqueza e o sofrimento fsico, aliados legitimidade de
um poderoso sistema mdico, so responsveis por grandes transformaes em
comportamento sexuais e reprodutivos, por outro, no podemos deixar de assina-
lar que nos trs grupos pesquisados, a militncia e o trabalho remunerado consti-
tuem fontes de questionamentos, reflexes e novas vises de mundo. Nesta viso, o
sentido de justia e de direitos incorporado ao discurso para justificar suas deci-
ses reprodutivas.
Em Pernambuco, o contato com as matrizes discursivas da teologia da liberta-
o e do marxismo, presentes no sindicalismo e no movimento de mulheres, leva a
nova concepo do mundo, em que as relaes sociais so desnaturalizadas e
historicizadas. A idia de sujeito torna-se central nessa nova concepo e tambm
incorporada aos temas do movimento de mulheres: situaes da vida privada so tra-
tadas sob a tica da reproduo e isto se reflete na relativizao da idia de que a
maternidade o destino para as mulheres e o objetivo do casamento. Permite, ainda,
uma anlise das condies concretas em que essa maternidade vivida. neste cruza-
mento que se forja a idia de que o nmero de filhos pode ser reduzido e as condies
de assistncia sade devem ser melhoradas, idias justificadoras das atitudes das
mulheres em direo anticoncepo e esterilizao.
motivaes justas para a anticoncepo e a restrio religiosa, com o peso tendendo
para as primeiras, levando as mulheres a uma relao muito particular com a religio.
Os argumentos para o uso de mtodo anticonceptivo concentram-se, de forma
geral, no fardo reprodutivo. O peso da reproduo significativamente acentuado em
Pernambuco e articulado em torno do tema da sade da mulher, mas a existncia de
discurso favorvel ao uso e os seus resultados prticos terminam por alterar de modo
bastante acentuado as relaes de gnero na rea rural e, conseqentemente, com o
lugar da mulher na sociedade e na famlia. A resistncia masculina anticoncepo
emblemtica do potencial da mudana que vem embutida na preveno gravidez. Os
homens probem as mulheres de usar contraceptivos e muitas vezes sua reao de
brutal yiolncia. Nestas situaes, as mulheres decidem e utilizam, por conta prpria,
mtodos diversificados em diferentes momentos de sua vida.
Em Pernambuco, onde a pesquisa incluiu homens, constatamos o reconheci-
mento masculino sobre o direito que as mulheres tm de tomar certas decises sozi-
nhas, baseadas em suas prprias razes. Este direito circunscrito a situaes em que
ela decide utilizar os mtodos ' nativos' e no se aplica, em absoluto, aos mtodos
tradicionais e modernos.
9
A partir de ento, os homens acham que tm que participar
de tal deciso, que devem ser consultados e que sua palavra tem que valer. De acordo
com a fala masculina, os mtodos ' nativos' parecem incidir mais sobre o mau funcio-
namento dos processos reprodutivos do que propriamente no que concerne fertilida-
de ou concepo, justificando-se seu uso. Os outros mtodos, ao contrrio, so clara-
mente contraceptivos e no apresentam nenhum componente de regulao da sade da
mulher; s podem ser aceitos, portanto, se forem recomendados pelos mdicos, os
quais, em geral, o fazem em nome da sade.
A plula anticoncepcional o mtodo mais procurado por todas as mulheres e o
primeiro a ser experimentado. Sua difuso to acentuada que comum elas se refe-
rirem a ele como anticoncepcional', refletindo tanto a legitimidade mdica que
recebe como tambm o desconhecimento ou a falta de confiana em outros mtodos.
Muitas tentativas para fazer a anticoncepo correta se traduzem em trocar de marca
de plula e no de mtodo. Algumas mulheres s foram recorrer anticoncepo aps
experimentar o fardo da reproduo social, momento que surgiu mais cedo para as mais
jovens - aps o primeiro filho - e mais tarde para as mais velhas - aps o quinto filho.
Outros mtodos so raramente utilizados. O dispositivo intra-uterino (DIU)
rejeitado com base em experincias negativas, medo dos riscos ou desconhecimento
de sua existncia. A tabela e o coito interrompido foram usados por vrias mulheres
- principalmente para ' descansar' da plula, mas, de forma geral, acredita-se que so
mtodos falhos. Existe grande preconceito contra a camisinha tanto a partir da rejei-
o do parceiro quanto da prpria mulher. Os demais mtodos so praticamente
desconhecidos.
Aps ultrapassarem o nmero de filhos desejados, cansadas de tomarem a plu-
la e dispostas a prevenir gravidez indesejada a qualquer custo, muitas se esterilizam.
As reaes a esta prtica so as mais variadas: desde queixas de que anula o desejo
sexual da mulher ao total desconhecimento acerca desta interveno. Mesmo no sen
do percebida como soluo milagrosa em razo destas conseqncias, a esterilizao
bem-vinda como soluo definitiva para o risco que desejam evitar.
Uma das lderes mais expressivas do Movimento de Sade da Zona Leste de
So Paulo, perguntada sobre a principal razo de ser avidamente procurada pelas
mulheres do movimento que buscam a esterilizao, responde: "Elas sempre dizem:
' voc que anda metida a com esses mdicos, qual o que faz a operao? No tem
um que faa de graa?' Isso uma amolao no meu porto... Elas s pensam em
fazer a operao".
Dadas as limitaes de toda ordem, tais como: efeitos indesejados da plula, pou-
ca confiabilidade nos parceiros para mtodos que requerem sua participao, baixa ofer-
ta de anticoncepcionais nos servios pblicos e desconhecimento de outras alternativas,
a esterilizao considerada como a melhor soluo para o controle da fecundidade. O
exagerado recurso a ela reflete a generalizada falta de mtodos anticoncepcionais aces-
sveis e seguros, implicando pesados custos econmicos e psquicos, salientadas entre as
paulistas: a concentrao de casos de arrependimento em amostra to pequena sugere a
precariedade das condies cm que a opo foi feita.
Porque a a primeira coisa que a gente tinha naquela poca s era operar, a
nica alternativa era operar (...) a realmente eu no poderia continuar toman-
do comprimido e na minha cabea eu no via uma outra coisa para evitar,
sabe, nem sabia que existiu DIU. E fui ganhar nen e operei com 28 anos.
(Grupo 1)
Apesar do alto custo material c de sade, a esterilizao freqentemente per-
cebida como alvio e liberao. No Brasil, ela semiclandestina; permitida por lei
apenas em determinados casos, a critrio dos mdicos, estes, mesmo em pleno desem-
penho do servio pblico e gratuito, cobram das pacientes, ' parte' , a interveno -
sem justificativa legal - , induzindo ao parto cesreo para camufl-la.
1 0
As estratgias
para cobrir os custos da cirurgia variam desde o recurso de obter dinheiro emprestado
de amigos, vizinhos e patres at, no caso de algumas, ao extremo de lanar mo de
herana. A deciso, na maioria destas situaes, decorre da insatisfao com os in-
meros mtodos anticoncepcionais ora utilizados ou buscados e, sobretudo, dos desa-
gradveis efeitos colaterais percebidos ao se utilizar a plula.
Se as mulheres no Rio de Janeiro e em So Paulo se queixam dos efeitos
colaterais da plula anticoncepcional, em Pernambuco o corpo reprodutor carrega um
peso que o coloca beira da morte. Esta pode ser uma razo para que a esterilizao
seja to bem aceita na regio. Ela parece encerrar definitivamente a trajetria de doen-
as do trato reprodutivo, ou porque estas doenas esto ligadas gestao, parto e
puerprio ou porque, quando as mulheres no se esterilizam, fazem a histerectomia,
uma outra interveno cirrgica tambm ' vista com bons olhos' .
No encontramos, nos estados do Rio e Pernambuco, casos de arrependimento
aps a esterilizao, nem tampouco atitudes de desencorajamento para as mulheres
que planejam esterilizar-se. Entre os homens pernambucanos, havia certa desconfian-
a com relao massificao deste procedimento pelos servios de sade e, entre as
mulheres, muitas criticas ligadas dificuldade de acesso interveno cirrgica e ao
fato de s a realizarem quando suas condies de sade j estavam profundamente
abaladas. A esterilizao problematizada apenas enquanto processo de obteno.
Em So Paulo, encontramos insatisfao e arrependimento, fazendo com que
para tais mulheres a esterilizao configurasse uma aposta arriscada, evidenciando a
vulnerabilidade feminina no tocante anticoncepo. De fato, no estado de So Paulo,
os servios de tratamento de infertilidade tm recebido nmero crescente de mulheres
de diversos segmentos sociais em busca de reverso da esterilizao. Isto parece de-
monstrar as ambigidades que as mulheres enfrentam ao lidar com a prpria fecundidade
e, em especial, com esta prtica cirrgica.
Registramos, durante a pesquisa, relatos indiretos de experincias traumticas
ocorridas com irms e amigas das participantes da pesquisa. Estes depoimentos envol-
viam, basicamente, um caso de morte aps cesariana realizada com o objetivo de este-
rilizao e vrios outros de arrependimento por morte de filho e danos sade. Entre
as prprias pesquisadas encontramos um caso crtico de morte do filho dias aps a
ligadura de trompas. Neste relato se confundem arrependimento e culpa:
Porque a primeira coisa que a gente naquela poca era s se operar... como
eu ca nessa burrice? ...eu realmente no poderia continuar tomando compri-
mido, e na minha cabea no via outra coisa para evitar, no conhecia, DIU eu
nem sabia que existia. Fui ganhar nen e operei com 28 anos. Fiz a laqueadura!
Quando foi com um ms e vinte oito dias meu garoto faleceu. Foi um acidente,
eu perdi. A eu pirei. A minha cabea virou uma loucura, porque eu no admi-
tia que tinha ficado sem meu filho, que era o nico que eu tinha e no poderia
ter outro. Isso me deixou doida. (Grupo 1)
Na avaliao da esterilizao, recorrente o seu impacto sobre o desejo sexual,
o que visto como positivo por umas e como negativo, por outras:
Eu gelei sabe, depois disso eu era uma mulher que no se realizava no sexo.
Achei timo ter feito a laqueadura...porque parece que me libertei sexualmente
porque [estava livre] do risco da gravidez e me sentia super feliz com aquilo. O
nico problema que eu tinha era que eu morria de medo... que meu filho mor-
resse. (Grupo 1)
Esta ltima pesquisada nos relatou que, anos depois, se arrependeu por outro
motivo:
Quando eu comecei a participar dos grupos [do movimento de sade] come-
cei a ver que era diferente, eu ca na realidade e comecei a ver que tinha outros
tipos de evitar filhos, comecei a perceber que a responsabilidade no era s
minha de evitar, comecei a ver coisas que eu antes no enxergava e teve uma
poca que eu comecei a entrar em parafuso: mas porque eu fui me mutilar,
porque eu mutilei meu corpo ...eu no precisava ter feito isto! (Grupo 1)
Apesar de todos estes depoimentos estarem longe de permitir que se estabelea
qualquer padronizao, demonstram o peso da desinformao, da falta de acesso a
mt odos e, sobretudo, o sofrimento e as ambi gi dades femininas relativas
anticoncepo.
REVESES DA ANTICONCEPO
O curso de vida das mulheres pobres estudadas marcado pela reproduo
social e biolgica, tarefas que todas, de uma forma ou outra, em situaes bem diver-
sas, desempenharam sem alternativas. Enquanto mulheres, nenhuma escapa da repro-
duo social. O trabalho est diretamente ligado s possibilidades reprodutivas.
medida que as trabalhadoras domsticas residentes no emprego enfrentam condies
de trabalho que criam enormes dificuldades para a reproduo biolgica, as trabalha-
doras rurais se vem diante das demandas de mo-de-obra na pequena produo, situ-
ao que, portanto, as incentivaria a gerar um grande nmero de filhos. No entanto, o
Alm disso, a manifestao de arrependimento e insatisfao relacionada es-
terilizao, entre algumas paulistas, pode ser interpretada como vis da pesquisa, se
levarmos em conta que vrias das pesquisadas tinham contatos anteriores com as pes-
quisadoras e conheciam o debate travado pelas feministas, endossado pelas compo-
nentes da equipe paulista do IRRRAG. Desta forma, poderamos levantar a suposio
de que as pesquisadas tentavam expressar sua identificao com as pesquisadoras.
Outra interpretao possvel seria a de que essas pesquisadas paulistas, que mantive-
ram contatos prvios com os argumentos feministas, foram de fato convencidas por
seus argumentos e vieram, ento, a arrepender-se.
Os padres de uso contraceptivo delineados acima no podem ser analisados
sem considerarmos a influncia da cultura mdica. A plula o mtodo predominante
na recomendao mdica. Os servios mdicos reforam o seu uso em razo tambm
da falta de informao que os profissionais da sade tm e do a respeito de outros
mtodos, e pelos prprios preconceitos destes profissionais, que a elegem como o
melhor mtodo: o mais seguro, mais eficaz e de menos interferncia na relao sexual.
Em Pernambuco, os servios de planejamento familiar existem e parecem ter duplo
papel: orientam apenas para o uso de plula e camisinha como contraceptivos e distri-
buem-nas gratuitamente.
A quantidade de alegaes de 'razes de sade' para a esterilizao o resultado
de uma vida inteira dedicada reproduo - biolgica e social - em condies de pobre-
za e violncia, como tambm da medicalizao crescente da reproduo. O corpo pobre,
esgotado pela reproduo, ento medicalizado pelos diagnsticos de risco e recomen-
daes para a esterilizao. Neste caso, a interveno tem que ser radical, mas preciso
chegar perto da morte e necessrio ser ameaada, pelo mdico, dessa morte prxima.
Seria simples afirmar que, reduzindo-se drasticamente o nmero de gestaes e
de filhos, por meio da esterilizao, estar-se-ia reduzindo custos. Isto se d at certo
ponto, mas uma interveno que incide apenas sobre o que h de mais imediato - o
corpo e a vida da mulher - sem que se alterem as condies do contexto e, portanto,
sem que se crie a possibilidade de vivncia reprodutiva que no seja custosa, pessoal e
social. Cria-se o corpo doente, por meio da reproduo em condies precrias de
sobrevivncia, para depois intervir, medicalizando-o.
corpo reprodutor pobre no agenta suprir tal demanda e a anticoncepo acolhida
como necessria manuteno da sade. A anticoncepo entra nesta trajetria de
modo a frear a reproduo biolgica, muitas vezes encerrando a reproduo biolgica
permanentemente com a esterilizao, mas ela no se apresenta de forma a criar diver-
sas possibilidades reprodutivas.
Certamente, as profundas mudanas sociais ocorridas no Pas durante as lti-
mas dcadas incidiram diretamente sobre a mentalidade e as atitudes das mulheres de
todos os segmentos sociais no mbito reprodutivo, com certas distines entre o meio
rural e o urbano. No entanto, sobretudo entre as mais pobres, a falta de meios para
efetivamente escolher como, quando, e se quer ter filhos foi a grande lacuna vivida e
descrita pelas pesquisadas. Travaram solitariamente uma luta pela realizao do dese-
j o e pela necessidade de ter menos filhos, em situao extremamente desfavorvel, em
que a pobreza, a vigncia de padres tradicionais de gnero e a desinformao alia-
ram-se ao reduzido acesso a servios de sade de baixa qualidade, levando a situaes
desesperadoras, suportadas somente por um alto custo pessoal e social.
O cerne dessas transformaes certamente reside na desnaturalizao dos pro-
cessos que envolvem a reproduo, a qual aparece no mais como desgnio divino ou
destino feminino inarredvel, mas como fenmeno passvel de controle e deciso. O
desejo de ter menos filhos mais justificado por razes econmicas ou de sade e
menos por argumentos do campo do direito, raramente pelo senso de propriedade do
corpo. a implementao deste desejo entendida como obrigao que compete
mulher, mesmo se revelia ou s escondidas do marido, justamente com o argumento
de ser ela a responsvel pela criao dos filhos.
Constatamos que as mais pobres, as trabalhadoras rurais, so as que traam
uma trajetria mais penosa e uniforme, com menos escolhas. As condies de vida
destas mulheres e a natureza da assistncia sade da regio - sem servios de infor-
mao, sem orientao especfica para anticoncepo et c. - faz da trajetria
anticonceptiva um longo caminho de ineficincia dos mtodos e prejuzos sade
que, no final, no atinge o objetivo proposto. Continuam a engravidar, continuam a ter
filhos, com o agravante de, em muitos momentos de suas vidas, sofrerem conseqn-
cias nefastas da anticoncepo hormonal. A esterilizao, neste caso, atende a dois de
seus propsitos: realiza o desejo de no ter mais filhos e encerra o ciclo de prejuzos
sade. Esta alocao da esterilizao no curso de vida das mulheres faz com que as
problematizaes criadas em torno dela centrem-se mais no processo pelo qual a este-
rilizao obtida e realizada do que na esterilizao em si.
Curiosamente, aqui que a ' naturalizao' se instala mais uma vez, tornando
complexa a reflexo sobre os direitos da reproduo. Se o uso de contraceptivos con-
tinua a ser parte do campo de preferncias e desejos de cada mulher que mantm uma
natureza individual ou, no mximo, conjugal, a esterilizao parece ter se instalado de
modo definitivo, no curso de vida destas mulheres, como momento ' natural' , como
ponto de chegada de sua experincia reprodutiva. Passa-se, portanto, do ciclo biolgi-
co menarca-concepo-gestao-parto para novo ciclo menarca-concepo-gestao-
parto-esterilizao, em que, a despeito de ser interveno externa sobre o corpo, a
NOTAS
1 Para preparar o trabalho ora apresentado, contamos com a consultoria de Carmem Dora Gui-
mares, doutoranda do Programa de Ps-Graduao em Antropologia Social (PPGAS) do
Museu Nacional.
2 O IRRRAG um grupo de pesquisa internacional coordenado por Rosalind Petchesky, do
Hunter College, New York. Alm do Brasil, a pesquisa foi realizada no Mxico, Estados
Unidos, Nigria, Filipinas, Malsia e Egito.
3 Em Pernambuco, a pesquisa foi coordenada por Ana Paula Portella, psicloga, contando
tambm com a consultoria permanente da sociloga Maria Betnia vila, ambas do SOS
CORPO - Gnero e Cidadania. No Rio de Janeiro, o projeto foi desenvolvido pela Cidada-
nia, Estudos, Pesquisa, Informao e Ao (Cepia) e contou com a sociloga Helena Bocayuva
como coordenadora e as antroplogas Carmem Dora Guimares e Cecilia de Mello e Souza.
A equipe de So Paulo reuniu representantes de cinco ONGs feministas, coordenada por
Maria Teresa Citeli, da Fundao Carlos Chagas; integraram-na Maria Dirce Pinho, tcnica
em pesquisa quantitativa do Geleds - Instituto da Mulher Negra, Cassia Carloto, psicloga
do Sempreviva Organizao Feminista (SOF) e Margareth Arilha, psicanalista da Estudo e
Comunicao em Sexualidade e Reproduo Humana (Ecos). A coordenao nacional cou-
be a Simone Grilo Diniz, mdica-sanitarista e integrante do tambm paulista Coletivo Femi-
nista Sexualidade e Sade.
4 A partir da Conferncia Internacional de Populao e Desenvolvimento (Cairo 94), promo-
vida pela ONU, houve mudana de paradigma quanto ao modo de pensar ou promover
polticas relativas a questes populacionais, que incorpora a noo de direitos reprodutivos
e a perspectiva das mulheres como eixo central.
5 Ver o trabalho de FONSECA (1986), sobre a circulao de crianas em Porto Alegre, e o de
CARDOSO (1984), sobre a adoo nas classes populares de So Paulo.
6 Estreis e frgidas, no cumprem mais com as funes e papis que lhes foram socialmente
designados. No entanto, j o fizeram e, assim, os maridos aceitam tanto as intervenes
quanto as alegaes de frigidez; afinal, no se trata da recusa de mulher sadia, mas, sim, de
mulher doente, cuja frigidez exatamente conseqncia de sua doena.
7 Do ponto de vista social, a vivncia reprodutiva um dos elementos que dificultam sobre-
maneira a insero das mulheres na vida pblica, alm de impossibilitar-lhes o descanso, o
lazer ou a busca de outras alternativas de vida. Prova disso que a grande maioria das
ativistas esto esterilizadas ou fizeram a histerectomia; so mulheres que no apenas j tm
os filhos crescidos, como, sobretudo, j no tm a possibilidade de vir a enfrentar novamen-
te a reproduo. A partir do momento em que se afastam da vivncia reprodutiva, sobra
lhes tempo e disposio para a construo de novos rumos em suas vidas onde, dentre os
quais, a militncia poltica dos mais importantes. Na outra ponta do conjunto de ativistas,
esto justamente as mulheres solteiras, sem filhos e sem marido, embora com compromissos
domsticos e familiares.
8 De acordo com nossos(as) entrevistados(as), no h acompanhamento pr-natal nem aes
que orientem as mulheres para os exames ginecolgicos regulares, incluindo-se a preveno
esterilizao adquire o mesmo status dos outros momentos e, na concepo do ciclo,
termina por ' naturalizar-se' . Passa a ser prevista, planejada, desejada e esperada, pelas
mulheres, antes mesmo do casamento.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
BARROSO, C. Direitos reprodutivos: a realidade social e o debate poltico. Cadernos de
Pesquisa, (62):52-59, 1987.
BARROSO, C. Fecundidade e polticas pblicas. So Paulo em Perspectiva, 3(3): 15-19,1989.
BEM- ESTAR FAMILIAR NO BRASI L, SOCIEDADE CI VI L ( BEMFAM) . Fecundidade,
Anticoncepo e Mortalidade Infantil: pesquisa sobre sade familiar no Nordeste.
Recife, 1991.
BERQU, E. et al.A Fecundidade em So Paulo: caractersticas demogrficas, biolgi-
cas e scio-econmicas. So Paulo: Cebrap/Ed. Brasileira de Cincias, 1977.
BERQU, E. et al. Brasil, um caso exemplar: anticoncepo e partos cirrgicos espera
de uma ao exemplar. Revista Estudos Feministas, 1(2):366-381, 1993.
BERQU, E. et al. A sade das mulheres na "dcada perdida". So Paulo: SEMINRIO
EQIDADE ENTRE OS SEXOS: UMA AGENDA PARA A VIRADA DO SCULO. So Paulo:
Fundao Carlos Chagas, 1995. (Mimeo.)
CARDOSO, R. Creating Kinship: the fostering of children in favela families in Brazil. In:
SMITH, R. (Ed.) Kinship, Ideology and Practice in Latin America. Chapel Hill:
University of North Carolina Press, 1984.
CIDADANIA, ESTUDOS, PESQUISA, INFORMAO AO / FACULDADE LATINO-AMERICANA DE
CINCIAS SOCIAIS (CEPIA/FLACSO). Mulheres Latino-americanas em Dados - Brasil.
Santiago: Instituto de la Mujer/Flacso, 1993.
CORRA, S. & PETCHESKY, R. Reproductive and sexual rights: a feminist perspective.
In: SEN, G. ; GERMAIN, A. & CHEN, L. C. (Eds.) Population Policies Reconsidered:
health, empowerment, and rights. Boston: Harvard School of Public Health, 1994.
DOUGLAS, M. Purity and Danger: an analysis of concepts of pollution and taboo.
Harmondsworth: Penguin Books, 1970.
DOUGLAS, M. Natural Symbols: explorations in cosmology. Harmondsworth: Penguin
Books, 1973.
DUARTE, L. F. D. Da Vida Nervosa (nas classes trabalhadoras urbanas). Rio de Janei-
ro: Zahar/CNPq, 1986.
FARIA, V. E. Polticas de governo e regulao da fecundidade: conseqncias no anteci-
padas e efeitos perversos. Cincias Sociais Hoje. So Paulo: Anpocs/Vrtice, 1989.
do cncer de colo uterino e de mama. Com relao aos homens, esta lacuna foi imensamen-
te maior: no houve referncia busca dos servios de sade pelos homens. Os servios de
planejamento familiar existem e parecem ter duplo papel: indicam apenas plula e camisi-
nha como contraceptivos, e distribuem-nos gratuitamente.
9 Interessa notar que semelhante distino feita quanto s formas de provocar aborto. Os
homens e as mulheres do serto aceitam o recurso a ervas e chs da cultura tradicional para
interromper, com baixa eficcia, a gravidez indesejada, o que no tido como aborto. No
entanto, quando induzido por outros meios que no os 'naturais', passa a ser rechaado como
crime passvel de severa punio.
10 Sobre a associao entre esterilizao feminina e parto cirrgico no Brasil, ver BERQU (1993).
FONSECA, C. Orphanages, foundlings and foster mothers: the system of child circulation
in a Brazilian squatter settlement. Anthropological Quaterly, 59(1) :15-27, 1986.
G IFFIN, . M. Women' s health and the privatization of fertility control in Brazil. Social
Sciences Medicine, 39(3) :355-60, 1993.
MARTINE, G.Brazil's remarkable fertility decline: afresh look at key factors. Cambridge
[Massachussets]: H arvard Center for Poplation and Development Studies, 1995.
(Working Papers Series, 95) .
PETCHESKY, R. & JENNIFER, W. G lobal feminist perspectives on reproductive rights and
reproductive health. In: INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY CONGRESS ON WOMEN, New
Y ork, 1990.
PREFEITURA DE SAo PAULO. Secretaria Estadual de Sade. Administrao Regional de
Sade 6. Relatrio de atividades, 1992.
SARTI, C. a Sina que a Gente Traz: ser mulher na periferia urbana, 1985. Disserta-
o de Mestrado, So Paulo: Universidade de So Paulo.
SCAVONE, L. et al. Contracepo, controle demogrfico e desigualdades sociais: anli-
se comparativa franco-brasileira. Revista Estudos Feministas 2(2), 1995.
SORRENTINO, S. O SUS e a sade da mulher. Jornal da Rede, 7, jun. 1994.
Instituies e Trajetrias
4
Concepes de Doena: o que os servios de
sade tm a ver com isto?
Francisco J. Arsego de Oliveira
Falar acerca das variadas definies e percepes das doenas pode parecer,
primeira vista, exerccio em torno do bvio. Apesar disto, parece no estar suficiente-
mente claro - em especial, para os prestadores de servio mdico - o fato de as con-
cepes a respeito de sade/doena possurem caractersticas prprias, de acordo com
o contexto cultural dos diferentes grupos que compem a sociedade. H ento espao
para este bvio ser explicitado e provado.
Vrios estudos sobre o tema - inclusive em nosso meio - vm demonstrando
como o entendimento do ' leigo' , no que concerne a sua doena, difere da concepo
dos mdicos sobre a mesma ' doena' .
1
Assim, no momento em que muitos setores da
Sade Pblica procuram alternativas de prtica mdica que, de certa forma, consigam
aplacar os efeitos do que parece ser mais uma crise no setor, tornando-o mais efetivo,
humano e culturalmente apropriado, o estudo das diversas representaes quanto
doena fundamental.
Isto porque o entendimento do que seja doena permeia toda a relao que
se estabelece no encontro do indivduo com os sistemas de sade, oficiais ou in-
formais. Por conseguinte, a forma pela qual o indivduo se percebe ' estando doen-
t e' determinar diretamente de que modo ele relatar a evoluo de sua doena
para o ' curador' , como entende que o exame fsico deva ser realizado, o estabele-
cimento do diagnstico e o tratamento para aquilo que est sentindo. No caso do
aparato formal, o mdico, por sua vez, a partir dos sinais e sintomas expressos
pelo paciente, busca cumprir a sua parte na relao, ou seja, acertar o diagnstico,
curar o paciente atravs do tratamento correto e faz-lo retornar ao estado prvio
de sade.
Conforme Knauth (1995), a necessidade do conhecimento das diferenas exis-
tentes entre os mais variados segmentos sociais sobre as suas representaes a respeito
da sade/doena mostra-se mais evidente no caso da AIDS, em que tal entendimento
bsico para que sejam traadas polticas de ao preventiva realmente eficazes. O que
se busca demonstrar aqui que este entendimento igualmente fundamental para a
prtica mdica cotidiana, em especial quando se trata de sociedade to heterognea
quanto a brasileira.
O presente trabalho foi realizado a partir dos depoimentos pertencentes ao
banco de dados da pesquisa "Corpo, sexualidade e reproduo: um estudo sobre
representaes sociais", a respeito de prticas contraceptivas, projeto coordenado
pela professora Ondina Fachel Leal, do Ncleo de Antropologia do Corpo e da Sa-
de (NUPACS) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com o suporte da Orga-
nizao Mundial da Sade.
Esta minuciosa investigao desenvolveu-se a partir de 200 entrevistas, dividi-
das igualmente entre homens e mulheres em idade reprodutiva, moradores de quatro
vilas de classe popular atendidas por unidades de sade comunitria, vinculadas a um
complexo hospitalar de carter pblico de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Estas
unidades - Vilas Floresta, Valo, SESC e Dique - prestam atendimento, em nvel de
tratamento, promoo e preveno sade, a reas geograficamente delimitadas e
populao adscrita. Tambm foram includos dados de minha experincia pessoal em
campo, como entrevistador, nesta mesma pesquisa.
O objetivo deste estudo analisar as diversas definies de doena em classes
populares, partindo do pressuposto que a doena constitui fenmeno social por exce-
lncia, que supera em muito os limites biolgicos do corpo. Procura-se tambm, a
partir dos depoimentos, reconhecer como se estabelece a influncia dos servios de
sade nessas definies sobre doena. evidente que h certas limitaes nesta abor-
dagem, uma vez que o roteiro de entrevista original extenso, abrangendo pontos no
exclusivamente relacionados com sade ou doena. Entretanto, como houve preocu-
pao com a fundamentao, enquanto pesquisa de carter essencialmente etnogrfico,
os dados colhidos so extremamente teis para o meu propsito aqui.
Deve ser salientado que, apesar de alguns informantes terem sido indicados
pelos postos de sade, as entrevistas foram realizadas na casa dos moradores, portanto
fora do contexto diretamente relacionado doena ou aos servios de sade naquele
momento. Da mesma maneira, o recorte utilizado centrou-se na ' doena' e no na
concepo de ' sade' , o que, compreensivelmente, pode envolver perspectivas distintas.
Um dos aspectos que chamam a ateno logo no incio deste trabalho o modo
diferenciado dos informantes referirem-se doena em relao aos adultos e s crian-
as. H grande preocupao com a sade do segmento infantil, expressa atravs do
nmero de consultas, da procura de atendimento mdico logo no incio dos sintomas,
da preocupao em manter as vacinas em dia, enfim, da procura de auxlio imediato e
tambm preventivo para problemas de sade dos filhos.
As crianas so vistas como seres frgeis, de cuja sade as mes no podem
descuidar-se. So levadas ao mdico aos mnimos sinais de anormalidade, mesmo que
isto represente procura desgastante por servios de emergncia, geograficamente distantes
e com filas. Apesar de as entrevistas serem dirigidas aos informantes adultos, so comuns
os relatos de doenas envolvendo os filhos, seus infortnios ou proezas relacionadas
sade, como 'aquele tem dor de ouvido seguida' ou 'este tem organismo forte porque
mamou (no peito) at os seis anos' . Alguns depoimentos so claros a este respeito:
O meu maior cuidado com as crianas. (T., 24 anos, feminino, Vila Floresta)
2
Mesmo com todas as voltas que eu dei na minha vida, nunca deixei de cuidar
das crianas. Elas sempre tiveram de tudo para no passar necessidade. (V.,
28 anos, feminino, Vila Floresta)
Com a nen, qualquer coisinha a gente j corre para o posto. (D., 19 anos,
masculino, Vila Dique)
A preocupao com a sade das crianas parece denotar bem mais do que a
simples busca de seu bem-estar. Na verdade, resposta ante a exigncia da comunida-
de e tambm do posto de sade. Postergar a ida ao mdico pode significar agravamen-
to da doena, sendo isto de certa forma cobrado das mes, com expresses do tipo
' me relaxada' , ' como deixou chegar neste ponto!' . Por um lado, sem dvida, a me
tem importante papel no caso de doenas, como veremos mais adiante. Por outro, no
incomum, quando as mes trabalham fora, que essa responsabilidade no cuidado
com as crianas pequenas seja transferida para os filhos mais velhos, o que pressupe,
inclusive, lev-las ao mdico em caso de doena.
Contrapondo-se a isto, a expresso ' nunca ficar doente' aparece com freqn-
cia nos depoimentos em relao aos adultos. Neste contexto, estar saudvel atributo
de fora, muitas vezes enunciado logo no incio das conversas, como que marcando
posio definida perante o interlocutor. Vrios outros autores desenvolveram a fundo
esta noo de fora/fraqueza como fundante da oposio sade/doena em relao ao
corpo (ver os estudos de Boltanski, 1984; Loyola, 1984; Duarte, 1986; Ferreira, 1994).
medida que os encontros avanavam, contudo, as questes sobre doenas na
famlia puderam ser expostas com mais detalhes. O grande nmero de procedimentos
mdicos em relao ao nmero de habitantes abrangido pelas unidades de sade estu-
dadas tambm desmente isso.
3
No h como negar que a populao em questo tem
contato muito prximo com determinado tipo de servio de sade (as unidades de
sade comunitria), o que vai acabar sendo importante tambm quanto as suas con-
cepes sobre o adoecer.
A leitura dos depoimentos permite a diviso do entendimento sobre a doena
em dois nveis principais de anlise. O primeiro, refere-se sintomatologia associada
doena: dor/febre, fraqueza, falta de apetite. O segundo, diz respeito a suas conseq-
ncias, ou seja, ' no poder trabalhar' e 'ficar de cama' . So concepes no excludentes,
mantendo, isto sim, relao de complementaridade entre elas.
Essas representaes acerca da doena esto visceralmente ligadas aos usos e
s representaes sociais que as pessoas fazem de seu corpo. Knauth (1992b) j tinha
evidenciado, em trabalho relativo a uma das vilas ora estudadas, que o corpo torna-se
um ' problema' , ou seja, ' doente' , quando passa a no funcionar normalmente. A do-
ena, portanto, tem ' concretude' , e nisto difere da definio - quase metafsica - da
Organizao Mundial da Sade (OMS), de 'completo bem-estar fsico, mental e soci-
al' , ainda hoje muito utilizada quando se quer mostrar ' avanos' em relao defini-
o tradicional de sade como a simples 'ausncia de doena' .
Alm disso, h as 'doenas simples' e as 'doenas srias' , ou seja, estas perce-
bidas como mais graves e necessariamente forando as pessoas a procurar servios
Como se pode ver, a questo da dor a mais marcante e, de longe, a mais
freqente. Neste sentido, estar doente pode representar um estado doloroso qualquer:
dor em todo o corpo, em alguma parte especfica e, sobretudo, 'dor de cabea' . Este
dado confirma a observao de Helman (1994) de que a dor o sintoma mais freqen-
te na prtica mdica. No se deve esquecer, aqui, que o trabalho realizado com um
grupo que desfruta de grande proximidade com servios de sade, sendo provvel que
estes acabem por moldar as prprias definies de doena da populao que atende.
Esta dor surge ento como elemento desestabilizador de estado de equilbrio no
indivduo. A dor na cabea , por sua vez, uma das mais ameaadoras sade, pois
atinge o ponto do corpo justamente encarregado de manter o controle sobre as funes
da pessoa. evidente que a dor, como manifestao de doena, no pode ser analisada
fora de seu contexto. Ela , ainda segundo Helman, condicionada socialmente, ou seja,
fruto de relaes sociais. Em uma palavra, a dor constitui aprendizado. este se
concretiza das mais variadas formas, sendo expresso essencialmente cultural, em que
at mesmo os servios mdicos oficiais exercem importante influncia .
Ferreira (1994) procura demonstrar como a interpretao da doena processo
no qual o indivduo se guia por categorias cognitivas socialmente construdas. Ao
analisar a semiologia do corpo, a autora faz observaes acerca dos vrios tipos de
dor, cada uma com a sua especificidade. Tais observaes foram tambm recorrentes
mdicos. Cada qual receber ateno correspondente. Algumas so 'to srias' que
requerem atendimento direto no hospital, pois ultrapassam a capacidade resolutiva do
ambiente familiar e dos ' postinhos' .
A doena simples, cura-se em casa. ( ., 30 anos, feminino, Vila SESC)
A gente que tem bastante filho, j sabe quando srio. Levar no mdico, do
um Melhorai e deu. Isso eu sei fazer! (C, 31 anos, feminino, Vila SESC)
H tambm percepo de doena enquanto fenmeno cumulativo, quando ele-
mentos prejudiciais podem agregar-se progressivamente, piorando a sade do indiv-
duo com o passar do tempo. Assim, possvel ficar doente com um resfriado, evoluin-
do para uma 'dor de ouvido' ou ' pneumonia' .
A partir dos relatos, as definies sobre doena foram agrupadas em categorias
abrangentes, que podem ser sistematizadas da seguinte maneira:
no presente estudo. A dor pode, portanto, possuir caractersticas prprias e variar con-
forme a localizao e durao. A 'dor no peito' , por exemplo, considerada de tipo
grave, pois pode envolver o corao; a 'dor na barriga' tem a possibilidade de repre-
sentar apendicite etc. H tambm a 'dor normal' , como a que ocorre durante a mens
truao. A dor ' anormal' geralmente percebida como fenmeno violento: uma dor
de tipo ' pontada' , ' facada' , ' agulhada' , 'ferroada', ' choque' , 'dor rasgada' , e com
poderes que a fazem superior s defesas do organismo encarregadas, como vimos, de
manter o equilbrio de foras. Assim, a sensao dolorosa ganha vida prpria, poden-
do ' caminhar' , ' se espalhar' , 'vir de repente' , ' atacar' . Vista deste modo, a doena
algo que se manifesta repentina e traioeiramente, no sendo possvel, portanto, ser
prevista quer pelo paciente quer pelo mdico. Em Medicina, inclusive, faia-se de
' prdromos' , ou seja, o perodo de tempo varivel, mas imediatamente anterior ma-
nifestao explcita da doena, composto por queixas gerais e inespecficas que im-
possibilitam a definio de diagnstico preciso. Isto chega at mesmo situao para-
doxal de, em algumas ocasies, o mdico orientar o paciente a retornar para reviso
em um ou dois dias, quando a doena poder ento apresentar-se mais claramente.
por esta caracterstica de ' poder' atribuda dor que, muitas vezes, exige-se
medida igualmente violenta para contrapor-se a ela e restituir o equilbrio abalado,
atravs de injeo ou remdio considerado igualmente 'bem forte'.
Foi possvel observar que no comum, porm, a dor manifestar-se isolada-
mente. O mais freqente a dor estar associada a outros elementos, em particular
febre. Apesar de a dor possuir substrato fisiopatolgico bem definido, expresso
fundamentalmente subjetiva, que desafia a sua quantificao, no havendo escalas
aceitas universalmente. Em que momento uma dor passa a ser ' doena' ? A febre, ao
contrrio, pode ser medida, quantificada e at mesmo pode fornecer indicativo da
gravidade, segundo a idia de quanto mais alta a temperatura corporal, mais grave a
doena. Expresses do tipo ' febro' , 'febre de mais de 40 (graus)!', 'queimando em
febre' do idia de doena grave, como relata uma informante sobre episdio de febre
na sua filha pequena:
Tem doena que eu j sei, da eu mesma cuido. Quando ela est doente, eu
dou compressa, ch, Tylenol. Teve uma vez que ela teve um febro, de noite,
que se eu no tivesse cuidado, ela teria uma convulso! (C, 23 anos, feminino,
Vila Dique)
Mesmo quando a febre no registrada no termmetro, isto no significa a sua
inexistncia, pois h a 'febre por dentro' , que pode ser to grave quanto s verificadas
com instrumento medidor de temperatura. Ter muita sede, calafrios, suores ou, sim-
plesmente, o aparecimento de feridas na boca so indicativos dessa 'febre interna',
cuja presena no h como medir objetivamente. Tambm caracterstico o fato de
nem todas as famlias possurem termmetro, artigo considerado quase de luxo. A
febre percebida atravs da mo da me sobre a testa da pessoa, ou, com menos
freqncia, medida com o termmetro - em geral pedindo emprestado a uma vizinha
que o tenha - por recomendao mdica, para, como vimos, dar suporte idia de
gravidade da doena.
Pelo lado dos servios de sade, a presena de febre tambm mobiliza certos
esforos. Nos postos de sade, por exemplo, se uma pessoa chega ' doente' e referindo
febre - especialmente as crianas - em geral atendida com prioridade, sendo a medi-
da da temperatura com o termmetro uma das primeiras aes a serem realizadas.
Na [posto de sade da Vila] Nazar, eles tratam a gente bem... Cheguei com
a criana com febre e fui a primeira a ser atendida. Eu prefiro caminhar mais
do que ir nesta porcaria deste postinho. (M., 19 anos, feminino, Vila Dique)
Outros sintomas tambm esto associados dor e febre, conforme dizem os
informantes: 'calafrios', ' mal-estar' , ' infeco' , ' inflamao' , 'falta de ar' , ' tosse' ,
'dor de dente' . Associada s outras categorias, a falta de apetite recorrente em signifi-
cativo nmero de relatos, apesar de surgir isoladamente em apenas uma oportunidade.
J entrando no campo das conseqncias da doena, uma categoria bem pre-
sente o estabelecimento de ligao entre doena e 'ir para a cama' . Sob esta classifi-
cao est agrupada uma extensa lista de expresses como ' desnimo' , ' moleza' ,
' bobeira' , ' indisposio' , 'ficar s deitado' , ' se entregar' , 'cansao no corpo' etc.
quando a fraqueza prepondera sobre a fora, situao tambm comentada por Duarte
(1986). A fraqueza toma conta de todo o corpo, alterando por completo as atividades
normais do indivduo. Neste caso, repouso e alimentao adequada surgem como par-
tes importantes no processo de recuperao do doente na sua volta ao estado de plena
sade. interessante perceber que h 'equivalente infantil' deste estado de prostrao:
a criana - que se expressa de maneira diversa do adulto - vista pela me como
estando 'enjoadinha' ou ' caidinha' , estado que rene todos estes sintomas pouco espe-
cficos do 'estar doente' .
Certamente associada a esta ltima categoria est uma outra: a de ' no poder
trabalhar'. Esta relao fica bem evidente como definio do gnero masculino adul-
to, ou seja, aqueles com responsabilidade do sustento da famlia.
4
Seguindo-se este
raciocnio, suporta-se tudo - inclusive a dor - at que no seja mais possvel trabalhar.
Em geral, a falta ao trabalho acarreta uma srie de problemas financeiros imediatos,
como o desconto de dias parados ou a dificuldade de conseguir dinheiro - para aqueles
com atividade autnoma. Sobretudo, o ' no trabalhar' fere justamente a posio de
provedor da casa. Assim, mais uma vez, vemos a definio de doena entrecortada por
uma concepo fsico/moral, com o ' no trabalhar' associado a ' fraco' .
Febrinha, dorzinha, isso a no doena. (L., 21 anos, masculino, Vila Valo)
Pobre no tem tempo para ficar doente. (C, 32 anos, masculino, Vila Valo)
Doena mesmo quando no d para trabalhar. (G., 38 anos, masculino, Vila
Dique)
A expresso ' mesmo' , utilizada neste ltimo depoimento, pressupe, desta
maneira, situaes menos importantes, suportveis, desde que no interfiram na ativi-
dade produtiva. Nem tudo doena, ou melhor, a doena inicia a partir de clara linha
demarcadora, neste caso a impossibilidade para o trabalho.
A doena que leva o indivduo 'para a cama' tambm impede o trabalho do-
mstico feito pelas mulheres. Aqui tambm se estabelece como categoria condicional,
ou seja, h ocasies permitidas para ficar doente. Os seguintes depoimentos sustentam
este argumento:
Hoje em dia no d para ficar doente mais. ( ., 23 anos, feminino, Vila Valo)
A gente que trabalha nunca pode se considerar doente. (I., 3 2 anos, femini-
no, Vila SESC)
A doena como que compele o indivduo imobilidade. Mesmo no sendo
algo grave, 'ficar na cama' a nica alternativa possvel para o no-cumprimento das
funes social e moralmente esperadas, como o trabalho. Neste sentido, os dias em
que a pessoa fica de cama podem indicar a severidade da doena, funcionando como
libi para a situao:
Quando ataca a garganta, eu fico at um ms de cama. (M., 19 anos, femini-
no, Vila Dique)
A cama do doente, por excelncia, a do hospital, local onde, no imaginrio
das pessoas, se fica 'preso a uma cama' , passivo, em tratamento, at que a doena seja
vencida. Muitos informantes relatam, inclusive, que s se sentiam doentes quando
estavam hospitalizados. A mesma linha de pensamento seguida quando a mulher
fica internada para o parto, no conseguindo afastar, mesmo tratando-se de fenmeno
natural, a idia de doena, pois apesar de a maternidade ser apenas um dos muitos
setores do hospital, parte integrante do mesmo. O ' repouso' , que consta comumente
na prpria recomendao mdica para muitas enfermidades, ento culturalmente
aceito e incorporado como etapa recomendvel recuperao do ' doente' .
Eu nunca vou para a cama... nunca fui para a cama, graas a Deus. S
quando fiz cesariana dos filhos no hospital. S fico na cama quando vou dor-
mir. (R., 3 9 anos, feminino, Vila SESC)
A gente no pode ficar doente, s quando ganha filho e fica um dia no hospi-
tal. ( C , 31 anos, feminino, Vila SESC)
Outro elemento que merece considerao, nessas circunstncias, o atestado
mdico. Este documento dispensa legalmente o indivduo de comparecer ao emprego
por motivo de doena. O profissional mdico possui o poder de conced-lo ou no, segun-
do critrios 'mdicos' nem sempre claros e uniformes para as pessoas que o necessitam.
Assim, mesmo tendo que 'ficar de cama', a pessoa deve se consultar para ter assegurada
que a sua falta ao trabalho, com 'atestado', no acarrete desconto dos dias parados. O
atestado a prova definitiva que ele (ou ela) no 'vagabundo', e que faltou ao trabalho
porque realmente estava 'sem condies' para o desempenho das suas tarefas.
Quando ficar doente, vou ao mdico da firma e ele que vai dizer se eu tenho
condies de trabalhar ou no. Se no tiver, ele vai me dar um atestado. (Q. , 3 2
anos, masculino, Vila Valo)
Uma quinta categorizao foi necessria para agrupar todos os relatos em que a
definio de doena representava um conjunto de fatores, no sendo possvel isolar
um dos elementos citados anteriormente como nico. Nestes casos, apareciam dois ou
mais elementos associados, todos igualmente identificados pelos informantes como
definidores de doena. Com isto, fica tambm evidente a correlao entre todos os
elementos. O raciocnio seria, ento, mais ou menos o seguinte: se uma pessoa tem
dor, no come. Se no come, fica fraca e, assim, no pode trabalhar, devendo, portan-
to, ficar de cama para recuperar-se.
[Doena ]... quando me sinto fraco, com dor muito forte, cansado... quando
estou com olheiras muito grandes. (V., 19 anos, masculino, Vila Valo)
Uma ' boa alimentao' , nessas situaes, assume papel preponderante como
forma de manter a sade: por um lado, contribui para no deixar o corpo suscetvel s
doenas e, por outro, auxilia na recuperao do corpo doente. Aqui tambm a alimen-
tao pode ser entendida como causa ou conseqncia da doena, ou seja, pode-sc
ficar doente por no se alimentar corretamente e, na vigncia da doena, perde-se o
apetite. Vrios informantes relacionaram melhor sade das pessoas ao fato de terem
vivido na zona rural, dispondo, entre outros fatores, de alimentao mais adequada.
Os seguintes trechos de entrevistas so esclarecedores sobre o que se est querendo
dizer:
[Na zona rural] Tem mais comida... a comear pelo leite, que aqui uma
gua. Na salada, aqui tudo base de veneno... e a gua! At hoje sinto falta
da gua l de fora. Acho que levei uns cinco anos para tomar essa gua daqui.
Antes, s tomava refrigerante. (V., 39 anos, masculino, Vila Valo)
L fora [no Interior] diferente. A gente vai aos 70, 80 anos... l fora ar
puro, silncio. Meu av morreu com 90 anos, minha av, com cento e poucos.
Aqui na cidade s barulho, carros... estraga muito o corpo. (Q., 32 anos,
masculino, Vila Valo)
A gente que veio l de fora tem mais sade que os magrelas daqui. (1., 32
anos, masculino, Vila Valo)
Como podemos inferir atravs destes depoimentos, a vida no campo idealiza-
da, pois l haveria abundncia de alimentos sadios, sem venenos ou outros elementos
includos na comida, os quais poderiam assim enfraquecer o organismo, tornando-o
frgil e sem resistncias para enfrentar as doenas. De maneira similar, o prprio ema
grecimento pode ser sinal identificador de doena, como acontece mais explicitamen-
te hoje em dia em relao AIDS.
5
[Sinto que estou doente]... quando eu vou para a balana e vejo que o peso
est baixo. (P., 35 anos, masculino, Vila Valo)
Apesar de no ter havido preocupao em explorar diretamente as causas das
doenas, alguns depoimentos sugerem que a menstruao vista como perodo parti-
cularmente suscetvel s doenas, principalmente para as mulheres mais jovens, que
apresentam dores pelo corpo e na cabea. medida que a idade avana, a mulher
parece dominar melhor as 'fraquezas' do perodo menstrual, evitando as enfermidades
ou, como se ouve dizer, sangue se acalma na menopausa' :
6
Marquei uma consulta com o clnico geral para ele me encaminhar para o
cardiologista porque estou com um problema de corao. Eu sinto dor no pei-
to... quando me d, eu tenho que me segurar, no posso respirar e, quando
mais no final do ms, quando [est] para vir a menstruao, eu me sinto ataca-
da. ( C, 31 anos, feminino, Vila Dique)
Por fim, uma ltima categoria de nosso quadro inicial rene todas as demais
respostas. Situa as doenas dentro de amplo espectro de definies, abrangendo consi-
dervel lista de queixas clnicas e sintomas amplos, desde ' uma gripe forte' at 'alco-
olismo' . Neste ponto, ficou claro tambm a influncia da Medicina oficial, uma vez
que freqentemente as pessoas informaram que estar doente significa ir ' ao mdico' ,
ao ' hospital' , 'fazer exames' etc. Quando isto acontecia, a definio de doena era
majoritariamente remetida a problema de sade objetivo da pessoa, em geral doena
que exige acompanhamento mdico mais estrito, como ' asma' , ' gastrite' , ' presso
alta' , ' quando os exames mdicos esto alterados' (como no diabetes) etc.
A apropriao de termos mdicos pelos informantes tambm chama a ateno.
uma extensa relao de diagnsticos, procedimentos e exames complementares, com
os quais os pacientes, pelo contato contnuo, aprendem a manipular. O uso do linguajar
mdico parece ser utilizado como forma de diminuir a distncia entre o paciente e o
mdico, em uma tentativa de fazer desaparecer a figura do ' leigo' : pela linguagem, so
todos profissionais da sade, ou quase isso. O contato entre ' iguais' subentende maior
cuidado, cortesia na relao, enfim, maior dedicao.
Estou fazendo composio da arcada dentria. ( ., 39 anos, masculino, Vila
Valo)
Eu sou uma me muito exigente... quando meus filhos adoecem, coitados dos
meus colegas [mdicos]! Tudo eu quero saber. (M., 27 anos, feminino, Vila Dique)
Algumas outras expresses eram tambm utilizadas nos depoimentos: 'esclerose
congnita' , ' cauterizao' , 'cirurgia do perneo posterior', ' taquicardia' , ' sinovite' ,
'cido rico' , ' estrabismo' .
Este tipo de paciente, por sua vez, causa desconforto ao mdico e a toda a
equipe de sade, pois a onipotncia do profissional da sade de certa forma ques-
tionada. O paciente, nestas circunstncias, passa a ser chamado de ' poliqueixoso' ,
' hipocondraco' , ' aquele que est sempre consultando' . Assim, a estratgia de apro
ximao empregada pelo paciente acaba efetivamente afastando-o ainda mais dos
servios de sade.
Vale lembrar que os informantes da pesquisa so de faixa etria mais jovem,
pois concentramos a nossa ateno nas pessoas em idade reprodutiva. possvel que,
medida que as pessoas fiquem mais velhas e o contato com os postos de sade se
torne presumivelmente mais constante, esta apropriao seja ainda mais intensa.
Tambm caracterstica foi a apropriao de recomendaes mdicas nos ter-
mos dos grandes paradigmas da Sade Pblica. Assim, quando falam de doenas, as
mes quase sempre citam a importncia do acompanhamento mdico no posto de sa-
de. Isto especialmente chamativo no que se refere sade materno-infantil e no
parece ser por mera coincidncia. As unidades de sade comunitria em questo orga-
nizam boa parte de seu atendimento em 'programas de sade' . Esses programas bus-
cam sistematizar a prestao de servios de sade em reas especficas, por toda a
equipe multiprofissional. Em geral, h uma rotina de atendimento que compreende
desde o registro de cada paciente em arquivos - o que permite o seu acompanhamento
ao longo do tempo - at aes concretas e situaes que requeiram encaminhamentos
para especialistas. Cada unidade adapta esses programas realidade de sua comunida-
de. Atualmente, os programas privilegiam justamente a rea da sade materno-infan-
til, sendo prioritrios os programas de gestantes, crianas, mulheres e vacinao. So
organizados a partir de dados demogrficos e epidemiolgicos, com metas de cobertu-
ra a serem atingidas. Com relao a isto, o Quadro a seguir nos mostra os dados sobre
os programas de sade, referentes s porcentagens de cobertura em relao s metas
estabelecidas para o ano de 1994, nas unidades dc sade estudadas.
As gestantes, por exemplo, possuem uma srie de facilidades no seu contato
com os postos, sendo registradas e acompanhadas atentamente. Se faltam a consultas
programadas, so visitadas nas suas casas por profissional vinculado ao posto dc sa-
de. Com este acompanhamento, sugere-se adeso quase que compulsria do paciente
aos servios de sade. Esta ligao segue-se no acompanhamento dos bebs, desde o
nascimento at completar o primeiro ano dc vida. Neste perodo, programam-se con-
sultas peridicas, estimula-se fortemente o aleitamento materno, faz-se o controle do
crescimento e do esquema de vacinao. Se h fatores de risco - como desnutrio - ,
esta criana permanece sob vigilncia at os trs anos. Foi possvel perceber que todos
esses esforos esto, em certo grau, sendo plenamente incorporados pela comunidade.
Da mesma maneira, a sade feminina tambm merece destaque da parte dos
postos, consistindo em um dos programas mais antigos em funcionamento. Nele de-
vem ser includas todas as mulheres, do incio de sua atividade sexual at os 65 anos,
para as quais feita orientao de sexualidade, anticoncepo e preveno do cncer
ginecolgico (mamas e colo de tero). Boa parte dos depoimentos reforam as reco-
mendaes dos exames, em especial o ' preventivo' . Prova disto que, das 94 entrevis
tas a mulheres utilizadas neste estudo, pelo menos 14 citaram espontaneamente a im-
portncia da realizao do exame de preveno do cncer de colo de tero, mesmo que
seja percebido pelas informantes como incmodo.
estranho o fato de este exame ser to difundido, pois, alm de envolver a
vergonha de expor os genitais para o profissional da sade - muitas vezes, profissional
do sexo masculino - , pressupe preveno, ou seja, a pessoa realizar o exame quando
nenhuma manifestao de doena sequer se fez presente. Tal fato parece ser contradi-
trio com as prprias definies de doena vistas aqui anteriormente. Sem dvida, o
posto de sade desempenha papel crucial na difuso desse tipo de idia, assinalando
atrasos nos pronturios mdicos, buscando 'faltosas' - mulheres com o exame em
atraso - em casa, vinculando a orientao e distribuio de anticoncepcionais ao fato
de a mulher estar com o exame ' em dia' , e outras aes semelhantes. H, portanto,
duas lgicas simultaneamente presentes que explicam esta contradio: por um lado,
' sade preveno' , difundida pelo posto e, aos poucos, apropriada pela populao;
por outro, o 'poder sentir-se doente' das camadas populares.
Tambm a manipulao de medicamentos algo corriqueiro. O que j foi pres-
crito uma vez pode servir novamente, em outras oportunidades. Antitrmicos, antibi-
ticos, 'remdios para os vermes' ... Algumas vezes h tambm juno de medicamen-
tos da Medicina oficial com os da Medicina popular, como, por exemplo, ' tomar ch
com AAS' , tomar remdios aps benzeduras etc. Os mdicos que atendem nos pos-
tos possuem formao em Medicina Geral Comunitria, especialidade mdica obti-
da atravs de um programa de residncia com mnimo de dois anos de durao e
com grande carga horria de 'trabalhos comunitrios' . Isto os diferencia sobrema-
neira das outras especialidades mdicas de carter mais hospitalar. Assim, toleram o
uso de ch e benzeduras pelos pacientes, chegando, em algumas situaes, a
recomend-los.
Os postos de sade, pela sua facilidade de acesso e boa penetrao entre a
populao, muitas vezes assumem tambm o papel de aliados diante de um sistema de
sade maior e mais impessoal. No raro os pacientes pedirem que os exames ou
receitas mdicas de outros servios lhes sejam ' traduzidas' . As pessoas se valem do
posto justamente para amenizar a sua ligao com o hospital, quando esta se torna
inevitvel, como, por exemplo, para internao, cirurgia, parto ou exames mdicos.
Sob esta lgica, sempre prefervel navegar por 'guas familiares' que ofeream sen-
timento de segurana e acolhida.
Pelos depoimentos, fcil perceber como a mulher entendida como recurso
de cura importante. Como me ou esposa, ela quem, em geral, manipula medicamen-
tos, estabelece contato com o posto de sade, prepara e administra os chs, enfim, a
primeira pessoa a ser procurada em caso de doena. A partir de ento, decide em
primeiro lugar se realmente h ' doena' . Em caso afirmativo, resolve como proceder
ao tratamento e se deve ou no procurar ajuda. Se decide busc-la, dever avaliar a
gravidade do caso e escolher o caminho mais apropriado para cada situao. Essa
mesma trajetria tambm descrita por Kleinman (1980), mostrando como so utili-
zadas crenas e valores sobre as doenas nesse percurso.
A primeira pessoa que procuro [quando fico doente] a minha me. Ela me
d chs, conselhos e o que precisar... o melhor mdico que existe! (P., 3 5
anos, masculino, Vila Valo)
Leal (1992), em seu estudo na regio da divisa entre o Brasil e o Uruguai, j
tinha evidenciado que os rituais de cura, por mais simples que sejam, so sempre
prerrogativas femininas. Assim, parece claro que a busca de recursos de cura feita de
maneira escalonada, do ncleo familiar aos servios de sade oficiais. Neste ltimo,
tambm h hierarquizao do que pode ser tratado no ' postinho' e do que exige atem
dimento no hospital, como vimos anteriormente.
bvio que esta aceitao do posto de sade no absoluta. Alguns depoimen-
tos so explcitos ao afirmar que 'quanto mais se vai ao mdico, mais se fica doente',
ou que 'se comea' a ficar doente exatamente quando se vai ao mdico. A relao com 'os
postinhos' , assim, no livre de conflitos. Ao falar de suas doenas, alguns informantes
disseram que ' no gostam de mdicos' , em especial por diagnsticos incorretos ou ou-
tras experincias desagradveis, o que exemplificado pelo relato de uma senhora acerca
de consulta que realizou quando ainda no tinha certeza de sua gravidez:
A doutora do postinho disse que era um febro. Eu fiquei furiosa! Depois eu
fui l mostrar o febro para ela.(...) Tem mulheres da Vila que vivem dentro do
postinho... parece galinha no poleiro. ( C , 31 anos, feminino, Vila Valo)
Alguns chegam a considerar a prpria proximidade com os servios de sade como
fonte de doenas ou vem os postos de sade como incuos ou at com desconfiana:
Toda a vez que fui ao mdico, ele achou um monte de coisas... doenas des-
necessrias. (V., 44 anos, feminino, Vila Valo)
Para que fazer [exames] se eu estou bem? Minha irm, que ia no mdico de
seis em seis meses, est com tumor no seio. ( C , 31 anos, feminino, Vila SESC)
Qualquer coisinha vai no mdico e a do comprimidos. Esses comprimidos
prejudicam muito a pessoa. L fora [no Interior] a gente usa muitas ervas. (J.,
3 9 anos, masculino, Vila Valo)
Relacionando com as definies de doena apresentadas, estes relatos no sur-
preendem. Como entender que estamos doentes se no sentimos dor, no temos febre
e continuamos a trabalhar normalmente? Doenas como hipertenso arterial, colesterol
elevado e muitas outras - talvez essas que a informante diz serem ' desnecessrias' -
so virtualmente sem sintomas nas fases iniciais, justamente quando uma interveno
mdica pode, em alguns casos, reverter ou limitar a extenso dos problemas. Nesse
estado, percebido como ' no-doena' , torna-se difcil motivar o paciente a interessar-
se por aspectos preventivos, uma vez que ele no sente ' necessidade' para tanto, pois
os sintomas (ou a ausncia deles) no esto relacionados com nenhum fenmeno en-
tendido como ' doena' . So mundos diferentes, com linguagem, lgicas e aes pr-
prias. Casos como os descritos acima so exemplos de uma comunicao que no
conseguiu ser estabelecida adequadamente.
NOTAS
1 Acerca das concepes a respeito de doenas em pacientes internados em hospital do interior
do Rio Grande do Sul, ver KNAUTH (1992a).
2 Em razo do compromisso de anonimato dos informantes, assumido como norma no desen-
volvimento da pesquisa e montagem do banco de dados, os depoimentos, no decorrer deste
artigo, sero identificados apenas pela inicial, idade, sexo e vila de moradia.
3 Os 'procedimentos' aqui citados correspondem a consultas mdicas, de enfermagem, de
psicologia, atividades em grupo, curativos, nebulizaes, pequenas cirurgias, aplicao de
medicamentos, coleta de exames e visitas domiciliares. Segundo dados do Servio de Sade
Comunitria, no segundo semestre do ano de 1994, o total de todos estes procedimentos
foram os seguintes: Vila Floresta, 34.189 (populao estimada de 8.362); Valo, 27.993
(populao estimada de 6.700); Vila Sesc, 15.049 (populao estimada de 5 mil); Vila Di-
que, 21.539 (populao estimada de 3 mil).
4 Parte desta reflexo foi baseada na Anlise Fatorial de Correspondncia, tcnica estatstica
que permite a visualizao, de modo grfico, do grau de associao entre as variveis estu-
dadas. Neste caso, entre gnero e definio de doena. Para maior aprofundamento sobre
seu uso, ver FACHEL, LEAL & GUIMARES Jr. (1995).
5 Para anlise mais aprofundada sobre o assunto, ver o texto de SEFFNER (1995).
Segundo Kleinman (1980), a Medicina tambm pode ser vista como 'sistema
cultural' . Em cada cultura, a doena, a reao a ela, os indivduos que a sofrem e os
que a tratam, e as instituies sociais envolvidas esto, todos, interconectados sistema-
ticamente, o que acaba formando o 'sistema de ateno sade' , que o modelo
conceituai utilizado pelo autor para apreenso desta totalidade de inter-relao, e que
deve ser estudada em seu contexto global, sem etnocentrismo ou ' hospitalocentrismo' ,
como tendem a ser as anlises sob a perspectiva da Medicina oficial moderna.
Assim, as definies concernentes sade e doena podem assumir diferen-
as marcantes entre os diversos grupos humanos, uma vez que constituem representa-
es cultural e socialmente edificadas. Portanto, a apreenso de suas variadas formas
passo fundamental para, por um lado, aprofundarmos o debate sobre o modelo
assistencial em sade e, por outro, analisarmos como se estabelece a interao desse
sistema com os indivduos que o utilizam. A comunicao entre as Cincias Sociais e
a Sade, nesse campo de investigao, tem papel importante para permitir avanos
relativos questo.
Este trabalho procurou aprofundar a anlise de como so pensadas as concep-
es de doena em classes populares. Este exerccio de interpretao mostrou-se ex-
tremamente revelador da riqueza de elementos constitutivos da realidade social envol-
vida na forma de acesso desses grupos sade, em que as representaes sobre sade/
doena moldam de maneira marcante os dois extremos desta relao: usurios e
prestadores de servios de sade. Assim, ao explorar a interface entre este servio de
sade - visto aqui como sistema social e cultural prprio - e o indivduo, podemos
contribuir de maneira mais conseqente no sentido do aprimoramento da ateno
sade no Brasil.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
BOLTANSKI, L. As Classes Sociais e o Corpo. Rio de Janeiro: Graal, 1984.
DUARTE, L. F. D. Da Vida Nervosa (nas classes trabalhadoras urbanas). Rio de Janei-
ro: Zahar/CNPq, 1986.
FACHEL, J. M.; LEAL, O. F. & GUIMARES Jr., . Corpo como dado: material etnogrfico
e aplicao de anlise fatorial de correspondncia. In: LEAL, O. F. (Org.) Corpo e
Significado: ensaios de Antropologia Social. Porto Alegre: Universidade Federal
do Rio Grande do Sul, 1995.
FERREIRA, J. O Corpo Sgnico. In: ALVES, P. C. & MINAY O, M. C. de S. (Orgs.) Sade e
Doena: um olhar antropolgico. Rio de Janeiro: Ed. Fiocruz, 1994.
HELMAN, C. Cultura, Sade e Doena. Porto Alegre: Artes Mdicas, 1994.
KLEINMAN, A. Culture, Health Care Systems and Clinical Reality. In:. __. A. Patients
and Healers in the Context of Culture. Berkeley: University of California Press,
1980.
KNAUTH, D. Representaes sobre doena e cura entre doentes internados em uma
instituio hospitalar. Cadernos de Antropologia, 5:23-39, 1992a.
KNAUTH, D. Corpo, sade e doena. Cadernos de Antropologia, 6:55-72, 1992b.
KNAUTH, D. Um problema de famlia - a percepo da Aids entre mulheres soropositivas.
In: LEAL, O. F. (Org.) Corpo e Significado: ensaios de Antropologia Social. Porto
Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1995.
LEAL, O. F. Benzedeiras e bruxas: sexo, gnero e sistema de cura tradicional. Cader-
nos de Antropologia, 5:7-22, 1992.
LEAL, O. F. Sangue, fertilidade e prticas contraceptivas. In: ALVES, P. C. & MINAY O,
M. C. de S. (Orgs.) Sade e Doena: um olhar antropolgico. Rio de Janeiro: Ed.
Fiocruz, 1994.
LOY OLA, . A. Mdicos e curandeiros - conflito social e sade. So Paulo: Difel, 1984.
SEFFNER, F. Aids, estigma e corpo. In: LEAL, O. F. (Org.) Corpo e Significado: ensaios
de Antropologia Social. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, 1995.
6 Os aspectos relacionados menstruao e suas relaes com a sade/doena constituem
amplo campo de estudo na rea da Antropologia Mdica, sendo deliberadamente no
aprofundados neste trabalho. Sobre o assunto, ver LEAL (1994).
5
0 Ethos Masculino e o Adoecimento
Relacionado ao Trabalho
Henrique Caetano Nardi
A capacidade e as habilidades para o trabalho - em especial, aquele duro e
pesado - so elementos constituintes importantes do 'ethos masculino' nas classes
trabalhadoras (Duarte, 1986; Guedes, 1992). O espao masculino o espao pblico
(Bourdieu, 1990), onde ocorrem as relaes dos homens adultos, trabalhadores e che-
fes de famlia.
Nesse mbito, por um lado, configuram-se as condies que permitem o exer-
ccio do papel-funo de 'pai provedor' desempenhado no espao da casa, ou seja, do
privado, da famlia, do feminino e do infantil. A doena, por outro lado, se conforma
como fraqueza, incapacidade, e o domnio do feminino, pois a mulher, tradicional-
mente, encarregada dos cuidados com a sade e a doena (Leal, 1992:8). O espao
do doente e da doena o do privado. No entanto, este sofre determinao social, pois,
como destaca Auge (1986:36): "O paradoxo da doena que ela ao mesmo tempo a
mais individual e a mais social das coisas".
Quando o trabalhador homem adoece ou se acidenta, em razo de seu trabalho,
confronta-se com uma situao de incapacidade para o exerccio desse labor, o que,
muitas vezes, destri as possibilidades de retorno a sua atividade habitual; por conse-
guinte, a enfermidade, ao retir-lo do espao pblico e masculino do trabalho, o reme-
te para o espao do privado, do feminino. Nesse momento o trabalhador enfrenta uma
ruptura de identificao, ou seja, passa a pr em xeque os elementos constituintes do
que est definido socialmente e internalizado como ' ser homem' e ' ser trabalhador' .
Quanto a esse fato, Bourdieu afirma:
... o homem um ser implicado no dever ser, que se impe como se fosse eviden-
te por si mesmo, sem discusso: ser homem estar instalado de imediato numa
posio que implica poderes e privilgios, mas tambm deveres, e todas as
obrigaes inscritas na masculinidade... (Bourdieu, 1990:17)
O material etnogrfico a ser analisado neste texto' provm de entrevistas reali-
zadas com um grupo de trabalhadores afastados de suas atividades laborais por doen-
as e acidentes relacionados ao trabalho.
2
No momento das entrevistas, esse grupo
esteve afastado de suas atividades laborais por perodo superior a cinco meses. A
IDENTIDADE DE TRABALHADOR SOFRIMENTO MENTAL NO
AFASTAMENTO DO TRABALHO POR DOENA OU ACIDENTE
A vivncia do afastamento do trabalho determina sofrimento subjetivo, pois
implica sentimentos de impotncia, vergonha e isolamento. Silva (1993:21) refere que
o trabalhador se autoculpabiliza pela doena ou acidente e enfrenta sentimento de
fracasso individual. Podemos entender esse sentimento, com base na compreenso do
rompimento de elementos de identificao ligados ao trabalho no momento do afasta-
mento do empregado pela incapacidade conseqente ao acidente ou doena. O
lugar do trabalho na estruturao da identidade evidenciado por vrios autores
(Costa, 1989; Duarte, 1986; Guedes, 1992; Tittoni, 1994; Nardi & Tittoni, 1995).
Bar (apud Silva, 1993:19) analisa a importncia do trabalho, na construo da
identidade, como ncleo ao redor do qual o indivduo desenvolve o significado
para a prpria vida.
A identidade definida por Costa (1989:83) como o produto dos papis que o
indivduo assume no desempenho social e, citando Freud (apud Costa, 1989:85), afir-
ma que ela o amlgama dos afetos e representaes que o sujeito experimenta e
formula como sendo a natureza do prprio Eu e do Outro. Lembra, no entanto, que
essas representaes e afetos so transitrios, mveis e mltiplos, mudam conforme a
posio que o sujeito ocupa nas relaes com os outros, posio constantemente cam
biante e permutvel. Esse conceito fundamental para compreendermos o sofrimento
advindo do afastamento do trabalho, pois como refere:
temtica abordada nos encontros tratava das repercusses do afastamento do trabalho
por doena ou acidente ocupacional. O grupo se constituiu de trabalhadores homens
do Plo Petroqumico de Triunfo, no Rio Grande do Sul.
3
A discusso nos quatro encontros realizados girou em torno das modificaes
ocorridas, desde o adoecimento do trabalhador, no cotidiano da vida destes, nas con-
cepes que faziam de seu trabalho, da sade, das relaes sade/trabalho e de ordem
familiar. A metodologia utilizada na conduo dos grupos foi aquela preconizada por
Dejours & Abdouchely (1994), empregando-se tambm elementos terico-conceituais
oriundos da Psicanlise, como demonstrado por Costa (1989).
Neste texto pretendemos explorar as dimenses sociais e individuais da doen-
a, conforme prope Auge (1986) ao abordar um momento de conflito na constituio
do ethos masculino que vincula trabalho a outros atributos e funes morais, tais como:
ser bom pai, bom marido, provedor do lar, forte, honesto, entre outras caractersticas
descritas por Costa (1989) e por Duarte (1986). O conflito de identidade se apresenta,
neste contexto, porque o trabalho que tem eficcia simblica para garantir as atribui-
es sociais constitutivas da identidade masculina aquele que vai provocar a doena
e determinar uma srie de limitaes morais e fsicas que colocam em jogo os atribu-
tos necessrios para ser homem e trabalhador.
O distrbio mental existe quando as representaes de que o indivduo dis-
pe para sentir e pensar sua identidade ou as causalidades e finalidades de
seus projetos e emoes no se articulam em nenhuma rede de significados
presente em sua conscincia socializada. (Costa, 1989:77)
O rompimento dos elementos estruturantes da identidade de trabalhador, con-
seqncia do afastamento por doena ou acidente do trabalho, faz com que sejam
substitudos por um exerccio da subjetividade que se coloca a partir de um lugar
marginal. No imaginrio social desse grupo de trabalhadores - para o qual a virilidade,
a fora e a convivncia com o perigo so importantes traos constituintes da identida-
de - , o lugar de quem adoece e no trabalha a casa e o sentimento de excluso do
grupo extremamente marcante. Costa afirma:
Todo indivduo est constantemente convivendo com o tipo padro de seu
grupo social. Quando imagina-se prximo do sujeito ideal pode sentir-se, como
de hbito se sente, satisfeito e realizado; quando se imagina afastado, pode
experimentar aflio, insatisfao ou mal-estar. Este tipo de sofrimento no
configura um quadro psicopatolgico, embora seja, inequivocamente sofrimento
mental (...) Este tipo ideal, uma vez definido, socializado e, por alienanle que
seja, ele sempre remete o indivduo ao mundo das significaes coletivas,
lgica do discurso cultural. (Costa, 1989:73)
No grupo estudado, podemos evidenciar claramente as situaes de sofrimento
nas falas dos trabalhadores, quando relatam a primeira sensao ao ficar em casa pre-
midos pela doena ou acidente:
A primeira sensao que o cara tem de ser invlido. (Trabalhador 1)
O cara fica com um sentimento de ficar inutilizado, impotente, assim para
fazer as coisas, pelo menos comigo, tambm me colocaram na cabea que eu
precisava parar total. eu gostava de cuidar, consertar coisas em casa, deixar o
jardim cheio de flores. a, fica aquele clima, pois os vizinhos saem e tu fica ali,
todo mundo sai, eu, pelo menos, me afetou. tu, aparentemente bem e os vizinhos
todos saindo. Eu no transmiti meu problema para o pessoal. Eles foram desco-
brindo depois. Eu no quis falar mas ficava em casa. eles, acho que pensavam,
aquele foi para a rua. No sei porque no disse nada, sei l. Seno de repente o
cara no vai na tua casa achando que vai se contaminar. Daqui a pouco os caras
esto construindo um muro em volta da minha casa. (Trabalhador 2)
Neste ltimo caso, o trabalhador sabia que sua patologia no era contagiosa,
mas a sensao de vergonha ou culpa faz com que ele utilize a metfora do ' muro' ,
evidenciando seu distanciamento do tipo ideal de trabalhador, que aquele que sai
todos os dias para o trabalho e ao qual o adoecimento no permitido. Esse trabalha-
dor alude a um quadro posterior de auto-enclausuramento, referncia comum aos ou-
tros trabalhadores que apresentaram quadros de isolamento ou fobia social presentes
em algum momento do afastamento.
Como afirmam Herzlich & Pierret (1991:78), ser saudvel a partir da Revolu-
o Industrial passa a ser sinnimo de ser capaz de trabalhar, fato esse confirmado por
outros autores, como Minayo (1994):
REDIMENSIONAMENTO DOS REFERENCIAIS DE GNERO
As repercusses do afastamento do mundo do trabalho pela incapacidade cau-
sada por acidente ou doena do trabalho tm repercusses ntidas nos referenciais de
gnero, segundo afirma Guedes:
Sob esse ngulo avaliavam que, aps o acidente ou doena incapacitante,
tinham se modificado substancialmente, aparecendo com freqncia frases como
'eu no sou o mesmo homem' e outras verses daquela destacada acima, ligan-
do, nitidamente, as condies de homem e trabalhador, atravs do operador
corpo masculino. (Guedes, 1992:3)
De acordo com Tittoni (1994:166), o trabalhador petroqumico, principalmen-
te o operador de processo - quatro entre os cinco componentes do grupo tinham essa
funo - , constitui-se em fora de trabalho composta pelos traos de cultura masculina
que permeiam o discurso dos trabalhadores em questo.
Guedes, em seu estudo da construo da ' pessoa' homem-trabalhador, afirma:
O valor do homem como trabalhador mede-se tanto por sua competncia
especfica no trabalho quanto por sua competncia em manter sua mulher como
no-trabalhadora, evitando o substantivo que colocaria em perigo a 'ordem
natural das coisas' e retendo-lhe o qualitativo de 'trabalhadeira', ou seja, a
que no economiza esforos para manter sob controle estrito a administrao
cotidiana da casa e dos filhos. (Guedes, 1992:402)
Para a classe trabalhadora a representao de estar doente como sinnimo
de inatividade tem a marca da experincia existencial. Trata-se de uma equiva-
lncia social e no natural. As expresses correntes: a sade tudo, a maior
riqueza, sade igual a fortuna, o maior tesouro; em oposio a doena
como castigo, infelicidade, misria etc. so representaes eloqentes de uma
realidade onde o corpo se tornou, para a maioria, o nico gerador de bens.
(Minayo, 1994:185)
Silva (1993:21), analisando o trabalho de Lira & Weisntein, considera que, na
situao de desemprego, ocorre a gradual destruio da identidade pela forma como o
projeto de vida individual e o ideal de si mesmo so duramente confrontados com as
prticas, papis e valorizaes sociais experimentadas pelo indivduo; a resultante queda
de auto-estima, a quebra da identidade ocupacional - em verdade, indissocivel da
identidade global - leva ao surgimento de identidade negativa, produto da dissoluo
dos vnculos de integrao da identidade.
Cabe apontar que a vivncia de sofrimento s foi superada, ou relativizada, no
momento em que os trabalhadores puderam reintegrar-se de alguma forma ao mundo
do trabalho. No nico caso em que, durante a pesquisa, ainda no tinha havido alguma
forma de reintegrao s atividades laborais, o trabalhador persistia com quadro
depressivo e de isolamento social.
Nossos dados etnogrficos apontam para uma redefinio dos referenciais de
gnero construdos com base no trabalho, no momento em que os trabalhadores rela-
tam suas situaes familiares quando do adoecimento e o conseqente afastamento de
sua ocupao. A metfora utilizada pelo grupo foi ' a casa cai' , ou seja, a casa - que se
sustenta na diviso dos papis sociais - cai quando o homem passa a ocupar lugar
indefinido para ele no ambiente familiar. Fato este que podemos perceber nas falas dos
trabalhadores:
Toda a organizao da casa pensada contando que o velho vai sair para
trabalhar, e eles tm a vida deles, eu acho, dentro de casa. A me e os filhos ali,
ela administra a casa. tu comea a meter o bedelho e o clima comea a ficar
ruim e comea a aparecer problemas de relacionamento. Isso foi uma coisa que
eu comecei a sentir j bem no incio. (Trabalhador 1)
Dividi os filhos na escola, de manh e de tarde. As vezes me irrito e saio,
mesmo tendo que ficar em casa. Isso foi no ano passado. Esse ano eles que esto
saindo de casa, arranjam qualquer desculpa para sair de casa. (Trabalhador 2)
Ficar em casa para quem casado tipo gato e rato; comeam as brigas e
desentendimentos com a mulher e os filhos, a gente sente falta dos colegas,
ainda mais em funo das turmas; a turma era a compensao do trabalho em
turnos. (Trabalhador 3)
Em alguns casos, no grupo, no foi possvel sustentar a relao do casal no
perodo do adoecimento e afastamento, levando a solues como o divrcio ou o tra-
balho em outra atividade fora da cidade, afastando-se da famlia por toda a semana.
Mesmo quando a relao se manteve, o trabalhador chegou a utilizar expresses como
a de ser ' estorvo' dentro de casa.
Tambm percebemos a relativizao da diviso dos papis desempenhados pelo
homem e pela mulher no ambiente familiar. Nos casos em que j havia estrutura fami-
liar menos rgida, com autonomia do casal, a relao se sustentava de forma menos
desgastante. Em alguns casos, a mulher passou a trabalhar e, em outros, o homem
sentiu falta da autonomia da esposa.
Mulher trabalhar bom, eu acho isso excelente para a harmonia dentro de
casa [no caso, a mulher no trabalhava fora de casa]. Como agora, no caso do
cara ter de ficar dentro de casa. Ela sai e volta e tudo se renova. No caso dos dois
ficarem encerrados em casa, chega o ponto que no d certo. (Trabalhador 1)
Tem dias que eu fao a comida toda, desde que ela comeou a trabalha;
antes ela fazia tudo e eu nem me imaginava cozinhando. (Trabalhador 2)
As representaes do trabalho masculino e feminino quanto aos papis sexuados
tornam-se, como afirmamos, relativizados e transformados. O espao do privado, para
o qual o trabalhador homem remetido no momento da doena, faz com que os
condicionantes da dominao masculina revertam em dependncia do feminino. Tra-
ta-se da violncia simblica (Bourdieu, 1994:6) repercutindo sobre o homem que, por
adoecer, deixa de cumprir com suas Obrigaes' de trabalhador, ou seja, a incapaci-
dade implica valorao social negativa, incoerente com os atributos masculinos. O
homem que no trabalha, que adoeceu devido ao seu trabalho, vislumbrado como
fraco e tem menos valor que aquele que resiste e vence o trabalho duro, perigoso,
insalubre e arriscado.
4
Bourdieu, ao tratar da dominao masculina e da violncia
simblica necessria para instaur-la e mant-la, considera que:
Quando os dominados aplicam os mecanismos ou as foras que os dominam
aos dominantes, ou, muito simplesmente, categorias que so produto da domina-
o ou, em outros termos, quando suas conscincias e seus inconscientes so
estruturados de acordo com as estruturas mesmas da relao de dominao que
lhes imposta, seus atos de conhecimento so, inevitavelmente, atos de reconhe-
cimento da dupla imposio, objetiva e subjetiva, do arbitrrio do qual constitu-
em o objeto. Isto posto, a indeterminao parcial de alguns elementos do sistema
mtico-ritual, do ponto de vista da distino mesma entre o masculino e o femini-
no que est no fundamento de sua ao simblica, pode servir de ponto de apoio
a reinterpretaes antagnicas pelas quais os dominados adotam uma forma de
revanche contra o efeito da imposio simblica. (Bourdieu, 1990:12)
Os trabalhadores, ao adoecerem, passam a ser ' marcados' nos grupos de ori-
gem; cria-se uma ideologia da culpabilizao imposta, com o isolamento dos indiv-
duos que se acidentam. Trata-se de mecanismo de defesa coletivo dos trabalhadores
(Dejours, 1987) - alm de estratgia das empresas - , pelo qual os trabalhadores ativos
estabelecem marca de diferena com relao queles que adoeceram e se acidentaram
e, desta forma, passam a negar o risco, o que permite que se continue atuando em
profisso arriscada e perigosa. As empresas, mediante as chefias diretas e os servios
mdicos, utilizam-se desta 'ideologia da culpabilizao individual' e reforam o isola-
mento do trabalhador como forma de ocultar as condies de risco sob as quais se d
o trabalho em questo.
O Estado, por meio da Previdncia Social
5
e de seus peritos, na viso dos traba-
lhadores, tem por funo pr em dvida a incapacidade e o nexo causai da doena ou
do acidente com o trabalho, sendo considerado pelos trabalhadores como extenso das
empresas. Os trabalhadores avaliam:
O INSS faz o jogo da empresa. (Trabalhador 1)
O perito me disse que tinha ordens superiores para dar alta aos pacientes do
Plo e vrios colegas confirmaram. (Trabalhador 2)
O meu chefe me disse que estava me demitindo pois eu estava mais preocupa-
do com a sade que com o trabalho. (Trabalhador 3)
A suspeita coloca os trabalhadores em posio subjetiva complicada, pois, ao
mesmo tempo que difcil aceitar o fato de estar doente e, portanto, no cumprir com
a norma internalizada do que implica ser homem e trabalhador, os trabalhadores tm
tambm que provar sua incapacidade, uma vez que dependem de julgamento favor-
vel do perito para ter acesso aos direitos constitucionais.
CONSIDERAES FINAIS
A estreita relao que se impe entre ser trabalhador, ser homem, ser pai e
responsvel pelo sustento da famlia, como condies constituintes da identidade, do ethos,
ou ainda, do habitus masculino, fazem da vivncia da doena e - em particular, no grupo
analisado - da incapacidade, com origem no trabalho, uma vivncia de sofrimento.
O trabalho tem funo estruturante na sociedade; portanto, conforma os indiv-
duos nos seus vrios aspectos, dentre estes 'os gneros' , que tambm se estruturam a
partir da diviso sexual e social do trabalho. Quando momentos de ruptura so
experienciados no cotidiano da vida dos indivduos - conforme, nesse caso, a doena
- que podemos perceber a forma visceral como essas distines so construdas
socialmente.
Temos percebido, com Bourdieu (1990), que a violncia simblica, garantia da
dominao masculina, tambm retorna sobre aqueles homens que adoeceram no
enfrentamento com o modelo produtivo e, ao serem remetidos do espao pblico para
o espao privado, o do feminino, enfrentam sentimentos de perda, vergonha e culpa.
O grupo estudado demonstra como difcil sustentar o que Herzlich & Pierret (1991)
chamam de identidade construda com base na doena, pois como as autoras afirmam:
Ser doente, portanto, torna-se cada vez mais freqentemente viver com uma
doena, ou com um handicap, e a doena tende a tornar-se, por ela mesma, uma
identidade, e para os outros, uma categoria de percepo social (Herzlich &
Pierret, 1991:82)'
Com a emergncia da doena, a luta desses trabalhadores passou a se constituir
na tentativa de fuga desta marca, deste estigma social de serem percebidos como doen-
tes do trabalho, incapazes de exercer seus papis e atributos de homens trabalhadores,
tal como inscrito na cultura das classes trabalhadoras e imposto pela ordem social.
Isto porque o trabalho adquiriu, em nossa sociedade, um valor com contornos
sacralizados e sacrificiais; sacralizado por comportar valor moral, qualificando como
honestos e valorosos aqueles que trabalham e desonestos e sem valor aqueles que no
o fazem; sacrificial porque, em seu nome, em nome da ' produo' , milhares de traba
O sentimento comum aos trabalhadores, no que diz respeito s empresas, o de
traio; passam a utilizar expresses de autodesvalorizao e referem ter sido transfor-
mados em 'coisas descartveis' , 'peas estragadas e facilmente repostas' .
No entanto, quando indagados sobre o futuro - j que vrios deles estavam
com aes de reintegrao contra as empresas - , esses afirmam seu desejo de provar
quelas, aos colegas e aos chefes que no so incapazes, ou ento que a prpria empre-
sa foi a culpada pelos acidentes ou pelo adoecimento. Podemos entender estas inten-
es no somente como reivindicaes de seus direitos legais e de recompensa finan-
ceira, mas tambm como forma de obter o reconhecimento social de no terem falha-
do como homens e trabalhadores e, pela via da justia e da lei, resgatar um lugar de
direito, ou seja, o de homem, trabalhador e pai provedor.
NOTAS
1 Os dados aqui utilizados como base emprica se encontram descritos integralmente em minha
monografia de concluso, requisito para obteno do ttulo de especialista em Medicina do
Trabalho (Nardi, 1993).
2 Acidente de trabalho, do ponto de vista legal, " aquele que acontece pelo exerccio do
trabalho, a servio da empresa, provocando leso corporal ou perturbao funcional que
cause morte, perda ou reduo, temporria ou permanente da capacidade para o trabalho"
(BRASIL, 1991). Doenas do trabalho, ou relacionadas ao trabalho, so aquelas que decor-
rem do exerccio profissional, como por exemplo: intoxicao por chumbo em fbricas de
baterias, mercrio no garimpo do ouro, cromo nas indstrias de cromagem, silicose no
jateamento de areia, pneumoconiose nos mineiros de carvo, tenossinovite nos digitadores,
alergia ao giz e calo nas cordas vocais nos professores etc.
3 O processo produtivo no Plo Petroqumico de Triunfo tem algumas peculiaridades descritas
por TITTONI (1994). O trabalho realizado em turnos, pois a produo de derivados de
petrleo impe o fluxo contnuo (24h sobre 24h); em conseqncia, os trabalhadores so
divididos em equipes, nas quais o imperativo do grupo mais intenso. A vida do trabalha-
dor fora da fbrica organizada em funo dos turnos e da equipe, j que, em razo da
alternncia dos horrios, a convivncia social, as amizades e o lazer familiar passam a de-
pender de sua disponibilidade. As indstrias do Plo tambm ofereciam, no momento da
pesquisa, uma srie de 'vantagens' ao trabalhador, como: creche, vale-supermercado, con-
vnio mdico etc, tornando-o dependente, nas vrias esferas da vida privada e familiar, da
estrutura Oferecida' pelo empregador. Podemos vislumbrar que o adoecimento e a conse-
qente ruptura com esse vnculo social construdo em torno do trabalho assume conseqn-
cias mais agudas, em virtude da extrema ligao do trabalhador com a empresa.
4 Cabe salientar que GUEDES (1992:3) encontrou material etnogrfico semelhante, e que
TITTONI (1994:166) refere que o trabalhador petroqumico tem, como caracterstica de
constituio da identidade de trabalhador, o fato de ser capaz de enfrentar o risco e o
perigo constantes de seu processo de trabalho. No podemos deixar de lembrar que as
representaes referentes autoculpabilizao do trabalhador pelo acidente ou doena
so altamente ideolgicas e cumprem sua funo ao deslocar a discusso da determinao
histrico-social dos processos de sade/doena na populao operria, da explorao da
fora de trabalho em processos e ambientes ocupacionais penosos para uma relao
individualizante, em que o trabalhador colocado na posio de nico culpado pelas
estatsticas alarmantes de acidentes de trabalho no Brasil. Encontramos vasta bibliografia
lhadores adoecem e morrem submetidos a condies perigosas e insalubres. Talvez
em razo desta lgica social que Herzlich & Pierret (1991:90) afirmam que, apesar
da importncia estatstica das doenas e acidentes de trabalho, esse adoecer especfico
no se faz presente no imaginrio coletivo.
Para os trabalhadores entrevistados, a sada encontrada para esta vivncia de
sofrimento foi o retorno a sua ocupao, pois mostrar-se capaz de produzir tornou-se
a nica garantia de reconquistar a identidade de trabalhador no mundo pblico do
trabalho; buscaram, portanto, voltar a ocupar o lugar de homem no espao do pblico
e, por conseqncia, no espao da casa, da famlia, do privado.
do assunto nos estudos de LAURELL & NORIEGA ( 1989) , COHN ( 1985) , OLIVEIRA ( 1991) ,
MENDES ( 1988) , entre outros.
5 Atravs do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), a Previdncia Social respons-
vel pelo amparo ao trabalhador no momento do adoecimento e dos acidentes profissionais,
por meio de tratamento diferenciado da incapacidade por doena comum, ou seja, do Segu-
ro Acidente do Trabalho. Para fornecer o 'benefcio acidentado', o perito tem que julgar
que existe incapacidade para o trabalho e tambm que a doena ou o acidente decorrem da
funo que o trabalhador desempenhava.
* Traduzido do francs pelo autor.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
AUGE, M. Ordre biologique, ordre social: la maladie, forme elementaire de l'evnement.
In: AUGE, M. & HEWRZLICH, C. Le Sens du Mal: Anthropologic, Histoire, Sociologie
de la maladie. Paris: ditions des Archives Contemporaines, 1986.
BOURDIEU, . A dominao masculina. Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 84,
set. 1990. (Traduo de Guacira Lopes Louro - Faculdade de Educao/UFRGS)
BOURDIEU, P. Nouvelles reflexions sur la domination masculine. Cahiers du Gedisst,
(11):91-104, Automne, 1994.
BRASIL. Lei Orgnica da Previdncia Social. Braslia, 1991.
COHN, A. et al. Acidentes de Trabalho: uma forma de violncia. So Paulo: Brasiliense, 1985.
COSTA, J. F. Psicanlise e Contexto Cultural: imaginrio psicanaltico, grupos e
psicoterapia. Rio de Janeiro: Campus, 1989.
DEJOURS, C. A Loucura do Trabalho: estudos de psicopatologia do trabalho. So Pau-
lo: Cortez/Obor, 1987.
DEJOURS, C. & ABDOUCHELY, E. Itinerrio terico em psicopatologia do trabalho. In:
DEJOURS, C; ABDOUCHELY, E. & JAY ET, C. Psicodinmica do Trabalho -contribui-
es da escola dejourniana anlise das relaes prazer, sofrimento e trabalho.
So Paulo: Atlas, 1994.
DUARTE, L. F. D. Da Vida Nervosa (nas classes trabalhadoras urbanas). Rio de Janei-
ro: Zahar/CNPq, 1986.
GUEDES, S. L. Jogo de Corpo: um estudo da construo social de trabalhadores, 1992.
Tese de Doutorado em Antropologia Social, Rio de Janeiro: Programa de Ps-
Graduao/ Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro.
HERZLICH, C. & PIERRET, J. Malades d'Hier, Malades d'ujourd'hui. 2.ed. Paris: Payot, 1991.
LAURELL, A. C. & NORIEGA, . Processo de Produo e Sade: trabalho e desgaste
operrio. So Paulo: Hucitec, 1989.
LEAL, O. F. Benzedeiras e bruxas: sexo, gnero e sistema de cura tradicional. Cader-
nos de Antropologia, (5):7-21, 1992.
MENDES, R. Subsdios para o debate em torno da reviso do atual modelo de organiza-
o da Sade Ocupacional no Brasil. Revista Brasileira de Sade Ocupacional,
16(64):7-25, out./dez. 1988.
MINAY O, M. C. de S. O Desafio do Conhecimento: pesquisa qualitativa em sade. So
Paulo: Hucitec/Abrasco, 1994.
NARDI, H. C. A Vivncia do Afastamento por doena do Trabalho: sofrimento e iden-
tidade, 1993. 39p. Monografia de concluso do V Curso de Especializao em
Medicina do Trabalho, Porto Alegre: Departamento de Medicina Social, Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Sul.
NARDI, H. C. & , J. As relaes saber-poder na discusso sobre subjetividade e
trabalho. Cadernos de Sociologia, 7, mar./jun. 1995.
OLIVEIRA, P. A. B. Cursos para Membros da Comisso Interna de Preveno de Aci-
dentes do Trabalho Realizados em Porto Alegre: desvelamento de uma
intenctonalidade, 1991. Dissertao de Mestrado, Porto Alegre: Faculdade de Edu-
cao, Pontifcia Universidade Catlica.
SILVA, E. S. Psicopatologia da recesso e do desemprego. Travessia, (16):17-22,1993.
TITTONI, J. Subjetividade e Trabalho: a experincia do trabalho e sua expresso na
vida do trabalhador fora da fbrica. Porto Alegre: Ortiz, 1994.
6
Corpo Doente: estudo acerca da percepo
corporal da tuberculose
Helen D. Gonalves
O principal objetivo deste trabalho consiste na tentativa de entender os motivos
que levaram pacientes tuberculosos a abandonar seu tratamento, fundando-se em suas
percepes corporais. Busca-se compreender se a corporalidade da doena, ou seja, se
o espao manifesto e percebido da doena no corpo est influenciando ou no essa
desistncia. A enfermidade tem modo prprio de manifestao no corpo e, nele, en-
contra seu espao. O corpo, enquanto local onde ocorrem as manifestaes, as leses
e as percepes das alteraes dos slidos e dos lquidos, ser discutido em razo de
uma determinada doena - a tuberculose.
Foram entrevistados homens e mulheres, pacientes da unidade de tisiologia do
centro de sade e moradores, em sua grande maioria, de bairros populares da periferia
de uma cidade de porte mdio, localizada na regio sul do estado do Rio Grande do
Sul. De cunho qualitativo, a pesquisa' toma por base o mtodo etnogrfico; iniciada
em setembro de 1994, foi interrompida em fevereiro de 1995. No decorrer da mesma,
tambm foram entrevistados os profissionais da sade que prestaram atendimento aos
tuberculosos.
Segundo a Organizao Mundial da Sade (OMS), em 1990 ocorreram oito
milhes de novos casos de tuberculose no mundo, sendo 95% em pases subdesenvol-
vidos e 5% nos industrializados. O mais preocupante o fato de que acontecem cerca
de trs milhes de mortes causadas por esta molstia, em um ano, no mundo. Este
ndice pode aumentar, devido inter-relao da AIDS com a tuberculose - quatro mi-
lhes de infectados com HIV e tuberculose, em 1992. Se, por um lado, o tratamento
medicamentoso eficaz no combate ao bacilo de Koch, responsvel pela doena, a
no-adeso ao mesmo apontada como das mais graves falhas nos programas de com-
bate a este mal. O bacilo adquire certa resistncia aos medicamentos naqueles pacien-
tes que dele so portadores - sendo, portanto, agentes transmissores - , mas que desis-
tem de se tratar.
A descoberta do microorganismo causador da tuberculose deu-se em 1882,
pelo cientista Robert Koch. Na poca o tratamento era bastante variado, abrangendo
desde os mais estranhos modos de cura at os mais recomendveis ainda hoje. Os
O QUE SIGNIFICA ADESO?
O tratamento da tuberculose apresenta a peculiaridade de ser administrado ex-
clusivamente por uma unidade de sade na cidade, nico local a distribuir medica-
mentos aos doentes que deles necessitam. Neste sentido, o tratamento e a cura so de
responsabilidade de rgo pblico, o qual dever garantir, alm de medicamentos,
assistncia mdica e hospitalar ao tuberculoso. Torna-se inevitvel o contato com o
local e com os profissionais responsveis. Os pacientes, gostando ou no do atendi-
mento e do tratamento, se vem obrigados a aceitar as condies que lhes so coloca-
das. Em alguns casos, o paciente recorre ao mdico de sua confiana, no querendo
abrir mo dele, para realizar o acompanhamento do tratamento determinado por ou-
tros profissionais.
Na Medicina, a adeso (compliance) vista como "' obedincia' do paciente"
(cf. Kern, 1993:34 - grifo meu), abrangendo desde a forma com que este administra a
ingesto dos medicamentos at "padres comportamentais j profundamente estabe-
lecidos". Para os informantes, aderir ao tratamento consiste em tomar os medicamen-
tos da melhor maneira, ou seja, muitos evitam tom-los da forma prescrita pelo mdi-
co, na inteno de amenizar efeitos colaterais. Alguns no ingerem a medicao diari-
amente, alegando que os remdios so muito ruins, grandes e provocam vmitos.
mtodos eram colocados em prtica e descartados aps vrias tentativas. Entre outros,
o sangramento e as drogas contendo sais de arsnico ou ouro foram utilizadas para
cura. So lembranas de um tempo em que a doena era considerada como "metfora
do mal" (cf. Helman, 1994:112), carregada de associaes simblicas que ainda hoje
perduram. Como salienta Sontag (1984:39-40), a tuberculose, no sculo XVIII e XIX,
era atribuda a paixo reprimida, a personalidades romnticas, tendo at mesmo sido
considerado o aspecto do corpo do tuberculoso como "novo modelo de aparncia aris-
tocrtica, no momento em que a aristocracia deixa de ser uma condio de poder e
comea a constituir principalmente um problema de imagem".
Os sanatrios, no incio do sculo XX, representavam uma possibilidade de
cura daquele mal. Eram locais onde o verde das plantas e o ar puro eram abundantes.
O contato direto com a natureza fazia parte desse processo de cura. Para a Medicina, a
natureza e o meio ambiente eram causadores de efeitos que podiam ser positivos ou
negativos doena, influenciavam os humores corporais e ajudavam no pronto
restabelecimento do enfermo (cf. Foucault, 1985:107).
As dietas alimentares e o repouso ainda hoje so aconselhados. Com a evolu-
o da Medicina, o esquema de tratamento passou a ser realizado mediante a associ-
ao de drogas recm-descobertas, em dosagens preestabelecidas e ingeridas por per-
odo determinado. No Rio Grande do Sul, o Programa de Controle da Tuberculose
(PCT/RS) existe desde 1971, tendo sido implantado genericamente, em 1975, com a
adeso dos pacientes do atual Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). Depois
disso, passaram-se 20 anos, no mnimo, sem que o mesmo tenha sido modificado.
A noo de prejuzo ao tratamento por no tomar a medicao como prescrita
no existe para a grande maioria dos entrevistados. Para eles, como o tratamento
longo
2
- tempo mnimo de seis meses - , o fato de passar um ou dois dias, at mesmo
uma semana, sem tomar os medicamentos no altera os resultados quanto ao processo
de cura. Logo, ao retornarem unidade de sade para receber mais medicamentos, tais
pacientes omitem a maneira pela qual os administram, sabedores de que, ao contar ao
mdico do local, estaro assumindo sua no-adeso ou ' desobedincia' (non-
compliance) ao tratamento.
Uma das formas que o mdico tem, ou pensa ter, de controle o fato de o
paciente ser obrigado a ir unidade de sade para a retirada dos medicamentos, uma
vez que lhes so entregues mensalmente, em quantidade suficiente para a ingesto
durante 30 dias. Assim, aqueles que no comparecem na data previamente marcada, a
contar um ms depois da ltima retirada dos remdios, esto burlando o prprio trata-
mento. H casos em que o tuberculoso esconde at dos familiares o fato de no estar
tomando os medicamentos que deveria. Mas como aqueles familiares
3
que participam
do tratamento sabem ao certo qual o dia em que o paciente dever buscar a medicao,
assim faz o doente - obedece; vai at a unidade de sade e retira, sem ter ingerido o
que deveria no ms anterior. Portanto, neste aspecto, o programa de tratamento no
tem qualquer controle, exceto nos casos em que os exames acusam a estagnao ou a
piora do quadro clnico, levando os mdicos a suspeitar de tais ocorrncias.
Outros fatores relacionados ao tipo de tratamento oferecido ao tuberculoso so
instigantes para que se possa entender as atitudes dos informantes. A interrupo pre-
matura por abandono do processo de cura, em razo do tipo de servio oferecido,
pontua algumas caractersticas: em primeiro lugar, o que chama a ateno no trata-
mento o fato de ser totalmente custeado pelo governo. Os tuberculosos no tm
gastos com medicamentos ou exames. A medicao no encontrada em farmcias
locais; controlada e distribuda pelo governo. Em segundo, h na cidade uma unida-
de especfica com profissionais treinados e disposio dos doentes, em tempo inte-
gral, para atendimento e esclarecimentos de dvidas. Em terceiro, o paciente no ne-
cessita enfrentar filas ou mesmo retirar fichas para atendimento, uma vez que sempre
h equipe no local. Em quarto lugar, pode-se pensar que o tratamento medicamentoso
deve ser muito complicado e que, portanto, acabe por desestimular o paciente a con-
clu-lo; no entanto, a prescrio para casos no to avanados por via oral, com
comprimidos e cpsulas que devem ser ingeridas diariamente. Evidentemente que mais
questes podem ser discutidas. Mas, at ento, podemos indagar: onde est o motivo
da no-adeso?
Na cidade pesquisada, um levantamento prvio dos pacientes inscritos (n=162)
no programa, no perodo de um ano, mostrou que um total de 37 pessoas abandonou o
tratamento, nmero de no-adeso que se pode julgar estatisticamente alto. Foi con-
siderado abandono quando o paciente no compareceu por mais de 30 dias unidade
de sade para exames ou retirada dos medicamentos.
Observou-se que, no terceiro e quarto ms, ocorreu maior ndice de no-adeso
ao programa da tuberculose. H alguma mudana no tratamento durante este perodo?
Sim, h. Ao final do segundo ms, de modo geral, o esquema teraputico alterado
nos casos de tuberculose pulmonar ou extrapulmonar em adultos ou crianas - redu-
zido em mais da metade o nmero de comprimidos e cpsulas a serem ingeridos dia-
riamente pelo tuberculoso - , passando-se de seis medicamentos dirios para ape-
nas dois. Na primeira fase desse esquema, ou seja, nos dois primeiros meses, o
nmero total de remdios que devem ser ingeridos de 360 (entre cpsulas e com-
primidos). Como tomada esta medicao? At que ponto o doente manipula seu
tratamento? Alm disso, com a ingesto dos medicamentos desaparecem, em ge-
ral, sinais como o emagrecimento, a falta de apetite, a tosse, a febre, o catarro, o
sangue no escarro, os suores noite - tudo isto ao final do segundo ms. Ento,
seria por esse motivo que as pessoas, no sentindo mais com a mesma intensidade
os sinais e os sintomas da doena, acreditariam no necessitar mais de remdios,
enfim, do tratamento e, em conseqncia, deixariam de comparecer unidade de
sade para retirada dos mesmos?
Especificando melhor a hiptese de trabalho, poder-se-ia dizer que a maior ou
menor intensidade dos sintomas corporais percebidos e atribudos tuberculose influ-
enciam diretamente o trmino do tratamento, exercendo, portanto, efeitos que se refle-
tem na cura ou na cronicidade da doena. Igualmente, a forma como o tuberculoso
adere ou no s regras teraputicas do Programa de Controle da Tuberculose seria
determinada por fatores tais como: a representao que familiares ou colegas e amigos
tm do prprio doente - homem/trabalho/honra, a aceitao de estar doente e a relao
mdico-paciente - , em vista de suas peculiaridades.
Foucault (1994:13) argumenta que "a percepo da doena no doente su-
pe, portanto, um olhar qualitativo; para apreender a doena preciso olhar onde
h secura, ardor, excitao, onde h umidade, ingurgitamento, debilidade". Neste
sentido, os informantes percebem a movimentao dos fluidos, dos humores, de
maneira diferente do que consideram o normal da movimentao, da fisicalidade
cotidiana do corpo, mas que diz respeito a uma doena que tem caractersticas
prprias, as quais tomam corpo especfico, em local especfico. Em alguns depoi-
mentos, no entanto, pode-se perceber que h desconfiana no que concerne vera-
cidade do diagnstico mdico, em razo de o paciente no compreender que o
bacilo responsvel pela enfermidade possa alojar-se em outros rgos que no
exclusivamente o pulmo.
Pode-se destacar duas tipologias de pacientes: os que completam e os que no
completam o tratamento dentro do prazo previsto pelos agentes de sade. Entre estas,
preciso fazer uma diferenciao. Aqueles que completaram/aderiram ao tratamento
compareceram unidade de sade em todos os meses de acompanhamento da pesqui-
sa. No caso dos pacientes denominados faltosos, faz-se importante a seguinte diviso:
os que no aderiram ao tratamento so aqueles que por mais de 30 dias no compare-
ceram para a retirada dos medicamentos ou aqueles que, por algum motivo, no com-
pareceram durante o mesmo perodo, mas retornaram ao tratamento. Em vista das
caractersticas do Programa de Controle da Tuberculose, ser abordada a questo to
debatida pela Antropologia mdica - a relao mdico-paciente.
(IN)EVITVEL: MDICOS ABANDONOS
K leinman (1980) chama a ateno para uma importante questo no que diz
respeito Antropologia mdica. Dentro de um sistema de ateno sade, os pacien-
tes e os agentes de sade no podem ser entendidos fora de seu contexto, estando, por
conseguinte, imbricados com significados culturais e relaes sociais especficas do
meio sociocultural. Logo, o estudo da enfermidade, do mal-estar (illness) e da cura
passar, necessariamente, por uma anlise do sistema de ateno sade.
Pacientes e agentes de cura so componentes bsicos de tais sistemas e, des-
se modo, inserem-se em uma configurao especfica de significados culturais
e de relaes sociais. No podem ser compreendidos separados deste contexto.
Enfermidade e processo de cura tambm conformam parte do sistema de aten-
o - cuidado - sade. Dentro desse sistema, articulam-se como experincias
e atividades culturalmente constitudas. No contexto da cultura, o estudo dos
pacientes e dos agentes de cura, e da enfermidade e do processo de cura, deve,
portanto, iniciar com uma anlise dos sistemas de ateno (cuidado) sade.
(Kleinman, 1980:24-25 - traduo minha)
4
O mesmo autor define, como modelo explanatrio, as ' noes' acerca de
um "episdio de distrbio corporal (perturbao) e seu tratamento", compreendi-
dos todos os participantes nesse processo (Kleinman, 1980:105). Neste sentido, a
relao mdico-paciente em servios pblicos comumente discutida e criticada.
Tomando por base a importncia do agente de sade e do paciente no processo de
reconhecimento da doena e de cura - em especial no caso da tuberculose, em que
tais relaes so inevitveis - , torna-se relevante a anlise desta relao. So trs
os mdicos do servio de sade responsveis pelo atendimento feito atravs do
PCT/RS e, ainda, por todos os tuberculosos diagnosticados em Porto Alegre. Par-
tindo deste raciocnio, pode-se suspeitar que algumas relaes devem ser realmen-
te muito complicadas, pois no h uniformidade de opinies e nem de prefernci-
as, mas sim um padro de atendimento e de tratamento impostos pelo Programa de
Controle da Tuberculose.
Ao freqentar a unidade de sade, pode-se perceber que as consultas so rpi-
das, pois os 'candidatos' a ingresso no programa no demoram mais que cinco minutos
dentro da sala do mdico. Um dos dois consultrios tem uma pequena abertura - sem vidros
- que permite a quem estiver na sala ao lado, a da recepo, escutar todo o desenrolar
da consulta. Alm disso, a porta da sala quase nunca fechada durante o atendimento.
O paciente senta em frente a uma pequena mesa do mdico e deve, num exguo espao
de tempo, explicar o que vem sentindo. So pessoas que ali comparecem ou por traze-
rem consigo encaminhamentos de um hospital, posto de sade, mdico particular, ou
por j conhecerem o servio e estarem desconfiadas de algum problema no pulmo -
que a forma mais comument e conhecida da doena. Foi observado que, duran-
te a consulta, os mdicos falavam em tom mais alto que seus pacientes - na verda-
de, alguns destes ltimos quase sussurravam. Uma informante falou do incmodo
que sentia ao ter que narrar suas dores e intimidades enquanto ' todos' na sala de espera
a escutavam.
O mdico, detentor de um poder legitimado pela ' sabedoria' cientfica, ao di-
agnosticar a doena que originou o mal-estar do paciente, principalmente em grupos
populares, tem em seu poder a possibilidade de sensibiliz-lo moralmente, o qual, por
sua vez, desconhece a histria do mdico. Mais claramente, este doente, ao chegar ao
local de consulta, muitas vezes no conhece o mdico que vai atend-lo, no sabe se a
maneira pelo qual foi atendido faz parte da conduta ' normal' desse profissional; no
domina a Medicina e seu vocabulrio cientfico. No caso da tuberculose, por exemplo,
os pacientes entrevistados no conseguiram pronunciar corretamente o nome do exa-
me de escarro e o dos medicamentos, terminando por especificar os remdios pela cor
e tamanho. Quanto ao exame de baciloscopia - nome complicado, realmente - expli-
cavam-no como aquele que tem que "guspir em um pote".
Boltanski (1979:136) destaca a assimetria da relao mdico-paciente quando
a informao das suas prescries durante a consulta " tanto menos importante quan-
to mais baixo o doente estiver situado na hierarquia social, ou seja, quando so mais
fracos sua aptido a compreender e manipular a lngua cientfica utilizada pelo mdi-
co", concretizando, assim, uma relao autoritria, na qual o mdico sente-se no direi-
to de se abster de maiores explicaes por tratar-se de pessoas que no o iro compre-
ender claramente. No momento da consulta, diante da fragilidade provocada pela do-
ena, so manifestadas, quase sempre, avaliaes e dimenses sociais bastante preci-
sas, tais como as condies socioeconmicas, psicolgicas e cognitivas do paciente.
A automedicao tambm ocorre. As pessoas, ao sentirem que o remdio prescri-
to lhes provoca novos sintomas, procuram concili-los com outros, mais novos. De certa
maneira, a atitude de se automedicar demonstra a no passividade ante o poder mdico, o
que pressupe a existncia de interpretao prvia e posterior daquela fornecida pelo m-
dico para seus sinais, mesmo sem domnio da linguagem mdico-cientfica. Desta forma,
os doentes determinam o que mais apropriado tomar ou fazer em algumas circunstncias.
Um ponto importante dentro desta relao quando o mdico encaminha o
paciente para a percia do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) e l se constata
a incapacidade - quase sempre temporria - para o trabalho, em conseqncia da doen-
a. O doente, se exerce alguma atividade laborai, est dispensado legalmente, da
mesma forma que tambm tem o direito de receber benefcio financeiro enquanto
estiver afastado de sua atividade. Diante disso, os funcionrios da unidade de sade
no compreendem porque o paciente no mais retorna ao tratamento, visto que foi
afastado para tal e acreditam que est, via de regra, recebendo salrio; mas justamen-
te a que se enganam. Um claro exemplo da dimenso deste encontro entre os poderes,
as decises, as mudanas neste processo de cura o de Felipe, que, passados trs
meses de ' encosto' pelo INSS, no recebeu nenhum benefcio:
Vai viver do que ento? Se o mdico diz: - No, tu faz a medicao direiti
nho, no fica sem tomar os remdios, te cuida em casa.
A, eu gostaria de perguntar para ele: - Quem que vai sustentar os meus
filhos? Agora mesmo eu tive que ir sair a, dias de chuva, eu tive que sair para
fazer alguma coisa, para poder... no nada, no nada, eu pago aluguel, dois
litros de leite por dia, a gente que pobre n, no fcil! (...) Agora eu t
arriscando ir para a rua, a perder a casa... (Felipe, 31 anos, soldador)
O tratamento no foi concludo. Ele o abandonou quando estava no terceiro
ms, justamente quando no mais sentia os sinais atribudos doena - passou a tosse,
voltou a engordar, suas foras e disposio estavam sendo recuperadas. Seu raciocnio
fora: j que melhorara, por que precisaria ainda dos remdios e dos mdicos?
A volta ao trabalho recria situao de estabilidade, significa a retomada do
papel de homem ideal imposto socialmente, enquanto figura ativa, capaz de manter
famlia e de conservar em seu poder tal responsabilidade. Ante a impossibilidade fsi-
ca imposta pela tuberculose, este papel masculino, de provedor, alterado. Sua honra
atingida. Bourdieu (1990:172), analisando a honra na sociedade Cablia, argumenta
que "a honra de um homem a sua prpria honra. Aquele que perdeu a honra no
existe. Deixa de existir para outros e, ao mesmo tempo, para si prprio". O cdigo de
honra define o lugar e os papis sociais do homem c da mulher na sociedade. As
expectativas em relao a estes papis sociais determinaro sua maneira de agir. Nesta
dimenso, o programa no tem alcance.
Outro comportamento comum, depois daquele da decepo com o atendimen-
to aliada ao tratamento prolongado, o abandono temporrio, ou melhor, o paciente
no toma a medicao por mais de 15 dias consecutivos, chegando a ficar meses sem
ingeri-la. Quando o corpo emite sinais, sintomas que j foram uma vez atribudos
doena, ele ento retorna ao programa para recomear o tratamento. Alguns ficam
muitos anos neste ciclo: - "Velhos fregueses nossos", diz uma funcionria do local.
H aqueles que, preocupados com seus corpos, seguem rigorosamente as pres-
cries e acabam por atribuir novo sentido vida. Modificam atitudes que acreditam
ter contribudo para a doena. Seguem aconselhamento mdico sem questionamentos
que porventura poderiam interromper o processo de cura. Borges (1995:368) perce-
beu em sua pesquisa, de forma semelhante, a respeito de pacientes com insuficincia
renal crnica - dependentes da hemodilise - , a idia de doena como ' destino' , sendo
recorrente nos discursos dos seus informantes o 'tinha que acontecer' , ou seja, a enfer-
midade vista como inevitvel e, em associao a essa idia, comum o sentimento
de que a doena aconteceu para que o indivduo pudesse 'refletir sobre sua vida' .
No raro escutar dos pacientes que, na tuberculose pulmonar, o rgo afetado
"est cheio de cavernas",
3
"de buracos"; falam daquele local - cavernas no pulmo -
onde h uma apropriao indevida de um espao - pulmo - , a qual danificou o res-
tante - o corpo que emagrece, que se modifica - , sendo o mbito onde se travar uma
luta contra o agressor, o bacilo. Percebido como fragilizado, o corpo necessita de for-
tes medi cament os para superar as manifestaes da tuberculose. Considerada
atemorizante, a doena requer cuidados alm dos prescritos pelos mdicos da unidade
de sade. Dentre outros, h o repouso absoluto, a alimentao, exames mensais com
mdico escolhido, evitar calor e frio demasiado. Com uma preocupao e uma maior
apreenso relativa a seu prprio corpo, comum encontrar-se este tipo de depoimento
nos pacientes que aderiram ao tratamento.
MODIFICAES NO CORPO
Segundo os informantes, a fraqueza do corpo em decorrncia dos problemas
nos pulmes esteve, em princpio, associada pouca alimentao e, conseqentemen-
te, ao emagrecimento; com base nestas percepes corporais alteradas, recorriam a
instituies de sade ou religiosas e, por fim - encaminhados pelas mesmas ou acon-
selhados por parentes ou amigos - , comeavam o tratamento ao ser diagnosticada a
tuberculose. Como no comum o diagnstico mdico desta doena
6
muitos dos
pacientes, antes de chegar ao local, j haviam se tratado, em geral de pneumonia, o que
agrava ainda mais o quadro clnico, pela demora do diagnstico.
A gente pega, n, de no comer tambm. Sim, se no comer fica, n. (...) eu
no tinha mais sangue nas veias (...) a pessoa que aplicava as injees [para
pneumonia] ficava apavorada, porque eu no tinha mais msculo, era s pele e
osso (...) a agulha da injeo encostou no osso. (Cintia, 26 anos, dona de casa)
... uma fraqueza, uma anemia muito grande, e no queria comer, a atacou os
pulmes [era] um princpio de tuberculose, (marido de Cintia)
Essa paciente parou o tratamento no segundo ms, quando sentiu que voltara a
engordar e a recuperar a fora. Tomar remdios era visto quase como castigo; escon-
dia do marido que no estava seguindo o mtodo para se curar; quando ingeria a me-
dicao, sentia-se mal por seus efeitos colaterais. Com quantidade suficiente para ape-
nas um ms, os medicamentos chegaram a 'render' at trs meses. Mas o retorno de
sua preocupao no demorou ante as mudanas corporais, que se acentuaram; 'ner-
vosa' , emagreceu.
Segundo Helman (1994:116), "os fatores culturais determinam quais os sinais
ou sintomas que so percebidos como anormais; eles tambm ajudam a dar forma s
mudanas fsicas e emocionais difusas, colocando-as dentro de um padro identificvel
tanto para a vtima quanto para as pessoas que a cercam". No caso de Cintia, a fraque-
za estava relacionada ao enfraquecimento do corpo, falta de apetite e pelo fato de ter
perdido muito sangue por causa de um aborto involuntrio. Apesar da importncia da
alimentao, ela acreditava que outras implicaes pudessem ter ocorrido - 'fraqueza
de esprito' , por exemplo. Um novo fator surge ento:
Os que no mais compareceram ao local em que se tratavam, ou seja, aqueles
que comeam a se tratar e no retornam so, geralmente, pessoas com srios proble-
mas, tais como: alcoolismo, distrbios psiquitricos, AIDS OU indigncia. Nestes casos,
a forma como o tratamento administrado se torna incompatvel com o modo de vida
do indivduo. Alguns, por presso de seus familiares, conseguem prosseguir por maior
tempo que os que no contam com tal ajuda. Neste aspecto, os agentes de sade ficam
impossibilitados de atuar, uma vez que nem mesmo residncia fixa muitos desses doentes
tm, perdendo-se assim mais facilmente o contato. Quando so internados, os que possu-
em distrbios psiquitricos prosseguem seu tratamento na instituio que os acolheu.
/.. l me salvaram, eles que me salvaram [terreiro de umbanda]. Que eu no
tinha sangue (...) Um dia de manh eu fui tirar sangue, a primeira vez que eu fui
tirar sangue, e eles me furaram duas veias - a ele falou que eu no tinha
sangue... o enfermeiro - a eu disse para me que eu no tinha sangue - no
sangue, como que ?.. eu tinha demais... ah, me esqueci o nome que a gente
tem, a ela mandou eu tomar sei l o qu (...)
Eles [terreiro] mandaram a me comprar uma pomba. A a me comprou e
fez (...). Matou a pomba em cima de mim. A passa o sangue da pomba em meu
corpo todinho. A foi indo, foi indo que os vermelhinhos (...) que eu s tinha
glbulos brancos, brancos...
A t, a minha camiseta est l (...) Tinha que deixar, se eu tirar de l acho
que volta de novo. A a me ia falar com ela [me-de-santo] que eu estava
magra - mas eu gosto mais de terreiro, eu no sou muito de igreja (...) Eu fui.
saber que eu tinha esta doena quando o doutor falou, quando mostrei a chapa
[radiografia] pra ele...
Foi que... eu caminhava bem devagarinho e a, pum [cansava]. Eu caminha-
va bem devagarinho, eu no podia correr. A o dia que eu fiz isso eu fui numa
rapidez para casa que nem senti. a me disse: U, viemos rpido! Eu nem
senti. (...) Sbado eu encontrei um ex-namorado meu l na me n, e ele
de terreiro, ele est desenvolvendo, ele no podia olhar pra mim que tinha
uma coisa ruim do meu lado - ele no me olhava! Ele no me olhava: - Ah, tem
uma coisa to ruim do lado dela que eu nem consigo olhar pra ela! (...)
No, ele no pode fazer nada, ele est desenvolvendo. A mandou a me fazer
um remdio pra mim (...) Ovo de codorna, leite-moa - coisa boa, leite-moa.
(Cintia, 26 anos, dona de casa)
O relato da entrevistada demonstra que so percebidas diferentes etiologias
para as doenas - quando Cintia percebe que sua tuberculose pode ser tambm de
cunho espiritual, procura o local adequado para tentar sarar. O poder de cura no
mais referido aos medicamentos, portanto, no mais possvel curar-se somente com
a Medicina. Montero (1985:75) enfatiza que " exatamente a natureza e a qualidade
deste atendimento que est em questo quando eles decidem abandonar tratamentos e
remdios substituindo-os com chs, passes e benzees".
recorrente a referncia comida; a alimentao ' forte'
7
volta a ser a prescri-
o mais seguida pela informante, uma vez que, em sua concepo, a doena era no
s ' material' , mas tambm 'espiritual', e o esprito, segundo ela, precisa seguir as
recomendaes de outro esprito mais ' avanado' , sejam elas as de derramar sangue
sobre o corpo sejam as de mistura de alimentos. Da mesma forma, os tratamentos -
espiritual e corpo biolgico - complementavam-se de forma eficaz.
8
Observe-se que
aqui se emprega os termos 'material' e ' espiritual' , no que diz respeito doena, no
mesmo sentido que Loyola (1984). O sangue da pomba, com propriedades especiais -
de criar glbulos vermelhos/sangue - , incorporado, assimilado pelo corpo receptivo
em ritual de cura religiosa. Com sangue novo - sinnimo de vida - e com a proteo -
camiseta deixada no terreiro - o corpo ficou fortalecido e protegido. At o ltimo
contato feito, Cintia estava no sexto ms de tratamento e faria exames para confirma-
o de alta mdica. Saliente-se que ela no tomava os medicamentos da forma correta
- administrava-os a seu modo: s vezes, tomava dois; em outro dia, nenhum.
Duarte (1986) argumenta que, no seu universo de pesquisa, o nervoso est tam-
bm ligado aos humores corporais e ao "jogo de suas qualidades e relaes", sendo
fraqueza e fora um dos principais ncleos para o estudo. Em um dos exemplos, o
autor faz aluso fraqueza na tuberculose e ressalta trs importantes pontos relativos
a seus informantes. O primeiro, refere-se ao fato de a origem da doena estar associada
ao desgaste fsico - fora - provocado pelo trabalho ou por prolongada exposio ao
frio. Em segundo lugar, em casos crnicos o enfraquecimento - fsico-moral - causa
impossibilidade absoluta para o trabalho e, alm disso, a contaminao e efeitos na
descendncia esto tambm associados imagem do sangue ruim. Por fim, a perda
visvel de sangue no escarro - ou seja, a perda de fora, associada perda do sangue.
Estas representaes tambm esto presentes nas narrativas dos informantes
com os quais se manteve contato para esta pesquisa. Como, por exemplo, Nilo, cami-
nhoneiro, atualmente borracheiro - por causa da doena - , que contava a sua preocu-
pao quanto a tratar-se corretamente para poder voltar estrada. Impressionado com
a quantidade de sangue que vomitou, tratou de seguir as recomendaes mdicas.
Tive tosse. S que uma tosse seca, uma tosse meio seca, sem escarro e sem
nada, s tosse. (...) , um dia eu tava abaixado assim e me veio aquele calor
assim suspeito, botei mais de um litro de sangue pela boca. A passou quatro
dias depois e botei mais meio litro e pouco, a me assustei e fui l no mdico,
falei com ele: - no, isso a normal nesta doena? (...) T, eu vim pra casa e
fiz o tratamento, e hoje tem vezes que aparece um sinal de sangue s vezes,
aparece aquele sinal, mas pouquinho coisa, coisa mnima que bota pra fora.
Mas que no - claro que isso da doena. diz que o doutor especialista
nesta doena. Quer dizer que... agora s tem que fazer o tratamento, porque do
mais eu estou bem. outra que eu tenho muito capricho no tratamento, n, eu
me levanto para o caf e meus comprimidos esto na minha frente para tomar
- nunca falhei um dia, nunca!, nunca falhei um dia. Nunca botei bebida de
lcool, coisa que contm lcool na boca. Deca no peso eu deca. (Nilo, 40
anos, caminhoneiro)
Neste depoimento, cinco pontos so relevantes para demonstrar que a percep-
o da corporalidade da doena passo importante para a adeso ao tratamento em
alguns pacientes: em princpio, uma tosse que ele no associou com algo mais grave
por no apresentar nenhum sinal que a diferenciasse; a grande quantidade de sangue
expelida pela boca extremamente preocupante, mostrando a fragilidade do corpo
ante a doena; a procura de um mdico especialista para constatar sua normalidade
(atravs do sangue) ' dentro' da doena; o cuidado no tratamento - no quebrar as
regras; e o peso que no retornou ao ' normal' significa, ainda, a presena da doena.
Os humores esto presentes, visveis enquanto atividades corporais que no se subme-
tem ao controle cultural, mas so percebidos em funo de cdigo cultural prprio. A
CONSIDERAES FINAIS
Nesta pesquisa, procurou-se mostrar uma pequena parte das dinmicas que
envolvem a tuberculose. Pouco divulgada como doena que ainda ocorre em elevados
nmeros, para os dias de hoje, por um lado continua sendo, quando diagnosticada,
uma molstia socialmente estigmatizada. Por outro, so as prprias observaes/per-
cepes do doente com relao enfermidade que o levam a concluir ou no o seu
tratamento. Apresentando vida prpria - patolgica - , a tuberculose leva morte
medida que o 'agressor' encontra espao no qual vive, alimenta-se, prolifera-se, resis-
te e mata: o corpo. Foucault (1994:12) enfatiza: "O que faz o ' corpo' essencial da
doena se comunicar com o corpo real do doente no so, portanto, nem os pontos de
localizao, nem os efeitos da durao; , antes, a qualidade". A comunicao da do-
ena e do corpo se d por meio da percepo de que algo mudou, e neste sentido que
se procura entender as conseqncias das percepes corporais do paciente na adern-
cia ao tratamento do mal que o acomete.
No se tem a pretenso de afirmar, com este trabalho, que a percepo corpo-
ral da doena a nica responsvel por uma pessoa manter-se disciplinada pelas re-
gras impostas dentro do programa de tratamento, mas preciso salientar que constitui
uma categoria importante, segundo a observao feita, e que como tal deve ser vista.
Outras categorias, tambm importantes, esto interligadas nesses casos para
pensarmos acerca da referida adeso ao tratamento. A corporalidade da doena como
modo de 'ler' sinais e sintomas corporais se faz presente nos que no aderiram com-
pletamente ao tratamento - haja vista que, quando ocorrem novas manifestaes da
enfermidade, recorrem unidade de sade. Apenas se toma a precauo de no incor-
rer em reducionismo quanto no-adeso, pois, caso contrrio, por que motivo esses
' (im)pacientes' retornariam tantas vezes? No seria mais fcil no depender dos fortes
remdios e tambm dos mdicos? No entanto, para que haja cura, o paciente no pode
modificar o tratamento; os medicamentos devem ser tomados risca, diariamente,
durante o perodo recomendado. Todavia, na prtica, a Medicina e os programas de
oposio interno/externo no corpo do doente se faz constante. Por exemplo, estar sen-
tindo-se bem, mas perceber que o peso ainda no voltou ao ideal.
Dentro da famlia, apenas uma pessoa, alm da esposa e do filho, soube da
doena. Evitou contar a amigos e a outros familiares, pois no queria viver, esse per-
odo, desprezado e prejudicado nos negcios. Tinha muito medo de ' passar' (sangue
ruim) para seu nico filho: "saber que tem essa doena e que foi transmitido pelo pai
ou pela me... a um fracasso". Enquanto pai, provedor, com imagem de homem
forte inabalvel, resistiu aos efeitos adversos dos medicamentos: "eu fiquei s uns dias
na cama abalado (...) fiquei assim uns 60 dias, no teve dia que eu no tomei". A
constante preocupao em conseguir poder voltar ao trabalho e o fato de no colocar a
mesma quantidade de sangue e retomar vida normal eram as garantias dadas pela
correta forma de se tratar. Recebeu alta por cura depois dos seis meses de tratamento.
NOTAS
1 A pesquisa tambm composta por estudo com metodologia quantitativa, cujos coordena-
dores so a Dra. Ana B. Menezes e o Dr. Juvenal D. Costa.
2 Neste trabalho, no nos dcteremos na importante categoria 'tempo' para anlise do trata-
mento da tuberculose.
3 No que se refere concepo de corpo, podemos pensar que os familiares no compartilham
de uma mesma viso, uma vez que discordam do doente quanto forma inadequada de
administrar seu tratamento em comparao com as ordens mdicas, no reconhecendo a
melhora fsica/corporal da mesma forma que o tuberculoso.
4 Diferenciao importante nos modelos explanatrios descritos por KLEINMAN ( 1980) entre
a enfermidade e doena. Doena (disease) consiste cm uma disfuno do processo biolgi-
co ou psicolgico. Enfermidade/mal-estar (illness) refere-se s alteraes que provocam
distrbio corporal percebido biolgica ou psicologicamente e aos percebidos em decorrn-
cia da doena (disease).
5 Expresso que demonstra a apreenso do discurso mdico ao explicar os danos da doena
causados ao organismo, e a comprovao quase 'visvel' da leso nas radiografias do pul-
mo, um dos exames solicitados ao tuberculoso.
6 Segundo PICON et al. (1993:227), "A chave para o diagnstico de tuberculose um alto ndice
dc suspeio da doena e a pronta utilizao de mtodos diagnsticos apropriados".
7 Sobre restrio a alimentos, ver, por exemplo, DOUGLAS (1976), LVI-STRAUSS (1976), DUARTE
( 1986) c MOTTA-MAUS (1993).
8 Eficcia no sentido proposto por LVI-STRAUSS (1977). Os sistemas de cura so eficazes, tanto na
Medicina popular como na Medicina oficial, porque fazem sentido em seu meio sociocultural.
Esto diretamente ligados aos simbolismos deste meio social, diretamente ligados cultura local.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
BOLTANSKI, L. AS Classes Sociais e o Corpo. Rio de Janeiro: Graal, 1979.
BORGES, . . A construo social da doena: um estudo das representaes sobre o
transplante renal. In: LEAL, O. F. (Org.) Corpo e Significado: ensaios de Antropo-
logia Social. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1995.
controle quase sempre esto atentos apenas s dimenses fsicas da mesma, no obser-
vando as diferentes representaes e concepes dos pacientes. Assim, para a Medici-
na, a tuberculose, antes de diagnosticada por exames laboratoriais que atestaro a
presena ou no do bacilo, percebida por um conjunto de indicaes, de sintomas,
que so iguais em qualquer lugar, tanto no Sul como no Norte. O que no se pode
esquecer que os doentes - tanto os de um mesmo local ou no, no interior de um pas,
estado ou regio - so diferentes entre si, possuem modo prprio de perceber e assimi-
lar, bem como o de atribuir significados aos seus sinais/sintomas. Por conseguinte,
deixando de perceber estas dessemelhanas, restringimos a percepo das dimenses
socioculturais de doena e sade.
BOURDIEU, . O sentimento da honra na sociedade cablia. In: PITT-RIVERS, J. (Org.)
Honra e Vergonha, Valores das Sociedades Mediterrneas. Lisboa: 1990.
DOUGLAS, M. AS abominaes do Levtico. In: Pureza e Perigo. So Paulo: Perspecti-
va, 1976.
DUARTE, L. F. D. Da Vida Nervosa (nas classes trabalhadoras urbanas). Rio de Janei-
ro: Zahar/CNPq, 1986.
FOUCAULT, M. Histria da Sexualidade. O Cuidado de Si. v.3. Rio de Janeiro: Graal,
1985.
FOUCAULT, . O Nascimento da Clnica. Rio de Janeiro: Forense-Universitria, 1994.
HELMAN, C. G. Cultura, Sade e Doena. Porto Alegre: Artes Mdicas, 1994.
KERN, D. E. Obedincia do paciente s recomendaes mdicas. In: BARKER, L. R. et
al. (Orgs.) Princpios de Medicina Ambulatorial. Porto Alegre: Artes Mdicas,
1993. p.33-46.
KLEINMAN, A. Patients and Healers in the Context of Culture. Berkeley: University of
California Press, 1980.
LVI-STRAUSS, C. Totemismo Hoje. So Paulo: Abril Cultural, 1976. (Coleo Os Pen-
sadores)
LOYOLA, . . Mdicos e Curandeiros: conflito social e sade. So Paulo: Difel, 1984.
-MAUS, M. A. 'Trabalhadeiras' e 'Camarados': relaes de gnero, simbolis
mo e atualizao numa comunidade amaznica. Belm: Centro de Filosofia e Ci-
ncias Humanas/Universidade Federal do Par, 1993.
MONTERO, P. Da Doena Desordem: a magia na umbanda. Rio de Janeiro: Graal,
1985.
PICON, P. D. et al. Tuberculose - Epidemiologia, Diagnstico e Tratamento em Clnica
e Sade Pblica. Rio de Janeiro: Medsi, 1993.
SONTAG, S. A Doena como Metfora. Rio de Janeiro: Graal, 1984.
Os Limites da Pessoa
7
Os Corpos Intensivos: sobre o estatuto social
do consumo de drogas legais e ilegais
Eduardo Mana Vargas
Com a derrocada do comunismo na ex-URSS e no Leste Europeu, as drogas
passaram a reinar quase absolutas nos domnios dos pesadelos ocidentais, j que acom-
panhadas apenas de longe pela Aros e pelo preconceito xenfobo. desnecessrio insis-
tir nas dimenses que o problema das drogas veio a alcanar no mundo contemporneo.
Lembramos apenas que as contabilidades financeira, poltica e militar envolvidas em
tais circuitos crescem na mesma medida alucinante que a dos corpos mutilados, chacina-
dos e siderados pelo uso de entorpecentes. Salientamos tambm que cada vez maior a
ingerncia do Estado nos circuitos das drogas, as quais vm legitimando pesadas aes
de interveno, inclusive blicas, em nvel internacional ou nacional (interveno norte-
americana na Bolvia, na Colmbia e no Panam, por exemplo, ou o golpe de Estado no
Peru), bem como tambm a interveno das drogas no circuito do Estado, atravs da
corrupo generalizada ou sob a forma mais traioeira dos conflitos continuados que
chegam a abalar a soberania e os poderes constitudos de lugares to dspares como o
Peru, o Afeganisto, Myanma (ex-Birmnia) ou mesmo o Rio de Janeiro.
Neste contexto histrico da 'guerra contra as drogas' - e a contextualizao
serve, ao menos, para indicar a dimenso estratgica que a questo vem assumindo nas
sociedades modernas, ainda mais quando se leva em conta o fato de que esse
enfrentamento chega mesmo a assumir um carter "etnicidrio" (Henman, 1986) - ,
no demasiado dizer que, quanto a isto, a represso ao uso e ao trfico de entorpecen-
tes alcanou escala sem precedentes no mundo moderno.
Parte expressiva desse pesadelo alimentada pelos inmeros desdobramentos
polticos, econmicos, jurdicos e sociais da condenao moral que, em sociedades
como a nossa, pesa quanto ao consumo de certas substncias. Mas resolve apenas
parte do problema dizer que as sociedades contemporneas declararam, de modo geral
e com fora nunca antes vista, guerra s drogas, fazendo assim com que estas, diga-se
de passagem, se tornassem uma das coisas mais lucrativas e insidiosas deste planeta.
Por conta disso preciso evitar restringir esta questo dualidade lei/ilegalidade e,
conseqentemente, polmica em torno de sua (des)criminalizao.
H vrias razes para isso. Primeiro e fundamentalmente, os inmeros vnculos
entre drogas e criminalidade e os problemas que da decorrem esto na dependncia de
um fato bsico que tem merecido pouca ateno dos cientistas sociais: o de que um
nmero impressionante de pessoas se sujeita s condies mais adversas, com fre-
qncia colocando em risco a sua vida fsica e social, no intuito de atualizar, em rotina
que chega s beiras da impertinncia, uma prtica at certo ponto muito pouco con-
vencional: ' consumir' drogas. Encarando o problema das drogas do ponto de vista de
seu consumo, o que se verifica efetivamente o oposto do que seramos levados a
imaginar em princpio. Isto porque, longe de um consumo ' reprimido' , por assim
dizer, o que se observa nossa volta que nunca se ' usou' tantas drogas, ilcitas ou
no, como nos dias de hoje: no fosse por isso, o alvoroo em torno da questo no
seria to grande. Mais do que isso, cremos ser possvel mesmo dizer que jamais se
incitou tanto ao consumo de entorpecentes, nunca seu uso foi to prescrito e estimula-
do como nos tempos atuais.
Da ser necessrio precaver-se contra a naturalizao da distino entre as dro-
gas lcitas e as ilcitas e reconhecer um fato aparentemente bvio, mas cujo impacto na
discusso deste problema no tem sido muito considerado pelos especialistas, ou seja,
que as drogas no so apenas aquelas substncias qumicas, naturais ou sintetizadas
que produzem algum tipo de alterao psquica ou corporal e cujo uso, em nossa soci-
edade, objeto de controle (caso do lcool e do tabaco) ou represso (caso das drogas
ilcitas) por parte do Estado. Mesmo que trivial, preciso no esquecer que ' drogas
so ainda todos os frmacos' .
Disso decorre tal questo no implicar apenas consideraes de ordem econ-
mica, poltica, sociolgica ou jurdico-criminal, tendo sido considerado caso ' eminen-
temente mdico' desde que se tornou, em nossa sociedade - o que no faz assim tanto
tempo - um real problema de ' drogas' . as implicaes desse vnculo entre drogas e
Medicina no so absolutamente desprezveis, j que os saberes e as prticas mdicas
foram historicamente investidos, entre ns, na posio de principais instrumentos de
legitimao da partilha moral entre as substncias lcitas e as ilcitas por fornecerem,
para a sociedade em geral e com a fora da autoridade cientfica que costumamos
emprestar-lhes, os critrios para tal partilha.
J h algum tempo, as Cincias Sociais vm se dedicando a pensar os diferentes
aspectos desses desdobramentos, tendo produzido, a esse respeito, muita coisa de quali-
dade;
1
no entanto, ainda so escassas as pesquisas que investiguem o problema das dro-
gas do ponto de vista crtico de suas prticas de consumo e de suas relaes com os
saberes e as prticas mdicas. por aqui que pretendemos introduzir a investigao.
2
Considerando a problemtica do uso indiscriminado de drogas, seria muito
cmodo dizer, como freqentemente o fazem a Psicologia e o senso comum, que ele
se resumiria a uma resposta a determinada crise ou carncia qualquer: toma-se rem-
dio porque falta sade, bebe-se lcool ou toma-se drogas porque falta dinheiro, fam-
lia, escola, religio, profisso, afeto et c; ou seja, que o problema das drogas se esgota-
ria, como Caiafa (1985:17-18) chamara a ateno, enquanto "mero produto de uma
precariedade criada por outros". No entanto, Guattari (1985:47) tambm j alertara
contra os perigos de definies negativistas como essa e sugerira que "ao invs de
considerar tais fenmenos como respostas coletivas improvisadas a uma carncia (...),
dever-se-ia estud-los como uma experimentao social na marra, em grande escala".
Alm disso, a manter-se essa perspectiva negativista segundo a qual a carncia
ou a falta constituem-se a base de qualquer consumo de drogas seria o caso de saber,
de um lado, como os homens puderam viver durante tanto tempo sem conhecer a
aspirina e uma srie de outros medicamentos alopticos e, de outro, como o consumo
de inmeras substncias atualmente denominadas ' drogas' pde ser to difundido no
tempo e no espao, passando por um espectro de prticas culturais de consumo que
vo desde a amanita muscaria das tribos siberianas ao Soma hindu, dos cogumelos
mexicanos aos cactos e solanceas pr-colombianos, do tabaco amerndio ao haxixe cita,
do yag dos ndios da selva amaznica ao ayahuasca do Santo Daime, do pio chins ao
hbito ingls de tomar ch, das folhas de coca mascadas pelos ndios dos Andes maco-
nha e cocana consumidas nas metrpoles modernas, entre inmeras outras.
O consumo de certas substncias, hoje denominadas ' drogas' , com propsitos
no apenas medicamentosos parece ter sido, portanto, experincia to antiga quanto
difundida nas sociedades humanas e, pelo que se sabe, foi somente nossa sociedade
3
que 'declarou guerra' a certos tipos de consumo dessas substncias. Diante de uma
ausncia e de uma presena to expressivas, respectivamente no primeiro e no segun-
do casos, espantoso acreditar que todas essas prticas s pudessem se realizar en-
quanto respostas a alguma coisa que lhes seria incomum.
Neste sentido, evitar fazer do consumo de drogas um fenmeno que se reduza
condio de resposta a crises ou carncias que lhe so estranhas, implica investig-lo
a partir de suas prprias condies de possibilidade, isto , de um ponto de vista posi-
tivo, epistemologicamente falando. Deste modo, o que se percebe desde logo que as
relaes que sociedades como a nossa entretm com o uso de drogas esto longe de ser
unvocas ou monolticas. De fato, encontramo-nos diante de uma situao singular,
posto que paradoxal: crescente e, em muitos sentidos, indita represso ao uso de
drogas ilegais adiciona-se a insidiosa incitao ao consumo de drogas legais, quer sob
a forma de remdios prescritos pela ordem mdica com vistas produo de corpos
saudveis, quer sob a forma de drogas autoprescritas em virtude dos ideais de beleza
(os anorticos produzindo corpos esbeltos), de habilidade (os esterides e anabolizantes
produzindo corpos de superatletas) ou de 'estado de esprito' (os ansiolticos e os
antidepressivos produzindo corpos serenos, mansos), e, mais ainda, quer do indefectvel
hbito, to comum entre ns, de ingerir bebidas alcolicas, tabaco e caf.
Diante disso, cabe ressaltar que a diferenciao entre drogas legais e ilegais no
resolve ou anula o paradoxo, posto que a questo envolve, de fato, toda uma cadeia
sintagmtica que, no plano do consumo, torna prticas vizinhas os usos medicamentosos
(feitos sob prescrio mdica), paramedicamentosos (autoprescritos ou prescritos por
instncias extramdicas) e no medicamentosos de drogas. essas prticas podem ser
tomadas em um mesmo espao porque fazem parte de um mesmo campo semntico -
o das prticas corporais - que continuamente atravessado pelos modos como a vida
e a morte so experimentadas e concebidas, histrica e culturalmente, pelos homens.
Considerando que sociedades como a nossa fizeram das drogas um problema
mdico-criminal, e um problema que no diz respeito apenas a sua represso, mas
tambm incitao ao seu consumo, talvez se possa dizer que essas disposies mdi
co-legais que cercam a questo configuram uma espcie de 'dispositivo da droga' , em
sentido muito prximo ao que Foucault (1982a) estabeleceu para o dispositivo da se-
xualidade. Problema de represso e de incitao, a ' droga' , tal como o que hoje e o
' sexo' , no existiu desde sempre, sendo inveno social recente e muito bem datada.
Dc fato, mais do que apropriar-se da experincia do uso de drogas, o que as sociedades
modernas parecem ter feito foi criar literalmente o prprio fenmeno das drogas; e o
criaram por duas vias principais: a da medicalizao e a da criminalizao da experi-
ncia do consumo de substncias que produzem efeitos sobre os corpos e que, at sua
prescrio e penalizao, no eram consideradas como ' drogas' .
nesse sentido que aponta Adiala (1986) em ensaio de cunho historiogrfico
dedicado anlise do processo de criminalizao dos entorpecentes no Brasil. Nesse
texto, o autor assinala por diversas vezes o quanto a crescente interveno penal no
mundo das drogas - caracterizada, entre outras coisas, por um esmiuamento
classificatrio das drogas cujo uso considerado criminoso; pela criao de estabele-
cimentos especiais para a internao dos toxicmanos; pela represso policial ao trfi-
co ou ao comrcio clandestino de entorpecentes; e por acentuada ampliao e especi-
alizao do campo de atuao e do poder de interveno policial neste referido ' mun-
do' - esteve e ainda est na dependncia de estreito vnculo com todo um processo de
medicalizao que ir extrapolar, em muito, o vasto campo da problemtica que en-
volve a questo.
Mas no porque os especialistas tm dedicado mais ateno aos inmeros
problemas derivados da penalizao das drogas que se deve diminuir a importncia do
processo de medicalizao das mesmas ou deixar a tarefa de analis-lo apenas sob a
responsabilidade dos mdicos. Isso porque o compromisso que o saber e as prticas
mdicas mantm com o problema das drogas no dos menores; ele se revela no fato
de que so precisamente o saber e as prticas mdicas que oferecem os principais
argumentos de legitimao da war on drugs, a saber, que o consumo no medicamentoso
de drogas no compatvel com os ideais de sade e de bem-estar que a Medicina nos
impe buscar. O fato a destacar que, se em nome da sade dos corpos que o consu-
mo no medicamentoso de drogas combatido, tambm pelo mesmo motivo, em
nome dos mesmos corpos, que o consumo medicamentoso de drogas incitado.
Haveria, portanto, aos olhos da Medicina, e no apenas dela, um consumo de
drogas autorizado c um no autorizado, um consumo moralmente qualificado e um
desqualificado, os dois intermediados por modalidades paramedicamentosas do con-
sumo dc drogas que so, no mnimo, toleradas. a mesma Medicina quem vai de-
sempenhar papel decisivo nessa partida, na medida cm que precisamente o discurso
mdico que vai balizar a determinao do estatuto social das drogas nas sociedades
modernas.
Sendo assim, para pensar esse processo de medicalizao da experincia do
uso de drogas preciso ter em vista ao menos duas coisas: que, a rigor, a experincia
do uso de substncias convencionalmente denominadas ' drogas' (medicalizao que
j se impe na violncia dessa conveno) , enquanto se trate de seu consumo, uma
criao da sociedade ocidental e moderna c, enquanto tal, est intimamente relaciona-
da com as formas como as ligaes de poder vigoram em sociedades como a nossa; e
que as relaes que a Medicina mantm com o uso de drogas so bastante ambguas,
pois abarcam desde os usos medicamentosos destas substncias - usos prescritos e
regulados que, estando de acordo com ordem mdica, so tidos por ela como positi-
vos, ou, ao menos, necessrios - at os usos excessivos, paramedicamentosos ou no,
que, no sendo prescritos nem regulados, so desqualificados pelo saber mdico sob a
forma de drug abuse.
Vejamos, ento, qual o papel da Medicina nisso tudo. Como toda disciplina
que se pretende 'cientfica', ela no deixa de ' evocar' suas origens e l procurar o
fundamento de suas prticas atuais. De acordo com o discurso mdico, essas origens
remontariam 'noite dos tempos' , seja aos imperativos de um 'instinto de cuidar' e
um 'desejo de curar' considerados inatos, seja inabalvel e universal luta contra a
morte; de qualquer forma, princpios norteadores sobre os quais no caberia qualquer
dvida nem qualquer inquietao. Mas evocar as origens sempre constituir um mito,
um mito de origem e, enquanto tal, sua importncia no est no que ele poderia, ou
no, informar-nos a respeito da histria da Medicina - embora esta insista em faz-lo
passar por sua 'histria' - , mas sim no que a evocao desse mito por parte desta
disciplina acadmica nos informa a respeito das condies de funcionamento ' atual'
do saber e das prticas mdicas. Clavreul j denunciara o carter mtico e arbitrrio
dessa proposio quando afirmara que
... somente em funo de uma iluso retrospectiva que vemos, que isolamos
certas prticas, atribuindo-lhes uma funo teraputica. Nada nos permite iso-
lar um 'instinto de curar' que seria natural. Ao contrrio, pode-se observar que
numerosos homens e animais se deixam morrer e, mesmo, suicidam-se ativamen-
te, s vezes coletivamente. (...) inteiramente artificial isolar (...) certas prticas
considerando-as como signos anunciadores de uma prtica mdica em vias de se
instaurar, e localizar outras prticas como fruto de supersties votadas a desa-
parecer na medida dos progressos da humanidade. (Clavreul, 1983:65-66)
Segundo Montero (1985), no foi outra coisa o que a Medicina moderna fez
quando veio a implantar-se, durante o sculo XIX, no Brasil, ocasio na qual, em
nome do cientificismo, desqualificou como supersticiosas ou amadorsticas as prticas
curativas que provinham de tradies distintas s da Medicina ocidental, prticas essas
que condenou sob o estigma do charlatanismo. Do ponto de vista mdico, essa
desqualificao de outras prticas teraputicas no gratuita nem infundada, mas tec-
nicamente verificvel, baseada em inquestionvel dado de realidade que poderia ser
assim sintetizado: existem as doenas e a Medicina cura, seno todas, ao menos boa
parte delas; incontestavelmente, cura como nenhuma outra tcnica teraputica. No
entanto, questionando a "perigosa iluso de uma correlao ' natural' entre a intensida-
de do ato mdico e a freqncia das curas", Illich (s/d:26) chamara a ateno para o
fato de que a Medicina impotente para realizar os fins que ela prpria a si se afere,
tais como aumentar a esperana de vida ou reduzir a morbidade.
4
Mais ainda, mostra-
ra o autor que ela no apenas impotente, embora tenha a potncia de produzir uma
srie de efeitos iatrognicos, tais como a medicalizao da sade por intermdio dos
expedientes preventivos, a medicalizao das categorias sociais, a invaso farmacu-
tica et c, os quais comprometeriam, desde a raiz, os idealizados propsitos da inter-
veno do saber e das prticas mdicas.
Tendo-se em mente que, se o mito mdico da teraputica e da luta contra a
morte nada nos diz a respeito da histria da Medicina, se sua importncia est em
informar-nos sobre as condies atuais de funcionamento dos saberes e das prticas
mdicas e se, mesmo nesse nvel, ele no denota a capacidade desta mesma Medicina
para realizar os fins que ela explicitamente a si se afere, visto que a Medicina impo-
tente para concretiz-los, poder-se-ia perguntar: a que, ento, ele se presta? Ento, o
que se pretende afirmar ao evocar esse mito mdico da teraputica? Diramos que, no
sendo nem a 'histria' da Medicina nem sua capacidade para aumentar a esperana de
vida ou para reduzir a morbidade, visto que infundada, trata-se de afirmar algo que se
vale dessas duas coisas ao mesmo tempo, qual seja, um 'critrio extensivo para avaliar
a vida' . Esclarecendo: o que parece ser afirmado a partir da evocao desse mito um
dos princpios fundamentais do funcionamento atual das prticas e dos saberes mdi-
cos, e no apenas deles, a saber: o princpio da sobrevivncia, da salvaguarda, da
preservao da vida, o de que no h outra razo para esta a no ser prolongar-se o
mximo possvel em extenso, princpio este que v toda a sua historicidade esvanecer-
se nesse mesmo mito que o enuncia, naturalizando-o.
No entanto, como bem lembrou Weber (1982) quando discorria, em passagem
clssica, sobre a impossibilidade da existncia de uma cincia "livre de todas as pres-
suposies",
... a 'pressuposio' geral da Medicina apresentada trivialmente na afirma-
o de que a Cincia Mdica tem a tarefa de manter a vida como tal e diminuir
o sofrimento na medida mxima de suas possibilidades. No obstante, isso
problemtico. Com seus meios, o mdico preserva a vida dos que esto mortal-
mente enfermos, mesmo que o paciente implore a sua libertao da vida, mes-
mo que seus parentes, para quem a vida do paciente indigna e para quem o
custo de manter essa vida indigna se toma insuportvel, lhe assegurem a reden-
o do sofrimento. (...) No obstante, as pressuposies da Medicina, e do cdigo
penal, impedem ao mdico suspender seus esforos teraputicos. Se a vida vale a
pena ser vivida e quando - esta questo no indagada pela Medicina. A Cincia
Natural (...) deixa totalmente de lado, ou faz as suposies que se enquadram nas
suas finalidades, se devemos e queremos realmente dominar a vida tecnicamente
e se, em ltima instncia, h sentido nisso. (Weber, 1982:170-171)
se a Medicina deixa isso de lado porque ela 'toma como dado' o princpio de
que a vida deve ser vivida em extenso. No entanto, a historicidade e a particularidade
desse princpio reaparece logo que se considere que estamos diante de fatos relativos
cosmologia da cultura ocidental e moderna e que, por assim dizer, tm o seu ' tamanho' .
o que ela nos apresenta que, em torno desse mesmo princpio, parecem ter se consti-
tudo os fundamentos de pesadas intervenes polticas no espao mesmo da existncia
das pessoas, as quais se deram sob a forma aparentemente incua, saudvel mesmo, de
um processo geral de medicalizao dos corpos e da vida.
Analista desse processo, Foucault (1982b) argumenta que
... o capitalismo, desenvolvendo-se em fins do sculo XVIII e incio do sculo
XIX, socializou um primeiro objeto que foi o corpo enquanto fora de produ
ao, fora de trabalho. O controle da sociedade sobre os indivduos no se
opera simplesmente pela conscincia ou pela ideologia, mas comea no corpo,
com o corpo. Foi no biolgico, no somtico, no corporal que, antes de tudo,
investiu a sociedade capitalista. O corpo uma realidade bio-poltica. A Medi-
cina uma estratgia bio-poltica. (Foucault, 1982b:80)
Em outro trabalho, Foucault (1982a: 128-132) retoma esse argumento: perce-
bendo que seu desenvolvimento s podia ser garantido " custa da insero controlada
dos corpos no aparelho de produo e por meio de um ajustamento dos fenmenos de
populao aos processos econmicos", o capitalismo, mais interessado em produzir
foras, faz-las crescer e orden-las do que em barr-las, dobr-las ou destru-las, ope-
rou uma transformao muito profunda no nvel dos mecanismos de poder. Nesse con-
texto, j no se trata mais de fazer valer o exerccio de um poder soberano simbolizado
pela lei do gldio, pela velha potncia de morte, mas de um poder "que se exerce, po-
sitivamente, sobre a vida, que empreende sua gesto, sua majorao, sua multiplica-
o, o exerccio, sobre ela, de controles precisos e regulaes de conjunto". Em suma, de
um poder que se dedique "administrao dos corpos e gesto calculista da vida".
Mas o capitalismo no exigiu apenas os mtodos de poder capazes de majorar
a fora de trabalho, as aptides, a vida em geral e atender, assim, aos reclamos dos
aparelhos de produo. Mais do que isso, Foucault (1986:125-152) assinala ainda ter
ele exigido tambm que, ao serem majoradas, nem por isso essas foras se tornassem
mais difceis de sujeitar: da o desenvolvimento paralelo de toda uma srie de tcnicas
de poder que, agindo no nvel dos processos econmicos, incumbem-se de tornar tais
foras to teis quanto dceis.
importante insistir sobre isso ou, mais precisamente, sobre os dois plos ou
as duas formas concretas em que esse poder sobre a vida se desenvolve. Mais uma vez,
ainda Foucault (1982a: 131-135) quem chama a ateno para essas duas formas,
esses dois plos concretos desse poder: trata-se, de um lado, de toda uma antomo-
poltica do corpo humano voltada para o seu adestramento, para a ampliao de suas
aptides, para a extorso de suas foras, para fazer com que cresam paralelamente
sua utilidade e sua docilidade, para integr-lo em sistemas de controle eficazes e eco-
nmicos - corpo tornado mquina, devidamente individualizado, disciplinado,
docilizado; trata-se, de outro lado, de toda uma biopoltica da populao que faz, do
corpo, um suporte dos processos biolgicos, que o transpassa com a mecnica do ser
vivo, que o submete a intervenes e controles regulares - corpo tornado organismo,
corpo-espcie, devidamente normalizado, modelizado, organizado.
Sob essas duas formas concretas de poder, a recorrncia de mesmo procedi-
mento: a entrada dos fenmenos prprios aos corpos e vida na ordem do saber e do
poder, no campo das tcnicas polticas. , pois, para designar "o que faz com que a
vida e seus mecanismos entrem no domnio dos clculos explcitos, e faz do saber/
poder um agente de transformao da vida humana", que se pode falar, segundo Foucault
(1982a), de "bio-poltica".
Esse processo de medicalizao geral dos corpos e da vida no , porm, unvoco.
Muito pelo contrrio, s se revela o sutil e minucioso poder de alcance de sua dimen
so estratgica caso se leve em conta que conectando os dois plos, fazendo convergir
os dois eixos, enquanto tecnologia poltica de dupla face, que os saberes e as prticas
mdicas constituem, inserem-se e fazem funcionar tais dispositivos de saber/poder. Da
regulao das populaes ou das medidas macias que visam todo o corpo social (higiene
c Sade Pblica, controle sanitrio das condies de salubridade do meio, controle das
taxas de natalidade e mortalidade da populao, entre outras), s constantes e infinitesimals
vigilncias que visam os corpos assim individuados pela extenso dos procedimentos
disciplinares s cabeceiras dos leitos dos enfermos e, sob o expediente da preveno, aos
sos, os saberes e as prticas mdicas se entregam, devotadamente solcitos, ao seu mais
'natural' objetivo: feita cavaleira da cincia e do dever, empunhando alto seu mais glorioso
estandarte humanista - o da luta contra a morte - , heroicamente ela se aferra inabalvel c
inadivel misso de cuidar da vida sob todos os pretextos, de proteg-la e prolong-la a
qualquer preo. Mas precisamente aqui que o carter 'natural' ou 'desinteressado' dos
cuidados mdicos revela-se em sua artificialidade; pois no mesmo momento em que os
saberes e as prticas mdicas tomam a vida sob seus cuidados, sob sua proteo, em nome
do critrio extensivo de preservao da vida, que eles a avaliam, a modelam, a
disciplinarizam, preestabelecem seus passos, suas etapas, suas finalidades, seus valores,
seus sentidos e negam, como aponta Clavreul (1983:47), "qualquer outra razo de viver
que no seja a razo mdica que faz viver, eventualmente fora".
Alm disso, h que se levar em conta, ainda, que uma das conseqncias mais
significativas do desenvolvimento dessas estratgias bio-polticas de gerenciamento
da vida, como aponta Foucault (1982a), refere-se
... importncia assumida pela atuao da norma, s expensas do sistema jur-
dico da lei. A lei no pode deixar de ser armada e sua arma por excelncia a
morte (...). Mas um poder que tem a tarefa de se encarregar da vida ter neces-
sidade de mecanismos contnuos, reguladores e corretivos. (...) Um poder des-
sa natureza tem de qualificar, medir, avaliar, hierarquizar, (operar) distribui-
es em torno de uma norma, (...), distribuir os vivos em um domnio de valor e
utilidade. Uma sociedade normalizadora o efeito histrico de uma tecnologia
de poder centrada na vida. (Foucault, 1982a: 135)
Semelhante processo de normalizao se desenvolve e se legitima enquanto
tal, por sua vez, naturalizando o critrio extensivo de avaliao da vida, isto , toman
do-o como valor anistrico, supremo e universal, como valor propriamente ' vital' .
Tendo isso em vista, tudo se passa ento como se viver o maior tempo possvel fosse
necessidade permanente e essencial, a nica digna desse nome, o que acaba por redu-
zir a vida dos corpos a um normatizado funcionamento orgnico. No entanto, preci-
so saber, como apontara Canguilhem (1982:36), que a norma , antes de mais nada,
um juzo de valor ideal, mas segundo Clavreul (1983:73-74) assinala, um juzo de
valor que se ancora em certa "imagem do Homem", na imagem do "Homem ideal"
que o humanismo produz e ao qual se confere o estatuto de "Homem normal". Mas
que Homem normal/ideal esse?
Outro analista desse processo de medicalizao geral dos corpos e da vida,
Illich (s/d: 123ss) dizia que, avaliando a vida segundo critrios extensivos, o ideal m-
dico do ' bem-estar' tambm demanda, ao lado da luta contra a morte e pela cura das
doenas, uma luta pela eliminao da dor e do sofrimento. essa luta tem por instru-
mento o confisco tcnico da dor pelos saberes mdicos, a qual, a partir de ento,
reificada enquanto ndice de reao de um organismo ameaado em sua sade, em seu
funcionamento normal. Para que tudo v bem, preciso, portanto, que a dor se cale,
pois sua manifestao, se no personifica o mal, ao menos anuncia sua presena. O
fato, porm, que no apenas a dor que se deve calar, mas tambm, e sobretudo, o
prprio corpo: no em vo, Leriche dizia e Canguilhem (1982:67) endossava que "a
sade a vida no silncio dos rgos" e que "a doena (...) aquilo que os faz sofrer".
As sensaes do corpo passam a ser, por conseguinte, um problema tcnico.
O problema, adverte Illich (s/d:50-52 e 123ss), que esse processo de
medicalizao da dor, ao responder dessa maneira acelerada demanda de gesto
tcnica das sensaes do corpo, constituiu, como uma de suas tticas mais significati-
vas, a crescente prescrio do uso medicamentoso de drogas, em especial a dos anal-
gsicos, dos tranqilizantes, dos antidepressivos e dos ansiolticos. Illich (s/d:50-52 e
123ss), assim como Dupuy & Karsenty (1979), denomina 'invaso farmacutica' a
essa incitao ao consumo medicamentoso ou paramedicamentoso de drogas legais
que assola os habitantes das cidades.
5
No entanto, paralelamente a essa incitao, acom-
panhando de pert o essa i nvaso, reduzem-se drast i cament e os l i mi ares de
suportabilidade do sofrimento, tendendo-se supresso da prpria experincia da dor.
Pode-se dizer, ento, que um dos mltiplos efeitos de certos consumos de en-
torpecentes seria a constituio de um fenmeno generalizado de 'analgesia coletiva' .
Com ela, a sade reduzida inconscincia do prprio corpo, suprime-se a prpria
experincia deste ou, ao menos, ilude-se com sua eliso. A frieza, a calculabilidade e
a indiferena prprias atitude blas, to bem descritas por Simmel (1987), talvez
ofeream bom contraponto espiritual para essa experincia moderna do anestesiamento
ou da produo de insensibilismos.
6
Nesse sentido, possvel dizer que, enquanto parte de uma estratgia concreta de
sujeio das experincias dos corpos que esse processo de medicalizao vai articular
o dispositivo da droga anteriormente referido. ele vai articul-lo, medicalizando du-
plamente o consumo de drogas, seja medida que, ao impor impressionante invaso
farmacutica, tanto se apropria de substncias j conhecidas quanto tambm cria no-
vas, desde ento denominadas de drogas, incentivando e prescrevendo seu consumo
na condio de que este, tido como instrumento de cura, se d conforme a ordem
mdica. Vale dizer, desde que seu uso ocorra segundo os termos da sobrecodificao
normativa que os saberes mdicos lhe impem, seja ainda que os saberes e as prticas
mdicas - estendendo-se aos usos no medicamentosos de drogas mediante a genera-
lizao de imagens apocalpticas e a constituio de todo um apangio terrorfico de
corpos deformados e despedaados - tornam-se pea fundamental na converso de to-
dos esses usos em usos doentios, em modalidades anormais ou patolgicas de consumo
de drogas, as quais, se no forem prevenidas pelas campanhas educacionais, devero ser
devidamente sanadas pelos cuidados mdicos oferecidos pelas casas de recuperao de
viciados. Nos termos de Illich (s/d:56), "cada vez mais o mdico se v em face de duas
categorias de toxicmanos: primeira ele prescreve drogas que criam hbito; segunda
dispensa cuidados para tratar de pessoas que se intoxicaram por conta prpria".
Todavia, se fundamental no subestimar o papel da Medicina nisso tudo, no
tomando a luta contra a morte, a dor e o sofrimento como algo natural ou inquestionvel,
tambm fundamental no superestimar esse papel, seja porque sociedades como a
brasileira esto longe de ser assim to ' disciplinadas' , como poderia levar a crer uma
aplicao mais apressada do modelo que Foucault desenvolveu pensando no contexto
europeu, seja porque, em sociedades como a nossa, o processo de medicalizao dos
corpos e da vida v suas ambies monopolistas serem postas em causa continuamen-
te em virtude quer de suas prprias precariedades quer da concorrncia de inmeras
outras prticas teraputicas que o processo de medicalizao no conseguiu extinguir.
No fosse assim, seria o caso de saber como prticas como a benzeo, a umbanda, as
'medicinas alternativas' ou as curas 'pela f' , entre inmeras outras, fazem tanto su-
cesso entre ns e so capazes de conviver com nosso gosto apurado pelos produtos
farmacuticos.
Da que, se possvel sustentar a existncia de um 'dispositivo da droga' em
sociedades como a nossa, de um dispositivo capaz de criar o prprio fenmeno relaci-
onado a isto, enquanto fato extraordinrio que goza o paradoxal estatuto social de ser
to reprimido quanto incitado, cremos tambm ser possvel defender que certos con-
sumos paramedicamentosos ou no, de ' drogas' , ao se efetivarem s expensas das
relaes de poder exercidas em nome dos cdigos vigentes de Sade Pblica, configu-
ram-se como modalidades dissidentes ou excessivas com relao aos cuidados que os
saberes e as prticas mdicas recomendam que se deva tomar com a vida, constituin-
do-se, nessa mesma medida, em 'efeitos perversos do prprio dispositivo da droga' .
7
E, a nosso ver, nessa direo que Illich (s/d:56) aponta quando afirma que
... medida que a analgesia domina, o comportamento e o consumo fazem
declinar toda capacidade de enfrentar a dor, ndice da capacidade de viver.
(Nessas condies) so necessrios estimulantes cada vez mais poderosos s
pessoas que vivem em uma sociedade anestesiada para terem a impresso de
que esto vivas. Os barulhos, os choques, as corridas, as drogas, a violncia e
o horror constituem, algumas vezes, os nicos estimulantes capazes ainda de
suscitar experincia de si mesmo. Em seu paroxismo, uma sociedade analgsi-
ca aumenta a demanda de estimulaes dolorosas. (Illich, s/d: 140)
a dor, os ndios j o sabiam, como Clastres (1979) muito bem mostrara,
instrumento mnemnico eficaz que, antes de qualquer outra coisa, no nos faz esque-
cer, ao menos at a inconscincia ou a primeira aspirina, da existncia do corpo. Nessa
medida que o problema das drogas aponta para a discusso do que Mauss (1974:211)
chamou de 'tcnicas corporais' , isto , "as maneiras como os homens, sociedade por
sociedade e de uma maneira tradicional, sabem servir-se de seus corpos".
por conta disso que cabe esclarecer que, se o problema do consumo de entor-
pecentes objeto de interesse desta investigao, ele o tendo em vista que oferece
terreno privilegiado para o exame de um problema, a nosso ver, mais fundamental,
qual seja, o da produo social, tanto material quanto simblica, dos corpos humanos,
bem como das concepes e experincias de vida e de morte nela implicadas.
Nesse sentido, importa considerar, de um lado, que a questo do estatuto social
do consumo de drogas em sociedades como a nossa s se torna inteligvel caso se
considere sua relao com as representaes e as prticas corporais, ou mais especifi-
camente, caso se leve em conta que os corpos no s so os resultados de engenhos
sociais singulares, como tambm, ou por isso mesmo, podem ser produzidos de dife-
rentes maneiras, nenhuma absolutamente ' normal' ou ' natural' . De outro lado, isso
quer dizer, mais especificamente, que nem sempre os homens se servem de seus cor-
pos de maneira ou segundo critrios extensivos, de salvaguarda ou sobrevivncia, e
que h fortes indcios de que aquilo que a experincia do consumo no medicamentoso
de drogas - mas tambm, e em sentido perigosamente prximo, os esportes radicais
que muitos de ns tanto apreciamos, das corridas de Frmula-1 ao 'surfe-ferrovirio'
- coloca em jogo so outros modos de produo dos corpos, modos propriamente
intensivos, onde o vigor do instante de vida se impe sobre a durao da vida em
extenso.
Em vista disso, torna-se necessrio que as discusses em torno do problema do
consumo no medicamentoso de drogas no se restrinjam aos termos negativos da
condenao mdica ou da represso policial. Em vez de colocar as coisas nesses ter-
mos caberia, a nosso ver, analisar este problema do consumo de drogas - lcitas ou
ilcitas - sob uma tica epistemologicamente positiva, onde no se trataria nem de
recriminar este consumo nem de fazer sua apologia, mas de operar um deslocamento
de perspectivas por meio do qual fosse possvel tanto avaliar a ' doena' ou a droga sob
o ponto de vista da ' sade' quanto avaliar a ' sade' sob o ponto de vista da ' doena'
ou da droga. Da ser necessrio buscar essa mobilidade essencial que permite fazer a
crtica da 'doena' ou da droga atravs da ' sade' e a crtica da ' sade' atravs da 'doen-
a' e da droga, em nome, diramos - ao modo que Deleuze (1985:11-12) fez Nietzsche
dizer - nem da 'doena' e das drogas paramedicamentosas ou no, nem da ' sade' e das
drogas medicamentosas, mas de uma 'grande sade' , sem todas essas ' drogas' .
Antes, portanto, de reduzir o problema do consumo medicamentoso ou no de
drogas a uma resposta a carncia ou a algo que lhe seria estranho, caberia investig-lo
a partir do que ele seria em si mesmo, partindo-se, como j dito, de uma tica
epistemologicamente positiva. Acreditamos ser possvel avanar nessa direo inves-
tigando as prticas medicamentosas de consumo de entorpecentes em termos de suas
relaes com certas experincias e concepes historicamente datadas do corpo hu-
mano que se caracterizam, entre outras coisas, por se articularem em torno do princ-
pio de que a vida deve durar o mximo possvel em extenso. Por outro lado, ao
associar a experincia do consumo no medicamentoso de drogas nas sociedades mo-
dernas produo de estados extticos, Perlongher (1988) indica uma valiosa pista
para a considerao epistemologicamente positiva da questo relacionada ao consumo
no medicamentoso de drogas.
Essa associao entre experincias de consumo no medicamentoso de subs-
tncias qumicas que produzem alteraes corporais ou comportamentais e experin-
cias de produo do xtase no novidade nos relatos de diversos etnlogos.
8
No
entanto, testada no mbito das condies ' primitivas' e no ocidentais do consumo
no medicamentoso de drogas, onde se mostrou bastante produtiva, tem-se resistido a
desenvolver essa aproximao com a produo do xtase no mbito das condies
modernas e ocidentais de consumo. Essa resistncia est relacionada, ao que tudo
indica, com determinada apropriao da marcante diferena que h entre os cdigos
que regem o consumo ' primitivo' e no ocidental de drogas e aqueles - ou sua perda,
descodificao - do consumo moderno e ocidental. Essa diferena refere-se ao fato de
que, nas condies ' primitivas' e no ocidentais, o consumo de drogas e a produo do
xtase costumam ser experincias centrais, as quais, inseridas em grandes aparatos
rituais e considerveis produes mticas, freqentemente remetem a um refinado c-
digo religioso, a uma elaborada cosmologia sagrada. J nas condies modernas e
ocidentais de consumo, o que parece ter passado foi uma abrupta e radical
dessacralizao ou desritualizao dessas prticas extticas, impulsionada pela
'desterritorializao' generalizada que o capital induz. Como assinalara Perlongher
(1988:6-10), condenada a droga a resplandecer nos ermos becos da marginalidade,
seus caminhos passam a seguir cada vez mais de perto os grandes fluxos internacio-
nais de dinheiro.
Mais atentos s condies ' primitivas' e no ocidentais de consumo, mas no
porque os etnlogos freqentemente encontraram o xtase cercado de ritos e cdigos
religiosos que, estando o consumo moderno e ocidental aparentemente dessacralizado
e desritualizado, no ser possvel pensar tambm esse consumo em termos de produ-
o de xtase. Isto porque, da mesma maneira que o consumo de drogas no impres-
cindvel a esta produo, sendo mesmo muito freqentes os casos em que no se lana
mo do uso de drogas para tal, esta tambm no necessariamente uma experincia de
cunho religioso, uma experincia codificada ritual e miticamente pela religio. Alm
disso, tambm no se pode dizer que, tendo perdido seu carter religioso, a experin-
cia moderna e ocidental do consumo de drogas tenha se desritualizado de todo, haja
vista a persistncia de diversas formas de sociabilidade, como a 'rodinha de fumo' e o
partilhar em conjunto das seringas e dos canudos de inalao; nem se pode dizer tam-
bm que as experincias modernas e ocidentais de consumo tenham se dessacralizado
absolutamente, como o atestam, por exemplo, os fenmenos do Santo Daime e o da
Unio do Vegetal.
Essa recusa a pensar o consumo moderno e ocidental de drogas em termos de
produo do xtase parece encontrar ainda uma outra e mais profunda motivao. Ela
reside no fato de que qualquer tentativa de tratar desta questo de uma maneira
epistemologicamente positiva ter inevitavelmente que lidar com a inquietante conti
gidade que, corriqueiramente, faz convergir experincias como essas e processos
violentos de destruio e autodestruio, ou, em outras palavras, com a intrincada
injuno entre a destruio agonstica e a plenitude do xtase. O que sejam essas expe-
rincias que constantemente roam o ilusrio, o alucinatrio, a estupidez, a misria e a
morte, e que desse roar possam extrair potncia afirmativa, sua embriaguez, seu xta-
se, ou, ao contrrio, que o xtase e a embriaguez possam resultar em estupidez e mor-
te, isto parece ser o que torna radicalmente singular esse tipo de experincia que Bataille
(1967) muito propriamente chamou de la part maudite. Em vista disso, em vez de
ficar apenas com o carter ' doentio' , desarticulador e destrutivo da experincia do
consumo no medicamentoso de drogas, isto , de se colocar exclusivamente do ponto
de vista da ' sade' ; em vez de tambm ficar apenas com o carter inebriante e festivo
da experincia do consumo de drogas, ou seja, de se colocar exclusivamente do ponto
de vista da ' doena' , caberia, a nosso ver, juntar isso que estamos acostumados a
separar para ento, depois, encarar de frente essa inquietante injuno, fazendo irem
juntos a agonia e o xtase.
9
se foi possvel dizer anteriormente que o problema do consumo dc drogas
tem por campo semntico o das prticas e das tcnicas corporais, isso se deu porque se
pensava no fato de que parece ser exatamente no plano da corporalidade que as expe-
rincias do consumo no medicamentoso de drogas podem ser consideradas tcnicas
de produo dc xtase. Se considerarmos, alem disso, o que o uso medicamentoso c
boa parte do uso paramedicamentoso de drogas tm em comum, alm do fato de tam-
bm serem prticas ou meios de produo dos corpos (' dceis' , ' esbeltos' , ' atlticos' ,
' saudveis' ) e estarem orientados segundo critrios extensivos de avaliao da vida,
caberia investigar, ento, a possibilidade de que estes consumos no medicamentosos
ou extticos dc drogas, com sua injuno dc niilismo e pletora, pudessem ser interpre-
tados como modos dc produo dc corpos povoados por ondas de euforia ou dc con-
templao, por ondas de frio ou de calor, por ondas de cores e de sons, ritmos, veloci-
dades ou, para usar uma expresso de Deleuze & Guattari (1980:185-204), de corpos
povoados por ' intensidades' . Nesse caso, teramos, ento, ao lado de prticas que se
definiriam por avaliar a vida em extenso, tambm prticas que se pautariam por con-
siderar a vida, no mais em extenso, mas em intensidade.
Mais uma vez as experincias do consumo de drogas se colocariam, ento,
como questo de vida e de morte. Mas, a partir do que acaba de ser exposto, cremos ter
podido apresentar alguns indcios, que acreditamos serem fortes, no sentido dc evitar
o caminho enganoso, porque fcil e cmodo, de reduzir o problema das drogas aos
termos que desqualificam e negativizam os usos no medicamentosos, por estes aten-
tarem contra os reclamos de uma vida que deve durar em extenso. Indcios que tam-
bm chamam a ateno para o fato de que, talvez, o que a corte lgubre de corpos
drogados, quase liqefeitos, mas gozando de alegria e xtase, estaria fazendo passar
sob seu cu trgico seja ainda uma outra relao entre a vida e a morte: no mais a
gesto da vida por medo da morte, mas a gesto da morte por afeto vida; no mais a
que visa a reproduo ou a salvaguarda da panplia fisiolgica do organismo ou a
manuteno imortalizada do esprito diante da fatalidade da morte, mas a que sc vale
da morte, que se estrutura sobre cia - e no apesar dela - , que a transforma cm neces-
sidade para a produo da vida, da vida em intensidade c no em extenso.
Que seja necessrio roar a morte para afirmar a vida, ou insensibilizar a vida
para tentar escamotear a morte; estes parecem ser os tributos que se paga, os riscos que
se corre pelos insidiosos caminhos das drogas.
1 0
NOTAS NOTAS
1 Veja, por exemplo, ZALUAR (1985), referncia obrigatria pelo rigor e pioneirismo no trato do
tema, e a coletnea que a autora organizou (ZALUAR, 1994). Veja, ainda, MAGALHES (1994).
2 Este texto fez parte de um projeto de tese de doutoramento desenvolvido no Programa de
Doutorado em Cincias Humanas: Sociologia e Poltica, da Faculdade de Artes, Filosofia e
Cincias Humanas (Fafich/UFMG), sob a orientao do Dr. Pierre-Sanchis. Baseado em
anlise de fontes secundrias, o que se ler a seguir configura um conjunto de hipteses, as
quais, acreditamos, podem esclarecer alguns pontos que insistem em permanecer na obscu
ridade quando se trata do problema do consumo de drogas, medicamentosas ou no, em
sociedades como a brasileira. Portanto, essas hipteses ainda carecem da devida fundamen-
tao emprica. Esperamos satisfazer essa necessidade mediante o desenvolvimento de um
projeto de pesquisa que dever consistir em levantamento, via survey e pesquisa de campo,
dos hbitos teraputicos, de cuidados corporais e de consumo de drogas entre os habitantes
de Juiz de Fora, Minas Gerais.
3 Com exceo apenas dos muulmanos, a quem talvez se aplique, em sentido um tanto ou
quanto diferente do imaginado pelo autor, a clebre frmula de Marx segundo a qual "a
religio o pio do povo".
4 ILLICH (s/d: 13ss) argumenta que, levando-se em conta as taxas de mortalidade na Frana dos
dois ltimos sculos e considerando o crescente incremento do aparato mdico, no houve,
como seria de esperar, declnio da primeira taxa correspondente ao crescimento do segundo,
havendo mesmo aumento da primeira, o que mostra que a relao entre as duas no natural
ou necessria. Quanto ao problema da morbidade, ILLICH argumenta que, se a Medicina
descobriu a cura para certas doenas, tambm descobriu (ou criou) outras doenas; antes,
portanto, de falar em reduo da morbidade, seria mais conveniente, no caso, falar de alte-
rao do quadro nosolgico.
5 Matria intitulada "As Drogas Legais", publicada no Caderno Jornal da Famlia, suplemento
de O Globo do dia 17/04/94, traz alguns dados interessantes: considerando que a Organiza-
o Mundial da Sade estabelece que a proporo ideal de farmcias de uma para cada dez
mil habitantes, o Brasil, que conta com 44 mil farmcias, tem 30 mil farmcias em excesso,
ou uma para cada 3.214 habitantes; a reportagem afirma ainda que, no Brasil, estima-se
entre 18% e 20% a populao consumidora de tranqilizantes ou antidepressivos, e que esse
nmero chegaria a 100 milhes no mundo inteiro. Levantamento feito por NAPPO & CARLINI
(1994:71-72) indica impressionante crescimento nas autorizaes especiais concedidas pelo
Ministrio da Sade para quer farmcias de manipulao e indstrias farmacuticas lidem
com substncias psicotrpicas. Elas eram pouco mais de 100 em 1987 e chegaram a cerca de
800 em 1993. Os autores assinalam ainda "que o consumo dos anorxicos no Brasil saltou
de 7,7 toneladas em 1988 para 23,6 toneladas em 1992, um aumento de mais de 200%".
Retomando um tema nietzschiano, CLASTRES (1979) mostrou muito bem que as relaes que
6 os ditos 'primitivos' entretm com a dor e com o sofrimento esto longe de serem as mes-
mas que as nossas. Ele mostra no s que pela tortura e pela dor que a sociedade produz
memria de si mesma, como tambm que o lugar de inscrio e o veculo dessa memria
a prpria superfcie do corpo e nada mais.
Usa-se aqui a expresso 'efeitos perversos' para apontar processos de alterao ou desvir
7 tuamento de cdigos sociais vigentes, processos esses que podem, inclusive, embora no
exclusivamente, serem levados a cabo por sujeitos agindo racional e deliberadamente. Nes-
se sentido, o emprego que aqui se faz dessa expresso difere daqueles propostos por MERTON
(1979) e BOUDON (1979), que a concebem em termos das 'externalidades' ou dos resultados
no esperados da conjuno das aes racionais dos sujeitos individuais.
BASTIDE (1977); HARNER (1976); HENMAN (1981); FURST (1976); LEWIS (1977) e WASSON
8 (1983,1985) so alguns dos que caminham nessa direo.
por conta disso que preciso evitar o contra-senso de pensar que, j que os vnculos entre
9 Medicina e drogas implicam inmeras relaes de sujeio, o caminho das drogas (daquelas
cujo consumo de carter no medicamentoso) o caminho do 'paraso'. Os buracos no
so menos negros aqui do que l. Alm de tudo, h mais de um sculo BAUDELAIRE (1971)
j chamara a ateno para o que e o quanto h de artificial nesses ditos 'parasos'.
O episdio da morte do piloto Ayrton Senna, o que ele representava e o que aconteceu
10 depois , em mais de um sentido, ilustrativo quanto a vrias das questes aqui levantadas,
alm de mostrar, passageiramente, que o problema da produo de intensidades (no caso, de
trabalhar com a velocidade no limite ou mesmo alm) extrapola, ainda que no abarque
integralmente, o vasto campo da problemtica da droga.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ADIALA, J. C. A criminalizao dos entorpecentes. In: SEMINRIO CRIME CASTIG O,
1986. Rio de Janeiro: Casa de Rui Barbosa.
BASTIDE, R. D sacro selvaggio. In: Il Sacro Selvaggio eAltri Scritti. Milano: Jaca Book, 1977.
BATAILLE, G . La PartMaudite - Prcd de la Notion de Dpense. Paris: Minuit, 1967.
BAUDELAIRE, C. OS Parasos Artificiais. Lisboa: Estampa, 1971.
BOUDON, R. Efeitos Perversos e Ordem Social. Rio de Janeiro: Zahar, 1979.
CAIAFA, J. Movimento Punk na Cidade - a invaso dos bandos sub. Rio de Janeiro:
Zahar, 1985.
CANGUILHEM, G. O Normal e o Patolgico. Rio de Janeiro: Forense-Universitria, 1982.
CLASTRES, P. Da tortura nas sociedades primitivas. In: A Sociedade contra o Estado.
Porto: Afrontamento, 1979.
CLAVREUL, J. A Ordem Mdica - poder e impotncia do discurso mdico. So Paulo:
Brasiliense, 1983.
DELEUZE, G. Nietzsche. Lisboa: Edies 70, 1985.
DELEUZE, G. & GUATTARI, F. Mille Plateaux. Paris: Minuit, 1980.
DUPUY , J.-P. & KARSENTY , S. A Invaso Farmacutica. Rio de Janeiro: Graal, 1979.
FOUCAULT, M. Histria da Sexualidade I - A Vontade de Saber. Rio de Janeiro: Graal,
1982a.
FOUCAULT, . Onascimento da Medicina Social. In: .Microfsica do Poder. Rio de
Janeiro: Graal, 1982b.
FOUCAULT, M. Vigiar e Punir. Petrpolis: Vozes, 1986.
FURST, P. Alucingenos e Cultura. Lisboa: Ulisseia, 1976.
GUATTARI, F. Revoluo Molecular - pulsaes polticas do desejo. So Paulo:
Brasiliense, 1985.
HARNER, M. Alucingenos y Chamanismo. Madrid: Guadarrama, 1976.
HENMAN, A. Mama Coca. Bogot: La Oveja Negra, 1981.
HENMAN, A. A guerra s drogas uma guerra etnocida. In: HENMAN, A. & PESSOA, O.
(Orgs.), Diamba Sarabamba. So Paulo: Ground, 1986.
ILLICH, I. A Expropriao da Sade - nemesis da Medicina. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, s/d.
LEWIS, I. xtase Religioso. So Paulo: Perspectiva, 1977.
MAGALHES, R. Crtica da Razo bria - reflexes sobre drogas e ao imoral. So
Paulo: Annablume, 1994.
MAUSS, M. AS tcnicas corporais. In: Sociologia e Antropologia II. So Paulo: EPU &
Edusp, 1974.
MERTON, R. A Ambivalncia Sociolgica. Rio de Janeiro: Zahar, 1979.
MONTERO, P. Da Doena Desordem: a magia na umbanda. Rio de Janeiro: Graal,
1985.
, S. & CARLINI, E. Anorticos: situao atual no Brasil. Arquivos Brasileiros de
Endocrinologia e Metabologia, 38(2), 1994.
PERLONGHER, . A Produo do xtase no Circuito da Droga. Texto apresentado na
XVI Reunio da ABA, 1988. (Mimeo.)
SIMMEL, G. A metrpole e a vida mental. In: VELHO, O. (Org.). O Fenmeno Urbano.
Rio de Janeiro: Guanabara, 1987.
WASSON, G. El Hongo Maravilloso Teonancatl. Mxico, D.F.: Fondo de Cultura
Econmica, 1983.
WASSON, G. Los hongos alucingenos de Mxico: indagacin sobre los orgenes de la
idea religiosa entre los pueblos primitivos. In: , J. & BIG WOOD, J. (Orgs.)
Teonancatl - hongos alucingenos de Europa y Amrica dei Norte. Madrid: Swan,
1985.
WEBER, . A cincia como vocao. In: GERTH, . H. & WRIG H T MI LLS, C. (Orgs.)
Max Weber - Ensaios de Sociologia. Rio de Janeiro: G uanabara, 1982.
ZALUAR, A. A Mquina e a Revolta. So Paulo: Brasiliense, 1985.
ZALUAR, A. (Org.) Drogas e Cidadania. So Paulo: Brasiliense, 1994.
8
Idia de 'Sofrimento' e Representao
Cultural da Doena na Construo da Pessoa
Nubia Rodrigues & Carlos Alberto Caroso
Vou, aqui, lutando com a velha vida. (D. Ful, 55 anos, zeladora-de-santo)
IDENTIDADE SOCIAL PESSOA:
DESDE A EXPERINCIA DA DOENA
REPRESENTAO DO SOFRIMENTO
A Antropologia tem se caracterizado por ser a cincia que busca compreender a
alteridade (Boddy, 1994), apresentando-se a possibilidade de discorrer acerca da alteridade
cultural, da alteridade religiosa, da alteridade tnica e de vrias outras alteridades
situacionais (Duarte, 1986; Cunha, 1987; Brando,1986; Ortiz, 1991; Dantas, 1988).
Qual seria a relao entre alteridade e identidade para a Antropologia e para os
antroplogos? O significado da alteridade est em seu carter relacionai com o ' outro'
enquanto elemento de aproximao e distanciamento. No basta to somente dizer
que a identidade est para a semelhana, ao passo que a alteridade est para a singula-
ridade, a diferena. preciso, pois, entender as relaes entre o que diferente e o que
semelhante e como se d a articulao entre estes dois nveis em diferentes discursos.
Pode-se dizer que o discurso da identidade est localizado no plano das repre-
sentaes, das aproximaes, das comparaes e das vontades. Construir uma identi-
dade ao mesmo tempo construir idia de alteridade, sem a qual a primeira no seria
possvel. Assim, lidar com o tema da identidade lidar com diferenciadas tomadas de
posies com relao ao ' outro' , por exemplo: ' a' se identifica com 'b', em alguns
aspectos, diferentes daqueles que o aproximam de ' c' , que no se identifica com ' b'
em nenhum sentido. Desse modo, mesmo por meio de um nmero sem fim de combi-
naes, no se esgotariam os argumentos que os atores, uns em relao aos outros,
apresentam para se aproximarem ou se distanciarem.
Pensar em identidades pensar em histrias de vida, trajetrias pessoais e em
vises de mundo. Isto remete necessariamente noo de pessoa, no sentido que lhe
confere Mauss (1974:226): "a ' pessoa' algo alm de um fato de organizao, mais
do que o nome ou o direito reconhecido a um personagem e mais do que uma mscara
ritual". Em outras palavras, a noo de pessoa corresponderia a um plano de realiza-
o da identidade, na medida em que os atores utilizam vrias formas de discurso para
constru-la quando falam de si ou mesmo ao serem observados em diferentes situaes.
Nos terreiros afro-brasileiros, por exemplo, a noo de pessoa se refere pes-
soa em si mesma, diferenciada da pessoa do cavalo-de-santo que recebe, que incorpo-
ra as entidades - orixs, caboclos, exus, ers. Desse modo, a pessoa perde a identidade
que lhe particular - enquanto pessoa-indivduo - e ganha, em seu lugar, uma identi-
dade institucional, representada pela entidade, compartilhada por todos os ' cavalos'
que simultaneamente a manifestam no espao ritual. preciso, portanto, cogitar uma
noo dinmica de pessoa, no sentido de observar sua capacidade de manipulao de
diferentes identidades. As identidades no se referem exclusivamente aos indivduos,
mas aos grupos, uma vez que s se realizam e s tm significados quando inseridas em
contexto socialmente estabelecido.
Os dados etnogrficos de que dispomos indicam um tipo especfico de discurso
de identidade, o qual se encontra respaldado nas idias de doena, sofrimento e cura,
presentes nas falas de pessoas ligadas ao pentecostalismo e a casas de culto afro-brasi
leiro. Em suas narrativas, os interlocutores utilizam de modo predominante estas ca-
tegorias para descrever sua existncia como marcada pelo sofrimento, seja provocado
pela doena seja por outros fatores, tais como relaes pessoais, relaes amorosas,
situao econmica ou afiliao religiosa.
Estas trs categorias esto particularmente imbricadas e, em geral, o sentido de
uma depende do sentido que dado outra nos discursos. A noo de sofrimento faz
aluso diretamente a uma trajetria; por um lado, a representao da doena remete,
em alguns casos, s razes para o sofrimento; por outro, a representao ou o discurso
sobre a cura envia a uma experincia sincrnica, uma vez que se apresenta como ant-
tese ao sofrimento e doena. A categoria de sofrimento, tal como ela se apresenta aos
nossos interlocutores, utilizada em diferentes sentidos, caracterizando-se como
"significante flutuante", no sentido apontado por Lvi-Strauss para entender a ' cate-
goria de mana' , estudada por Mauss:
Acreditamos que as noes do tipo mana, to diversas quanto possam ser, e
encaradas em sua funo mais geral (que, como j vimos, no desaparece to-
talmente em nossa mentalidade e em nossa forma de sociedade), representam
precisamente esse significante flutuante, que a servido de todo pensamento
acabado (mas tambm a garantia de toda arte, de toda poesia, de toda inven-
o mtica e esttica), se bem que o conhecimento cientfico seja capaz, seno
de estanc-lo, pelo menos disciplin-lo parcialmente (...) Vemos no mana, no
wakan, no orenda e em outras noes do mesmo tipo, a expresso consciente de
uma funo semntica, cujo papel o de permitir que o pensamento simblico
se exera apesar da contradio que lhe prpria. Assim explicam-se as
antinomias, aparentemente insolveis, ligadas a esta noo, que tanto feriram
os etnlogos e que Mauss trouxe luz: fora e ao, qualidade e estado, subs-
tantivo, adjetivo e verbo ao mesmo tempo, abstrato e concreto, onipresente e
localizado. De fato, o mana tudo isso ao mesmo tempo, mas, precisamente, s
porque no nada disso. (Lvi-Strauss, 1974:34-35)
De modo semelhante noo de mana, a 'categoria de sofrimento' parece cons-
tituir um "significante flutuante", que comporta contradio de significados, os quais
se movimentam entre os planos mais concretos e os mais abstratos. Assim, em um
plano aqui denominado concreto, sofrimento significa doena fsica, desde dor-de-
cabea, dor-de-barriga, feridas e ferimentos superficiais ou profundos, diabetes, para-
sitas - tais como piolhos, micoses - e outras ' doenas' de ampla ocorrncia entre os
limites externo e interno do corpo humano.
No plano que nomeamos abstrato, o sofrimento pode ser entendido pelos signifi-
cados que ultrapassam os limites da experincia da doena fsica e fornece elementos,
digamos, abstratos - no sentido de cognitivos - determinantes para que a pessoa 'sofre-
dora' construa sua identidade social, desde a qual manipula papis sociais e se relaciona
com os outros. Neste sentido, o discurso sobre o sofrimento evoca significados desde
'fora' e 'fraqueza', vulnerabilidade e determinao, medo e coragem; desperta, assim,
emoes positivas e negativas tanto no 'sofredor' quanto em seus interlocutores.
Os significados expressos no primeiro plano esto presentes no discurso mais
geral sobre a doena; tm atualidade em falas do tipo:
ela orava na minha cabea, quando acabava, passava um leo, ungia minha
perna e pedia a Deus sade pra mim, pra teimar aquele sofrimento de minha
perna. ( ., dona de casa, 64 anos, Porto da Ribeira)
O sofrimento na perna, ao qual a informante se refere, nada mais que leso
provocada por erisipela. Nota-se que, para ela, o sofrimento significa ao mesmo tempo
a doena localizada, a experincia e a emoo que implica.
Por outro lado, observando-se a ' pessoa' dos lderes de religies de aflio (Fry
& Howe, 1975), tais como as casas de culto afro-brasileiro, o discurso do sofrimento
canalizado para o aqui chamado plano abstrato. A importncia e abrangncia de um lder
religioso dimensionada pela experincia de sofrimento que pode estar relacionada a
sua ' pessoa' . nesse campo de relaes sociais que emergem as "antinomias", s quais
se refere Lvi-Strauss. O sofrimento aparece ao mesmo tempo como expresso de:
humildade/pobreza material e orgulho/riqueza espiritual:
... o sofredor sou eu, que no tenho pai, no tenho nada. Por mim s a graa de Deus;
sina/destino e qualidade/caracterstica intrnseca:
os brancos no me queria por causa deste sofrimento que eu tinha de rezar em
algum;
resignao e coragem:
podem me matar nos lugares que me ver, que eu s tenho uma alma pra perder.
Neste tipo de discurso, tais categorias surgem de modo indissociado c com-
pem o que poderia ser denominado de discurso totalizador da identidade e da experi-
ncia social da pessoa que sofre, a partir da qual, aquele que se define sofredor, 'con-
quista' posio de destaque diante de seus interlocutores, fazendo desaparecer, ainda
que simblica e parcialmente, as contradies inerentes prpria categoria. Nesse
sentido, o sofrimento , ao mesmo tempo, a experincia da fragmentao ou experin-
cia de carter negativo, representada pela doena, mas tambm o ponto de partida para
a 'desfragmentao', isto , para a construo ou reconstruo da identidade social.
O contexto etnogrfico que aqui apresentamos, abrange a experincia da pes-
soa em sua relao com a doena e um modelo de explicao sobre a causalidade
baseado nos aspectos mais subjetivos desta experincia que tem a idia de sofrimento
como elemento fundamental para sua representao. As concepes de causalidade
foram a porta de entrada a este universo de significaes, tornando possvel explorar o
lado pessoal das narrativas de doena ou - conforme expresso por Duarte (1986:144)
- alcanando o "limite mais restrito da ' pessoa' ", externalizado e evidenciado pela
experincia do sofrimento.
Enquanto o sofrimento provocado pela doena pode representar a experincia
que desintegra a unidade da pessoa e, ao mesmo tempo, serve como matriz para a
construo da identidade social dos sujeitos, os rituais de carter teraputico, da ma-
neira como so realizados nas casas de culto afro-brasileiro, constituem o palco real
onde os sujeitos operacionalizam e atualizam esta identidade.
Em The Drums of Afliction - sem dvida, o melhor trabalho antropolgico pro-
duzido no sentido de compreender as relaes entre as ' emoes' , por assim dizer, os
rituais que as evocam c o contexto social do qual tanto as emoes e os rituais emergem
- Turner (1968) define a 'aflio' para os Ndembu, a partir do contexto em mudana,
vivido por aquela sociedade, poca de realizao de sua pesquisa. Para entender o
significado da 'aflio' em sua dimenso social era preciso alcanar o significado dos
inmeros rituais elaborados para restabelecer certo equilbrio na vida social.
Diferentemente da 'aflio' Ndembu, a idia de sofrimento em Ribeira no est
visivelmente inscrita na vida social e s pode ser observada atravs das narrativas
concernentes doena. Estas apresentam descries que, em geral, se referem aos
sintomas e sinais fsicos identificadores da enfermidade, ao contexto familiar e econ-
mico dc sua emergncia e ressaltam comportamentos, sentimentos e emoes associ-
ados aflio e ao sofrimento provocados pela doena. Grosso modo, este sofrimento
sc mostra em diferentes circunstncias e, na explicao da causalidade, sua expresso
ganha marcada distino.
No queremos dizer com isto que as pessoas formulam um discurso consciente no
que diz respeito s causas das doenas e ao sofrimento enquanto espaos de realizao de sua
prpria identidade. semelhana do que colocado por Fajans (1985:367) para o contexto
Baining - em Nova Bretanha e Papua Nova Guin -, em Ribeira, as pessoas "no apresentam
interpretaes do significado dos comportamentos e eventos que as rodeiam", porque, alm
disso, "os conceitos de sentimentos pessoais, comportamento expressivo e relacionamentos
afetivos esto integrados s narrativas sobre padres culturais e eventos sociais gerais".
O discurso das concepes e representaes de causas de doenas envolve a
ligao que se estabelece entre a pessoa e a molstia, esta ltima como experincia
fsica e subjetiva, envolvida em complexa rede de sentimentos que orientam os indiv-
duos em suas buscas pelos significados. Quando se referem s causas de suas doenas,
as pessoas esto necessariamente interpretando determinadas condies que ajudam a
explicar porque tal doena aconteceu em dado momento.
Este justamente o tipo de resposta que no fornecida pela cincia mdica, tal
como colocado por Herzlich & Pierret (1993:75). A busca pelo significado da doen-
a envolve invariavelmente vrios aspectos da vida pessoal do indivduo. Isto pode ser
exemplificado atravs da narrativa de um informante de 43 anos - que passara por
processo de migrao - na qual aparecem algumas categorias que levam a pensar o
discurso da causalidade como elemento importante para a compreenso da identidade
social do narrador em perspectiva mais ampla, tal como apresentado abaixo:
A tristeza mata. A pessoa ficar num lugar muito triste adoece a pessoa. Eu
desmaiei de tristeza. Eu tava em So Paulo, dois anos e meio sem vir c na
Bahia. Nesse dia eu sa pra igreja meio triste. Teve dois casamentos, eu apre-
ciei tudo. Tinha duas madame branca sentada e trs cidado em p. Eu no
conhecia ningum, mas elas me conhecia do lugar que eu trabalhei, construin-
do um prdio escolar. Nesse dia, eu no conversava nem nada, o povo me olha-
va e eu calado. Da a pouco, ca, revirei, morto, morto, morto.
Aps este desmaio, as duas ' madames brancas' o colocaram em um carro, le-
vando-o para a residncia de uma delas, dando-lhe toda assistncia mdica necessria.
Os exames feitos pelos mdicos apontaram para a tristeza como causa de seu desmaio.
De volta ao local de origem, ele tem nova crise, desta vez ficando 'trinta noites sem
dormir' ; em seguida, fugiu para mato' , at ser encontrado, amarrado e levado a um
curador para receber tratamento.
Alguns elementos podem ser destacados nessa narrativa. Primeiro, a migrao
para So Paulo e a impossibilidade de retornar terra natal. Segundo, a sua vontade de
no ser desconhecido, portanto, pequeno em uma cidade grande - ele, um peo de
obras, foi reconhecido por duas mulheres de condio social diferenciada. Terceiro, o
tratamento atencioso que recebeu por parte das 'mulheres brancas' e dos ' mdicos' ,
que atuaram de forma a promov-lo socialmente.
A tristeza representa, neste relato, a causa de seu sofrimento, mas tambm sin-
tetiza toda sua trajetria. O fato de ser homem solteiro, forasteiro e pobre, o que ne-
cessariamente o coloca em situao de fragilidade e subordinao, compensado pela
ateno que recebe dos desconhecidos. Esta 'tristeza' que o fez adoecer e quase mor-
rer em So Paulo, bem como as crises posteriores em sua terra natal, demarcam mo-
mentos cruciais de sua vida, isto , a migrao, a no adaptao ao novo contexto de
trabalho, vida e relaes sociais, fato que representado pela tristeza e pela lembrana
de seu povoado e, por fim, o retorno vida que ele mesmo quisera deixar para trs.
A crise do retorno representa, para ele, uma tentativa de se exculpar pelo
insucesso na cidade diante de seus pares, visando a ser novamente aceito no grupo de
origem. Neste caso, a cura conseguida na casa do curador demarca sua reintroduo na
vida do local, mediante a qual ele busca agora ocupar posio que o diferencie dos
demais, atravs do acmulo de capital simblico (Bourdieu, 1974) conquistado a par-
tir da experincia vivida na 'cidade grande' .
Em outra narrativa, a de uma informante de 54 anos, separada, trs filhos, o
discurso do sofrimento tambm surge como elemento principal para a compreenso
de sua construo de pessoa. Ela se define como ' pessoa marcada pela vida' - em
outras palavras, 'pessoa marcada pelo sofrimento' - e busca estabelecer relaes entre
acontecimentos passados que forneam os elementos centrais constituio desta sua
identidade. Estabelece elos de ligao entre um 'trauma de infncia', quando quase foi
vtima fatal de afogamento nas guas do rio que corta a cidade, em virtude de ' um
descuido de seu pai' , e uma quebra de resguardo de pario provocada por uma das
crises de loucura de seu marido, que tentou mat-la e ao filho recm-nascido.
Estes fatos foram a causa, aps a separao conjugai, para o incio das crises
que resultaram em 'sofrimento terrvel', na forma de ' dores' generalizadas ' pelo cor-
po, tonturas, aflio no corao' , sem que os vrios exames feitos acusassem qualquer
mal aparente. Pela terceira vez, a informante ' quase' foi levada morte, ' dentro de
casa' . A noo de acontecimento - aqui utilizada no sentido que lhe confere Foucault
(1992:05) - importante para pensar as relaes que os informantes estabelecem entre
os diversos fatos que marcaram suas vidas e demarcam suas trajetrias de sofrimento,
a despeito de no haver qualquer relao intrnseca entre eles no plano da realidade
tangvel.
Em muitos casos, o discurso da causalidade, para reforar a idia de sofrimento
como expresso da construo da pessoa, se apresenta a partir de sua prpria negao:
Os exames dos mdicos no acusavam nada' ou 'eu nunca descobri qual era a causa
daquele sofrimento'. a partir dessa aparente negao de causa explcita que o discur-
so do sofrimento ganha maior destaque, na medida em que passa a ser instncia sob
exclusivo controle daquele que sofre, na qual mais ningum pode ter acesso s razes,
isto , s causas. De modo comparativo ao contexto do nervoso, estudado por Duarte
(1986), o discurso da negao da causalidade como configurao do sofrimento tam-
bm mobiliza
... representaes a respeito do que se passa dentro dos limites mais restritos
da 'pessoa', aqueles que mais comumente chamamos de 'indivduo', ou seja,
seu corpo prprio e algo que, variadamente recortado e nomeado, se pode aqui
resumir na categoria de esprito. (Duarte, 1986:144)
Se, por um lado, o discurso negativo da causalidade centraliza o sofrimento ao
controle da pessoa que sofre, a cura representa, por outro, os aspectos do sofrimento
que podem ser compartilhados e devem servir de modelo para a ' experincia' de ou-
tras pessoas. Assim, a idia de gravidade da doena torna-se fundamental por mediar
o plano "intrapessoal" do sofrimento (Duarte, 1986:144) e o plano da ' experincia'
vivenciada socialmente.
Doena grave ' doena forte que nem todo mundo escapa' . A pessoa que
consegue ' escapar' da morte ou ' de outro mal' acrescenta ao seu discurso a idia de
' doena que faz sofrer', 'melhora, mas no cura e t arriscado a qualquer hora se
acabar. O camarada morre e no v' . Quando fala de sua prpria ' doena forte' , o
informante est ao mesmo tempo operando uma oposio entre sua 'fraqueza', a 'for-
a' da doena e o caminho de sofrimento que a pessoa ' percorre' at alcanar a cura.
Novamente Duarte (1986:145), referindo-se ao nervoso, aborda a questo da
'fora/fraqueza' enquanto "referencial bsico para a definio de qualidades diferen-
ciais da pessoa". Deslocando esta observao para a relao doena-sofrimento-gravi
dade, o referencial 'fora/fraqueza' se expressaria da seguinte maneira: a pessoa /est
fraca, a doena forte e faz sofrer. Introduzindo-se o elemento cura, tem-se: a pessoa
/est fraca, a doena forte, faz sofrer, mas atravs da cura, a pessoa passa a ser/estar
forte, a doena torna-se fraca.
A cura representa a compensao pelo sofrimento, funciona como elemento
sistematizador da experincia/trajetria e constitui o parmetro que demarca o reco-
nhecimento social legitimador do sofrimento. a condio de ser/estar curado, estado
reconhecido/avaliado pelo grupo, que confere credibilidade ao estado de sofrimento.
Neste sentido, o estado e, na mesma medida, a identidade de sofrimento se constri a
partir de sua prpria negao. Primeiro, atravs da cura. Segundo, pela tentativa de
esquecimento, omisso e mesmo abstrao dessa experincia.
As narrativas sobre sofrimentos - sejam estes sociais: 'sofrer desejar ter um
sapato bom, no poder; desejar ter um vestido bom, no poder' ; emocionais: 'sofri-
mento tristeza' ; ou fsicos: 'sofrimento doena, que doena no tudo igual, mas
todas elas maltrata, faz a pessoa sofrer' - comportam os dois lados acima destacados.
Um deles, a exaltao do sofrimento e a compensao alcanada que fazem a pessoa
ser/estar/se sentir diferente das demais:
... eu sofri muito. Eu me constipei, eu s dormia a poder de comprimido. Eu
sentia impacincia, eu sentia magrm, eu sentia constipao, o corpo papocando,
insnia, falta de apetite e todo o mal chegou pra mim. No comprava mais
carne, no conhecia mais dinheiro, no trabalhava. Tinha hora que me dava
vontade de chorar, longe de minhas filhas, longe de minhas netas. Mas eu sofri
muito, mas hoje o meu comprimido Cristo, quando eu me deito, no tenho
insnia, abrao a almofada e durmo.
O outro lado, a exaltao do sofrimento pela negao:
... eu sofri, mas eu no gento contar tudo, minha filha, porque eu nunca tive
essa sabedoria, eu nunca tive essa alegria. ( ., 65 anos, Porto da Ribeira)
Se o sofrimento legitimado pela cura como fator de sua negao, o caminho
para a cura percorrido mediante a mesma relao de negao do sofrimento ou, no
mnimo, de sua origem, tal como claramente ilustrado nas rezas e oraes para comba-
ter doenas, maldades, sofrimentos:
Que em tudo eu convoco o manto divino / retirai de toda enxaqueca e de toda
a ameaa e de toda a maldade que venha de encontro sua matria / no seu
sangue / nos seus ossos, nos seus nervos. Que a paz de Deus seja incorporada
na sua presena e aliviai, esses santos, sua matria, seu sangue, seus rgos,
seus nervos, assim como retire a maldade. Se tem quebrante de olho mau, de
olho grosso, de usura no seu trabalho, na sua diligncia, na sua boniteza, na
sua esperteza, na sua qualidade, na sua brincadeira, na sua comida/afugentai-
Ihe todo clamor, toda a doena e toda a crise m /Que a paz de Deus incorpo-
rada na sua presena, h de abater e de tirar todo o sofrimento pesado que
venha de encontro sua pessoa. (C, rezadeira, Vila Velha)
Neste fragmento de reza, notam-se trs planos bsicos de atribuio de causali-
dade para o sofrimento, aqui considerado em sua sistematicidade. Um primeiro plano
fsico, a partir da descrio do corpo, representado nas idias de ' matria' , ' sangue' ,
' Ossos' , ' rgos' e ' nervos' . Um segundo plano, que se desdobra em dois: um primei-
ro subplano no material, que corresponde s qualidades atribudas pessoa, presente
nas idias de ' boniteza' , ' brincadeira' , ' diligncia' , ' esperteza' , ' qualidade' ; e um se-
gundo subplano no material, que escapa duplamente pessoa, isto , o plano das
relaes sociais e do trabalho e o plano mgico-espiritual, representado nas idias de
' quebrante' , 'olho mau' e ' usura' .
Do mesmo modo que a expresso ' todo o sofrimento pesado' representati-
va dos trs planos acima apontados, os efeitos da cura voltam-se no sentido de inte-
grar estes mesmos planos atravs da negao/exaltao do prprio sofrimento. Pri-
meiro, pela negao da ' doena' . Segundo, pela negao da ' aflio' , presente na
idia de ' clamor' . Terceiro, pela negao do 'sofrimento pesado que venha de en-
contro pessoa' . A exaltao/negao do sofrimento, medida que cerca tanto os
domnios fsico, material e no material, quanto as origens fsicas, mgico-religio
sas e sociais do sofrimento, funda as bases sociais de seu reconhecimento, isto ,
permite que o sofrimento seja legitimado. Ao mesmo tempo, a exaltao/negao do
sofrimento fornece os elementos necessrios para o estabelecimento das relaes e,
sobretudo, da reciprocidade entre o curador, que manipula simultaneamente a cura e
o sofrimento, e a pessoa curada, que negocia junto ao grupo mais amplo, incluindo
o curador/manipulador do sofrimento, sua identidade social, isto , negocia para si
uma imagem, uma representao de pessoa.
SOFRIMENTO PESSOA NO CULTO AFRO-BRASILEIRO
Em texto j clssico acerca da possesso e da construo da pessoa no candom-
bl, Goldman postula que as duas razes bsicas para a afiliao ao culto afro-brasilei
ro seriam a enfermidade e a manipulao sociopoltica, afirmando ser:
... verdade que certas doenas podem conduzir ao culto, que este fornece um
meio para controlar [de modo bastante eficaz, por vezes] algumas delas, e que
ele funciona como uma arena de manipulaes scio-polticas. No entanto,
tudo isso s possvel devido a caractersticas da prpria estrutura do sistema.
Se admitirmos que a enfermidade pode ser vivida como experincia de ciso da
pessoa, poderemos talvez compreender que a possesso, tcnica simblica de
construo desta unidade e de manuteno de um certo equilbrio, possa estar
estruturalmente ligada a ela. (Goldman, 1985:50) (grifo nosso)
Por um lado, a doena representa a experincia da fragmentao e do
estranhamento da pessoa para consigo mesma. Por outro, a incorporao, nos cultos
afro-brasileiros, representa a passagem de um estado de doena para novo estado de
normalidade, desta vez mediado pelos cdigos negociados neste sistema.
Desse modo, a incorporao faz parte de longo e complexo processo de cura,
construo e reconstruo da pessoa, pois - ainda segundo Goldman - medida que o
iniciado se torna mais experiente no santo, exerce maior controle sobre ela, diminuin-
do sensivelmente sua ocorrncia.
Diferentemente do que observa Goldman, nossa observao em Ribeira tem
mostrado que certas formas de transe so ' cultivadas' pelos mais experientes no santo,
conferindo-lhes posies de destaque nos rituais. comum as pessoas comentarem
acerca da ' beleza' deste ou daquele encantado. Tais elogios geralmente se destinam
aos encantados das principais figuras da casa, isto , aos do zelador, dos afilhados mais
antigos ou daqueles que ocupam cargos de maior destaque na hierarquia da casa.
Quando entendida como parte de processo teraputico, a incorporao repre-
senta estado sempre liminar que acompanha a iniciao, desde a condio de pessoa
fragmentada, imposta pela doena, at o alcance da condio de pessoa plena, a partir
da identidade (re)fornecida pelo culto. Se verdade que 'certas doenas podem con-
duzir' algumas pessoas s religies afro-brasileiras, tambm verdade que tais doen-
as prescindem de classificao e interpretao conforme modelos especficos. As-
sim, so mltiplos os casos de pessoas que aderiram a casas de culto afro-brasileiro
aps episdios de doena que apresentavam como signo um comportamento considera-
do anormal, o qual, na viso dos envolvidos, fora considerado comparvel loucura,
tendo como causa a possesso ou ao mgico-religiosa, como o feitio, por exemplo.
Com base na leitura de narrativas sobre tais problemas emocionais tratados nas
casas de culto afro-brasileiro, possvel compreender de que modo essas agncias
religiosas e teraputicas atuam no sentido de fornecer modelos para a construo, so-
cializao e ressocializao de pessoas que tenham passado ou estejam passando pela
experincia do sofrimento emocional. Em outras palavras, tal como colocado por
Douglas (1976), preciso entender de que forma os rituais afro-brasileiros, ao mani-
pularem uma representao da ' impureza' fundada na idia de doena como matriz
para o sofrimento e com a representao da ' pureza' a partir do processo iniciatrio,
podem criar "unidade na experincia" dos participantes (Douglas, 1976:13).
Inicialmente, gostaramos de retomar a anlise da categoria de incorporao
para melhor pensar a relao entre as trs ' etapas' da iniciao no culto afro-brasileiro,
isto , construo, socializao e ressocializao da pessoa. Por meio da incorporao,
uma mesma pessoa pode manter relao entre sua pessoa e o ' personagem' , simulta-
neamente, em nome de guias e entidades sagradas, marcando dois tipos bsicos de
interao intersubjetiva entre a pessoa e o outro, isto , quando ele est 'em pessoa' , e
as entidades sagradas, quando ele 'est fora de sua pessoa' .
Dentre os trs tipos de entidades centrais no culto: orixs, caboclos e exus,
estes ltimos so os guias mais difceis de se relacionar e so os que mais maltratam a
pessoa daquele que os incorpora. J os orixs e certos caboclos so entidades mais
fceis para esta interao. Tal modelo reproduz a relao de aproxi mao e
distanciamento da sociedade para com as entidades afro-brasileiras.
Na viso dos praticantes do culto, os orixs so entidades ligadas ao espao
sagrado dentro do terreiro. Sua representao sbria no vestir, no falar e no danar.
No usa bebidas alcolicas nem tabaco, no diz improprios aos presentes e no come
durante as cerimnias. So entidades ' puras' e mesmo as roupas que os representam
no podem sair dos limites da casa.
Os caboclos, por outro lado, so entidades inseridas em contexto de natureza:
fumam charuto, falam com voz grave e dissonante, bebem sangue dos animais que so
sacrificados durante os rituais em sua homenagem, como se estivessem adquirindo
' foras' , e podem baixar no terreiro simultaneamente aos orixs. Alguns deles so
bastante agressivos, sobretudo com crianas pagas, isto , que ainda no foram batizadas.
Os caboclos desempenham papel importante nos rituais; aps o transe de um exu, os
cavalos devem dar passagem aos caboclos, para que estes limpem sua pessoa e a recu-
perem do baque provocado pela passagem dos exus.
J os exus representam o plano da cultura, vestem-se com as roupas do cotidi-
ano, tais como bermudas, minissaias, miniblusas, coloridas e decotadas, bebem, fu-
mam e danam de modo sensual. Durante os sacrifcios de animais, bebem do sangue
em tom de galhofa e so capazes de atos de crueldade para com os animais de sacrif-
cio. As festas dos exus so permissivas para com o comportamento, para com a interao
fsica e para com os jogos sexuais. Sua presena s pode ser aceita no terreiro depois
que os orixs j tenham suspendido. Depois que chegam, somente eles podem ser
representados. Os exus so entidades da rua, da escurido e das encruzilhadas. Ves-
tem-se, falam, riem e se comportam escandalosa e exageradamente, reproduzindo pa-
dres morais peculiares s rodas de samba e s festas populares. So, contudo, consi-
derados eficazes no atendimento das solicitaes que lhe so feitas em troca de peque-
nas ddivas de bebida, cigarros etc.
De maneira resumida, apresentam-se trs modelos distintos, antagnicos, mas
complementares, de realizao da pessoa no culto afro-brasileiro. O primeiro modelo,
representado pelos orixs, corresponde pessoa sagrada, pura e comedida que domina
o espao da casa, tido como limpo; sagrado; em certa medida, doutrinado; controlvel
e previsvel dentro de determinados limites.
O segundo modelo, representado pelos caboclos, corresponde pessoa que ma-
nipula a natureza; expressa baixo grau de socializao; e ocupa posio liminar dentro
da casa. Posio esta que lhe garante maiores possibilidades de trnsito entre o espao da
casa, ou seja, a cultura religiosa/sagrada, e o espao fora da casa, isto , a natureza.
O terceiro modelo, representado pelos exus, corresponde pessoa que determi-
na seu prprio destino; que pode manipular o perigo; que pe em jogo as regras morais
ditadas pela sociedade. Os exus fundem e confundem, ao mesmo tempo, o lado ldico,
o lado sagrado e o lado mundano/cotidiano da vida das pessoas que participam e se
dedicam ao ritual e, neste sentido, que so pensadas pelos seguidores da umbanda
como as entidades mais difceis para relacionamento. Por outro lado, assim como os
caboclos, os exus esto subordinados aos orixs, uma vez que so considerados seus
escravos, sempre cabendo-lhes o trabalho mais sujo e mais pesado, que o orix no
quer fazer para no ter que lidar com porcaria.
Para poder manipular as 'idiossincrasias' de cada entidade, o indivduo comea
seu processo iniciatrio muitas vezes na infncia. fcil observar, dentro e fora dos
terreiros, a presena de crianas das mais variadas faixas etrias, participando ativa-
mente dos rituais. O aprendizado comea, muitas vezes, no colo da me. Muitas mu-
lheres levam seus filhos ainda de colo aos terreiros, ficando ali por vrias horas. Os
bebs circulam de brao em brao, dormem, acordam e prestam ateno em tudo. Aos
poucos vo se acostumando com as cores, as msicas, as pessoas.
As crianas maiores do seguimento a este processo de vrias maneiras, seja
cantando, danando ' candombls de lata' , reproduzindo o transe, a partir da observa-
o atenta das peculiaridades que caracterizam cada entidade. Quando crescem j es-
to aptas a, de um ' momento para o outro' , ' bolar' no terreiro. H o caso de duas irms
que ' bolaram' aos 13 e aos 14 anos de idade, respectivamente, em uma das casas que
elas, sua me e outras irms j freqentavam para apreciar h muitos anos. Atualmen-
te, ambas j so filhas-de-santo feitas h quatro anos.
Neste sentido, as casas de culto afro-brasileiro em Ribeira constituem espaos
abertos para a socializao, para a construo e reproduo de identidades, mas, so-
bretudo, para a operacionalizao de variados modelos de pessoa. possvel observar
os processos sociais que resultam na construo e operao destes modelos, com base
em alguns aspectos fundamentais que lhes so recorrentes.
Torna-se preciso pensar, portanto, no carter teraputico de uma srie de rituais
que so realizados nas casas de culto afro-brasileiro, dentre estes, as festas e obriga-
es, trabalhos de cho, trabalhos de confirmao e batizado de santo. As festas acon-
tecem de acordo com um calendrio ritual oficial, estabelecido pela casa, e seguem em
sintonia com as comemoraes catlicas. Nestas ocasies gasta-se dinheiro com rou-
pas e comida, e o aspecto ldico prevalece ao aspecto religioso.
J nas obrigaes, tal como o ingorossi, os filhos-de-f devem comparecer ao ter-
reiro uma ou duas vezes por semana, para participar das rezas de obrigao. Esta sesso,
aberta ao pblico, tem por objetivos principais a proteo espiritual, o aconselhamento aos
participantes e a reafirmao da fidelidade dos filhos-de-f ao terreiro. Aps as oraes
e cnticos, o principal guia se manifesta e as consultas ou as caridades tm incio.
A diferena entre consultas e caridades est na reciprocidade social ou econ-
mica. Para fazer consulta, o cliente paga uma quantia em dinheiro; quando se pede
caridade no h pressuposto do pagamento, mas espera-se retribuio na forma de
agrados ao zelador e a sua famlia. Dar um agrado significa ofertar gneros alimentci-
os, como peixes, mariscos, frutas da estao, farinha et c, bem como produtos usados
nos rituais. Do ponto de vista social, a caridade mais importante que a consulta, por
fortalecer as relaes de reciprocidade entre o zelador e sua clientela.
O ingorossi ritual propiciatrio e teraputico, estabelece a comunicao e o
contato entre as pessoas e as entidades e funciona como instncia pr-socializadora,
fornecendo orientao aos indivduos que precisam fazer os trabalhos de maior com-
plexidade. De um lado, para quem j passou por tratamento, o ingorossi espao de
reafirmao teraputica. Por outro, o trabalho de cho, a confirmao e o batizado do
santo so etapas mais especializadas e centradas na pessoa doente, representando a
"morte ritual e renascimento ritual" (Douglas, 1976:120).
Quando uma pessoa vai a um ingorossi em busca de tratamento, o principal
guia da casa faz a identificao do problema, das causas e marca como o trabalho de
cho dever ser feito. Para este trabalho, tambm chamado de trabalho de limpeza, a
pessoa deve ficar no quarto, em recluso de trs a sete dias, deitada sobre uma cama de
folha, para ter seu corpo purificado. O trabalho de cho demarca o estado liminar entre
a doena e a experincia posterior doena.
O ato de limpar o corpo representa o incio do processo de ressocializao da
pessoa. A recluso no quarto quase total, pois "no decorrer dos ritos, eles [os doen-
tes] no tm lugar na sociedade" (Douglas, 1976:120). O contato entre as pessoas em
estado liminar e a sociedade se d atravs do zelador, a me-pequena, o pai-pequeno e,
s vezes, algum da casa que seja responsvel pela limpeza do quarto e pela alimenta-
o do doente, ' promovendo' a passagem entre a ' impureza' e a ' pureza' .
Aps a limpeza do corpo, a pessoa pode sair do quarto e circular pela casa do
zelador, porm sem autorizao para ir rua, espao que escapa ao controle imediato.
Em um intervalo de trs dias, prosseguem os ensinamentos fora do quarto e 'testam-
se' preliminarmente as categorias sociais do futuro papel. A pessoa somente retorna
recluso, onde permanecer por mais sete dias para a confirmao do encantado, se a
entidade marcar o cumprimento de resguardos e obrigaes posteriores ou no caso
daquelas que desejam filiar-se formalmente casa.
Dentre os trs rituais de finalidade teraputica, a confirmao apresenta maior
complexidade. Durante a confirmao, realizam-se sesses dirias de ingorossi, com a
presena de todos os filhos-de-f do terreiro, para promover a interao entre a pessoa
que est no quarto e o grupo do qual provavelmente far parte. Alm de demandar
maior tempo de recluso e exigir a participao de maior nmero de pessoas, os res-
guardos para trabalho de confirmao impem nova conduta pessoa por perodo que
varia entre sete, catorze, vinte e um dias e at a vida toda, no que diz respeito a alguns tipos
de alimentos utilizados nos trabalhos. No ingorossi inicia-se da doena desconhecida pas-
sando-se doena causada por entidade mgico-religiosa. No trabalho de cho, comea-se
da doena, ou do estado impuro, para chegar ao estado puro, representado pela limpeza de
corpo na cama de folhas. A confirmao, por fim, eleva o doente posio de pessoa
curada, instncia de legitimao do tratamento e da capacidade do zelador.
A necessidade de fazer trabalho - de limpeza ou de confirmao - determina-
da pelas caractersticas do problema. Dentre estas, as primeiras a serem analisadas
pelo curador so a causa e a manifestao. Uma pessoa cujo sofrimento - na interpre-
tao dos envolvidos - no tenha ao mgica ou fora sobrenatural como causa prin-
cipal ou instrumental, dificilmente ser encorajada a dar seguimento ao tratamento
que manipula elementos mgico-religiosos. Pode-se dizer que a adeso efetiva ao tra-
tamento em casas de culto afro-brasileiro no pode prescindir da socializao prvia
do doente ou da famlia neste sistema, condio necessria, na maioria das vezes, para
o sucesso deste tipo de tratamento.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ODD , J. Spirit possession revisited: beyond instrumentality. In: DURNAM, W. H . (Ed.)
Annual Review of Anthropology. Palo Alto: Annual Reviews Inc., 1994. v.23
BOURDIEU, P. A Economia das Trocas Simblicas. So Paulo: Perspectiva, 1974.
BRANDO, C. R. Identidade e Etnia: construo da pessoa e resistncia cultural. So
Paulo: Brasiliense, 1986.
CUNHA, M. C. Antropologia do Brasil. 2ed. So Paulo: Brasiliense, 1987.
DANTAS, . G . Vov Nag e Papai Branco: usos e abusos da frica no Brasil. Rio de
Janeiro: Graal, 1988.
DOUGLAS, M. Pureza e Perigo. So Paulo: Perspectiva, 1976.
DUARTE, L. F . D. Da Vida Nervosa (nas classes trabalhadoras urbanas). Rio de Janei-
ro: Zahar/CNPq, 1986.
FAJANS, J. The person in social context: the social character of baining "Psychology".
In. WHITE, G. M. & KIRKPATRICK, J. (Eds.) Person, Self, and Experience: exploring
pacific ethnopsychologies. Berkeley and Los Angeles: University of California
Press, 1985.
FOUCAULT, M. Verdade e poder. In: . Microfisica do Poder. Rio de Janeiro: Graal,
1992.
FRY , P. & HOWE, G. Duas respostas aflio: umbanda e pentecostalismo. Debate e
Critica, 6,jul. 1975.
GOLDMAN, . A construo ritual da pessoa: a possesso no candombl. In: Religio e
Sociedade. Rio de Janeiro: Campus, ago. 1985.
HERZLICH, C. & PIERRET, J. Illness: from cause to meaning. In. CURER, C; STACEY, M.
(Eds.) Concepts of Health, Illness and Disease: a comparative perspective. Oxford:
Berg, 1993.
LVI-STRAUSS, C. Antropologia Estrutural. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1974.
MAUSS, M. Uma categoria do esprito humano: a noo de Pessoa, a noo de "Eu". In: .
Sociologia e Antropologia. So Paulo: EPU/Edusp, 1974. v. l .
MONTERO, P. Da Doena Desordem: a magia na umbanda. Rio de Janeiro: Graal,
1985.
ORTIZ, R. Cultura Brasileira e Identidade Nacional. So Paulo: Brasiliense, 1991.
TURNER, V. Drums of Affliction. Oxford: Clarendon Press, 1968.
9
Um Retrato de Rose: consideraes sobre
processos interpretativos e elaborao de
histria de vida*
Iara Maria de Almeida Souza
Definir e explicar uma doena ato interpretativo; como tal, envolve reflexo e,
em alguma medida, distanciamento. Isto , quando o sujeito se volta sobre suas prprias
experincias para interpret-las, j no est posicionado dentro do fluxo de vivncias.
Estas so, portanto, vistas em retrospectiva e aparecem ento dotadas de sentido.
No processo interpretativo, em que se busca conferir unidade e sentido a um
conjunto de eventos e vivncias, os atores lanam mo de um sistema de tipificaes.
Na viso de Schutz, toda
... interpretao do mundo se baseia em um estoque de experincias anteriores
dele, que so transmitidas pela tradio, e sob a forma de conhecimento a mo
(sic), funcionam como um cdigo de referncia. (Schutz, 1979:74)
Assim, o
... homem na vida diria tem a qualquer momento um estoque de conhecimento
que lhe serve como um cdigo de interpretao de suas experincias passadas,
presentes e determina suas antecipaes das coisas futuras. Este estoque de
conhecimento a mo (sic) tem sua histria particular. Foi constitudo de e por
atividades anteriores da experincia de nossa conscincia, cujo resultado tor-
nou-se agora posse nossa, habitual. (Schutz, 1979:74)
Para Schutz, o que determina a estrutura deste estoque de conhecimento em
cada momento a situao biogrfica do indivduo, o sistema de interesses tericos e
prticos que fazem parte do seu aqui e agora. Ou seja, o problema ante o qual o indiv-
duo se defronta naquele contexto define o que considerado relevante ou no, o que
merece ser visto com maior ou menor clareza e o que pode permanecer inquestionado.
Portanto, o problema atual e a perspectiva de sua resoluo no futuro que delimita a
configurao do sistema de tipificaes e relevncias. A seleo e ordenao dos eventos
passados feita luz de um projeto; desse modo, o olhar que se volta para o passado
comandado por uma viso do futuro. Neste sentido, o estoque de conhecimento
acessvel pode ser comparado a uma receita: serve tanto como cdigo de interpretao
quanto preceito para a ao. Por outro lado, este no pode ser pensado meramente
como repositrio de informaes transmitidas pela tradio, ao qual se recorre conti-
nuamente segundo as necessidades do momento; importante ter em conta que,
medida que novas experincias ocorrem, estas so incorporadas ao estoque de conhe-
cimento mo, modificando-o de tal modo que o ampliam e enriquecem.
O processo de interpretao - em que so articulados eventos e significados -
pode ser melhor compreendido quando consideramos as elaboraes de histrias ou,
de modo mais especfico, as construes que os indivduos realizam acerca de suas
biografias. Tais narrativas sempre comportam um esforo de totalizao que as ex-
perincias vividas no tm. As tendncias e recorrncias encontradas na vida so-
mente so dadas retrospectivamente; no esto l desde o incio. Na viso de Garfinkel
(1967), os atores usam, na elaborao de narrativas, o que ele denomina mtodo
documentrio (prtico), o qual implica a busca de padro idntico, homlogo,
subjacente a uma grande variedade de realizaes e acontecimentos heterogneos.
Na construo de biografias, o indivduo ordena e seleciona acontecimentos do pas-
sado, de sorte que, ao atribuir as circunstncias presentes ao seu passado, estas assu-
mem uma perspectiva de futuro.
O esforo de elaborao de uma narrativa relativamente coerente sobre a pr-
pria vida adquire carter particularmente significativo quando se d em momentos de
crise. A ecloso da doena como dirupo na biografia, por exemplo, impe a neces-
sidade de reflexo acerca dos padecimentos, uma problematizao a respeito do senti-
do e do porqu da enfermidade, ao mesmo tempo em que convida a repensar a prpria
trajetria e o seu conceito de self.
1
Ao reconstituir narrativamente uma histria de
adoecimento, os sujeitos procuram expressar e dar significado aflio e, neste pro-
cesso, prpria identidade, isto , o sentido que tem para si a sua prpria situao,
continuidade e carter, resultado de suas vrias vivncias sociais, as quais passam a ser
objeto de reflexo (Goffman, 1978).
Esse trabalho de reconstituio de uma imagem de si que se expressa na narra-
tiva, sem dvida esforo que envolve a colaborao de outros. Esta colaborao se
d em, pelo menos, dois sentidos. Por um lado, os outros tidos pelo indivduo como
significativos, os quais representam para ele, em alguma medida, um espelho que re-
flete quem ele . O modo como julga ser visto pelos outros - como ele se v sendo
visto - informa a viso que tem de si mesmo. Por outro lado, a construo que
elaborada acerca de sua histria deve ser plausvel para os que esto em torno, caso
contrrio o sujeito corre o risco de ver seus esforos para manter certa identidade e
trajetria em curso serem desacreditados e, no extremo, inviabilizados.
A presena de outros que contribuem na constituio da identidade dos sujeitos
pode ser, percebida na narrativa, pela utilizao recorrente de discursos citados, bem
como pelo testemunho de atores, em geral ausentes no momento em que a histria
contada, o que tanto revela a existncia de processos interativos e da participao
de outros na construo e interpretao dos fatos narrados quanto funciona como
meio de conferir legitimidade verso apresentada, tornando-a assim mais crvel e
aceitvel para a audincia.
O objetivo deste artigo tecer, com base em uma narrativa de enfermidade,
consideraes a respeito do processo de adeso a modelos explicativos na interpreta-
o da aflio e da escolha teraputica. Alm disso, visa a discutir a narrativa, ela
mesma, como estratgia na construo de uma verso coerente de si e de uma trajet-
ria que expressa a existncia de dilogo com outros, ao mesmo tempo em que serve
como instrumento desse dilogo medida que se constitui em elaborao necessaria-
mente com sentido e plausibilidade para os que esto em torno.
A HISTRIA DE ROSE
2
Rose tem 27 anos e vive no nordeste de Amaralina, bairro da classe trabalhado-
ra de Salvador. Ela passou recentemente por um perodo de internamento em hospital
psiquitrico. A deciso de internar - tomada por um irmo, Z, e apoiada pelos vizi-
nhos - aconteceu aps uma crise em que, movida pelas alucinaes e delrios, Rose
mergulhou em um tonei de gua, deixando apenas a cabea emersa, a permanecendo
por vrios dias, sem atender aos conselhos para que deixasse a gua. Antes de realizar
o ato que culminou com a hospitalizao, Rose j dava sinais de que no estava bem h
algum tempo: ouvia tambores, vozes, gritarias em sua casa, como se estivesse sendo
realizada uma cerimnia de candombl ou umbanda, contudo sem haver a presena de
qualquer pessoa.
Percebendo alguma perturbao em Rose e conhecendo seu envolvimento com
casas de pai-de-santo, duas vizinhas, adeptas de uma igreja pentecostal, convidaram-
na para assistir aos cultos da igreja, acenando-lhe com a possibilidade de resoluo de
seus problemas atravs das oraes do pastor e de obreiras. Tal tentativa no teve
sucesso, e a situao de Rose foi-se deteriorando at chegar crise e hospitalizao.
Ao sair do internamento - quando j no apresentava mais alucinaes - ,
Rose deveria continuar com o uso de medicamentos para manter seu estado sob
controle. O irmo se encarregou de administrar os remdios e ela submeteu-se a seus
cuidados, deixando visvel, entretanto, que era a contragosto que permanecia sob
tratamento mdico.
Na narrativa tecida por Rose acerca de sua aflio, observa-se que esta tem
origem bem antes do surgimento da enfermidade mental, pois ela conta que desde sua
concepo e nascimento, as foras que viriam a moldar e determinar o seu destino j
estavam em movimento, pontuando sua vida com uma srie de reveses, entre os quais
a doena. O pai figura cm sua histria como a fonte de todo o mal que lhe sucede.
Antes mesmo de ser concebida, seu pai - segundo ela, ligado a 'feitiaria' -
havia feito um pacto com o mal, oferecendo a imolao de um recm-nascido de seu
prprio sangue como contraprestao ao favor pedido. Durante o perodo em que esta-
va sendo gestada a criana - no caso, Rose - destinada ao sacrifcio, o pai j manifes-
tava por ela profunda hostilidade e, para faz-la sofrer, batia violentamente na esposa
grvida. Estes episdios, que Rose no poderia ter conhecido diretamente, foram-lhe
narrados quando estava adulta.
Minha me contava pra mim. Ela contou tudo. A eu disse 'por que isso?',
ela 'eu no sei, desde a gravidez sua ele sempre rejeitava, ele no gostou'...
'Ele sempre me maltratou na sua gravidez'. (...) Ela s tinha medo dele [o pai]
querer fazer alguma coisa, n? Ela disse... ela disse que na minha gravidez ela
sofreu muito, inclusive no teve nem tempo dela ir pra maternidade, me teve na
rua mesmo, quase onze horas... quase doze horas da noite.
Eu vou falar uma verdade, espero que no machuque voc, porque me machu-
cou muito quando eu soube. Eu acho porque esses pessoal, como eu j lhe disse,
faz parte de umbanda, de... essas coisa... ele faz aquela parte porque... pacto,
parte, pacto, tudo que ruim eu no entendo direito. Quando a pessoa parte pra
esse lado a, que um lado pior, que a pessoa fazer parte com seu prprio filho,
n? (...) Que s vezes tem pessoas que promete ao diabo seu prprio sangue, n?
Ento ele pretendia comigo ele no conseguiu... ele no conseguiu, alm de eu ter
nascido feminina, ao que ele queria, meu anjo guarda foi forte, n? Meu anjo
guarda foi forte... ele no pde comigo, n? Deus, e Deus foi forte que ele no
conseguiu fazer o que ele pretendia fazer... o sacrifcio que ele pretendia fazer.
Pra o que ele queria... ele no ia conseguir o que ele queria.
- ele queria o que, Rose?
R - No sei, no sei. Oi, uma macumba pesada a do mau.
Ele faz, ele faz, porque eu acho o seguinte, a pessoa que tem seu corao,
jamais vai querer fazer um mal a seu prprio sangue, ento ele j t possudo
pelo que ruim, por ele mesmo, pela prpria maldade que ele possui nele mes-
mo, na prpria pessoa. Ento, quando a pessoa j tem essa maldade, ele prati-
ca atos piores, que ele capaz dele mesmo... praticar, entendeu? pra mim
irreconhecvel, isso a, e ele capaz de fazer coisas piores.
Ter nascido mulher, na histria contada por Rose, foi o que impediu a consu-
mao do sacrifcio a que era destinada, pois o trato feito envolvia a oferenda de crian-
a do sexo masculino. A condio feminina, que a poupou da morte, contudo, no
vivida por ela sem ambivalncia. Salvou-lhe a vida, mas, ao mesmo tempo, colocou-a
em situao de fragilidade perante o mundo e os homens, pois as mulheres, segundo
Rose, so relativamente menos poderosas, estando, portanto, em clara posio de fra-
queza quando enfrentam poderes masculinos. Assim, a condio que a fez viver con-
forma, de modo concomitante, algo que torna mais difcil sua trajetria no mundo.
[Falando da briga entre os pais] Eu sentia dio, n? dio de querer acabar
mais com a vida dele e dela, a de minha me e a dele, ento, eu me sentia era,
me diminua, apesar de eu ser pequena, me sentia menor ainda, de no ter
crescido e de no ter sido filho homem, pra poder tentar resolver o caso. Por-
que se eu fosse filho homem, eu no tava na dvida nem nada, esse homem a,
ou ele tinha morrido, ou ele tinha acabado com isso de uma vez s. Eu tinha
uma coisa comigo, se eu fosse filho homem, ou meu pai e minha me ia viver
pelo resto da vida feliz, os dois, porque quem ia acabar era eu, porque o que ele
tinha na mo, ele no conseguia possuir mais. Eu que ia destruir, mas de uma
maneira que no viesse a prejudicar ela [a me]. Eu ia buscar l onde tivesse, eu
ia descavar l... [inaudvel], pois eu ia enfrentar dentro das matas igual diabo,
mas eu ia fazer isso pela felicidade dela e do outro irmo. Eu ia fazer, sim.
Trs meses aps seu nascimento, Rose foi enviada para viver com o padri-
nho, longe da famlia. Pouco tempo depois, era trazida de volta para casa. Sua infn-
cia, de acordo com a narrativa, foi uma sucesso de idas e vindas da casa do padri-
nho para a casa da famlia, em obedincia vontade do pai, a quem ningum, nem a
me ou os irmos, ousava desafiar. Alm disso, a capacidade de o pai fazer com que
todos se submetessem a sua vontade, mesmo os filhos e a esposa, a quem surrava
com freqncia, configura um dos sinais apontados por Rose para evidenciar seu
grande poder de manipular as pessoas, tornando-as incapazes de resistir-lhe. Este
poder adviria das relaes com as foras e entidades ' malignas' . Alm disso, segun-
do Rose, os caprichos do pai no se limitavam a dispor do destino da filha, a quem
atraa e repelia. Todos os nove filhos, e mesmo a esposa, eram submetidos a brutais
castigos corporais.
[A respeito da relao com a famlia] No foi uma relao entre amores [?],
no. Muito menos meu pai. Eu nasci l no Toror [bairro de Salvador],
ento fui enviada pr'aqui [para o nordeste de Amaralina] ... Mas morei l
mesmo no Toror, no dizer de minha me, que ficava aquele jogo de empur-
ra, a dava assim pra um padrinho, que era pra passar 15 dias, um ms, a...
A, s vezes ele sentia aquela vontade... aquela saudade assim, mas manda-
va me buscar, depois ele 'no, t bem, pode levar, pode levar de novo', t
entendendo?
Ele vivia batendo muito em minha me, espancava minha me, espancava a
gente, mesmo depois da gente grande, pegava pau, quer dizer, pros meninos,
n? pra mim mesmo. Uma vez ele me deu uma surra, minha filha, eu fiquei
com esses peito daqui e as mo tudo roxa, toda roxa. (...) tinha um negcio de
cinto de couro, aquelas palmatria assim de pau, ele gostava de sair batendo a
cabea da gente tudo na parede. (...) Uma vez eu escapuli da mo dele, ele ia,
pegou, botou o cinto aqui assim, botei a lngua at aqui, , a minha me disse
Oxen! Gordinho, assim voc vai matar a menina', na hora que minha me
virou pra falar isso, ele a tava com um chinelo, tava batendo no meu rosto, ele
jogou o chinelo na cara dela, jogou o chinelo na cara dela... 'Cala a boca voc,
t dando ousadia a essa vagabunda!'
Eu achei uma coisa errada, ela [a me de Rose] deveria ter tomado uma
tenncia [com relao ao pai], apesar dele, sabe como esse pessoal que faz
pacto com essas coisa ruim, sempre tem aquela pessoa assim nas mos. Ento
ela tambm, ela vivia assim, ela praticamente era ela uma vtima.
i, que Deus me perdoe, eu no gosto de julgar, no, sabe, mas ele vivia
levando os filho pra esses tipo de coisa, preparando os filho pra fazer o mal,
como ele preparou, ento, hoje em dia o que que lhe acontece... so tudo
[inaudvel], ele hipnotiza as pessoa no que ele preparou pra fazer o mal.
As atividades do pai no terreno da 'feitiaria' no eram ocultadas da famlia.
As prprias crianas - inclusive Rose - eram levadas a presenciar sesses de ' magia
negra' , embora no conhecessem ainda o significado de tais rituais.
A lembrana desses eventos funciona na narrativa como mais um argumento
para mostrar o profundo envolvimento do pai com a ' macumba' , indicando tambm
sua pretenso de introduzir os filhos em tal universo ou, ao menos, de domin-los
espiritualmente. O objetivo foi alcanado, segundo Rose, com quatro de seus irmos,
que foram preparados para acompanhar e suceder ao pai nos domnios da magia negra.
Na adolescncia, os conflitos com o pai se acentuaram. Cedo, Rose teve um
filho e saiu de casa para viver com um rapaz. A unio do casal foi conturbada. Ela
intuiu a presena do pai por trs dos problemas de relacionamento com o companhei-
ro; no entanto, naquele momento, no chegou a romper com ele.
Rose alimentava sentimentos ambivalentes para com o pai; mesmo percebendo
que ele conspirava contra ela, no conseguia distanciar-se completamente ou afront-
lo. Assim, sua situao conjugai foi-se deteriorando at chegar dissoluo da unio.
voc sabe, se eu fosse outro tipo de pessoa, tinha matado ele. (...) No
queria ver o mal dele, sabe, no quero pra mim, no quero pros outros. No me
aproximava dele, mas sabia que ele fazia sempre meu inferno com o pai do meu
filho, fazendo um inferno, minha caveira, mas eu me sentia feliz que eu tava
distante dele. (...) Ento uma vez eu cheguei pra ele e disse que ele no se
metesse em minha vida, com meu marido, uma vez eu cheguei pra ele e disse
isso, quer dizer, ele a ficou calado, calado assim e tal 'humm, humm, humm',
assim, sabe? Olhei pra ele assim... quer dizer, uma coisa que no tinha aquele
dio assim dele, certo? Que ele vivia l e eu c, eu sei que ele fazia os inferno
dele, mesmo distante sempre ele fazia, mas eu cheguei ao ponto de chamar ele
pra conversar, achei que talvez isso ia resolver, a continuei na minha, ento,
quer dizer, uma coisa que no queria o mal dele, certo?
Os problemas, em especial na esfera amorosa, se sucederam. Segundo Z, ir-
mo de Rose, ela teve uma srie de relacionamentos com homens casados, sem chegar
a firmar aliana com nenhum deles. O projeto de manter um homem a seu lado foi
frustrado vrias vezes. Rose no conseguia se estabilizar com nenhum parceiro. Em
sua concepo, a trajetria que sua vida deveria seguir era sempre interrompida, per-
turbada, por algo pelo qual nem ela nem os parceiros eram responsveis, pois ambos
eram vtimas de foras que estavam alm de sua percepo e que ela conseguia apenas
confusamente visualizar.
Tambm na esfera do trabalho, as coisas no estavam melhores; depois de ter
um emprego invejvel para muitas mulheres de sua classe - camareira em hotel cinco
estrelas - , foi demitida e no conseguiu outra colocao semelhante.
Procurando soluo para os problemas, depois de ter ouvido vrios conselhos,
Rose buscou uma casa de pai-de-santo que tinha 'sesso de mesa branca' . Um dos
membros da sesso, sob o pretexto de limpar seu corpo, recomendou-lhe que tomasse
banho de cachaa imediatamente antes de participar de um ritual. Para surpresa de
Rose, o pai-de-santo a impediu de participar da reunio por conta deste fato e ordenou-
lhe que, para voltar a sua sesso naquele dia, tomasse imediatamente um banho. Neste
momento, Rose sentiu-se tomada por uma ' moleza' , no conseguiu obedecer. Acabou
por concluir que essa sensao corporal no era casual, mero cansao, mas resultado
de 'algo feito' pelo pai para impedir que ela conseguisse desfazer seu feitio. Revelou-
se tambm, para Rose, que a prxima investida paterna seria contra a prpria casa-de-
santo. Tentou avisar aos membros da sesso acerca do perigo iminente. O pai-de-santo
no apenas no lhe deu ouvidos, como, estando j influenciado pelo pai dc Rose,
sugeriu-lhe que deixasse de freqentar sua casa.
A o dono da casa fez 'bom, i, gente, aqui eu no uso isso. Vocs que forem
passar cachaa vo tomar banho de novo'. A eu fiz, a eu fiquei to lerda, eu
fiz eu, mas no tinha que passar ungento, no, a eu fiquei quieta, fiquei lerda,
no fui tomar o banho como ele mandou, todo mundo tomar o banho como ele
mandou, todo mundo tomar o banho, n. A eu fiquei na minha, quieta. (...)
depois as minhas costas queimou, meu corpo queimou todo. Foi. Mas, mas no
foi logo, no, foi quando o homem disse que no... [inaudvel] tava mais me
aceitando, que no era para eu ficar mais l... J foi porque ele j tava de
cabea feita pelo cara [o pai].
Rose, depois desses acontecimentos, sentiu-se distante da possibilidade de
reordenar sua vida de acordo com princpios que a conduzissem a um caminho deseja-
do. A interpretao de Rose para este episdio foi que seu pai, sabendo que ela estaria
prestes a libertar-se do jugo sob o qual a mantinha, interferiu para minar suas possibi-
lidades de romper a teia em que estava enredada.
Pouco tempo depois, Rose aproximou-se de Lene, mulher ligada a uma casa de
umbanda, que conseguiu ver de imediato o ' encosto' que a perseguia e a aconselhou a
cuidar-se imediatamente em local de sua indicao. Ao mesmo tempo, Rose comeou
a namorar o irmo de Lene e alimentou o projeto de constituir famlia com ele. Lene,
que at certo ponto apoiava a relao dos dois, passou a opor-se ao romance. Mais do
que isso - segundo Rose - , usou seus poderes espirituais para impedir que a unio
entre eles sc consumasse. Com o namoro j em crise, Rose engravidou e acreditou que
esse novo fato poderia fazer com que o parceiro enfrentasse a famlia e tomasse a
deciso dc viver com ela. Ao contrrio do que esperava, o rapaz no concordou em
assumir o filho e rompeu com ela, que, diante disso, optou por fazer aborto.
Antes do aborto, Rose, j apresentando alguns sinais de problema - ' moleza' -
e tendo a sensao de que alguma desgraa se aproximava, passou a freqentar um
culto pentecostal a convite das vizinhas, embora sempre tivesse manifestado prefern-
cia por casas de umbanda e candombl para resolver seus problemas - e, assim como
ela, boa parte de sua famlia. Rose entrou em uma corrente de orao na igreja -
realizao de oraes e cultos em dias determinados da semana para obteno de obje-
tivo especfico - com a esperana de conseguir reaproximao com o namorado.
A quando foi um dia que eu vi que eu ia me derrotar, que eu ia cair, eu contei
a verdade pra ela [a vizinha pentecostal]. Eu disse 'i, eu t indo numa casa, s
que eu t sentindo que t acontecendo alguma coisa comigo (...)', mesmo, eu
disse isso a ela, eu me sentia uma derrotada, ela 'no, vai pra igreja que voc
vai vencer' - 'eu vou pra igreja, mas eu sei que alguma coisa vai acontecer,
no vou desfazer da senhora, no'. Eu s tava esperando, tava pedindo a Deus,
n, botei o nome do meu namorado l na igreja, e tal.
Essa incurso pelo pentecostalismo resultou em mais uma tentativa v com
relao pretenso de reatar com o parceiro. Todavia, Rose s abandonou definitiva-
mente a igreja depois de uma sesso em que ela, manifestada por entidade da umbanda
em ritual de cura pentecostal, tornou-se o centro das atenes e oraes de obreiras e
fiis. Esta experincia, longe de representar um passo para a salvao, provocou sen-
saes profundamente negativas em Rose. Assim ela descreveu a cena:
Sabe o que aconteceu, eu a fiquei pensando, danando l dentro, rodando,
rodando. (...) a queriam me botar l em cima, eu digo: 'No, eu t entre a
espada e a cruz', comecei a ver negcios sabe, 'T entre a espada e a cruz, no
vou subir pr a, no', fiquei com medo. A um negcio assim vermelho na
minha perna, parecendo uma meia, daqui pr'aqui deixava vermelho e ficava
aferventando meus ps. A depois sumia, a depois quando eu descia, de novo,
a ficava, descia, eu sentia mesmo aquele negcio passando assim, vermelhinho.
foi da barriga, passou para o p. (...) A sabe o que foi que aconteceu? [??]
pr se deitar assim no cho, eu digo: 'no, que a t cheio de bicho'. Mas a eu
me joguei, (...) eu disse assim 'eu sou forte, seje o que Deus quiser, eu vou me
jogar a, se for pra me matar, me mate. A me deitei, a veio assim pr cima de
mim, i, menina, eles ficava me pegando parecendo uns bicho. (...) Os obreiro
me pegava assim, com umas unha de bicho, assim, a comeava a fazer aquela
orao, eu senti que aliviava assim, (...) eles comearam afazer aquela orao,
me pegava, me beliscando assim. (...) Eles queriam fazer orao, mas ficava
parecendo uns bichos, ao meu redor. (...) Depois eu queria correr deles.
O mal-estar na igreja, o rompimento e a frieza do namorado, que antes parecia
' gostar' dela, fizeram-na desconfiar novamente de alguma interveno externa para
impedi-la de estabelecer relao estvel. Desta vez, a responsabilidade foi atribuda
ex-cunhada. Todavia, a ao de Lene foi vista apenas como um elo na cadeia de cau-
salidade; no extremo da corrente, ela conseguia entrever a presena do pai interferindo
em seu destino. Em sua viso, a razo pela qual Lene se opunha relao dela com o
namorado, alm de cimes, era que, tendo poderes divinatrios, ela conhecia a exten-
so e a potncia do feitio que fora lanado sobre Rose e, assim, para proteger o irmo
e a famlia, voltou-se contra ela. Alm disso, sugeriu tambm a possibilidade de Lene
ter sido envolvida pelo pai e levada a acumpliciar-se com ele.
Eu acho que ele gostava de mim, sim, porque antes ele ficava fazendo pro-
posta de morar num quarto de aluguel comigo, a eu disse 'eu no, morar de
aluguel, no to cedo ainda e tal', e a irm tinha falo pra eu me cuidar direito,
ento ficou aquela misturada, ele falava uma coisa e a irm ficava me puxando
pra c, entendeu? Ela ficou com cime porque do irmo.
Ela no quis eu com o irmo... porque eu tava muito [inaudvel]... a gente
tinha relaes, tinha um caso. Ento, eu tava querendo uma casa l [em Simes
Filho, municpio da Grande Salvador, onde morava o namorado de Rose]. (...)
Ento, ela a, quando eu tava saindo daqui pra l, o cara [o pai] j tinha ido l
na casa, n, tinha feito a cabea dela, n, eu no tava sabendo de nada, tava
inocente. No intervalo que eu tava indo de l pra c, ela j tava mudada comi-
go, eu senti. (...) Isso quando eu cheguei em Simes Filho, que eu fui atrs dele,
a ele disse: 'Voc me d um tempo a, minha me t de cabea feita a, at eu
ajeitar a me'. (...) Acho que foi em devido que eu tinha que me cuidar devido
ao meu problema, principalmente esse problema de famlia a que virou uma
bomba dessa... Acho que foi, acho que isso uma influncia muito forte pra
quem t de fora e gosta de viver na paz, sem problema (...) Ohl Quem entende,
sabe de tudo, no sabe, no?
Porque eu namorava com o irmo dela, e meu pai, tem uma coisa, quando
ele v que tem uma pessoa querendo me ajudar, me ajudar, pra tirar o que eu
tenho no meu corpo, ele a quer fazer o mal quela pessoa. (...) Ela quis me
ajudar, ento ela foi praticamente tambm usada, n? Pelo uns conselho nega-
tivo, algumas coisa negativa que eu no fao idia dos... do que podia ser, n?
Aps fazer aborto, tendo ficado sem parceiro e rompido a relao com Lene,
que ela sentia como um apoio, sem emprego e sem vislumbrar possibilidade de solu-
o para a sua vida, frustradas suas tentativas de resoluo na umbanda e no
pentecostalismo, Rose tornou-se presa constante de sentimentos de que alguma trag-
dia iria consumar-se em sua vida. Com este sentimento, ela se entregou a um estado de
apatia. Seu corpo, por outro lado, tornou-se palco de sensaes dolorosas e de mani-
festaes estranhas.
Eu no saa, vez o gs tava l escapando, ficava l dentro de casa, ali ,
passava quase dois meses sem botar a cabea do lado de fora. Com a lmpada
acesa, aquela quentura no meu corpo... ficava tipo uma sentinela, em p. Em
p, e no podia dormir.
Botava aquela gosma assim dentro de casa, assim, no tinha nada pra botar
de dentro pra fora, o negcio chegou at a falar dentro de minha barriga, e isso
no comeo me comia, e voc chegava a ver eu urrar aquela coisa assim, eu
urrei mesmo, parecendo um animal, (...) ficou aquele negcio 'orororor',
grosso, foi mesmo, querendo falar... Da barriga. Subia assim pra mim, ,
'caaammmm' [engrossa a voz], parecendo assim um demnio, a tava assim,
virava assim, assim, assim, olhava assim, atravessava.
Mas s que eu senti duas jurada dentro de mim, e subiu um negcio pequeno
at aqui [o pescoo]. A vem pr'aqui, anda. A eu perguntei prum paquera o que
que eu tenho no corpo: 'eu acho que pedao de carne de defunto que voc
tem'. Ele disse que feito com negcio de defunto... [inaudvel]. Esse trabalho
que ele fez com negcio de defunto... ele disse que muito forte.
Bebi, bebi, bebi, quando eu cheguei em casa, adivinha o que foi que eu vomi-
tei? Polva, polva, macumba pura. (...) acho que eu j tinha essa polva mandada
por ele, porque o negcio subia na minha garganta, com a voz dele, apertava a
minha garganta com a voz dele, s pode ter partido de quem?
Aps expulsar do corpo uma substncia que, para ela, comprovava a existncia
concreta da bruxaria, mas sentindo-se impotente para venc-la, Rose no conseguiu
evitar que o caos tomasse conta de sua vida. Comeou a ouvir vozes que a insultavam,
cantar de gaios, tambores, msicas que falavam de exu e de morte. Foi em meio
confuso, s alucinaes, que se revelou, para ela, com clareza cristalina o que at
ento era intudo: o pai era responsvel pela desordem que permeava sua vida.
A foi quando eu tava em casa, a recebi a Padilha [?], n? Comecei a dar
risada, as costa queimando, mas eu sofri, viu? Parecendo que tava queimando
minha alma, parecendo que queimava a minha alma... eu no ficava calada:
'Eu quero home, home, eu quero ver home', e nessa hora risadas pra l, a
dizia que era... falando essas coisas... sozinha, mas falando no ? Realmente
foi to confuso, mesmo... Porque, olhe bem, dentro de casa eu sentia meu pai,
como se fosse assim, um esprito, um bicho, uma coisa assim falando. Falava
pra mim: 'T com medo, puta, t com medo, agora? Voc t com medo, puta?'
A voz dele toda, Dona. Deus do cu! Ele no tava nas [inaudvel] (...) e eu
chorando com medo: 'No, eu no fiz nada', chorava, chorava num cantinho,
com medo, ali eu senti medo, porque isso ai incrvel, n? Eu nunca tinha visto
isso acontecer. eu continuei chorando.
Ainda que Rose, em certo sentido, soubesse que era presa de alucinaes, pois
reconhecia que as vozes que via e ouvia no decorriam de algo que estivesse material-
mente presente cena, tais iluses dos sentidos no foram pensadas como produto de
doena mental, porm como mensagens enviadas pelo pai com o intuito de amedront-
la, fragiliz-la, faz-la padecer. Assim, as alucinaes conservavam alguma dimenso
de realidade, para Rose. Deste perodo em que viveu enredada nas iluses, ela conser-
vou a certeza de que o pai mantinha um poder, oculto a princpio ou apenas parcial-
mente revelado, de manipular sua vida, assim como fez com a me e os irmos.
Para Rose, ela no est doente, mas ' macumbada' ; e diz:
Eu no sou maluca, eu t macumbada, a minha famlia toda macumbada eu
no tenho culpa de meu pai ser miservel, no.
Tal interpretao foi corroborada nas vrias casas de pai-de-santo que procu-
rou, inclusive na ltima delas, visitada depois da sada do hospital, qual foi levada
pelo irmo.
Tendo retomado uma expectativa de resoluo de seus problemas nesta ltima
casa de candombl, Rose voltou-se para seu passado e reconstituiu sua trajetria reple-
ta de desacertos e sofrimentos, luz desse projeto de cura. Organizou sua narrativa em
torno de imagens como a da feitiaria, da fraqueza e da fora, que fazem parte do
repertrio do candombl da umbanda, mas que tambm consistem de crenas ampla-
mente difundidas no universo religioso popular (Rabelo, 1993).
Rose articulou dentro de um nico quadro explicativo, fornecido pela crena
em feitiaria, as diversas aflies por que passava: infelicidade no amor, desemprego,
fome, padecimentos corporais, medo e tenso. Em sua narrativa, a doena faz parte de
processo mais amplo, que no diz respeito meramente aos sintomas do problema men-
tal; o que Rose considera sintomtico e relevante abrange um espectro maior de sinais
e acontecimentos, envolvendo elementos que certamente ultrapassam uma viso
biomdica da doena. toda a sua existncia, seus reveses, que foram interpretados ou
reinterpretados com base em uma viso de aflio compreendida como resultado de
foras ' da macumba' e da 'feitiaria' que penetram e desordenam a vida, produzindo
efeitos negativos em mltiplas dimenses da existncia: as relaes afetivas, o traba-
lho e a sade.
A crise que a levou ao internamente, neste caso, vista como intensificao de
um processo que j estava em movimento desde sua gestao e que culmina com o
episdio das alucinaes. Ao mesmo tempo em que se torna mais agudo seu mal-estar,
revela-se para ela a natureza do que a atinge: a feitiaria.
O projeto de cura, concebido dentro do candombl, permitiu-lhe vislumbrar
um futuro em que no s os transtornos mentais podem vir a desaparecer, mas em que
ela estaria livre para retomar - ou seguir - o curso ' normal' da existncia, do qual foi
desviada pelos poderes da feitiaria. A idia de cura, para Rose, ampliou-se de modo a
abranger todas as dimenses afetadas pelo mal: as relaes interpessoais, a esfera do
trabalho etc.
Entretanto, se a cura completa algo que est no horizonte de Rose, ela com-
preende que a melhora obtida - inclusive com o uso da medicao - resultado parcial
e precrio. A cura algo que deve ser continuamente conquistado, ao longo de um
processo em que inmeras batalhas so e sero ainda travadas, que envolvem risco e
podem mesmo levar a sua destruio.
Ento pronto, mas isso vai ter um fim. Vou botar uma pedra em cima, isso a
vai ter um fim. Agora, como que vai ser esse fim, agora eu vou lhe dizer uma
coisa, se for pra eu morrer, prefiro ele. Claro. Quer ver uma outra coisa? Se for
fazer tudo pra no atingir ele, meu dinheiro jamais vai pra isso. Eu quero s da
minha maneira.
[Relato de um dilogo com o irmo] 'Meu irmo, t vendo aquela coisa que
tava l dentro de casa?', eu disse 'sabe por quem foi mandado?', ele disse 'eu
sei, eu sei', eu disse 'j que voc sabe, por que voc tambm no se cuida?
Porque no lugar que eu tive a a mulher falou que se a gente fazer um trabalho,
se juntar todo mundo... ele morre'. A ele fez 'voc j pensou quanto que no
vai dar... cada um que se vire', a ele pegou e falou assim 'no, mas, a fica um
pouco difcil, n?', eu digo 'de seis , fica mesmo difcil', fica, no fica, no?
Por mais que eu queira ajudar at, fica difcil.
Elemento importante da dimenso da cura a relao entre fora e fraqueza
(Rabelo & Alves, 1995). Por meio dessa oposio, Rose expressa a dissimetria sentida
entre o poder do pai de controlar sua vida e a prpria impotncia. Ela concebe a si
mesma como o plo mais fraco na relao com o pai por vrias razes, inclusive por
ser mulher, embora no se veja como completamente destituda de fora. Assim, tenta
balizar a sua posio desvantajosa com a utilizao de artifcios que relativizam o
poder do pai. Ao mesmo tempo, sente-se imbuda de uma fora acima de todas as
outras, vinda de Deus, que a sustenta e a impede de sucumbir totalmente.
Ele tenta me derrubar. Quer dizer, ele fez pra me derrubar, n? Mas como que
um pai tem coragem de dizer, ele vai ver o dele. No se preocupe, no, aqui eu t s
dando um tempo, que, como mulher, eu sou mais, a mulher sempre a mais fraca,
mais frgil que um homem, n? Pega muito com a mulher. Ento sempre aquele
lado... Mas eu vou vencer, provar essa energia, essa fora, vou vencer.
Antes, quando eu tava no poder dele, eu baixava a cabea, s vezes, mas
baixava assim de lado, pra no dar totalmente aquela ousadia de baixar a
cabea assim na frente dele. Esses pessoal quando, que tem um corao perver-
so, que mais voc abaixa a cabea pra eles, eles querem montar em cima, ele
adora isso. Ento baixava assimde lado, dava uma olhadinha, assim rapidinho
pra ele, suspendia assim porque no podia fazer nada.
Ento um tipo de animal severo, n? Ento um animal que a gente s
vezes no tem como lidar com ele, n, ento ele fica todo, n? Brabinho, mas,
s vezes d pra gente amansar, n? (...) Ele fica querendo fazer aquele mal,
aquele mal e se a gente puder, n, dar aquela tapeao, d pra quebrar mais a
vontade dele...
A verdade maior vem do fundo porque, olhe bem, se desde quando aquela pr-
pria pessoa vem lhe maltratando, vem lhe excomungando, vem querendo ter distn-
cia de voc, lhe destruir, sabe, a voc vai sentindo, sentindo que aquilo foi verda-
de. vai sentindo e vai assimilando assim; e sabe porque ele no se engrandece ?
Porque a gente diz assim 'ah, t vendo como ele no pode, Deus mais, comigo
ele no vai poder nunca'. Ento a tem aquela f, e se apodera dessa f e cada vez
mais quer crescer com essa f, mas no pra fazer o mal. Ento quer dizer, pra se
sentir bem. Olhe, atravs dos maltrato, dos maltrato dele, eu tive muita f, mas
muita f em Deus, precisa ter muita f em Deus que eu vou vencer e ele jamais vai
conseguir me destruir ento, s isso eu conseguia combater uma que eu vivesse
mais um pouco, porque, voc sabe, essas pessoas que no tm mais corao, que
dominvel com esse tipo de coisa, pra fazer um mal ele no pensa...
Para combater o pai, principalmente duas estratgias foram vislumbradas: a
primeira delas consistiria em fortalecer-se mediante limpeza espiritual - que deveria
ser estendida a todos os irmos - a qual livraria o corpo do mal lanado contra ele,
fechando-o para proteg-lo de novas investidas. Isto exigiria a realizao de um traba-
lho em casa de pai-de-santo. Esta ao, entretanto, no foi ainda empreendida, segun-
do Rose, por dificuldades de ordem financeira. Outra estratgia, vista como mais defi-
nitiva, seria a descoberta e eliminao do objeto - um livro de So Cipriano - em que
est concentrada a fonte de fora do pai, do qual emana o poder de enfeitiar e mani-
pular a vida de todos. Contudo, para que possa realizar tal intento, faz-se necessrio
um fortalecimento anterior de sua pessoa, posto que, nas condies em que se encon-
tra, um confronto direto com o pai seria ato temerrio e perigoso. Enquanto no chega
o momento em que ocorreria o desenlace final, Rose procura munir-se com algumas
armas e escudos: entre estes, tem sido fundamental o apoio de um novo namorado, que
no s refora a idia do mal advindo de feitio, como conhece oraes que podem
minorar provisoriamente seu estado.
Meu problema to grande que alm de arrastar a famlia toda, alm de ar-
rastar a famlia toda, esse homem continua amarrando o que era meu embaixo
do livro (de So Cipriano), me tendo embaixo dos ps dele, o que eu tenho que
conseguir t um pouco difcil, que tomar esse livro da mo dele. , eu tenho que
destruir, eu, ah, se eu conseguisse, eu botava aquele fogo ali de banda aberta, ali
com todo prazer, ainda ficava assim assistindo pegar fogo [risos].
Agora, uma coisa eu vou te dizer, com tudo isso, aqui no meu corao, e
fiquei tipo uma vingana, sabe como ? Comigo mesmo. Uma vingana do meu
prprio pai, eu tomei pavor a ele com isso.
- voc vai fazer o qu com ele?
At agora eu no tenho pretendncia nenhuma, quer dizer, tenho. No tenho
condies at mesmo de me cuidar, mas pra eu me cuidar, chego at a atingir
ele. Entendeu? Eu tenho que descobrir que ele t fazendo mal, eu tenho que
descobrir que esses negcios que ele fez deve t enterrado, deve t enterrado,
tenho que descobrir onde estava, que eu no sei. Eu no entendo, mas tem uma
pessoa que entende, que sempre faz oraes, eu lhe falei? T comigo, j namo-
rou comigo, j me explicou tudo direitinho.
Ainda que a melhora seja vista como conquista a ser realizada passo a passo at
o desenrolar final da histria, e que Rose reconhea ter sofrido derrotas para o pai, tais
insucessos no a impedem de continuar a olhar a vida - e a enfermidade - dentro do
quadro interpretativo dado pela crena em feitiaria. Mesmo o fato de terem falhado
as aes destinadas a reverter a situao encontram sua explicao no esquema dado.
Um dos elementos em que Rose se apoia, para confirmar e dar maior sustentao a sua
viso do problema, o testemunho de outros atores. No desempenho desse papel,
figura como personagem de especial importncia seu irmo Z. Sua voz, repetida in-
meras vezes por Rose, atesta, por exemplo, que as ' gritadas' que ela ouvia em casa
estavam realmente l, pois o irmo pde escut-las; ele parece tambm estar ciente de
que o pai ' macumbeiro' ; por fim, foi ele quem a levou ltima casa de candombl,
onde se confirmou mais uma vez o diagnstico de 'feitiaria'. Referncias a revela-
es feitas por especialistas do sagrado, como pais e mes-de-santo, citadas na narra-
tiva, funcionam da mesma forma, como modo de conferir maior legitimidade verso
apresentada por Rose.
COMENTRIOS
O estoque de conhecimento mo usado como quadro de referncia na inter-
pretao de situaes nunca completamente fechado e homogneo; ele comporta
incoerncias e zonas de maior ou menor clareza e preciso. Esse carter fluido e rela-
tivamente pouco estruturado do estoque de conhecimento que lhe permite dar conta
de experincias e acontecimentos que, em princpio, podem parecer contraditrios.
Contudo, no podemos afirmar que seja ilimitada esta capacidade de os modelos
interpretativos englobarem e explicarem fatos que parecem incompatveis entre si ou
que os indivduos estejam de tal modo presos a quadros interpretativos particulares,
que estes possam constituir as nicas lentes atravs das quais conseguem ver o mundo,
impedindo a problematizao e a crtica de propostas interpretativas anteriormente
aceitas (Alves & Souza, 1994).
No caso de Rose, o fracasso das tentativas de cura em agncias teraputicas de
candombl e umbanda no a impedem de adotar uma viso da aflio como resultado
de 'feitiaria' e de empreender aes teraputicas em casa de candombl. Ela explica
os insucessos anteriores em termos da superioridade de poder mgico do pai ante o
qual aqueles pais e mes-de-santo sucumbiram, assim como ocorreu com ela e com
toda a sua famlia. No entanto, no podemos afirmar que Rose est to presa a concep-
es e propostas teraputicas fornecidas pelo candombl ou umbanda que no seja
capaz de distanciar-se destas e submet-las crtica; o exemplo de que isto ocorreu a
incurso de Rose igreja pentecostal, para a qual foi levada pelas vizinhas.
Pode-se argumentar que, quer seja no candombl, na umbanda ou na igreja
pentecostal, a busca de resoluo para os problemas, realizada por Rose, assenta-se
em solo comum de crenas, do qual faz parte a crena em feitio; esta seria, assim,
uma zona de pressupostos, ou seja, um setor do mundo que parece no necessitar de
maiores investigaes e sobre o qual se apoiam as diferentes interpretaes. No que
concerne a esta questo, h dois pontos a observar: primeiro, o que fica na zona de
pressupostos e, portanto, no questionado, ele mesmo assunto a ser definido em cada
situao; o interesse mo que motiva o pensar, projetar, agir; que divide o campo no
problemtico do problemtico e distingue as zonas de relevncia. O segundo aspecto,
que no se pode deixar de ter em conta que qualquer questionamento do mundo surge
com base naquilo que tido como suposto, em algo que se acredita conhecer.
A interpretao dada, sua problematizao, reinterpretao, escolha entre
vises e cursos de ao alternativos no emergem de uma preferncia a partir da
indiferena. Uma escolha "o surgimento de uma preferncia unificada a partir de
preferncias concorrentes" (Schutz, 1979:150). As escolhas entre interpretaes e
aes teraputicas so, portanto, possibilidades problemticas, originadas da d-
vida, da existncia de diferentes perspectivas. Na definio da situao, o ator
transforma seu mundo de possibilidades em aberto em possibilidades problemti-
cas (Alves & Souza, 1994).
A escolha entre possibilidades distintas, ao mesmo tempo em que remete s
experincias passadas, refere-se tambm ao futuro. Nas palavras de Dewey (apud
Schutz, 1979), deliberar significa "um ensaio dramtico na imaginao de vrias li-
nhas de ao concorrentes possveis". A escolha implica, portanto, projetar, tecer fan-
tasias dentro de um quadro dado de acontecimentos e conhecimentos j incorporados
pela experincia. Ao mesmo tempo, o fim futuro visado pelo projeto que vem ilumi-
nar, em retorno situao presente, conferindo a esta seu significado. Para Rose, a
formulao de um projeto de cura, que inclui o recurso a tratamento em casa de can-
dombl, orienta o olhar que ela lana ao seu passado e d sentido a sua vida, segundo
ela, uma trajetria marcada desde sempre pela relao com o pai e, por meio deste, com
as foras da 'magia negra', que sero detidas pela adoo de medidas teraputicas.
A adeso a esquemas interpretativos e a escolha de tratamento, desse modo,
no pode ser pensada exclusivamente em termos do repertrio de possibilidades den-
tro do universo cultural no qual os atores esto inseridos. fundamental ter em conta
o uso a que se prestam os smbolos e imagens de um dado universo ou as respostas
particulares que suscitam e que so incorporadas reflexivamente s percepes, senti-
mentos e estados que compem as trajetrias passadas dos indivduos, s quais so
atribudas novas cargas significativo/emotivas (Souza & Rabelo, 1995).
A reinterpretao do passado luz das circunstncias atuais e dos projetos que
esto orientando as aes dos indivduos se faz concomitantemente a um processo de
reconstituio da identidade. No ato de reconstruir narrativamente uma trajetria em
que no apenas um caso de doena, mas a prpria biografia do indivduo refeita,
procura-se encobrir inconsistncias e preencher as lacunas presentes na histria. Atra-
vs do relato, um comportamento, recordaes e eventos so retrospectivamente reco-
nhecidos como recorrentes e representativos de uma tendncia; so tratados como
' documento de' ou como 'apontando para' um suposto padro subjacente trajetria
do indivduo. depois de revelado ou, para dizer melhor, construdo o padro, este
pode ser confirmado por eventos posteriores. No entanto, como as novas ocorrncias
nunca preenchem completamente as expectativas, na medida em que se desenrolam os
acontecimentos, os prprios padres supostos vo sendo modificados para que se pos-
sa manter a unidade e a coerncia da histria (Garfinkel, 1967).
Por conseguinte, na narrativa de Rose, elementos so selecionados e enfatizados
com o intuito de evidenciar a coerncia, o sentido da histria que vem narrando: a mal-
dade do pai revelada pela sua brutalidade na relao com os familiares, sua capacidade
de seduzir e manipular as pessoas, o fato de levar crianas a sesses de magia negra, o
contedo das alucinaes - a voz do pai gritando insultos, as pegadas do cavalo de So
Jorge - , os insucessos em tentativas anteriores de cura et c, tudo isto organizado na
narrativa de modo a tornar convincente a verso apresentada por Rose de que seu pai
um grande ' macumbeiro' , responsvel pelas perturbaes que ocorrem em sua vida.
Na apresentao de sua histria, so descritos, adicionados, diversos fatos e
eventos que corroboram e tornam plausvel a interpretao. Assim, conferida uma
unidade narrativa, de modo a formar um quadro em que Rose transcende o aqui e
agora, "estabelece pontes entre diferentes zonas dentro da realidade da vida cotidiana
e as integra em uma totalidade dotada de sentido" (Berger, 1985:59). deste ponto de
vista que podemos dizer, como Merleau-Ponty (1994), que as trajetrias individuais
contadas padecem de "iluso retrospectiva", ou seja, tendo concebido uma teia de
relaes sociais como externas e anteriores a ele, o indivduo, ento, retrospectiva-
mente, assume a predominncia sobre seu destino. A trajetria individual concebida
como governada por padres que parecem ser independentes da apreenso que os
sujeitos tm deles e que se impem a sua apreenso. A realidade da vida enfocada
como constituda por uma ordem de objetos que foram designados como objetos antes
da sua entrada em cena.
A exigncia de uma coerncia na narrativa, ainda que relativa, no atende ape-
nas necessidade dos indivduos de conferirem sentido a suas vidas; a elaborao de
histrias com certa unidade e, em especial, com plausibilidade serve tambm, por um
lado, como instrumento de dilogo com outros, com os quais eles interagem (Souza,
1995). Quando o indivduo escolhe determinada forma de se apresentar aos outros,
espera que o tratamento recebido seja condizente; todavia, para que isso ocorra pre-
ciso que o personagem seja crvel, que a histria seja plausvel para os outros (Goffman,
1975). Por outro lado, para que uma interpretao seja subjetivamente dotada de sen-
tido, deve ser afirmada como ' real' por outros membros do grupo social. a colabora-
o de outros tidos como significativos e a confiana na continuidade desta colabora-
o que garantem a sustentao de uma verso dos fatos e da auto-imagem dos indiv-
duos (Alves, 1993; Souza & Rabelo, 1995).
No caso de Rose, a interpretao da enfermidade como resultado de 'feitia
ria' , ' macumba' , ao mesmo tempo em que permite a ela ordenar sua experincia e
fazer emergir um sentido de identidade para si, instaura uma relao dialgica, o que
lhe permite compartilhar a sua vivncia com outros, para quem a explicao fornecida
nestes termos, fundamentada em solo comum de crenas, adquire plausibilidade. Alm
disso, a verso apresentada adquire maior grau de ' veracidade' para si e para outros
quando corroborada por outros que lhe so significativos, como o irmo, e por especi-
alista, como o pai-de-santo que sustenta e legitima a histria apresentada.
A presena desses outros com quem Rose dialoga fica evidenciada na narra-
tiva, mediante o uso de discurso citado. Ao relatar sua histria, ela lana mo de
falas atribudas a outros - o irmo, pais-de-santo e vizinhos - para fortalecer e legi-
timar a viso apresentada. Neste sentido, a recorrente utilizao do discurso citado
chama tambm a ateno para situaes em que a identidade pessoal ou a posio
social do falante , em alguma medida, insuficiente para garantir a verdade ou a
autenticidade de suas afirmaes. justamente o caso de Rose, que tem sua prpria
identidade ameaada pelo fato de ter passado um perodo de internamento em hospi-
tal psiquitrico e ser considerada doente mental. A citao, um dos principais meios
de fazer com que enunciados passem a ser vistos como fala autorizada, diz respeito
habilidade do falante para trazer baila vozes alheias que acrescentem peso moral
a sua fala (Hill & Zepeda, 1993).
CONCLUSO
A elaborao de narrativas e a busca de instituies teraputicas so tentativas
de conter a ameaa de desmoronamento do mundo da vida trazida pela doena. Em
tais circunstncias, a prpria identidade do indivduo colocada em cheque, sua traje-
tria repensada, ele se volta para seu passado a fim de descobrir o sentido das expe-
rincias vividas. Ao ser contada, a vida encontra sentido, vista como unidade,
englobada em um horizonte onde o sujeito torna-se personagem e a histria ganha
perspectiva de resoluo (Rabelo & Alves, 1995). E, na medida em que os indivduos
singulares esto sempre imersos no social, esse processo de redefinio de identidade
tambm fruto da colaborao de outros tidos como significativos, devendo, para que
possa ser sustentada, ser plausvel para outros.
Explicar para si e para os outros, dar sentido e coerncia, narrar uma histria
de aflio, reunir sob um nome um conjunto de sensaes de mal-estar fsico e ps-
quico so atos interpretativos. Interpretar envolve a utilizao de quadros de refe-
rncia, ou seja, de um estoque de conhecimento mo, herdado de uma tradio
cultural, mas sempre renovado a partir dos novos acontecimentos e conhecimentos.
O estoque de conhecimento acessvel tem o carter aberto a retificaes ou corrobo
raes de experincias por vir. Se este apresenta como trao essencial a fluidez e a
processualidade, a configurao que assume a cada momento determinada pelo
fato de os indivduos no estarem igualmente interessados em todos os aspectos do
mundo ao seu alcance. o projeto, formulado aqui e agora, que dita o que relevan-
te ou no na situao. a projeo de um mundo futuro e o retorno ao presente, em
que aquele mundo perfeito e acabado trazido cena, o que determina o conheci-
mento do mundo presente.
NOTAS
* Os dados analisados neste artigo foram coletados no mbito da investigao "Social and
Cultural Landmarks for Community Mental Health: resources and management related to
Mental Health", financiada pelo International Development Research Center (IDRC), cuja
coordenao est a cargo do Dr. Carlos Alberto Caroso e do Dr. Paulo Csar Alves. A
coordenao da vertente urbana da pesquisa cabe aos profs. Paulo Csar Alves e Mriam
Rabelo, dos Programas de Ps-Graduao em Sociologia e em Sade Coletiva da UFBA e
aos pesquisadores do Ncleo de Estudos em Cincias Sociais e Sade/UFBA. Agradeo a
Paulo Csar Alves, Mriam Rabelo e a Maria Gabriela Hita pelas sugestes, assim como a
Litza Andrade Cunha, em cuja companhia realizei a entrevista com Rose.
1 Self entendido aqui de acordo com a definio de GIDDENS (1989:41): " a soma daquelas
formas de recordao por meio das quais o agente caracteriza reflexivamente que' est na
origem de sua ao. O self o agente enquanto caracterizado pelo agente. Self, corpo e
memria esto, portanto, intimamente relacionados".
2 Os personagens desta histria tiveram seus nomes modificados. O que contado neste arti-
go apia-se basicamente no depoimento de Rose, embora tenhamos acrescentado informa-
es obtidas em conversas com seu irmo.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ALVES, P. C. A experincia da enfermidade: consideraes tericas. Cadernos de Sa-
de Pblica, 9(3):263-271, 1993.
ALVES, P. C. & SOUZA, I. Escolha e Avaliao de Tratamento para Problemas Mentais:
o itinerrio teraputico. In: ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS, XVTJI, 1994, Caxambu,
Minas Gerais.
BERGER, P. A Construo Social da Realidade. Petrpolis: Vozes, 1 9 8 5 .
GARFINKEL, H. Studies in Ethnomethodology. New Jersey: Prentice Hall, 1 9 6 7 .
GIDDENS, A. A Constituio da Sociedade. So Paulo: Martins Fontes, 1989.
GOFFMAN, . A Representao do Eu na Vida Cotidiana. Petrpolis: Vozes, 1975.
GOFFMAN, E. Estigma. Notas sobre a Manipulao da Identidade Deteriorada. Rio de
Janeiro: Zahar, 1978.
HILL, J. & ZEPEDA, O. Mrs. Patricio's Trouble: the distribution of responsibility in an
account of personal experience. In: HILL, J. & IRVINE, J. (Orgs.) Responsibility an
Evidence in Oral Discurse. Cambridge: Cambridge University Press, 1 9 9 3 .
MERLEAU-PONTY , J. Fenomenologia da Percepo, led. 1 9 4 5 . So Paulo: Martins Fon-
tes, 1994.
RABELO, . Religio e cura: algumas reflexes sobre a experincia religiosa das clas-
ses populares urbanas. Cadernos de Sade Pblica, 9 ( 3 ) : 3 1 6 - 3 2 5 , 1 9 9 3 .
RABELO, M. & ALVES, P. C. Tecendo Self e emoes em narrativas de nervoso. In:
REUNIO REGIONAL DA ASSOCIAO BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA - ABA (Merco)SUL,
V, 1995, Tramanda, Rio Grande do Sul.
RABELO, M; ALVES, P. C. & SOUZA, I. The many meanings of mental illness among the
urban poor. In: HARPHAM, T. (Org.) Mental Health and Urbanisation in Developing
Countries. Londres: Ashgate, 1995.
SCHUTZ, A. Fenomenologia e Relaes Sociais. Rio de Janeiro: Zahar, 1979.
SOUZA, I. Na Trama da Doena: uma discusso sobre redes sociais e doena mental,
1 9 9 5 . Dissertao de Mestrado em Sociologia, Salvador: Universidade Federal da
Bahia.
SOUZA, I. & RABELO, M. Imagens do Eu em uma trajetria de enfermidade. In: ENCON-
TRO ANUAL DA ANPOCS, XIX, 1 9 9 5 , Caxambu, Minas Gerais.
10
Motivaes para Doar e Receber:
estudo sobre transplante renal entre vivos
Zulmira Newlands Borges
Este artigo* o resultado de reflexes decorrentes de pesquisa de dissertao
de mestrado,
1
realizada entre os anos de 1991 e 1993, ocasio na qual se acompanhou,
em dois hospitais de Porto Alegre, a trajetria de pacientes espera de transplante
renal e de pequeno grupo de pacientes que j havia recebido rim de parente doador
vivo. Este tipo de transplante dos mais praticados, em especial pela particularidade
de o rim, por ser rgo duplo, poder ser doado em vida, desde que por parente de
primeiro grau. Entretanto, o objetivo deste texto mostrar que a doao entre vivos
desencadeada por aspectos muito mais sociais do que biolgicos, os quais se funda-
mentam em noo mais relacionai de pessoa, como ser demonstrado a seguir.
Os pacientes j portadores de insuficincia renal crnica, espera de transplante
renal, tm a possibilidade de realizar a dilise, processo de filtrao que substitui as funes
renais durante o tempo de espera por rgo compatvel. O tipo de dilise mais eficaz e
mais utilizado a hemodilise, na qual os pacientes ficam conectados, por meio da
corrente sangnea, a uma mquina conhecida como 'rim artificial', que substitui a fun-
o dos rins. Este procedimento mdico realizado trs vezes por semana, variando de
trs a quatro horas por dia, e pode durar toda a vida do paciente, a menos que ele receba
transplante e possa dispens-lo. Tecnicamente, o transplante renal no , portanto, a
nica possibilidade de sobrevida desses pacientes. Entretanto, o transplante acaba sendo
desejado, pois o perodo de hemodilise descrito pelos pacientes j transplantados
como poca de muito sofrimento, angstia, aprisionamento mquina e dependncia.
Importa dizer que o transplante entre vivos opo bastante dramtica na vida
de todos os informantes. A seguir, ser mostrada como essa possibilidade vai sendo
construda, enquanto projeto, para pacientes, doadores e familiares.
2
DA DOENA AO TRANSPLANTE
O ingresso na hemodilise reconstrudo, em qualquer ocasio, como momen-
to dramtico. Quase sempre constitui evento inesperado, que submete a ordem cotidi-
ana condio da doena renal irreversvel e dependncia de uma mquina.
Tendo convivido por vrios meses com pacientes em hemodilise, pde-
se observar que, entre aqueles que estavam a menos de um ano sob esse tratamen-
to, era comum a idia de que o rim poderia voltar a funcionar, portanto o trans-
plante ainda no configurava projeto concreto.
3
A idia de se submeter a um trans-
plante vai sendo construda lentamente pelos pacientes. Esta cirurgia sempre
vista como ' ltima alternativa' , ou seja, o que predomina constantemente nesse
perodo a esperana de no ter que necessitar de tal procedimento. Nos primeiros
meses de hemodilise, os pacientes tm a expectativa de obter cura mgica ou
religiosa e so constantes as buscas por curas alternativas que possam evitar ou
encurtar o tempo de hemodilise, percebido como elemento desordenador da vida
do sujeito.
4
Com a continuidade da hemodilise e a confirmao da irreversibilidade da
doena, o enfermo sofre profundas modificaes, reconstruindo sua prpria identi-
dade social durante essa trajetria. Aps alguns meses nesse constante convvio hos-
pitalar, ele passa a ver-se como paciente terminal que necessita da mquina para
viver. Os horrios, o trabalho e at as relaes familiares se reorganizam, de forma a
adaptar-se relativa qualidade de vida que essa situao propicia. O espao hospita-
lar, entretanto, apresenta-se como local privilegiado para pensar a doena, pois ali
permanece, em constante processo de interao, uma equipe de profissionais da sa-
de - mdi cos, enfermeiros, atendentes, auxiliares e tcnicos das mqui nas de
hemodilise - , alm de inmeros outros doentes com diversificadas condies ge-
rais de sade, com ou sem possibilidade de transplante. nesse mbito que cada
paciente encontra ' tempo' para refletir sobre sua condio, e em conseqncia
dessa situao de interao e de reflexo que a possibilidade de vir a submeter-se a
transplante, seja de cadver seja de vivos, vai sendo construda.
No que se refere doao entre parentes - ou entre vivos - , o fato de uma
pessoa ser diagnosticada como paciente renal crnico - ou portador de insuficincia
renal irreversvel - no significa necessariamente que ocorrer a doao por parte de
familiar. Tendo entrevistado e acompanhado dez famlias nas quais ocorreu o trans-
plante entre vivos, pde-se observar que a doao foi deciso demorada, que envolveu
praticamente todos os membros da famlia, em particular a famlia nuclear do doador.
5
Nesses casos, o tempo de hemodilise variou de um a cinco anos, e a deciso de doa-
o abrangeu no apenas o receptor e seu doador, mas toda a famlia, ou seja, seus
pais, filhos e, em particular, os cnjuges.
Durante esse perodo de convvio hospitalar e de doena, o paciente questi-
ona uma srie de valores, pois a situao passa a ser vista como aprendizado de
vida, um tempo privilegiado para refletir e mudar. Neste sentido, o tempo ali
despendido, que pode ser considerado ' mort o' em relao ao trabalho, pois o
no-trabalho, adquire outro valor, pois tempo de aprender com as experincias
dos outros doentes - inclusive, com as crianas que fazem hemodilise - e de
mudar valores e hbitos.
DECISO SUCESSO DO TRANSPLANTE
Nesse processo de doena e de espera por transplante, um dos fatores
determinantes para a doao e para a aceitao a certeza do merecimento. O receptor
concorda em receber a doao no s porque sua sade est frgil, mas tambm por-
que acredita que pode faz-lo. A aceitao da doao se d em funo de diferentes
fatores, tais como: o sentimento de ter cumprido o que lhe foi imposto em termos de
trabalho, esforos e doao para a famlia antes da doena; o fato de ter passado com
sacrifcio pela hemodilise e, com pacincia, pelas dietas e restries; ter seguido as
ordens mdicas, bem como ter tido foras para enfrentar o perodo de espera pelo
transplante. Enfim, o receptor entende e acredita que a realizao e o sucesso do trans-
plante se devem ao seu merecimento.
Muitas vezes, o receptor decide investir nessa possibilidade de receber rgo
de parente vivo depois de j estar h alguns anos espera por rgo de cadver, de j
ter sofrido outros problemas de sade, de ter perdido algum 'colega de hemodilise' e
de ter enfrentado essas situaes com dignidade, confiana e esperana. Nesse senti-
do, o receptor sente-se moralmente forte e merecedor da soluo e ' liberao' median-
te o transplante, pois a mquina de hemodilise vista, com o passar dos meses, como
priso.
O doador, que era irmo() na maioria dos casos estudados, acompanha toda a
trajetria do doente. Depois de alguns meses ou anos de convvio, vindo a ser reafir-
mada a irreversibilidade da doena, torna-se cada vez maior o esforo por parte do
doente para manter-se em hemodilise, e o doador sente que pode fazer algo para
mudar e melhorar aquela situao. Entretanto, por ser deciso que envolve algum
risco, os respectivos cnjuges devem ser consultados e inicia-se um processo de
negociao dentro da famlia nuclear, envolvendo tambm os filhos do potencial
doador.
Com base nessa negociao, construiu-se a hiptese de somente ocorrer trans-
plante entre vivos quando predomina, nas partes envolvidas, uma noo relacionai de
pessoa. A deciso pelo transplante acaba sendo tomada em conjunto - o doador preci-
sa sentir-se apoiado para decidir e o receptor precisa saber que todos esto de acordo
para aceitar. A ' unio da famlia' aparece como uma das motivaes mais freqentes.
Alm disso, freqente existir gratido em relao ao passado, no caso de haver, por
exemplo, referncia a um tempo em que ele (receptor) sustentou a famlia. E, por fim,
destaca-se um sentimento de responsabilidade pela vida do irmo, ao mesmo tempo
em que existe sentimento de culpa por ver o parente piorando, tendo-se conscincia de
haver possibilidade de fazer algo para ajud-lo, surgindo tambm a dificuldade de
lidar com a fragilidade do doente.
Esse envolvimento familiar percebido como fundamental no apenas para a
tomada de deciso, mas para o prprio sucesso do transplante. assim que um dos
receptores, quando perguntado sobre as razes de o transplante ter dado certo, ressal-
tou o envolvimento de muitas pessoas nos ' pedidos' de cura:
... todo mundo fez promessa de tudo o que jeito quando eu no estava bem ...
at a madrinha do meu... meu irmo... (Maria, 50 anos, dona de casa, receptora)
Para outra receptora, o seu transplante deu certo por causa das ' energias' que
recebeu dc vrias pessoas:
Eu senti energia de uma srie de lugares tanto dos que j se foram como dos
que ainda esto aqui, os encarnados e os desencarnados... (Neli, receptora, 48
anos, dona de casa)
Como estes depoimentos indicam, a cura via transplante ordenada, entendida
e explicada mediante a existncia de vrias pessoas que ajudaram, auxlio este que
pode ser material, social ou mesmo espiritual. Tais depoimentos ressaltam a importn-
cia do apoio dos familiares durante a doena e na fase de espera pelo transplante. A
relevncia deste auxlio destacada tanto por doadores como por receptores: uma
doadora acredita que o transplante teve xito graas, especialmente, a sua espontanei-
dade em doar, ao amparo de toda a famlia, ao carinho com que se submeteu a todo o
procedimento de doao; uma receptora tambm acredita ter sido fundamental a es-
pontaneidade do doador, assim como foram essenciais o carinho e o apoio da famlia.
V-se, por meio destes relatos, que a questo do transplante ultrapassa procedi-
mentos cirrgicos e mdicos. O que determina o sucesso do transplante , muitas ve-
zes, o quanto esses sujeitos estavam de fato inseridos em sua rede de relaes familia-
res, j que dessas relaes que sair o apoio para o transplante entre vivos. A questo
biolgica, a da compatibilidade consangnea, que pode ser uma das caractersticas do
parentesco e que favorvel em termos mdicos, torna-se aspecto secundrio para os
envolvidos, em virtude de aspectos mais sociais.
TRANSPLANTE ENTRE VIVOS NOO DE PESSOA
No Brasil, as doaes entre vivos podem ocorrer somente entre parentes de
primeiro grau e com autorizao judicial, para evitar o comrcio de rgos. Neste
sentido, a ltima lei promulgada sobre o assunto, de 1992, que orienta toda a questo
da doao entre parentes, enfatizando o parentesco consangneo, mas abrindo a pos-
sibilidade de doaes entre cnjuges. Como se sabe, a compatibilidade sangnea c
gentica fator relevante no transplante, pois quanto maior o grau de identificao,
menores so as chances de rejeio. Entretanto, assim como o fato de ser parente no
implica a doao, o doador nem sempre se estabelece por este critrio. Existem impli-
caes que so mais da ordem do social que do biolgico, todavia ambas so
indissociveis. Um exemplo que ilustra essa relao ntima entre o biolgico e o social
a prpria pesquisa da compatibilidade de tecidos necessria ao transplante, que s
vem a ser descoberta ou comprovada se existe inteno de doar, se todos esto apoian-
do, se a famlia um valor a ser mantido. Essa relao de parentesco consangneo
acaba sendo iluminada pela inteno do transplante, embora no seja a principal
definidora da doao.
Abreu aponta a consanginidade como categoria organizadora das relaes de
parentesco: o sangue aparece como categoria que d conta da articulao entre a or-
dem da natureza e a da cultura. Segundo o autor:
Pelo sangue no se transmite apenas genes: a pessoa no nasce apenas na-
tureza, apenas corpo. A pessoa j nasce, de certo modo, moralmente constitu-
da, representante de uma famlia, de uma tradio. (Abreu, 1980:98)
Considerou-se que, nos casos de transplantes entre vivos, a doao se efetiva
entre aqueles que se vem enquanto representantes de uma famlia. Para que esta no
se desfaa enquanto tal, importa a manuteno de todos os seus membros. Alm disso,
doador e receptor repensam seu parentesco e seus vnculos antes e depois do trans-
plante, vnculos estes que, em geral, se estreitam sobremaneira depois do transplante.
O sangue aparece como elemento mediador das caractersticas morais de uma
pessoa,
6
na interpretao de Abreu (1980). Dentro desta mesma lgica, o transplante,
que possibilita a ' mistura' de corpos, parece ser mais admissvel entre ' pessoas' da
mesma famlia. Isto porque as motivaes para o transplante quase sempre remetem
necessidade da unio e manuteno da famlia, elemento englobante das relaes de
parentesco. Alm disso, a doao s se efetiva se todo o grupo familiar consentir; o
apoio dos familiares no envolvidos diretamente no transplante fundamental reali-
zao do transplante, que somente aceito porque o sujeito doente sente que o doador
vivo quer realmente faz-lo e que toda a famlia o apoia.
Tomou-se, neste trabalho, a famlia como o elemento englobante e definidor da
situao de transplante: o que possibilita o transplante, no caso daquele entre vivos,
o sentimento de pertencimento a uma mesma instituio que abarca doador e receptor.
em nome da reafirmao do valor dessa instituio que tal transplante possvel e,
em muitos casos, prefervel.
A famlia conforma uma identidade social que se estrutura pela oposio hie-
rrquica e complementar entre afins e consangneos (Abreu, 1980). a partir dessa
oposio que o papel de cada um vai sendo constitudo e afirmado. O transplante
tambm s possvel porque o receptor, em geral, teve atuao determinante na ma-
nuteno da famlia, seja por ter trabalhado pelo sustento desta, seja pela sua dedica-
o emocional, tendo adquirido assim, simbolicamente, posio superior ao doador na
hierarquia das relaes familiares e este, por sua vez, sente-se na obrigao de doar,
manifestando sentimento de dvida. No caso de a operao ser bem-sucedida e de no
ocorrer rejeio, h a idia de vitria coletiva tambm, pois o sucesso deve-se ao es-
foro e ao empenho de vrias pessoas.
O receptor, aps o transplante, sentir-se- 'modificado' e no raro far refern-
cias a ter adquirido ou ' incorporado' atitudes e gostos do doador. apenas a partir de
uma ' noo relacionai de pessoa' que pode surgir a noo de um transplante ter a
possibilidade de transmitir algo mais do que um rgo. Em outras palavras, a possibi-
lidade de transmitir qualidades morais s ocorre mediante prtica anterior de se 'clas-
sificar' em relao aos outros, com os quais se mantm relaes sociais.
Como grupo de referncia, a famlia fundamental para que se entenda o pro-
cesso de agradecimento posterior ao transplante. Nas palavras de um doador:
... era mais uma coisa humana na poca... a gente tem que pensamos da gente
primeiro n? ... ... se tivesse que fazer tudo de novo a gente ia de novo...
(Walter, 48 anos, metalrgico, doador)
Neste depoimento, mostra-se forte a noo de ' pertencimento' a um grupo. A
idia de que 'importante pensar nos da gente' remete ao fato de ser fundamental a
manuteno da solidariedade interna desse grupo. A famlia valor a ser mantido
como fonte de solidariedade, mas tambm de identidade coletiva. O transplante entre
vivos somente reafirma a solidariedade e o sistema de trocas j existente. Segundo
Mauss (1974), a troca princpio bsico de unificao social, configura um mecanis-
mo de manuteno social, mas s se torna possvel porque h um elemento englobante,
a sociedade.
A famlia, como grupo consangneo, possui forte rede de relaes estabelecidas
pelo parentesco, Por sua vez, o transplante se sobrepe a essa rede especfica de favo-
res e obrigaes j existentes, muitas vezes criando denso vnculo entre dois membros
desse grupo. Assim, a famlia essencialmente um grupo de referncia que cria, esta-
belece e renova alianas. Depois do transplante, doadores e receptores se percebem e
agem como mais ' prximos' , mais parentes, mais semelhantes do que em relao aos
outros na mesma condio de parentesco.
O alto nmero de transplantes entre vivos no se verifica apenas porque so
biologicamente favorveis, mas tambm porque partem de uma relao social
preestabelecida entre os pares. Criam e atualizam uma relao social previamente exis-
tente e do forma a novo vnculo de parentesco, no qual doador e receptor passam a
intensificar suas relaes em termos gerais - por meio de visitas, preocupaes, cuida-
dos, trocas de favores, atenes - chegando ao ponto de, em alguns casos, afirmarem
adivinhar ou saber antes o que ia acontecer com o outro, bem como, simultaneamente,
sentir, mesmo distantes, idntica emoo, dor ou mal-estar do outro. O pensamento de
estar curado graas a algum refora a necessidade de agradecer a vida recebida por
meio dessa pessoa.
A idia que aparece em relao ao transplante a de que doador e receptor
ficam como metades, com sensibilidade aumentada um em relao ao outro, como
expressa uma entrevistada:
... Somos como metades para sermos inteiros... o que eu posso dizer em relao
ao ato n?... ... quando ele fica doente no precisa nem me telefonar porque eu
j sei ...eu sinto a dor, e quando eu fico doente a mesma coisa, eu no preciso
telefonar porque ele no tem telefone ... ele liga e pergunta e eu t doente ou
ento ele vem e chega aqui e eu t de cama... (Laura, 43 anos, dona de casa)
Neste depoimento, aparece expressamente a idia de que, com o transplante, o
doador e o receptor se tornaram to mais prximos que um acaba sabendo ou sentindo
o que se passa com o outro. Alm disso, o fato de serem ' como metades para serem
inteiros' tambm remete ao fato de que eles, isoladamente, perderiam seus significa-
dos sociais de irmos dentro da famlia, ou seja, a transferncia do rim de um para o
outro trouxe para uma dimenso fsica aquilo que j existia no nvel simblico: a rela-
o de complementaridade e dependncia existente entre estes dois irmos pertencen
tes mesma famlia. A receptora se descreveu como a base, a ncora e o esteio do
ncleo familiar; o doador era o irmo mais jovem e muito ligado a ela.
A doao do rim, nos casos estudados, no poderia ser vista como exclusiva-
mente solidria ou altrusta: aquele que doa parece estar no s procurando manter e
melhorar a vida de seu parente, mas tambm manter algo de sua identidade enquanto
pessoa e membro daquela famlia. Portanto, embora a gratido do receptor, conse-
qente do transplante, desencadeie mudana de atitudes e maior ateno e dedicao
para com o doador, o processo de trocas que se segue no foi inaugurado com o trans-
plante, mas apenas reforado ou reiluminado.
No nos deteremos aqui acerca da questo da reciprocidade no transplante en-
tre vivos, entretanto, a discusso de Lanna (1996) sobre reciprocidade e hierarquia
mostra que algumas relaes podem ser, simultaneamente, recprocas e hierrquicas,
assim como possvel existir alternncia da dominao, onde a posio de cada ele-
mento pode ser rearticulada. No caso dos transplantes entre vivos, esses aspectos esto
presentes, pois a solidariedade est fundamentada em relao social anterior. O doa-
dor, nos casos estudados, tambm est retribuindo algo - amor, dedicao, ajuda - e,
desse modo, embora o transplante seja uma ao limite de troca, a relao de troca j
existia enquanto prtica social e valor, naquela famlia. esta relao anterior que faz
existir, para essas pessoas, uma identificao com seus doadores, ou seja, a possibili-
dade de adquirir hbitos ou gostos atribudos ao doador. A doao feita, a vida
dada, a partir de uma relao social j estabelecida.
7
No decorrer da doena e do processo de hemodilise, concomitante ao proces-
so de construo social da enfermidade, enfrentamento e luta pela vida, d-se a cons-
truo de uma identidade situacional de doente, tendo em vista um conjunto de papis
a ser desempenhado na doena
8
e tambm da ordenao, mesmo que temporria, de
seu mundo. Esta identidade situacional de doente surge a partir da 'situao de enfer-
midade' e no remete a uma identidade positiva, pois os sujeitos envolvidos s se
identificam como doentes e se solidarizam com os outros na medida em que isso o
ajudar a super-la. O perodo de hemodilise visto pelos pacientes como momento
no qual:
Todo mundo igual, o rico, o pobre, no tem diferena, ali [na doena e na
situao de hemodilise] tudo igual. (Neli, receptora, 48 anos, dona de casa)
A doena iguala os sujeitos e inscreve no corpo do doente uma srie de marcas.
Os prprios procedimentos hospitalares de manuteno da vida do paciente, como a
colocao da fistula,
9
os situa, assim, em posio semelhante, unifica-os de algum
modo. Pode-se dizer que, em certo sentido, os doentes passam por situao de
liminaridade, em certo sentido, como indivduos na igualdade perante a doena e as
regras hospitalares, para tornarem-se pessoas, com qualidades morais superiores s
que possuam antes de iniciar a situao de liminaridade.
No caso da Insuficincia Renal Crnica, a doena o elemento englobante e
instaurador de nova ordem a ser cumprida; todos esto submetidos a ela, na busca da
superao dos obstculos que lhes so impostos, e se ' homogeneizam' na luta pela
vida. O momento de hemodilise propicia que o paciente se confronte rotineiramente
com a relao entre o ser, o estar ou o no ser doente e reflita sobre a possibilidade de
realizar o transplante at o ponto em que este se configure em 'projeto maior' e
englobante de sua vida.
Importa salientar que a idia predominante quase sempre a de ' estar' doente,
ou seja, comum a doena e, conseqentemente, a hemodilise serem pensadas como
transitrias. No entanto, a hemodilise dura um longo tempo; so necessrios vrios
anos at que se encontre rim compatvel, ou mesmo, nos casos de doadores vivos, que
ambos os sujeitos estejam em condies de realizar a operao. Durante esse perodo
de espera, mais uma vez vemos ser ressaltada a importncia das relaes sociais na
luta por manter-se em tratamento e, posteriormente, por submeter-se a transplante.
O transplante estabelece uma relao de trocas em que potenciais doadores e
receptores tm papis e status complementares e hierrquicos em relao instituio
familiar que os engloba.
1 0
Cremos que o transplante entre vivos s possvel porque
existe relao de complementaridade entre doador e receptor, o que pressupe certa
dependncia: a perda de um elemento modificaria o papel do outro no contexto fami-
liar. Alm disso, o transplante reposiciona simbolicamente os dois integrantes do sis-
tema: muitas vezes quem estava em dvida era o doador, o qual, depois do transplante,
passa a ser credor simblico do receptor, pois seu status modificado em conseqn-
cia do gesto de doao. O doador cresce na hierarquia simblica da famlia, pela no-
breza e grandeza do gesto, e acaba por integrar-se mais na rede de parentesco, pois
doou o bem mais valioso que possui - sua sade e seu corpo - com o objetivo de
manter a unio da famlia.
O receptor, por sua vez, tambm se v mais inserido nas relaes familiares,
uma vez que foi capaz de superar todas as adversidades e o perigo da liminaridade da
doena, tornando-se moralmente mais forte com a superao da doena. Alm disso, o
receptor passa a estar mais inserido nas relaes familiares, tanto por legitimar, medi-
ante a atitude do doador, a sua importncia naquele grupo familiar, como por ter incor-
porado simbolicamente elementos de seu doador, elementos estes que so fsicos, mas
tambm morais.
Esta possibilidade de absoro do outro s concebvel se esse outro for ante-
riormente conhecido, aceito e amado. S se pode ' absorver' algo que tenha a mesma
essncia e natureza. Por meio desse mecanismo, pode-se explicar a vontade de conhe-
cer o doador no caso de transplantes de rgos de cadver. importante para o recep-
tor saber, entre outras coisas, quem era o doador, o que fazia. Segundo uma entrevis-
tada, por exemplo, seria difcil para ela conviver com a doao de cadver:
1 1
... eu acho to difcil saber que eu t com uma parte de uma pessoa que a gente
no conhece, nunca ouviu falar ...d uma sensao assim de um vazio to
grande ... [...] tu olha assim para ti... eu t curada graas a quem? ... a no
tem uma resposta, no tem nada...[...] normalmente nem se sabe de onde vem,
n? assim ... no se tem contato com famlia para saber se era novo, se era
velho ...se gostava disso ou daquilo ... que... parece que no tem importncia
mas tem, n? a gente gosta de saber ... eu, pelo menos, ia gostar de saber...
(Dalva, 37 anos, comerciante, receptora)
No jogo de trocas que ocorre com o transplante, o fato de o receptor ter doado-
res vivos em potencial lhe atribui certo diferencial, assim como o ato de doar parte de
seu corpo confere status especial ao doador dentro daquele grupo. O transplante atua,
portanto, como mecanismo que atualiza e reequilibra as relaes sociais e familiares,
sendo a famlia o elemento englobante e determinante do transplante, pois este no
ocorre sem o apoio desse grupo.
Por outro lado, essa mesma lgica que explica o fato de os transplantes com
cadver aparecerem, na poca da pesquisa, como pouco desejados ou pouco esperados
pelo grupo de pacientes em hemodilise. Ou seja, a possibilidade de absoro de ele-
mentos de doador desconhecido atravs de rgo que ' no se sabe de quem ' desarti-
cula essa estrutura na qual se constitui a noo de pessoa. No so poucos os depoi-
mentos de pessoas que afirmam que seria difcil 'receber' de cadver. O doador cad-
ver tem, quase sempre, o esteretipo de ' indivduo' , no sentido de que apenas corpo
sem vida, mas, e principalmente, sem laos, sem endereo. O rgo vindo de cadver
preponderantemente o de um desconhecido, cuja identidade , em princpio, escon-
dida do receptor na tentativa de evitar contato com a famlia e o desgaste que poderia
ocorrer decorrente desse encontro, por todas as questes que envolvem a relao doa-
dor/receptor e que, neste caso, se agravam.
A necessidade de receber ou aceitar o rgo se sobrepe necessidade de retri-
buir o gesto; uma das maneiras de aceitar o rgo , no sentido de Mauss, reconhecer o
esprito da coisa dada, aceitar o outro que vem junto, que parte da coisa ofertada. Um
exemplo disso citado por Halpcrin (1989) no relato acerca de uma paciente que recebe
novo rim e fala dele como um presente, um filho que ela vai carregar na barriga pelo
resto da vida.
So comuns depoimentos de aceitao ou incorporao de hbitos dos doado-
res pelos receptores. Esta incorporao de hbitos fundamental para a compreenso
da lgica presente no transplante entre vivos, uma vez que se torna mais fcil fazer o
transplante quando o doador conhecido, na medida em que h um sistema simblico
por referncia ao qual um sujeito se constitui ' Joo' ou ' Pedro' , com base em uma
srie de relaes sociais que ele estabelece com outros familiares e amigos.
Na verdade, esse sistema de trocas de cuidados e bens simblicos ou no, que
se estabelece entre doador e receptor aps o transplante, no esttico e, por defini-
o, j conseqente de mudana da hierarquia entre doador e receptor. Como nos
ensina Dumont (1985), a hierarquia pode ser sucintamente denominada englobamento
do contrrio e, no caso, ambos - doador e receptor - so elementos complementares
da mesma totalidade, a famlia. O englobamento do contrrio na relao entre doador
e receptor se estabelece por intermdio do ato de doao, pois quando um doa algo que
falta ao outro - sade - uma situao hierrquica se forma, unificando os dois elemen-
tos. Em geral, o doador, antes da doao, sente-se em dvida com seu parente e, atravs
do ato de doar, no s lhe demonstra agradecimento, reconhece e reafirma sua impor-
tncia para a famlia, como tambm, pelo gesto da doao de seu bem mais precioso -
a sade - pode mudar temporariamente de uma posio inferior para uma superior,
alternando sua posio e seu valor no sistema familiar.
Tal oposio hierrquica, enquanto relao englobante-englobado ou entre con-
junto e elemento (Dumont, 1985), parece ser essencial para a compreenso da lgica
das representaes concernentes ao sucesso na situao do transplante pois, como j
foi dito, a existncia da famlia como valor c fundamental para tal deciso.
NOTAS
* Agradeo Daniela Riva Knauth, pela atenciosa leitura e comentrios, bem como Maria de
Nazareth Agra Hassen, pela reviso gramatical e contribuio para a elaborao deste artigo.
1 Dissertao esta intitulada: Quando a Vida um Dom: um estudo sobre a construo
social da doena e as representaes sobre o transplante renal (BORGES, 1993).
2 Sobre a noo de projeto, ver VELHO (1981).
3 Embora no seja o objetivo deste artigo desenvolver uma discusso sobre a questo do
tempo na doena crnica, essa dimenso importante na constituio das motivaes para o
transplante, em especial pela questo da espera. Para discusso acerca da questo do tempo
na Medicina, ver FRANKEMBERG ( 1992) , e na construo de doenas culturalmente definidas,
ver HELMAN ( 1992) .
4 MONTERO ( 1985) discute sobre a cura mgica na umbanda, em que procedimentos rituais e
religiosos restituem a integridade social do sujeito, colocando o processo "altamente
desordenador" da doena em um sistema explicativo e simblico que lhe "reordena" a vida.
5 Vale ressaltar aqui que o grupo aleatoriamente selecionado foi composto, em sua maioria,
por pessoas cujos transplantes ocorreram entre irmos, tendo havido um caso de filha que
recebeu da me e um outro, de filha que doou para a me. As entrevistas foram obtidas entre
os anos de 1992 e 1993, durante trabalho de campo para dissertao de mestrado. Ver
BORGES ( 1993) .
6 FERREIRA (1993), da mesma forma, mostra que cada rgo se presta a uma gama de interpre-
taes possveis sobre suas funes e significados. Elementos do corpo carregam qualida-
des culturais e so ricos em significados.
7 Pensa-se a famlia como totalidade englobante, no sentido de DUMONT ( 1985) , cujo princ-
pio hierrquico que a mantm e organiza a responsvel pelo transplante.
8 DUARTE (1986) trabalha o prisma situacional na constituio do nervoso nas classes populares.
9 A fistula, ou catter, um implante artificial colocado no brao do paciente que possibilita
acesso rpido corrente sangnea e conexo eficiente com a mquina de hemodilise. Para
maiores informaes, ver BORGES (1993).
10 DUMONT ( 1985) v a hierarquia como categoria de pensamento universal, atravs da qual o
homem 'organiza' a sua vida por meio do mecanismo de englobamento do contrrio. Sa-
de e doena so elementos que reativam essa lgica dentro das relaes de parentesco. A
hierarquia uma realidade primeira, categoria ordenadora da realidade com a existncia de
pelo menos uma oposio distintiva e complementar (DUMONT, 1985: 51). ABREU ( 1980)
aponta esta distino em nvel de parentesco nas categorias de consanginidade/afinidade
como indicativos de oposio entre identidade substantiva e identidade relacionai.
11 Referncia negativa quanto ao transplante com cadveres foi comum nas entrevistas. GERHARDT
( 1996) tambm aponta para uma valorao diferenciada entre um tipo de transplante c ou-
tro, sendo o transplante com doador vivo considerado melhor, segundo a autora, por propi-
ciar o uso de baixas doses de drogas imunossupressoras, bem como por diminuir efeitos
colaterais, como o aumento de peso.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS.
ABREU, O. Parentesco e identidade social. In: . Raa, Sangue e Luta: identidade e
parentesco em uma cidade do interior, 1980. Dissertao de Mestrado, Rio de
Janeiro: Museu Nacional.
BORGES, . N. Quando a Vida um Dom: um estudo sobre a construo social da
doena e as representaes sobre o transplante renal, 1993. Dissertao de
Mestrado, Porto Alegre: Programa de Ps-Graduao em Antropologia Social,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
DUARTE, L. F. D. Da Vida Nervosa (nas classes trabalhadoras urbanas). Rio de Janei-
ro: Zahar/CNPq, 1986.
DUMONT, L. O Individualismo: uma perspectiva antropolgica da ideologia moderna.
Rio de Janeiro: Rocco, 1985.
FERREIRA, J. O Corpo Sgnico: um estudo sobre as representaes sociais sobre corpo,
sintomas e sinais em uma vila de classes populares, 1993. Dissertao de Mestrado,
Porto Alegre: Programa de Ps-Graduao em Antropologia Social, Universida-
de Federal do Rio Grande do Sul.
FRANKENBERG, R. Y our Time or Mine: temporal contraditions of biomedical practice. In:
FRANKENBERG, R. (Org.) Time, Health & Medicine. London: Sage Publications, 1992.
GERHARDT, U. Narratives of normality: end-stage renal-failure patients experience of
their transplant options. In: WILLIAMS, R. & CALNAN, A. (Eds.) Modern Medicine
Lay Perspectives and Experiences. Berkeley: University of California Press, 1996.
HALPERIN, C. Em Busca da Vida: implicaes emocionais do transplante renal. Pro-
grama de Ps-Graduao em Psiquiatria, Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, 1989. (Mimeo.)
HELMAN, C. Heart disease and the cultural construction of time. In: FRANKENBERG, R.
(Org.) Time, Health & Medicine. London: Sage Publications, 1992.
LANNA, M. Reciprocidade e hierarquia. Revista de Antropologia (USP), 39(1), 1996.
MAUSS, M. Ensaio sobre a ddiva. Forma e razo da troca nas sociedades arcaicas. In:
Sociologia e Antropologia, v.2. So Paulo: Edusp, 1974.
MONTERO, P. Da Doena Desordem: a magia na umbanda. Rio de Janeiro: Graal, 1985.
VELHO, G. Projeto, emoo e orientao em sociedades complexas. In: Individualismo
e Cultura (Notas para uma Antropologia de sociedades complexas). Rio de Janei-
ro: Zahar, 1981.
Sexualidade e Gnero
1 1
Morte Masculina: homens portadores do
vrus da AIDS sob a perspectiva feminina*
Daniela Riva Knauth
A contaminao das mulheres pelo vrus da AIDS por meio de relao sexual
com seus prprios maridos ou parceiros fixos - que vem demonstrando ser um dos
principais ' focos' de expanso da epidemia
1
- implica uma srie de questes em nvel
de relao conjugal. Por um lado, para as mulheres pertencentes s camadas mais
desfavorecidas da populao, o fato de a contaminao ter ocorrido dentro da relao
conjugal atesta sua legitimidade e, ao mesmo tempo, as diferencia dos demais acome-
tidos pela doena, isto , daqueles que a ' procuraram' , como os homossexuais, os
usurios de drogas e as prostitutas. Por outro, a posio que cada um dos termos da
relao assume, em face da doena e do outro, explicita as ambigidades inerentes
prpria relao de aliana e relao conjugai, revelando a perspectiva de gnero e a
viso de mundo que orientam os comportamentos.
O objetivo do presente artigo analisar de que modo a contaminao pelo
vrus HIV elaborada dentro da relao conjugal. Privilegiaremos, para isso, em um
primeiro momento, as representaes das mulheres contaminadas por seus maridos
a respeito dos homens, ou seja, como as mulheres vem os homens a partir da conta-
minao e quais as conseqncias disso no mbito da relao conjugal. Na parte
final do artigo, procuramos resgatar, em nvel mais analtico, como as diferentes
maneiras de pensar masculinas e femininas ante a doena so condizentes com os
valores de gnero que estruturam as relaes entre homens e mulheres dentro dos
grupos populares.
2
Para o senso comum, a AIDS, alm de aparecer enquanto doena do ' outro' -
seja qual for a qualificao dada a esse outro: homossexual, prostituta, drogado, pro-
mscuo - , vista sob perspectiva 'culpabilista', isto , existe separao entre 'culpa-
dos' e ' vtimas' da doena.
3
A partir deste ponto de vista, as mulheres consideradas
neste trabalho poderiam ser tomadas ou se perceberem como vtimas e, atravs da
responsabilizao de seus parceiros pela contaminao, a ruptura da aliana se apre-
sentaria como o desfecho natural da situao. No entanto, importa salientar que essa
perspectiva no partilhada pelas mulheres, porque elas no culpam o marido pela
contaminao, visto este no ter agido de forma intencional - ' de propsito' - e tam-
bm por no conceberem a ruptura da aliana como alternativa para a situao, como
atesta o fato de que em nenhum dos 40 casos acompanhados houve separao em
conseqncia da doena.
'LIBERDADE' MASCULINA
Na representao das mulheres, o homem visto como um ser ' naturalmente'
livre. Socialmente, ele dispe de maior liberdade por estar associado ao espao pbli-
co e, interiormente, necessita de independncia para viver. Esta liberdade atribuda
aos homens se manifesta, em particular, no fato de no precisarem justificar seus
comportamentos, uma vez que sua simples vontade - ' querer' - no deixa margem
para contestaes femininas. Ela se realiza tambm por meio de prticas caracteristi
camente masculinas, tais como o consumo dc bebidas alcolicas e de drogas, alm dos
diferentes tipos de reunies entre pares - clubes esportivos, bares etc.
As mulheres queixam-se incessantemente desse comportamento masculino, que
consideram extremamente prejudicial sade - o que agravado em razo da possibi-
lidade dc infeco pelo vrus da AIDS - e ao desempenho das atribuies sociais e da
reputao moral dos homens. Mas, apesar de contestarem o comportamento de seus
maridos, lhes atribuem apenas parcela da responsabilidade. Em primeiro lugar, por-
que julgam este tipo de comportamento como intrnseco prpria condio masculi-
na; em segundo, porque acham que este tambm incentivado por outros, isto , pelas
' ms-companhias' - categoria que compreende, de fato, praticamente todo o gnero
masculino e ainda algumas mulheres, as 'de rua'. Os depoimentos a seguir ilustram esta
responsabilizao dos outros homens pelo comportamento de seus maridos. Ao contar
ter denunciado o marido ao Conselho Tutelar, uma de nossas informantes afirma:
Ele [o marido] anda de novo metido com droga. Ele se droga e da passa
a noite fora de casa. S volta para casa de madrugada e da ele dorme toda a
manh. eu fico sozinha para fazer comida, lavar roupa, ir no mercado, cui-
dar do guri... Ele no quer nem saber... Ele dorme toda a manh. (...) O proble-
ma so estas ms-companhias que ele sempre anda metido. Aqui na vila tem de
tudo... Essa gente com quem ele anda no so boa coisa... Quando ele pega
dinheiro no servio, ele vai e compra droga, gasta todo o dinheiro com droga.
Ele no pensa que preciso trazer leite e comida para casa. (Judite, 35 anos)
Uma outra informante, ao falar do comportamento de seu marido, revela mais
sobre a vila onde mora do que sobre ele prprio:
Aqui tem muita cocana. Em todas as esquinas tem cocana. Tu achas que
algum te oferece um saco de leite, um dinheiro? Mas cocana todo mundo te
oferece. O Nego [seu marido] diz que ele at que muito forte porque se ofere-
cem [cocana] e ele no quer, chamam ele de frouxo, de medroso. (...) Tem um
compadre meu que est sempre com isto, anda num estado... (...) Da ele vai l
em casa, convida o Nego... Ainda bem que eles se desentenderam, ao menos
assim meu marido fica longe de droga. Eu tenho horror disso! (...) Esses dias,
eu cheguei em casa e estava todo mundo l. Eu no sei o que eles estavam
fazendo, mas eu cheguei e corri com todo mundo. Um at disse para o Nego:
'Tu no me falou que a tua mulher era assim'.(...) Depois o Nego me perguntou
porque que eu fao isso e eu disse: 'Eu fao porque aqui a minha casa, tem
o meu filho e eu no gosto destas coisas'. Um outro dia, quando ele estava
precisando de dinheiro eu perguntei: 'Onde esto teus amigos? Se fosse para
comprar cocana todo mundo tem, mas se no para isso ningum faz nada'.
(Ftima, 27 anos)
Mas as mulheres no se contentam somente em lamentar o comportamento
masculino; impem restries liberdade dos companheiros, especialmente quando
esta invade o domnio feminino por excelncia - a casa - ou ao comprometer a funo
masculina de provedor. Assim, se algumas prticas esto associadas condio mas-
culina, devem tambm limitar-se apenas ao espao pblico pois, se extrapolam para o
espao domstico, colocam em questo a respeitabilidade feminina. Dessa forma, se a
liberdade masculina tolerada pelas mulheres, no deixa de ser contraditria com
relao ao prprio casamento, razo pela qual esta liberdade deve, no mnimo, respei-
tar as principais clusulas desse acordo, dentre as quais se inclui o domnio feminino
sobre o espao domstico.
Esta condio vlida tambm para as relaes amorosas e sexuais mantidas
pelos homens fora do casamento. As mulheres reconhecem a ' necessidade' fisiolgica
dos homens em termos sexuais, tanto que uma das principais Obrigaes' que assu-
mem no casamento a de satisfaz-la. No entanto, admitem tambm que esta 'neces-
sidade' nem sempre plenamente satisfeita na relao conjugai, seja em razo de
algum contratempo eventual - como a falta de privacidade domstica, o nascimento
de uma criana ou mesmo o fato de residir temporariamente em cidades diferentes - ,
seja em decorrncia dos prprios limites da prtica sexual das mulheres, como por
exemplo a recusa em manter relaes sexuais anais e/ou orais.
4
Na concepo das
mulheres, no existe homem que no tenha tido relaes extraconjugais ou, como
afirmam, ' dado seus pulinhos' . O fato dc os homens terem outras relaes no con-
siderado grave, por ser considerado parte da prpria 'natureza' masculina e, sobretu-
do, porque foi a elas que eles escolheram para concretizar uma aliana e no outra
mulher qualquer - ou 'mulher de rua' - , ou seja, elas que so publicamente reconhe-
cidas como esposas.
Do ponto de vista feminino, os homens, em razo mesmo de sua 'natureza' -
que os faz gostar das drogas, do lcool e do sexo - , so totalmente vulnerveis s ms
influncias, venham essas dos amigos ou das outras mulheres. Para as mulheres, seus
maridos so potencialmente bons, porm, ao mesmo tempo, facilmente corruptveis, o
que explica seus comportamentos. O papel da esposa - e, tambm, uma das funes do
casamento - consiste em tentar controlar essas ms influncias, uma vez que evit-las
completamente tido como impossvel.
Segundo as mulheres, os homens no conseguem sobreviver muito tempo sem
ter uma mulher que se ocupe deles.
5
Primeiro, a prpria sade masculina que
colocada cm jogo, j que os excessos aos quais os homens esto submetidos, pela
companhia de seus pares e/ou das 'mulheres de rua', debilitam-nos fisicamente. Preci
O FIM DOS HOMENS
Esta percepo feminina da vulnerabilidade masculina fundamental para a
compreenso da atitude adotada pelas mulheres ante a contaminao pelo vrus da
AIDS por meio de relao sexual com seus prprios maridos. J salientamos que as
mulheres no os culpam pela sua contaminao, pois a prpria contaminao mascu-
lina mediante relaes extraconjugais ou utilizao de drogas endovenosas admitida,
visto serem estas prticas intrnsecas condio masculina.
6
A ruptura da aliana uma possibilidade que as mulheres colocam, sobretudo
imediatamente aps tomarem conhecimento de que so portadoras do vrus HIV. Existe
mesmo certa 'presso social', em especial da parte dos membros da famlia consang
nea, para que esta ruptura se realize. Entretanto, as mulheres so bastante resistentes
idia de separao e apresentam dois argumentos principais para justificar esta posi-
o: seu papel de esposa e a vulnerabilidade masculina.
No que tange ao papel de esposa, trata-se fundamentalmente de um compro-
misso assumido na concretizao da aliana, a de ' cuidar' de seus maridos. Assim,
com tal aliana, a esposa quem passa a ser a responsvel pelo cuidado masculino,
desresponsabilizando as demais mulheres da famlia consangnea do marido que de-
sempenhavam esta funo at aquele momento. Dessa forma, o casamento parece
implicar, para os homens, significativa ruptura com seus consangneos, enquanto,
para a maioria das mulheres, estes laos se mantm intensos mesmo aps a aliana. As
mulheres se percebem ento como uma das nicas referncias familiares para os homens.
O outro argumento para a no separao se fundamenta na representao da
vulnerabilidade masculina, aliada percepo da instabilidade da soropositividade. A
partir destes dois elementos, as mulheres enumeram uma srie de conseqncias que a
ruptura da aliana poderia ocasionar. interessante notar que estas possveis conseqn-
cias tm em comum o efeito destruidor sobre os homens. Os depoimentos a seguir
sam, assim, de uma mulher que lhes prepare alimentao adequada, exija um repouso
mnimo ou que tome medidas necessrias em caso de doena - desde a preparao de
chs e a administrao de medicamentos comuns at a marcao de consultas mdicas
e internaes hospitalares. A presena feminina, vista por esta tica, fundamental
moral masculina, pois um homem sem mulher no dispensa nenhum cuidado a si mes-
mo. Essa idia sintetizada por uma das informantes, ao falar de seu companheiro:
"Ele precisa de uma mulher incentivando ele, pois, do contrrio, ele se larga".
Assim, se as mulheres aceitam as relaes extraconjugais, o consumo de bebi-
das alcolicas e/ou de drogas e mesmo os atos de violncia cometidos por seus mari-
dos, sujeitando-se at a ' cuidar' deles, tal comportamento est submetido condio
de que eles cumpram, ao menos minimamente, seu papel de provedor. Tambm por-
que, da mesma forma que os homens precisam das mulheres para sobreviver, a exis-
tncia das mulheres tanto no plano material como no social est ligada assistncia
masculina.
demonstram o tipo de conseqncia previsto pelas mulheres a partir da hiptese da
separao conjugai:
At uma amiga (...) me disse que ela no entende porque eu estou ainda com
ele. Mas eu tenho certeza que, se eu vou embora, ele se termina. Ele vai voltar
para as drogas, perder o emprego, beber... Ele vai se terminar assim. As vezes,
eu digo que eu vou me embora e vou levar minha filha comigo - porque nem
que eu v para baixo da ponte a minha filha vai ficar comigo. Ele fica desespe-
rado. Eu digo que nada me obriga a ficar com ele. Ele no casado comigo, a
nica coisa que nos une que ns temos uma filha, mas isso no quer dizer...
(Vaessa, 23 anos)
Minha me sempre me pergunta porque eu no deixo dele [do marido]. Mas,
se eu deixo dele, o que que vai ser dele, quem que vai cuidar dele ? Tem a
minha sogra, mas o temperamento do meu marido muito difcil... (...) eu j
estou acostumada com o jeito dele, as manias dele. (...) Eu sei que se eu no
estou com ele, ele vai se perder nas drogas, na bebida, porque nestas coisas a
me dele no pode nem se meter. Eu, ele j me escuta. fora isso, aqui a
minha casa, minhas coisas esto todas aqui. Para onde eu iria se sasse daqui?
(Dbora, 28 anos)
Na perspectiva feminina, a separao corresponde cumplicidade para com a
morte masculina: no somente no haver ningum para ocupar-se de seus maridos -
tanto no cotidiano como quando estes estiverem doentes - como tambm eles se 'ter-
minaro' , ou seja, no tero mais os limites necessrios prpria sobrevivncia.
7
Des-
se ponto de vista, com a separao, os homens no tero mais razo para viver ou, ao
menos, para viver em condies socialmente aceitveis, o que se agrava ainda mais na
situao daqueles que esto contaminados pelo vrus HIV, para os quais a possibilida-
de de nova aliana tida como praticamente impossvel. A ruptura da aliana equiva-
leria assim, na concepo feminina, condenao dos homens morte tanto fsica
como social.
Esta idia vai ao encontro da percepo feminina de que os homens so incapa-
zes de resistir decadncia fsica provocada pela AIDS. Dito de outra maneira, as mu-
lheres suspeitam que seus maridos 'se mataro' , no sentido literal do termo, quando os
sintomas da doena comearem a se manifestar. Esta suspeita parte da noo de que,
se os homens, por um lado, so mais resistentes s doenas - visto que dificilmente so
acometidos por alguma delas - , por outro, so mais sensveis fisicamente dor e aos
demais sintomas associados AIDS - por exemplo, febre e diarria.
8
Sendo fisicamen-
te mais sensveis, os homens tambm terminam sendo emocionalmente atingidos pela
prpria doena.
A manifestao maior deste abalo emocional, na viso feminina, a ' no acei-
t ao' da doena por part e dos homens ou, mai s especi f i cament e, de sua
soropositividade para o vrus HIV. A recusa masculina em ter acompanhamento mdi-
co e o silncio que mantm em torno da doena atestam isto. Dificilmente falam a
respeito de sua contaminao e, menos ainda, sobre suas dvidas e angstias. As mu-
lheres tomam este comportamento como indcio dessa ' no aceitao' da doena que,
ENTRE OBRIGAO COMPAIXO
A AIDS , para as mulheres, a ocasio de fazer um balano de sua relao con-
jugai, isto , de refletir sobre suas vantagens e desvantagens e avaliar seus riscos e
conseqncias. Nestas duas ltimas categorias so considerados sobretudo os efeitos
destruidores que a ruptura da aliana poderia produzir sobre o homem; todavia, so
igualmente levadas em conta as dificuldades de ordem material e social s quais as
ao extremo, pode ter como conseqncia o prprio suicdio masculino. O extrato da
entrevista a seguir ilustra essa leitura feminina do silncio dos homens:
Ele [o marido] uma pessoa muito fechada e a gente quase nunca conversa
sobre isto [a AIDS], Ou porque sempre tem algum aqui em casa ou porque a
gente no fala mesmo. Eu no sei o que ele pensa sobre isto. Eu tenho medo que
ele pense alguma coisa e no fale. Estes dias, ele veio dizendo que escutou no
rdio, l no trabalho, que uma mulher tinha morrido e ningum tinha ido l
buscar ela, nem o IML [Instituto Mdico Legal], pois todo mundo tinha medo.
Da ele disse que, se ele comeasse a sentir alguma coisa, ele no iria esperar,
ele se mataria. Eu ainda insisti e ele disse de novo que iria se matar. Da eu
fiquei com medo, porque eu no imaginava que ele pensasse assim. (Sirlei, 3 2
anos)
De fato, o que os homens no aceitam ou, mais precisamente, aquilo a que no
iro se submeter, so os constrangimentos fsicos impostos pela doena - que no caso
da AIDS so tidos como extremamente graves. Assim, a principal angstia que esta
molstia coloca para os homens no , como se poderia pensar, o carter letal, mas sim
a degradao fsica que determina. Neste sentido, as mulheres se percebem como mais
aptas a suportar a doena do que os prprios homens, pois, para elas, trata-se de esp-
cie de ' teste' de resistncia fsica - como o tambm o prprio parto. Para elas, ainda,
conseguir evitar as 'doenas oportunistas' ou cur-las j prova dessa sua resistncia
fsica. Para os homens, ao contrrio, a provao consiste justamente em desafiar a
doena, em no se submeter aos constrangimentos que esta teoricamente impe. Nesta
perspectiva, a manifestao dos sintomas o prprio limite desta disputa e atesta a
vitria do mal que os acometeu.
As mulheres no ignoram que os homens consideram prefervel morrer digna-
mente, isto , conservando todas suas qualidades fsicas e morais, a submeter-se
doena. por esta razo que elas temem as reaes masculinas ante a manifestao
da doena propriamente dita.
9
Assim, os relatos fornecidos por outras mulheres que
testemunham ser os homens capazes de suportar o sofrimento que precede a morte pela
AIDS e at mesmo as situaes tidas como mais humilhantes - como a falta de controle
das funes intestinais - , ao invs de dissuadir a idia de que os homens no iro resistir
doena, servem para confirm-la. Dito de outra forma, para as mulheres, o fato de que
outros homens sejam capazes de resistir doena at o final torna ainda mais clara e
concreta a concepo de que 'seu marido' no se submeteria a situao semelhante.
mulheres seriam submetidas em caso de separao. Dentre estas, existe a questo da
casa, pois mesmo se ela por excelncia o domnio feminino, no h garantia de que
ser a mulher quem ficar com sua posse quando de uma separao.
1 0
Tambm h o
problema de quem ficar com os filhos desta aliana, visto que so estes que garantem
a descendncia das famlias, tanto consangnea - famlia da mulher - como afim -
famlia do marido. Por fim, so computadas ainda todas as vantagens sociais de que
usufruem as mulheres casadas - como prestgio e respeitabilidade social e segurana
fsica - , que so colocadas em questo no somente em conseqncia da separao
conjugai, porm, sobretudo, em vista do limite imposto pela prpria doena
concretizao de nova aliana.
1 1
Neste balano, as mulheres repassam na memria os momentos mais marcantes
de sua trajetria conjugai, tanto aqueles que glorificam o casal - por exemplo, os
esforos empreendidos pelo marido a fim de conquist-la ou as dificuldades partilha-
das conjuntamente com vistas a uma meta comum, como a compra da casa - como
aqueles que evidenciam o sofrimento a que elas mesmas estiveram sujeitas por causa
do comportamento masculino. Contudo, se os defeitos dos homens so destacados
nesta retrospectiva, podem ser compensados pelas suas qualidades, que no so esque-
cidas. Assim, no raro que, depois de enumerar uma srie de defeitos do companhei-
ro, as mulheres concluam: 'fora isso, ele sempre foi um bom marido' . Isto indica que
especialmente pelo seu papel de provedor que os homens so avaliados, como expri-
me a expresso evocada com freqncia pelas mulheres para justificar a avaliao
positiva do marido: 'ele nunca deixou faltar nada dentro de casa' .
Esta retrospectiva do passado no corresponde simples avaliao da trajetria
pessoal, uma vez que sempre relacionai e no implica necessariamente uma espcie
de ' arrependimento' subjetivo.
1 2
Constitui avaliao de ordem pragmtica, que serve
para justificar a situao atual e qual vem juntar-se uma concepo um tanto fatalista
da realidade.
Uma verso desta concepo fatalista aparece quando as mulheres, a fim de se
oporem a uma per cepo cul pabi l i st a da AI DS, afi rmam a r espei t o de sua
soropositividade: 'agora no tem mais o que fazer'. Outra variante desta noo apare-
ce ante a ameaa de ruptura da aliana, colocada pela referida doena. As mulheres
argumentam, no sem antes terem refletido bastante sobre o assunto, que a separao
conjugal no ir 'resolver o problema' , ou seja, a realidade j est estabelecida e nada
que se faa poder alter-la. Desse modo, apenas as atitudes que impliquem transfor-
maes e vantagens efetivas merecem ser consideradas, pois, ao final das contas, os
aspectos positivos da aliana parecem superar suas desvantagens. Ou, como expressa
uma das mulheres: ' se ruim com ele [o marido], pior seria sem ele' .
Apesar de todos os argumentos evocados pelas mulheres para justificar a ma-
nuteno da aliana, existem ainda aspectos afetivos e emocionais implicados na rela-
o conjugal. Embora estes no apaream como prioritrios na reavaliao do enlace,
no deixam de ser levados em considerao. Torna-se extremamente difcil determi-
nar a importncia relativa destes aspectos, visto que no somente de ordem subjeti-
va, como tambm se apresenta de forma diversa para cada caso.
De toda forma, no decorrer da pesquisa de campo, tivemos a oportunidade de
observar manifestaes de afeto em relao ao cnjuge nas diferentes situaes da
vida cotidiana. Este se manifestava na forma carinhosa de se chamarem, nos relatos
emocionados dos primeiros encontros, na contnua preocupao com a sade do outro
e mesmo na intimidade expressa atravs da enumerao dos defeitos do parceiro. As
manifestaes de afetividade assumem diferentes formas, conforme a fase da vida
conjugal. Assim, se durante a fase de conquista amorosa as demonstraes de afeto se
do fora da existncia ordinria, concentrando-se sobretudo nas atividades de ordem
ldica - por exemplo: passeios, freqentes idas a restaurantes, bares e locais de dana ou
mediante pequenos presentes - , depois da consolidao da aliana elas se realizam por
atos bem mais concretos, como a compra de alimentos e medicamentos. Mas so sempre
percebidas como atestao pblica e/ou privada de afeto, ou seja, ' prova' de amor.
Para as mulheres que foram contaminadas pelo vrus da AIDS por intermdio de
seus companheiros, este afeto assume a forma da compaixo. precisamente este lao
afetivo que as impede de deixar que seus maridos ' se larguem' ou que estes sejam
deixados ao azar, o que significaria, na perspectiva feminina, a prpria condenao
morte masculina. As mulheres sentem ' pena' da condio na qual seus maridos se
encontram - tanto em conseqncia da vulnerabilidade destes como em razo de no
terem ningum que se possa ocupar deles - e so assim incapazes de permitir que
sofram mais. Dessa forma, se em um primeiro momento elas permanecem com seus
maridos mais em virtude de uma espcie de compromisso formal ou, nas suas prprias
palavras, ' por obrigao' , em um segundo momento elas o fazem por compaixo, isto
, por ' pena' do sofrimento ao qual eles esto submetidos.
Assim, com a AIDS, atravs das preocupaes e dos cuidados dispensados ao
companheiro que o afeto se manifesta. Esse afeto tem, na assistncia prpria morte
do cnjuge, sua demonstrao maior. O caso de uma de nossas informantes ilustra a
presena do afeto neste sentimento de compaixo: fazia j um ano que Marlia estava
separada de Roberto, seu marido, quando ficaram sabendo estarem contaminados pelo
vrus da AIDS. Como Roberto estava j doente, Marlia decidiu voltar a viver com ele.
Apesar de ter a me e uma irm que dele poderiam cuidar, Marlia se sentia tambm
responsvel pelo marido. Como ela mesma explica:
Eu fiquei com pena dele, eu queria ajudar ele, cuidar dele. Eu fiquei com ele
at o fim. Nos ltimos dias eu no dormia e nem comia mais, ficava todo o
tempo ao lado dele.
Falando a respeito da famlia do marido, com quem morou aps este retorno,
Marlia conclui:
Eu sei que elas [a me e a irm do marido] faziam tudo isto por causa do
Roberto, mas elas sabem tambm que eu fiz tudo por ele. por isto que elas
gostam de mim.
Este sentimento de compaixo a sntese dos diferentes elementos que concor-
rem manuteno da aliana e tambm para a forma que a relao conjugal assume a
partir da entrada em cena da AIDS. Ele associa as representaes sobre a vulnerabilidade
masculina e as vantagens do enlace ao papel de esposa e afetividade compreendida
na prpria relao conjugal. A compaixo serve, neste sentido, para reforar o status
social da mulher enquanto esposa e conferir-lhe, ao mesmo tempo, uma espcie de
reconhecimento social - ao menos da parte da famlia de aliana - em razo da dedica-
o e da generosidade demonstrada ao marido.
INVERSO PELA DOENA
De perspectiva que poderamos chamar de mais ' sociolgica' , uma vez que
considera dimenso mais ampla da ordem social, incontestvel a subordinao das
mulheres a toda uma sociedade que se estrutura a partir de um referencial masculino.
13
No que tange AIDS, as conseqncias desta ' dominao masculina' so igualmente
remarcveis, visto que as mulheres foram, desde o incio da epidemia, relegadas a
plano secundrio, o que acarretou, entre outros tantos fatores, o atraso feminino em
termos da preveno, o diagnstico tardio das mulheres infectadas pelo HIV e a ex-
panso da epidemia pela populao feminina.
1 4
Para as mulheres pertencentes s classes pobres da populao, esta dominao
no se realiza apenas no plano do gnero, mas tambm no plano socioeconmico. De
outro lado, a prpria organizao social e o universo cultural do grupo reforam esta
situao. Assim, se a preeminncia masculina incontestvel, existe complementaridade
de gnero que conforma esta desigualdade inicial. As mulheres necessitam de um
homem para proteg-las, mas os homens tambm precisam de uma mulher para serem
socialmente respeitados.
Sem desconsiderar esta perspectiva mais global, um olhar antropolgico sobre
o contexto etnogrfico das mulheres e dos homens contaminados pelo vrus HIV pode
identificar algumas modificaes trazidas pela AIDS no nvel simblico das represen-
taes de gnero. Mais especificamente, a forma como a doena vivida permite
observar a atualizao de uma inverso nos termos que qualificam o masculino e o
feminino, como demonstra o esquema:
Com a AIDS, as mulheres aparecem moralmente mais 'fortes' que os homens
porque, se estes continuam a ser fisicamente mais 'resistentes' doena, eles no o so
de forma aparente, j que as mulheres suportam melhor os efeitos morais da
soropositividade, ou seja, ' aceitam' melhor a doena. A dificuldade masculina em
' aceitar' a realidade da doena e os constrangimentos que ela impe tornam, do ponto
de vista da mulher, os homens moralmente mais vulnerveis, o que os leva a fazer um
excessivo consumo de lcool, tabaco e drogas, tornando-se, portanto, mais suscetveis
s doenas ocasionais em conseqncia da debilidade orgnica. Alm disso, a ' no
aceitao' da doena conduz o homem a um sofrimento interior que pode ser, na viso
das mulheres, ainda mais terrvel que a prpria doena, pois implica uma espcie de
' autodestruio' .
Da mesma forma que os efeitos da AIDS nos homens se fazem sentir primeiro
no nvel interno - moral - , a doena reservada esfera privada. Eles no somente
preferem manter sua soropositividade em segredo, como tambm dificilmente se sub-
metem a tratar a doena fora do espao domstico, tanto que se recusam a manter
acompanhamento mdico peridico. Desse modo, enquanto nas mulheres esta doena
se apresenta como fenmeno de ordem fsica e externa, nos homens se manifesta como
sendo de ordem moral e interna.
Entretanto, esta percepo feminina da forma pela qual os homens apreendem
a doena s faz sentido mediante a referncia que a ela se contrape, isto , o universo
masculino e feminino em seu estado normal, ou seja, na ausncia da doena. Para
compreender o jogo de inverses, retomaremos um ponto fundamental: a ' no aceita-
o' masculina da doena que, na perspectiva feminina, o principal fator explicativo
do comportamento dos homens no que se refere AIDS.
A questo que se coloca : por que os homens no ' aceitam' sua condio de
portadores do vrus HIV como o fazem as mulheres? Primeiro porque, como elas pr-
prias afirmam, dificilmente eles ficam doentes e, assim, so associados fora e
resistncia fsica. Segundo, porque 'aceitar' a doena corresponde a aceitar certos li-
mites por esta impostos ' liberdade' , condio intrnseca masculinidade. Isto, por
sua vez, implica submisso aos cuidados mdicos e, sobretudo, aos preceitos morais
que estes representam. Enfim, os homens no ' aceitam' a doena porque isso equivale
negao da prpria masculinidade. Para eles, a AIDS, antes de ser estigmatizante,
humilhante.
Mas, semelhante a um efeito perverso, esta afirmao de masculinidade que se
manifesta atravs da ' no aceitao' da doena produz justamente o seu inverso. Dito
de outra forma, buscando preservar os atributos essencialmente masculinos, os ho-
mens terminam por cair exatamente no outro extremo, aquele que, a priori, reserva-
do ao feminino. Assim, por no suportar as limitaes e a decadncia fsica ocasiona-
das pela AIDS, os homens transformam a soropositividade em problema moral
1 5
ao
recusarem v-la enquanto doena. Na condio de problema interior, a enfermidade
em questo , em geral, limitada pelo homens ao domnio privado, casa. E, por
atingi-los em sua prpria essncia - a masculinidade - , esta capaz de revelar a verda-
deira 'fraqueza' que se encontra encoberta pela aparente 'resistncia' masculina.
As mulheres, por outro lado, testemunham sua 'fora' por meio da AIDS, e, em
contraposio reao de seus companheiros, incorporam, em face da doena, as qua-
lidades eminentemente masculinas. Para elas, esta enfermidade, assim como as de-
mais, consiste em problema que pertence antes de tudo ordem fsica, razo pela qual
adotam uma srie de medidas preventivas. Conseqentemente, vivem a doena de
maneira mais pblica do que os homens: fazem apelo aos profissionais da sade, s
instituies de ajuda aos doentes e a outros recursos que lhes possam ser teis nesse
combate doena, como por exemplo as instituies religiosas ou filantrpicas. Alm
disso, uma vez que a doena afeta profundamente os homens, elas se sentem respons-
veis pelo controle da situao. Desse modo, l onde os homens manifestam sua 'fra-
queza' , as mulheres demonstram toda a sua ' fora' , que antes moral do que fsica.
A AIDS NAS PERSPECTIVAS MASCULINA FEMININA
Ainda no nvel simblico, podemos observar que as representaes femininas a
respeito da percepo da AIDS - tanto quando falam acerca dos homens como quando
se referem prpria condio - mostram, na verdade, a diferena entre a maneira
masculina e a feminina de ver e agir no mundo social. Assim, apesar da inverso
operada pela doena, as estratgias acionadas para enfrentar esta situao so coeren-
tes com as representaes que estruturam as diferenas de gnero.
De incio, nos deteremos no caso feminino. As mulheres so unnimes em
reconhecer que, apesar do choque inicial, terminaram por ' acostumar-se' idia de
serem portadoras do vrus HIV, ' aceitando' a doena. Em conseqncia, adotam uma
srie de medidas que visam a evitar as demais doenas e os fatores que, potencialmen-
te, poderiam contribuir para o desencadeamento da AIDS. Por meio deste comporta-
mento, procuram adaptar a situao de forma a contemplar a instabilidade de sua con-
dio de soropositivas. Admitem, assim, sua vulnerabilidade fsica e no fazem ques-
to, em geral, de manter em segredo sua soropositividade, uma vez que somente por
esta revelao podem ter acesso ao apoio dos familiares e tambm de instituies de
carter pblico. Quando doentes, as mulheres no hesitam em fazer apelo Medicina
ou a outros recursos de cura, pois o que lhes interessa debelar os sintomas e doenas
que se apresentam, mesmo que a verdadeira causa da doena - no caso, a AIDS - no
possa ser eliminada. O objetivo das mulheres o de viver o maior tempo possvel,
pois, se no for ainda possvel a cura desta enfermidade, podero, ao menos, cuidar de
seus maridos e, sobretudo, de seus filhos at que estes se tornem mais independentes.
J os homens encaram sua condio de portadores do vrus HIV de forma total-
mente diferente, e mesmo oposta, daquela acionada pelas mulheres. Em primeiro lu-
gar, ' no aceitam' a doena, ou seja, no se conformam a uma realidade imposta por
exame mdico, que no possui ainda manifestao emprica. De igual modo, no ad-
mitem restringir suas prticas habituais por causa de uma doena que no apresenta,
no presente, nem mesmo um sintoma. E, como nesta perspectiva a doena de fato no
existe, os homens se recusam a ter acompanhamento mdico. Preferem manter em
segredo sua soropositividade, pois no querem ser tidos pelos outros como doentes ou,
o que ainda mais grave, tornar-se objeto de compaixo.
Estas diferentes maneiras de conceber a condio de portador do vrus HIV e
de enfrentar a doena correspondem, na verdade, aos prottipos do masculino e do
feminino. Os homens apreendem a AIDS, ou melhor, a soropositividade para o vrus,
como espcie de desafio. Assim, isso que as mulheres identificam enquanto a 'no
aceitao' da doena , efetivamente, a forma propriamente masculina de enfrentar
esta realidade. Os homens estabelecem verdadeiro combate contra a doena - e, indi-
retamente, contra a moral dominante - que consiste justamente em desafi-la, provo
cando-a a fim de medir as foras - aquelas deles mesmos contra aquelas do vrus - e
que tem o espao pblico, a rua, como o seu palco privilegiado. Nesta perspectiva, o
objetivo e resistir, com dignidade, o maior tempo possvel, isto , com a manuteno
de todas as capacidades e sem ajuda exterior. A manifestao dos sintomas da AIDS e,
principalmente, as marcas que estes imprimem sobre o corpo - perda de peso e de
cabelos, doenas de pele - , representam o limite deste combate e determinam a vitria
da doena.
No ao acaso que os homens concebem esta luta como a nica maneira de
viver a soropositividade. O desafio elemento fundamental tanto na socializao mas-
culina como na prpria relao entre homens.
1 6
atravs do desafio que os homens
vem e estabelecem sua relao com o mundo social. O valor de um homem pro-
porcional dificuldade do desafio que ele consegue vencer ou ao qual consegue, ao
menos, resistir o maior tempo possvel. A masculinidade no est assim tanto na vit-
ria, mas sobretudo no desafio. Desse modo, o que vergonhoso no perder um
combate, mas recusar-se a enfrent-lo, o que corresponde negao da prpria condi-
o masculina - tanto que aqueles que recusam um desafio so igualados condio
feminina.
As mulheres, por sua vez, possuem outra concepo da soropositividade. Na
viso feminina, a nica forma de enfrentar a doena evitando os fatores que se en-
contram na origem de grande parte das doenas, tais como o trabalho, a umidade, o
frio, a m-alimentao etc., e atravs do tratamento das doenas que se manifestam.
Para as mulheres, o local menos nocivo sade o espao domstico, a casa. A debi-
lidade fsica j caracterstica feminina, apenas acentuada pela doena. A mobilizao
da rede de relaes familiares faz tambm parte das estratgias femininas acionadas
ante situaes difceis, em especial aquelas de doena.
1 7
So ainda as mulheres, sobre-
tudo nas classes mais desfavorecidas da populao, que detm o conhecimento a res-
peito das instituies e da burocracia pblica, apelando assim interveno de agentes
exteriores.
Este privilgio concedido pelas mulheres teraputica tanto preventiva como
curativa no se restringe AIDS. A socializao feminina e todo o cotidiano das mulhe-
res se baseia no tratamento dispensado aos outros - este se inicia atravs do cuidado
dos irmos caulas at passar ao cuidado do marido e dos filhos. Neste contexto, no
tambm por acaso que a alimentao constitui o meio de cuidado privilegiado, por-
quanto esta sempre foi atribuio feminina. Alm disto, a alimentao tida como
NOTAS
* Este artigo parte dos resultados da pesquisa "Aids, Reproduo e Sexualidade: uma aborda-
gem antropolgica", que contou com o apoio da Fundao Carlos Chagas e da Fundao
MacArthur, atravs do II Programa de Treinamento em Pesquisa sobre Direito Reprodutivo na
Amrica Latina e Caribe (Prodir). Agradeo a leitura atenciosa de Maria de Nazareth Agra
Hassen.
1 O aumento gradativo de mulheres entre os casos notificados atestado pelos Boletins
Epidemiolgicos do Programa Nacional de DST/HIV/Aids. Estudos mais especficos, que
tm se preocupado em traar o perfil destas mulheres (GUIMARES; DANIEL & GALVAO ( 1988) ;
GRANGEIRO ( 1994) ; NAUD et al. ( 1993) e nossos prprios dados etnogrficos), indicam tra-
tar-se daquelas pertencentes s camadas baixas da populao, com parceiro fixo, filhos,
aliana estvel. Ou seja, no podem ser includas em nenhum 'grupo de risco' (prostitutas,
promscuas, usurias de drogas).
2 importante salientar que, na parte final, no estamos trabalhando apenas com representa-
es femininas, mas tambm com nosso prprio material etnogrfico a respeito dos homens.
3 Esta mesma perspectiva estava presente tambm nos discursos a respeito da sfilis. Sobre
este tema, ver CARRARA ( 1994) .
4 As mulheres casadas estabelecem sempre a diferena, sobretudo no que se refere s prticas sexu-
ais, em relao s 'da rua'. Estas ltimas so identificadas com as prticas percebidas como vulgares
e 'nojentas' - coito oral e anal, por exemplo -, tidas como indignas para uma mulher 'de respeito'.
fundamental tanto para o crescimento das crianas como para a manuteno da 'fora'
masculina.
1 8
Desse modo, se o desafio , para os homens, um meio de provar suas
qualidades propriamente masculinas, j para as mulheres, a manuteno de suas con-
quistas e vantagens depende de sua capacidade de 'aceitar' a realidade tal como esta se
apresenta, em habituar-se situao. Na perspectiva feminina, lutar contra a realidade
desperdcio de tempo e de fora, seja porque esta j est determinada pela prpria
' natureza' - como as doenas ou o comportamento masculino - , seja porque elas se
sentem impotentes perante as foras que sustentam esta realidade - como o capital
econmico ou social dos ' ricos' .
Enfim, podemos ver na ' aceitao' feminina da doena e no desafio que os
homens lanam contra esta, as diferentes maneiras de enxergar o mundo, definidas j
na prpria socializao, ou seja, na definio de gnero. E, se possvel identificar
uma inverso de gnero na forma como a doena atualizada, como demonstramos no
item precedente, esta inverso s se revela a partir de inverso do prprio olhar, ou
seja, privilegiando-se uma perspectiva que contempla a dimenso interior e no a ex-
terior. Assim, sob o prisma da exterioridade, onde o que conta o aspecto performtico
da realidade, os homens se mantm sempre no plo masculino e garantem, pela pr-
pria maneira de enfrentar a doena - o desafio - , sua masculinidade. Por sua vez, as
mulheres continuam a ser identificadas ao plo feminino, onde se destacam a sensibi-
lidade e a vulnerabilidade. Entretanto, tanto sob o ngulo da interioridade como aque-
le da exterioridade, as oposies estruturais de gnero se mantm, apesar de aparece-
rem, no nvel simblico, associadas a plos inversos.
5 Neste contexto, a mulher no precisa, necessariamente, ser a prpria esposa, pois tanto a me
como a irm podem desempenhar esse papel. Entretanto, a esposa fundamental para o
estabelecimento do status de pai, visto que a paternidade no pode ser garantida se esta se d
fora de aliana reconhecida socialmente. De outro, a esposa exerce controle sobre as prti-
cas sexuais masculinas, ao menos no sentido de sua visibilidade social - domnio que foge
autoridade da me o da irm. A respeito do status de pai, ver, entre outros, DUARTE
( 1986) ; JARDIM ( 1995) ; FONSECA ( 1993) e VICTORA ( 1991) .
6 A nica exceo para a contaminao mediante relaes homossexuais, mas nesta situao
ainda pode haver a atenuante da idade. Apenas em trs casos a contaminao masculina foi
identificada pelas mulheres como decorrente de relaes homossexuais. Em dois deles,
quando o homem bastante jovem, no h condenao deste comportamento, por ser perce-
bido como relativamente normal e passageiro durante esta fase de vida masculina. No outro
caso, em que o homem j era adulto, a condenao existe, mas atenuada pelo fato de ter
sido 'bom marido' durante os vrios anos de aliana.
7 principalmente neste ltimo plano que a esposa se diferencia da me ou da irm, pois, se
estas ltimas podem ocupar-se da sobrevivncia material dos homens - preparar a alimenta-
o, arrumar as roupas etc. -, exclusivamente a primeira exerce influncia relativamente
efetiva sobre o comportamento masculino - visto que parte da honra dos homens est
comprometida naquela aliana.
8 As mulheres opem sempre a esta 'fraqueza' masculina sua prpria resistncia dor - que
manifesta nas experincias relacionadas ao parto sua expresso mxima. A este respeito,
ver KNAUTH(1991); LOYOLA ( 1984) e VICTORA ( 1991) .
9 No podemos esquecer a importncia que a fora fsica assume para os grupos populares. A
este respeito, ver BOLTANSKI ( 1984) , BOURDIEU ( 1979) , DUARTE ( 1986) e FONSECA ( 1993) .
1 0 A questo de quem permanece com a casa em caso de separao conjugai determinada
basicamente pelo fato de quem tinha a posse desta ou do terreno antes da aliana.
11 Apesar de exemplos que atestam o contrrio, a maioria das mulheres que dispe de aliana
relativamente estvel no considera a possibilidade de outra aliana. Utiliza, como justifi-
cativa, a prpria doena: 'Quem vai querer se casar com mulher que tem Aids?'.
12 nesse sentido que esta retrospectiva do passado no corresponde ao repli sur soi que
Michel Pollak observa entre os homossexuais portadores do vrus HIV. Segundo o autor, "
porque ela conduz a reexaminar o passado e a colocar em questo as escolhas e as posies
adotadas (sexuais), que a Aids favorece a introspeco e o repli sur soi" (POLLAK, 1988: 115) .
Para o caso que estamos analisando, o reexame do passado serve para justificar a posio
atual e no para questionar atitudes adotadas anteriormente.
13 Existe ampla bibliografia a respeito desta questo que tem como importante ponto de ori-
gem a prpria reflexo desencadeada dentro do movimento feminista. Ver, entre outros,
ROSALDO ( 1995) , RUBIN ( 1975) , SAFFIOTI ( 1969) e SCOTT ( 1990) . tambm imprescindvel
ver BOURDIEU ( 1990) e a excelente anlise de HEILBORN ( 1992) .
14 Para o caso brasileiro, ver especialmente GUIMARES ( 1994) e BARBOSA & VILLELA ( 1994) .
15 Esta 'no aceitao' da doena no apenas 'negao' psicolgica, pois envolve a questo
moral da preservao da masculinidade. Os homens, apesar de conhecerem bem as implica-
es de sua condio, e por isso mesmo, recusam-se a viver antecipadamente a doena.
16 Sobre a importncia do desafio na socializao masculina, ver, entre outros, JARDIM ( 1995)
e LEAL ( 1984) .
17 As mulheres recorrem seus familiares tambm em outras situaes, como por exemplo, em
caso de briga conjugai grave ou na ocasio da separao conjugal. Para anlise da mobilizao
das relaes familiares em virtude da hospitalizao, ver KNAUTH ( 1992) .
1 8 LVI-STRAUSS j demonstrou o papel fundamental exercido pelas mulheres na transformao
da natureza em cultura, por meio do cozimento dos alimentos.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
BARBOSA, R. M. & VILLELA, W. V. A trajetria feminina da Aids. Campinas: SEMINRIO
MULHER CIDADANIA: RUMOS DESCAMINHOS DAS POLTICAS SOCIAIS, Abep, 1994.
(Mimeo.)
BOLTANSKI, L. As Classes Sociais e o Corpo. Rio de Janeiro: Graal, 1984.
BOURDIEU, P. La Distinction: critique sociale du jugement. Paris: Minuit, 1979.
BOURDIEU, P. La domination masculine. Actes de la Recherche en Sciences Sociales,
84, 1990.
CARRARA, S. A Aids e a histria das doenas venreas no Brasil. In: PARKER, R. (Org.)
A Aids no Brasil. Rio de Janeiro: Relume-DumaraVAbia/IMS-Uerj, 1994.
DUARTE, L. F. D. Da Vida Nervosa (nas classes trabalhadoras urbanas). Rio de Janei-
ro: Zahar/CNPq, 1986.
FONSECA, C. L. Crime, Corps, Drame et Humour: famille e quotidien dans la culture
populaire, 1993. Tese de Doutorado de Estado, Paris: Universit de Nanterre.
GRANGEIRO, A. O perfil socioeconmico dos casos de Aids da cidade de So Paulo: In:
Parker, R. (Org.) A Aids no Brasil. Rio de Janeiro: Relume-Dumar/Abia/TMS-
Uerj, 1994.
GUIMARES, C. D. Mulheres, Homens e Aids: o visvel e o invisvel. In: PARKER, R.
(Org.) A Aids no Brasil. Rio de Janeiro: Relume-Dumar/Abia/IMS-Uerj, 1994.
GUIMARES, C. D.; DANIEL, R. & GALVO, J. O impacto social da Aids no Brasil: o caso
do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Relatrio final, Abia, 1988. (Mimeo.)
HEILBORN, M. L. Fazendo Gnero? A antropologia da mulher no Brasil. In: COSTA, A.
O. & BRUSCHINI, C. (Orgs.) Uma questo de gnero. So Paulo: Fundao Carlos
Chagas, 1992.
JARDIM, D. F. Performances, reproduo e produo dos corpos masculinos. In: Corpo
e Significado: ensaios de Antropologia Social. Porto Alegre: Universidade Federal
do Rio Grande do Sul, 1995.
KNAUTH, D. Os Caminhos da Cura: sistemas de representaes e prticas sociais so-
bre doena e cura em uma vila de classes populares, 1991. Dissertao de Mestrado,
Porto Alegre: Programa de Ps-Graduao em Antropologia Social, Universidade
Federal do Rio Grande do Sul.
KNAUTH, D. Representaes sobre doena e cura entre doentes internados em uma
instituio hospitalar. Cadernos de Antropologia, 5, 1992.
LEAL, O. F. Verbal Duelling and other Challenge Discourses: male representations of
sex and power in Brazil. Trabalho apresentado na Reunio da Associao Brasilei-
ra de Antropologia (ABA), Curitiba, 1984.
LOY OLA, . A. Mdicos e Curandeiros: conflito social e sade. So Paulo: Difel, 1984.
MANSOUR, S. Les retentissements psychologiques de 1'Infection HIV sur 1'Enfant et
sa famille. In: Sida, Enfant, Famille. Paris: Centre International de 1'Enfance, 1993.
N AU D, P. et al. O Perfil Sexual de Mulheres HIV Positivas do Ambulatrio de DST do
Hospital de Clnicas de Porto Alegre. Porto Alegre, 1 9 9 3 . (Mimeo.)
POL L AK , M. Les Homosexuels et le Sida. Paris: Mtaili, 1 9 8 8 .
ROSAL DO, . OUSO e o abuso da Antropologia: reflexes sobre o feminismo e entendi-
mento intercultural. Horizontes Antropolgicos, 1 (PPGAS/Universidade Federal
do Rio Grande do Sul), 1 9 9 5 .
RUBIN, G. The traffic in women: notes on the 'political economy' of sex. In: REITER, R.
Toward a Anthropology of Women. New Y ork: Monthly Review Press, 1 9 7 5 .
SAFFIOTI, . A Mulher na Sociedade de Classes: mito e realidade. So Paulo: Quatro
Artes, 1 9 6 9 .
SCOTT, J. Gnero: uma categoria til de anlise histrica. Educao e Realidade, 16( 2) ,
1 9 9 0 .
VICTORA, C. G. Mulher, Sexualidade e Reproduo: representaes do corpo em uma
vila de classes populares em Porto Alegre, 1 9 9 1 . Dissertao de Mestrado, Porto
Alegre: Programa de Ps-Graduao em Antropologia Social, Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Sul.
12
AIDS e Sexualidade entre Universitrios
Solteiros de Porto Alegre: um estudo
antropolgico
Patrice Schuch
A AIDS tem sido reconhecida como 'epidemia mutante' . Isto porque o perfil
dos infectados pelo HIV, desde o princpio dos anos 80, vem sofrendo expressivas
transformaes. Oficialmente, a epidemia desta doena iniciou-se no Brasil em duas
grandes metrpoles - Rio de Janeiro e So Paulo. A partir de 1987, se difunde de
modo contnuo para o conjunto da Federao, chegando a apresentar elevadas taxas de
incidncia em regies geograficamente afastadas do Sudeste, no incio dos anos 90.
Assim, h contnua expanso do registro de casos de AIDS tanto nos epicentros geogr-
ficos tradicionais quanto no conjunto do Pas.
Paralelamente a essa transformao, ocorre uma tendncia de mudana nas categori-
as de exposio ao HIV em que chama a ateno o aumento da transmisso heterossexual.
Importa destacar que no h reduo no nmero absoluto de casos novos entre homo ou
bissexuais, o que reflete a extenso da epidemia a outros segmentos da populao, sem de-
crscimo dos casos entre as categorias mais atingidas no incio dos anos 80 (Dados, 1996).
Segundo Guimares (1992), vivemos hoje a poca da "etapa heterossexual" da
epidemia no Brasil, em que a "populao geral", "normal" e "familiar" perdeu sua
"imunidade ideolgica", produzida para fechar seus corpos contra a AIDS e suas vti-
mas, afastando-se das "sexualidades perigosas".
Este trabalho pretende discutir as concepes de risco e o comportamento pre-
ventivo contra a AIDS entre jovens universitrios solteiros de Porto Alegre. A preocu-
pao com este grupo de pessoas reside no fato de que este segmento da populao
revela altos ndices de infeco pelo HIV. Alm disso, os pesquisados so heterosse-
xuais, o que os coloca em uma das categorias de exposio com ndices crescentes de
soroprevalncia. As pessoas estudadas, ento, pertencem ao grupo das possuidoras de
' imunidade ideolgica' contra a AIDS, a qual estaria atualmente em decadncia, tendo
em vista a alta incidncia desta doena em heterossexuais.
Apesar disso, levantamos a hiptese de que, no grupo pesquisado, essa 'imuni-
dade ideolgica' continua atuando e demarcando identidades sociais que justificam
prticas no preventivas com relao infeco pelo HIV.
Nesse sentido, por um lado, dizemos que o perfil epidemiolgico da AIDS trans-
forma-se mais rapidamente do que as concepes que a cercam, ainda marcadas por
valores morais que identificam o soropositivo como desviante/marginal. Por outro, o
estudo concernente a jovens universitrios, ou seja, pessoas escolarizadas, atende
preocupao de romper com a idia que v a utilizao das prticas preventivas como
questo apenas de posse/veiculao de informaes. O que enfatizamos a necessida-
de de perceber os significados socialmente construdos de AIDS, de corpo e das rela-
es sexuais e afetivas que esto sendo produzidos e vivenciados no cotidiano do
grupo pesquisado.
Desta forma, procuramos destacar as lgicas culturais especificas que justifi-
cam determinados comportamentos e as negociaes envolvidas para a definio da
preveno ou no contra a AIDS. Importa ressaltar que, apesar de existirem outras
formas de transmisso do HIV, salientaremos a sexual, em razo de ser a mais fre-
qente e de sugerir questes sobre sexualidade e afetividade.
METODOLOGIA UNIVERSO DE ESTUDO
Nesta pesquisa, utilizamos a metodologia tradicional em Antropologia, a
etnografia, que contou com as tcnicas de observao participante, feita em locais de
sociabilidade do universo pesquisado - como bares das universidades e danceterias -
e entrevistas semi-estruturadas com vinte jovens universitrios solteiros moradores de
Porto Alegre, Capital do Rio Grande do Sul - onze homens e nove mulheres. As entre-
vistas foram feitas tanto em locais pblicos quanto nos espaos domsticos e duraram
em mdia seis horas cada, tendo havido de dois a trs encontros por entrevistado.
Os pesquisados situam-se na faixa etria dos vinte aos trinta anos. Com base na
pesquisa podemos perceber que a atividade de estudo ocupa posio central na vida
dos mesmos, caracterizando-se como fronteira distintiva de outros grupos sociais e
garantia de prestgio e ascenso social.
1
Apenas dois entrevistados no exerciam ne-
nhum tipo de atividade remunerada, ao passo que a maior parte possua bolsa de pes-
quisa ou monitoria nas universidades onde estudavam. A maioria morava com os pais
e dependia da famlia para complementao de renda. Somente quatro pessoas no
moravam com a famlia de origem, pois vieram do Interior do estado do Rio Grande
do Sul para estudar em Porto Alegre. Tambm estes recebiam ajuda financeira da
famlia, alguns regularmente e outros de forma eventual.
Quase a metade dos informantes possui pais com nvel superior de educao,
sendo em sua maioria profissionais liberais e professores. A outra metade composta
pelos estudantes que tm pais com nvel secundrio de graduao, trabalhando como
comerciantes e funcionrios pblicos. A trajetria dos pais se distingue pelo desloca-
mento das cidades do Interior do estado para Porto Alegre. Estas pessoas, aps o casa-
mento, foram para esta metrpole em busca de estudo e de novas oportunidades de
trabalho, constituindo aqui suas famlias, pois grande parte dos pesquisados, seus fi-
lhos, originria de Porto Alegre. Fato notvel que as famlias caracterizam-se pela
trajetria de ascenso social e, como membros das camadas mdias, h a preocupao
com a atualizao de um cdigo simblico em permanente mudana. Como Velho
(1981) escreve, embora esta preocupao esteja presente em qualquer categoria soci-
al, nas camadas mdias ela aparece com mais vigor, em virtude de ser mais exposta s
ideologias de modernizao.
DOENA DO DESVIO DA MARGINALIDADE:
A AIDS SEUS SIGNIFICADOS SOCIAIS
At o momento, a maior parte dos estudos sobre as respostas sociais que a AIDS
desperta concentra-se naqueles grupos associados, desde o registro dos primeiros ca-
sos da doena, marginalidade, como as prostitutas, os homossexuais masculinos e os
usurios de drogas injetveis. Essa realidade vem se modificando, devido prpria
transformao no perfil epidemiolgico da AIDS, que se difunde para o conjunto da
populao e coloca em cena novos atores sociais.
Apesar disso, as pesquisas com esses novos atores sociais - como por exemplo,
a de Guimares (1992, 1996), Knauth (1996) e Rodrigues (1996) - tm salientado a
elaborao de identidades sociais que mantm a AIDS como 'perigo distante' . Assim,
embora as estatsticas referentes aos novos casos de infeco pelo HIV estejam desta-
cando a disseminao desta doena entre o conjunto da populao, persiste uma asso-
ciao AIDS/marginalidade/perigo, a qual, por sua vez, produz uma identidade social
do soropositivo que estaria comprometida com a prtica de comportamentos conside-
rados desviantes.
Uma das grandes dificuldades da preveno contra a infeco pelo HIV pro-
vm dessa identificao da referida doena com um comportamento desviante/margi
nal. Os estudos sobre percepo de risco entre mulheres monogmicas de grupos po-
pulares so exemplares desta problemtica, pois, como destaca Guimares (1992), a
infeco pelo HIV produz a perda da identidade de "mulher de respeito", que colo-
cada junto com aquela "outra mulher". Knauth (1996), por sua vez, pesquisa a respos-
ta que mulheres soropositivas, as quais no so identificadas como ' as outras' mulhe-
res, do ao fato de serem portadoras do HIV, afirmando que h negociao das identi-
dades, produzindo-se separao entre as soropositivas que ' procuraram' a AIDS e as
que 'no procuraram' , o que vem fortificar a idia da existncia dos chamados 'grupos
de risco' .
Percebemos a recorrncia dessa classificao no universo pesquisado, cujos inte-
grantes negociam sua identidade social constantemente ao falar sobre AIDS. Nesse senti-
do, os jovens universitrios evocam tanto uma concepo de no responsabilidade da
infeco pelo HIV quando o discurso sobre a contaminao diz respeito a uma pessoa
conhecida ou prxima, quanto uma concepo de responsabilidade pessoal da infeco
pelo vrus, quando o discurso sobre a contaminao diz respeito populao em geral.
A primeira concepo, que se refere quelas pessoas que ' no procuraram' a
AIDS, considera esta doena como do ' outro' , pois como diz Loyola (1994), os indiv
duos no se percebem como possveis infectados pelo HIV em razo da sua prpria
conduta, mas por um ' outro' : namorado(a) que traiu, transfuso de sangue, destino etc.
No decorrer da pesquisa, coletamos algumas histrias, sobre o contrair o vrus
da mencionada doena, que so indicativas dessa lgica de no responsabilidade pela
infeco do HIV. Alm de demostrarem a ' inocncia' das vtimas que ' adquiriram' o
vrus, as histrias tambm evocam a associao da AIDS como arma, concebendo que
os soropositivos tm o poder de ameaar os outros com seus prprios fluidos corpo-
rais.
2
O seguinte depoimento pertinente:
Eu sei de uma histria de uma guria que anda por a, na noite de Porto
Alegre... fica com os caras, tri bonita. Ela e o namorado estavam dentro de
um carro quando vieram dois negres assalt-los. Um dos caras segurou o
namorado da guria no banco de trs e o outro estuprou a guria na frente do
namorado. A o outro cara mudou de posio e a estuprou pela frente e por
trs. Depois ela foi fazer o exame da AIDS e deu positivo. Mas ela continua por a,
ningum sabe que ela est com AIDS, ela tri-bonita, est contaminando um
monte de gente. (Fbio, 20 anos, Medicina)
Vemos, atravs do relato, a identificao do portador HIV como um marginal
que, utilizando a AIDS como arma, contamina a vtima atravs de seus fluidos corpo-
rais. Esta, aps ser infectada pelo vrus, de vtima passa a adotar comportamento
marginal, agindo de modo a contaminar outras pessoas. O vrus HIV, portanto, alm
de atacar a imunodeficincia do organismo, tambm age sobre os atributos morais
de seu portador. Atravs dessa tica, a contaminao pelo HIV, alm de fsica,
tambm moral.
Ao mesmo tempo, apesar de se mostrarem bem informados sobre o que a
AIDS e suas formas de preveno, quando o discurso sobre a contaminao pelo HIV
diz respeito populao em geral, a maior parte dos pesquisados identifica a existn-
cia dos chamados 'grupos de risco', que seriam aqueles responsveis pela prpria
contaminao, ou seja, aqueles que ' procuraram' esta doena. Tais ' grupos' so classi-
ficados como sendo o dos ' homossexuais' , o dos ' drogados' e o das ' prostitutas' , em
clara estigmatizao de comportamentos sociais considerados desviantes.
Como vemos, h dupla associao da Aros com marginalidade, tanto porque o
vrus HIV exerce ao sobre os atributos morais de seu portador, como porque, como
j dito, h estigmatizao de comportamentos sociais desviantes na identificao dos
' grupos de risco'. A associao com a marginalidade explicita alguns valores morais
atribudos doena em questo e caracteriza um imaginrio social marcado pelo des-
vio, o que dificulta a preveno a ela, uma vez que demonstrar preocupao com precau-
o pode ser tomado como indicativo de comportamento desviante/marginal.
Nesse sentido, vrias jovens relatam o constrangimento envolvido no fato de
levar o preservativo masculino dentro da bolsa, j que essa atitude, paradoxalmente,
pode ser encarada como sintoma de comportamento de risco, ou seja, de 'transar com
todo mundo' . Se fizssemos uma hierarquia de riscos, o de infeco pelo HIV apare-
ceria como menor que o risco de julgamento referente aos atributos morais da portado-
ra do preservativo.
O grande desafio vivido pelos pesquisados a produo de estratgias sociais
que permitam negociar a preveno sem esquecer de lidar com os julgamentos morais
sobre a AIDS, caracterizados pelo desvio e pela marginalidade. Um desses arranjos
sociais, formulados pelas mulheres, relaciona-se ao pedido da utilizao do preserva-
tivo tendo por ' desculpa' o no uso da plula anticoncepcional, mesmo que a utilizem
de fato. Assim, o preservativo como contraceptivo aceito com menos resistncia do
que como preveno doena em foco, que evoca em torno de si uma srie de valores
morais.
Essas resistncias contra a utilizao do preservativo como preveno AIDS
esto explcitas no discurso de alguns informantes, que relataram que o pedido para o
uso do condom muitas vezes vivenciado como acusao, notadamente de ' sujeira' .
Tendo por base as leituras de Douglas (1976), podemos perceber que sujeira subproduto
de uma ordenao e classificao e, sendo essencialmente desordem, aproxima-se sim-
bolicamente da idia de mal e impureza. O seguinte depoimento exemplar:
Eu disse a ela: vamos fazer sem camisinha. A ela me disse que queria transar
com camisinha. Eu perguntei: por que? Eu no sou sujo, eu sou limpo nesse
aspecto. (Vtor, 30 anos, Cincias Sociais)
Em outras situaes, a associao com 'sujeira' est relacionada a determina-
dos tipos de comportamentos, como se certas atitudes fossem ' sujas' , ou seja, impuras.
Percebe-se, nesse caso, a ao purficadora do teste de infeco do HIV, o qual
acompanhado de projeto de mudana de comportamento.
Chegou uma poca em que eu resolvi parar, dar um tempo. Eu pegava uma
guria, ficava com ela, levava ela pra um motel e transava com ela. Era bom na
hora, mas depois dava um vazio. Estou cansado de tudo isso... de ir nos bares,
elas s agarram tua bunda, teu pescoo... Agora estou limpo, fiz o teste da AIDS
e deu negativo. No vou mais transar com todo mundo: tem outras formas de
fazer a coisa, o negcio do carinho, do estar junto, de abraar, de tocar um no
corpo do outro. (Mrcio, 23 anos, Administrao)
RELAO SEXUAL COMO ENCONTRO:
INTERAO DE SENTIMENTOS FLUIDOS
A referncia ao limpo/sujo tambm orienta a classificao das relaes sexuais
em puras e impuras. As relaes em que os parceiros j so conhecidos e nas quais
existe algum tipo de envolvimento sentimental seriam as relaes puras, ' limpas' . J
aquelas em que h um rpido conhecimento dos parceiros antes da prtica sexual, que
acontece sem nenhum tipo de envolvimento, a no ser o ' teso' , seriam as impuras.
Nesse tipo de relao, muitos entrevistados, em geral homens, referiram a necessidade
de tomar banho para ' se limpar' do ato sexual, que , segundo afirmam, ' bom na hora' ,
mas depois causa sensao de ' vazio' .
Desta forma, assim como a troca de fluidos corporais com um portador do HIV
proporciona o acesso a substncias fsicas e a qualidades morais, aqui tambm a troca
de secrees com o parceiro envolve mais do que substncias corporais.
3
Assim, a
relao sexual concebida como encontro, relao social, enfim, uma comunicao
entre duas pessoas que implica trocas de substncias corporais, emoes, sentimentos,
expectativas.
Transar' , ' possuir' , ' entregar-se' , ' dar' , ' comer' , 'fazer amor' so termos que
necessariamente envolvem relaes, trocas, construes, interaes, misturas, fuses,
unies. ' Transar' refere-se a intercmbio, acordo, reciprocidade, combinao. Nessa
combinao, simultaneamente os parceiros ' se possuem' e ' entregam-se' . H um ' dar'
significando um doar-se dos parceiros, que so ' comidos' , atingindo a plenitude no
'fazer amor' , como significante maior de todo o processo, expressando unicidade e
complementao.
Como vemos, a relao sexual no percebida como mera atividade corporal
ou instinto natural: plena de significados sociais. No entanto, preciso interpretar
com cuidado estas informaes, uma vez que so suscitadas em contexto situacional
especfico, no qual h a preocupao quanto pesquisa em torno do tema da AIDS em
torno do qual existe um imaginrio social caracterizado pelo desvio/marginalidade/
perigo. Por conseguinte, o discurso que classifica as relaes sexuais em limpas/sujas,
ou seja, puras/impuras, tendo por base o nvel de envolvimento sentimental entre os
parceiros, acionado pela temtica da AIDS, que, de certa forma, vem produzir e/ou
fortalecer essas dicotomias. Alm disso, preciso lembrar o discurso moral desta do-
ena como aquela que surge para ' limpar' a sociedade de seus males e exageros. Desse
modo, as classificaes de limpo/sujo, puro/impuro, no podem ser substantivadas,
mas sim encaradas em seu aspecto situacional.
A lgica situacional de classificao das relaes sexuais entre puras e impu-
ras, com base no critrio de conhecimento anterior dos parceiros, explicitada quando
percebemos a constante recorrncia de relaes eventuais na contemporaneidade, as
quais colocam em evidncia um imperativo da ideologia de compromissos no obri-
gatrios, em que o intimismo, o isolamento e a privacidade ganham nfase. Assim,
coexistem um discurso sobre as relaes eventuais que as classifica como impuras -
discurso elaborado situacionalmente - e uma prtica que revela a recorrncia de
envolvimentos eventuais e descompromissados entre os parceiros.
RELACIONAMENTOS AFETIVOS: NAMORO, PAIXO 'FICAR'
Essencial para a percepo dos significados simblicos e prticos das medidas
preventivas contra a AIDS a compreenso da diversidade dos envolvimentos afetivos
e sexuais, procurando entender seus valores e caractersticas. Logo, importa analisar
as formas de relacionamento entre os parceiros e os sentimentos e expectativas envol-
vidos em torno dos mesmos, porque interferem nas negociaes a respeito da preven-
o a esta doena.
Esta etnografia realizada entre jovens universitrios solteiros de Porto Alegre
aponta para a existncia de uma diferenciao recorrente entre as relaes estveis - o
' namoro' - e as relaes eventuais - que podem ser ' paixo' ou ' ficar' , havendo a
possibilidade de existir continuidade (ou no) entre estes tipos de relaes: 'ficar', se
apaixonar e namorar; nelas, o discurso sobre a preveno AIDS com o uso do condom
durante as relaes sexuais diferente. Isso porque as informaes sobre preveno
podem ser usadas seletivamente, de acordo com as diferentes concepes de risco
relacionadas com os valores associados aos diversos tipos de relaes afetivas.
As relaes estveis, ou seja, o namoro, caracterizam-se pela confiana mtua
entre os parceiros que, em geral, j se conhecem antes de iniciar a relao. O
envolvimento caracteristicamente pblico, com um compromisso entre os parceiros
e perante o grupo social, ou seja, h toda uma rede de relaes sociais. O sentimento de
cumplicidade enfatizado na insistncia de 'estar junto' , que envolve mltiplos as-
pectos da vida dos parceiros. O namoro tambm implica expectativa de desenvolvi-
mento, que pode (ou no) culminar em aliana. Nesse caso, a noo de tempo utilizada
marca continuidade, com a contagem referindo-se a um ms e meio de namoro, dois
anos et c, o que envolve, alm da progressividade da relao, a demarcao de conv-
vio cotidiano. , portanto, relao estvel e crescente entre duas pessoas, na qual o
amor referido como sentimento estruturador. O seguinte depoimento expressivo:
Confio no meu namorado. Eu conheo o meu namorado bastante pra no usar
a camisinha. Confiar achar que ele no vai me trair, que no vai mentir. Eu
transei com ele quando eu tinha um ms e meio de namoro, mas j o conhecia h
trs anos. Ns falamos das relaes anteriores dele, ele transou uma vez sem
camisinha, mas foi com 14 anos. No meu caso no tem porqu o uso da cami-
sinha, Eu conheo os amigos, a famlia, as relaes anteriores dele. Acho que fun-
damental o amor, porque se tem amor eu acho que tem o resto: respeito, confi-
ana, carinho. Amar tu gostares muito daquela pessoa, sentir sua falta quando
ela no est contigo, fazer as coisas junto com ela, se doar, respeitar suas vonta-
des, suas idias. dividir as coisas, compartilhar. (Ana, 21 anos, Educao Fsica)
O uso do preservativo masculino nas relaes sexuais entre namorados aparece
ento como destitudo de sentido, uma vez que o namoro se baseia na fidelidade en-
quanto valor e na noo de amor como garantia da confiana no parceiro. Como diz a
informante, o amor o fundamental, pois com ele se tem o ' resto' : respeito, confiana,
carinho. Desta forma, h baixa percepo do risco de infeco pelo HIV nesse tipo de
envolvimento afetivo caracterizado pela estabilidade. A percepo do amor como
integrao - amar dividir, compartilhar - tambm vem juntar-se s razes de recusa
ao uso do preservativo, que reforada pela j referida viso da relao sexual como
encontro que envolve sentimentos e fluidos corporais.
Na fala dos informantes, vemos a distino bsica que feita entre amor e
paixo. O amor saudvel. Segundo um informante, "ele te d tranqilidade, te coloca
num patamar mais elevado", enquanto a paixo doena: "...aquela coisa obsessiva da
paixo". Igualmente, a afirmao de que paixo ' s o tempo cura' exemplifica esse
tipo de viso.
Assim, a paixo o domnio da irracionalidade, da falta de controle, do predo-
mnio da emoo sobre a razo. Desta forma, constitui-se como domnio privilegiado
da irrupo do irracional na vida destes indivduos, influenciados por sistema de valo-
res altamente racional, que a cientificidade. Segundo Velho (1986), a paixo uma
das experincias individuais mais fortes, sendo expresso das individualidades. Neste
sentido, a paixo pensada e vivida como experincia nica de um ' eu' particular.
Alm disso, algo inexplicvel, envolve experincia privada, em contraposio ao
namoro, pblico por excelncia. Dizem os informantes:
A paixo no se explica, se sente. uma coisa intensa. A paixo muda tudo.
(Karem, 21 anos, Direito)
A paixo algo trrido, intenso, ela efmera, nica, a gente perde a cabe-
a, enlouquece. Mas de repente acaba tudo, a gente se cura. (Marcos, 25 anos,
Geologia)
Ao mesmo tempo em que a experincia da paixo evoca um dom ni o
individualizante que tem o sujeito como principal referencial, ela foge ao domnio do
indivduo, pois percebida como incontrolvel. H o predomnio da emoo sobre a
razo, expressa no dizer: "a gente perde a cabea, enlouquece..." situao que provoca
associao da paixo como doena, ou seja, essencialmente desordem.
Em experincia to desequilibrada, como controlar a atividade sexual intro-
duzindo a obrigatoriedade do uso do preservativo masculino? Embora se tenha conscin-
cia da necessidade de sua utilizao nas relaes sexuais quando se est apaixonado, uma
vez que a paixo vista como sbita e efmera, torna-se impossvel controlar o desejo.
J o 'ficar', ao contrrio do 'apaixonar-se', relao controlada e consciente de
envolvimento entre duas pessoas. Uma pessoa pode 'ficar' com outra apenas uma ou
duas vezes, quem sabe trs, o que explicita noo de tempo de ruptura, pois a contagem
no feita em razo de dias/meses/anos como no namoro, mas sim em vezes, o que
demostra descontinuidade no envolvimento, em termos de vivncia de um cotidiano.
O 'ficar' envolvimento momentneo: as pessoas que 'ficam' so companhias
uma da outra, entendendo-se companhia como pessoa com quem se est. um 'estar
com' livre de compromissos, em que os valores da liberdade, autonomia e prazer pes-
soal ganham nfase. Vejamos o depoimento:
tu ires num lugar, bater o olho em algum, azarar, tu j ests com a boca
seca, cheia de vontade, tu j no disfaras mais e a vai... pode ser na mesma
noite. Azarao na mesma noite: tu ests numa festa, azara a noite toda, final
da noite tu vais conferir. uma coisa passageira, sei l, tu queres ter algum...
no ligas pra mais nada, te liberta. (Cludia, 25 anos, Cincias Sociais)
Por isso que o 'ficar' pode ser entendido como exacerbao da individualida-
de, muito mais que a paixo. H um ' eu' que se sente liberto das presses e condicio-
namentos sociais, tornando o 'ficar' um domnio privilegiado do 'culto do eu' , j que
o nvel de escolha individual extremamente valorizado, pois o indivduo ' inventa'
um envolvimento, controla suas vontades. No algo irracional como a paixo, na
qual as pessoas so tomadas por emoes vistas como doentias e incontrolveis. Aqui,
o domnio individual sobre os sentimentos enfatizado por um ' eu' que se sente
descompromissado em relao ao seu parceiro e em relao ao grupo social.
preciso ressaltar, no entanto, que se pode comear um namoro mediante o
'ficar' se os parceiros escolherem dar continuidade ao envolvimento. Apesar dessa
possibilidade, que se d a partir do 'ficar' e no algo intrnseco a ele, no h expec-
tativa de desenvolvimento de relaes posteriores no momento em que se 'fica', pois
justamente o domnio da falta de compromisso que o define.
Uma das causas que dificultam a utilizao do preservativo masculino, nas
relaes sexuais das pessoas que ' ficam' , parece ser a contradio entre um cdigo de
valores influenciado pela ideologia individualista - em que os domnios do privado,
do ntimo e das escolhas individuais so enfatizados - e a normalizao proposta pela
Medicina, com a prescrio do uso do preservativo masculino nas relaes sexuais, a
qual vem abalar o domnio da escolha individual exacerbada no 'ficar' .
4
Ao mesmo tempo, preciso indicar que h aceitao do uso do preservativo
neste tipo de relao eventual, o que se explica pelo pouco conhecimento dos parcei-
ros e do no compartilhamento de sentimentos afetivos entre eles. Alm disso, a rela-
o sexual desprotegida provoca a troca de fluidos, que suscita outras trocas diversas,
como por exemplo, as de sentimentos, de expectativas que no esto previstas nesse
tipo de envolvimento.
Existe, ento, conscincia da necessidade da utilizao do preservativo mascu-
lino nas relaes sexuais ao 'ficar', o que no quer dizer que fatores de outra ordem
no intervenham, dificultando a preveno. Um desses fatores diz respeito perda do
prazer nas relaes sexuais com a utilizao do condom, o que remete a causas fsicas
que tambm interferem nas negociaes para a preveno da AIDS.
CORPO PRESERVATIVO: UMA DIFCIL RELAO
Alm das concepes a respeito da AIDS expostas at aqui, temos algumas per-
cepes do corpo que influenciam na preveno desta doena. Assim, existem recla-
maes recorrentes, em sua maior parte masculinas, a respeito do desconforto causado
pela utilizao do preservativo masculino. Foram comuns as falas dando conta de que
"a camisinha pequena demais para o meu pnis", ou que "deveria haver um nmero
maior de camisinha". A referncia ao pnis na terceira pessoa "ele no gosta, ele no
quer" e a existncia de apelidos "o sem-vergonha, o guri" ou nomes ("Brulio"), evo-
cam a concepo do pnis como rgo viril, ativo e sujeito de vontade.
A falta de sensibilidade durante o ato sexual outro incmodo que o preserva-
tivo traz, pois impede o encontro entre os corpos, a troca de temperaturas. O depoi-
mento seguinte interessante:
O Cludio sempre reclama que com a camisinha ele no tem contato
com aquilo de dentro de mim, aquele contato do corpo com o corpo, de pele
com pele, aquela coisa apertada, quentinha da gente. (Crstiane, 22 anos, Direito)
A quebra do ritmo durante a relao sexual para a colocao do condom
tomada, da mesma forma, como desfavorvel preveno. Atravs dessa lgica, o
preservativo masculino 'corta o clima da relao' , linguagem que indica a viso do ato
sexual como algo quente, em contraposio ao preservativo masculino, tido como
frio, em associao simblica com impessoalidade. Assim, a frieza do preservativo
masculino liga-se ao frio da impessoalidade na relao que se produz por falta de
contato entre os corpos, de trocas de substncias, fluidos, emoes e sentimentos.
Eu acho um saco. Tu ests com uma pessoa, comeas a te envolver, a de
repente tens que parar, te levantar da cama, procurar a camisinha (e quase
certo que tu no vais achar). A tu voltas para cama, comeas tudo de novo, e
a que acontece. Eu acho uma droga, uma sacanagem da natureza conosco,
porque afinal, no contato mais ntimo que duas pessoas podem ter, tu ainda
tens que pr uma coisa no meio, um plstico, uma coisa morta... (Jlio, 24 anos,
Cincias Sociais)
Como se v, a utilizao do condom, alm de impedir a realizao da relao
sexual plena, manifestando quebra do ritmo do envolvimento durante o ato sexual e
barreira ao encontro de sentimentos e de fluidos corporais, ainda coloca em cena o
perigo e a idia da morte, que se consubstancializa no preservativo.
CONSIDERAES FINAIS
Na busca de uma apreenso das concepes a respeito da AIDS e dos significa-
dos simblicos e prticos de suas formas de preveno no que concerne transmisso
sexual do vrus HIV, produzimos algumas interpretaes ligadas s concepes de
risco e s caractersticas e valores concernentes s relaes sexuais e afetivas entre
jovens universitrios solteiros moradores de Porto Alegre.
Nesse sentido, apesar do perfil epidemiolgico da AIDS mostrar registros de
elevado nmero de casos novos entre heterossexuais, a pesquisa aponta para a existn-
cia de uma ' imunidade ideolgica' contra esta doena, que continua atuando e demar-
cando identidades sociais, as quais justificam prticas no preventivas com relao
infeco pelo HIV. Esta 'imunidade ideolgica' marcada por valores morais que
identificam o soropositivo como desviante/marginal.
Para os jovens estudados, h dupla associao da AIDS com marginalidade,
tanto porque o vrus HIV, alm de atacar a imunodeficincia do organismo, interfere nos
atributos morais de seu portador - a contaminao, alm de fsica, tambm moral - ,
como porque h estigmatizao de comportamentos sociais considerados desviantes,
como o dos homossexuais, o das profissionais do sexo e o dos usurios de drogas,
identificados como 'grupos de risco'.
Essa viso acerca da AIDS e dos soropositivos dificulta a preveno da doena,
uma vez que os desviantes/marginais so sempre Os outros' . Neste sentido, o desafio
vivido pelos pesquisados o da produo de estratgias sociais que permitam negoci-
ar a preveno sem esquecer de lidar com os julgamentos morais acerca desta doena,
caracterizados pelo desvio e marginalidade.
Neste trabalho, indicamos a possibilidade de uso seletivo das informaes quanto
preveno contra a AIDS e procuramos ressaltar os diversos tipos de relacionamentos
afetivos e as diferentes concepes de risco relacionadas com as caractersticas e valo-
res a eles associados.
Em sntese, o namoro baseia-se na fidelidade enquanto valor e na noo de
amor como garantia de confiana no parceiro, o que faz existir baixa percepo de
risco de infeco pelo HIV nesse tipo de envolvimento. A paixo, por sua vez, vista
como sbita e efmera, o que faz os pesquisados assumirem a importncia de procedi-
mentos preventivos contra a AIDS, porm a paixo experincia em que h predom-
nio da emoo sobre a razo, na qual no possvel controlar o desejo. J o 'ficar'
envolvimento momentneo e descompromissado, no qual os valores da liberdade, au-
tonomia e prazer pessoal esto colocados. Como a troca de fluidos durante a relao
sexual supe trocas de secrees e tambm de emoes, sentimentos e expectativas
que no esto previstas nesse tipo de envolvimento afetivo, h percepo da necessi-
dade do uso do condom.
Ao mesmo tempo, existe a possibilidade de que fatores de ordem fsica interve
nham nas negociaes da preveno, como o tamanho do preservativo, a quebra do
ritmo e a falta de sensibilidade durante a relao sexual. A idia da mort e,
consubstancializada no preservativo, tambm se faz presente e lembra, como diz Perazzo
(1992), que a escolha pela vida deve incluir, necessariamente, a morte em sua trajetria.
Apesar de destacar os pontos aqui levantados, assumimos a impossibilidade de
apreender a multiplicidade de aspectos envolvidos no tema e no objeto desta pesquisa.
Sem dvida alguma, a importncia deste estudo reside menos nas interpretaes pro-
duzidas do que por suscitar interrogaes e questionamentos a serem desenvolvidos
em trabalhos posteriores.
NOTAS
1 Sobre o distintivismo, ver BOURDIEU ( 1983) . Para um paralelo com o grupo social ao qual
pertencem os informantes, ver SALEM (1980).
2 SEFFNER ( 1995) aborda a temtica da potencialidade que o soropositivo possui de ameaar
os outros com seus prprios fluidos corporais, afirmando que esse estigma que muito
incomoda os soropositivos. Segundo o autor, os no soropositivos exageram na possibili-
dade de ocorrncia desse tipo de comportamento, o que reforado em notcias de jornal
que relatam boatos sobre a contaminao de iogurtes ou sucos pelo sangue contaminado.
Tambm h casos em que os soropositivos mantm relaes sexuais desprotegidas e, de-
pois, anunciam a entrada da vtima para o "Clube dos HIV Positivos". A disseminao de
histrias de transmisso proposital do vrus parece confirmar a interpretao de que, no
grupo pesquisado, h percepo de que a contaminao pelo HIV, alm de fsica, tambm
moral.
3 LEAL ( 1995) , em sua pesquisa sobre prticas contraceptivas entre mulheres de classes popu-
lares porto-alegrenses, relata a existncia de concepo da relao sexual muito parecida
com a esboada aqui. Segundo a autora, a relao sexual representada como momento em
que ocorre a troca de fluidos corporais, que so substncias transmissoras tanto daquilo que
pode ser poludo quanto da vida, das emoes e das substncias morais.
4 Uma anlise das fronteiras da medicalizao em domnios em que a autonomia individual
valorizada encontra-se em CORRA (1994). Tambm RODRIGUES ( 1996) busca entender as
mediaes que sofre o discurso mdico, referindo o crescente direito diferena e a veiculao
da Psicanlise no que se refere ao desejo e suas variadas formas de satisfao.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
BOURDIEU P. Gostos de classe e estilos de vida. In: ORTIZ, R. (Org.) Pirre Bourdieu.
So Paulo: tica, 1983.
CORRA, M. Medicalizao social e a construo da sexualidade. In: LOY OLA, . A.
(Org.) Aids e Sexualidade - o ponto de vista das cincias humanas. Rio de Janeiro:
Relume-Dumar/Uerj, 1994.
DOUGLAS, M. Pureza e Perigo. So Paulo: Perspectiva, 1976.
GUIMARES, C. D. O comunicante, a comunicada: a transmisso sexual do HIV. In:
PAIVA, V. (Org.) Em tempos de Aids. So Paulo: Summus, 1992.
GUIMARES, C. D. Questes Ocultas: a percepo dos riscos da Aids na tica de gne-
ro. Caxambu: ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS, XX, 1996. (Mimeo.)
KNAUTH, D. R. Aids, Reproduo e Sexualidade: uma abordagem antropolgica das
mulheres contaminadas pelo vrus da Aids. Relatrio final. So Paulo: FCC/Fund.
MacArthur, II Prodir, jan. 1996.
LEAL, O. F. Sangue, fertilidade e prticas contraceptivas. In: Corpo e Significado: ensaios de
Antropologia Social. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1995.
LOYOLA, . A percepo e preveno da Aids no Rio de Janeiro. In: Aids e Sexualidade -
o ponto de vista das cincias humanas. Rio de Janeiro: Relume-Dumar/Uerj, 1994.
PERAZZO, S. Vida, quae sera tamen. In: PAIVA, V. (Org.) Em tempos de Aids. So Paulo:
Summus, 1992.
REVISTA DADOS. Editada pelo Radis - Reunio, Anlise e Difuso de Informaes so-
bre Sade - , rgo oficial da Fiocruz, (18):7-15, maio 1996.
RODRIGUES, . . O Hiato entre Conhecimento sobre as Vias de Transmisso e as
Prticas de Preveno em Relao Aids entre Estudantes da USP: a atuao das
ideologias coletivas de defesa. Caxambu: ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS, XX, 1996.
(Mimeo.)
SALEM, . O Velho e o Novo - um estudo de papis e conflitos familiares. Petrpolis:
Vozes, 1980.
SEFFNER, F. Aids, estigma e corpo. In: LEAL, O. F. (Org.) Corpo e Significado: ensaios de
Antropologia Social. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1995.
VELHO, G. Individualismo e Cultura - notas para uma Antropologia da sociedade
contempornea. Rio de Janeiro: Zahar, 1981.
VELHO, G. Subjetividade e Sociedade: uma experincia de gerao. Rio de Janeiro:
Zahar, 1986.
OU T R OS T T U LOS DA E DIT OR A FI OCR U Z E M CA T LOGO
(*)
Estado sem Cidados: seguridade social na Amrica Latina. Snia Fleury, 1994.249p.
Sade e Povos Indgenas. Ricardo Santos & Carlos E. A. Coimbra (Orgs.), 1994.251p.
Sade e Doena: um olhar antropolgico. Paulo Csar Alves & Maria Ceclia de Souza
Minayo (Orgs.), 1994. 174p.
Principais Mosquitos de Importncia Sanitria no Brasil. Rotraut A. G. B. Consoli &
Ricardo Loureno de Oliveira, 1994.174p.
Filosofia, Histria e Sociologia das Cincias I: abordagens contemporneas. Vera
Portocarrero (Org.), 1994.268p.
Psiquiatria Social e Reforma Psiquitrica. Paulo Amarante (Org.), 1994. 202p.
O Controle da Esquistossomose. Segundo relatrio do Comit de Especialistas da OMS,
1994. 110p.
Vigilncia Alimentar e Nutricional: limitaes e interfaces com a rede de sade. Ins
Rugani R. de Castro, 1995. 108p.
Hansenase: representaes sobre a doena. Lenita B. Lorena Claro, 1995. 110p.
Oswaldo Cruz: a construo de um mito na cincia brasileira. Nara Britto, 1995.111 p.
A Responsabilidade pela Sade: aspectos jurdicos. Hlio Pereira Dias, 1995. 68p.
Sistemas de Sade: continuidades e mudanas. Paulo M. Buss e Maria Eliana Labra
(Orgs.), 1995. 259p.
S Rindo da Sade. Catlogo de exposio itinerante de mesmo nome, 1995. 52p.
Democracia Inconclusa: um estudo da Reforma Sanitria brasileira. Silvia
Gerschman, 1995.203p.
Atlas Geogrfico de Ias Malformaciones Congnitas en Sudamrica. Maria da Graa
Dutra (Org.), 1995. 44p.
Cincia e Sade na Terra dos Bandeirantes: a trajetria do Instituto Pasteur de So
Paulo no perodo 1903-1916. Luiz Antonio Teixeira, 1995.187p.
Profisses de Sade: uma abordagem sociolgica. Maria Helena Machado (Org.), 1995.
193p.
Recursos Humanos em Sade no Mercosul. Organizao Pan-Americana da Sade,
1995.155p.
Tpicos em Malacologia Mdica. Frederico Simes Barbosa (Org.), 1995.314p.
Agir Comunicativo e Planejamento Social: uma crtica ao enfoque estratgico. Fran-
cisco Javier Uribe Rivera, 1995. 213p.
Metamorfoses do Corpo: uma pedagogia freudiana. Sherrine Njaine Borges, 1995.
197p.
Poltica de Sade: o pblico e o privado. Catalina Eibenschutz (Org.), 1996. 364p.
Formao de Pessoal de Nvel Mdio para a Sade: desafios e perspectivas. Escola
Politcnica de Sade Joaquim Venncio (Org.), 1996. 222p.
Tributo a Vnus: a luta contra a sfilis no Brasil, da passagem do sculo aos anos 40.
Srgio Carrara, 1996. 339p.
(*) por ordem de lanamento/ano.
O Homem e a Serpente: outras histrias para a loucura e a psiquiatria. Paulo Amarante,
1996. 141p.
Raa, Cincia e Sociedade. Ricardo Ventura Santos & Marcos Chor Maio (Orgs.),
1996. 252p. (co-edio com o Centro Cultural Banco do Brasil)
Biossegurana: uma abordagem multidisciplinar. Pedro Teixeira & Silvio Valle (Orgs.),
1996. 364p.
VI Conferncia Mundial sobre a Mulher. Srie Conferncias Mundiais das Naes
Unidas, 1996. 352p.
Prevencin Primaria de los Defectos Congnitos. Eduardo E. Castilla, Jorge S. Lopez-
Camelo, Joaquin . Paz & Ida M. Orioli, 1996.147p.
Clnica e Teraputica da Doena de Chagas: Uma abordagem prtica para o clnico
geral. Joo Carlos Pinto Dias & Jos Rodrigues Coura (Orgs.), 1997.486p.
Do Contgio Transmisso: cincia e cultura na gnese do conhecimento
epidemiolgico. Dina Czeresnia, 1997. 120p.
A Endemia Hansnica: uma perspectiva multidisciplinar. Marcos de Souza Queiroz &
Maria Anglica Puntel, 1997.120p.
Avaliao em Sade: dos modelos conceituais prtica na anlise da implantao de
programas. Zulmira Maria de Arajo Hartz (Org.), 1997. 131p.
Fome: uma (re)leitura de Josu de Castro. Rosana Magalhes, 1997. 87p.
A Miragem da Ps-Modernidade: democracia e polticas sociais no contexto da
globalizao. Silvia Gerschman & Maria Lucia Werneck Vianna (Orgs.), 1997. 226p.
Eqidade e Sade: contribuies da epidemiologia. Rita Barradas Barata, Maurcio
Li ma Barret o, Naomar de Al mei da Filho & Renato P. Veras (Orgs. ) Srie
EpidemioLgica, v. l , 1997. 256p. (co-edio com a Abrasco)
Os Dirios de Langsdorff - v. 1 (Rio de Janeiro e Minas Gerais, 08 de maio de 1824 a
17 de fev. de 1825) e v.2 (So Paulo, de 1825 a 22 de nov. de 1826). Danuzio Gil
Bernardino da Silva (Org.), 1997.400p. (v. 1) e 333p. (v.2) (co-edio com a Associa-
o Internacional de Estudos Langsdorff e Casa de Oswaldo Cruz)
Os Mdicos no Brasil: um retrato da realidade. Maria Helena Machado (Coord.), 1997.
244p.
Cronobiologia: princpios e aplicaes. Nelson Marques & Luiz Menna-Barreto (Orgs.),
1997. 328p. (co-edio com a EdUSP)
Sade, Trabalho e Formao Profissional. Antenor Amncio Filho & Maria Ceclia G.
B. Moreira (Orgs.), 1997. 138p.
Atlas dos Vetores da Doena de Chagas nas Amricas (v. 1 - ed. bilnge). Rodolfo U.
Carcavallo, Itamar Galndez Girn, Jos Jurberg & Herman Lent (Orgs.), 1997. 393p.
Doena: um estudo filosfico. Leonidas Hegenberg, 1998. 137p.
Sade Pblica: uma complexidade anunciada. Mario Ivan Tarride, 1998. 107p.
Epidemiologia da Impreciso: processo sade/doena mental como objeto da
epidemiologia. Jos Jackson Coelho Sampaio, 1998. 130p.
impresso nas oficinas
da Imprinta Grfica e Editora Ltda.,
Rua Joo Romariz, 285 - Rio de Janeiro.
S-ar putea să vă placă și
- Análise Do Discurso Aplicada À Educação Linguística PDFDocument210 paginiAnálise Do Discurso Aplicada À Educação Linguística PDFPaula CalilÎncă nu există evaluări
- Discurso Publicitário - Na Teia Do IdeológicoDocument7 paginiDiscurso Publicitário - Na Teia Do IdeológicoPaula CalilÎncă nu există evaluări
- Castilhos - Subindo o Morro - 2007Document16 paginiCastilhos - Subindo o Morro - 2007Paula CalilÎncă nu există evaluări
- Centennials - KantarDocument14 paginiCentennials - KantarPaula CalilÎncă nu există evaluări
- Manual Usonaosexistalinguagem PTDocument73 paginiManual Usonaosexistalinguagem PTCamila MudrekÎncă nu există evaluări
- Universos de Sentido Da População de Baixa Renda No Brasil PDFDocument15 paginiUniversos de Sentido Da População de Baixa Renda No Brasil PDFMay NunesÎncă nu există evaluări
- Revista UNESP de ExtensãoDocument18 paginiRevista UNESP de ExtensãoPaula CalilÎncă nu există evaluări
- Relações de gênero em catálogos de brinquedosDocument17 paginiRelações de gênero em catálogos de brinquedosPaula CalilÎncă nu există evaluări
- A Construção de Identidades e Papéis de Gênero Na InfânciaDocument6 paginiA Construção de Identidades e Papéis de Gênero Na InfânciaPaula CalilÎncă nu există evaluări
- A Criança e o Brinquedo - Poney MalditoDocument216 paginiA Criança e o Brinquedo - Poney MalditoDanilo MacedoÎncă nu există evaluări
- O Brinquedo e A Produção Do Gênero Na Educação InfantilDocument10 paginiO Brinquedo e A Produção Do Gênero Na Educação InfantilPaula CalilÎncă nu există evaluări
- Influência Europeia Ou Mera Cópia - A Produção Do Espaço No Rio de JaneiroDocument16 paginiInfluência Europeia Ou Mera Cópia - A Produção Do Espaço No Rio de JaneiroPaula CalilÎncă nu există evaluări
- Resenha do livro Os Anormais de FoucaultDocument8 paginiResenha do livro Os Anormais de Foucaultgiu_medeiros1203Încă nu există evaluări
- Reflexões Sobre Homofobia e Educação em Escolas Do Interior PaulistaDocument17 paginiReflexões Sobre Homofobia e Educação em Escolas Do Interior PaulistaPaula CalilÎncă nu există evaluări
- Para Desafiar EstereótiposDocument3 paginiPara Desafiar EstereótiposPaula CalilÎncă nu există evaluări
- A Nova Classe MediaDocument35 paginiA Nova Classe MediaVanderlei PostigoÎncă nu există evaluări
- Questoes de Genero No Contexto Do Desenvolvimento Do CapitalDocument46 paginiQuestoes de Genero No Contexto Do Desenvolvimento Do CapitalPaula CalilÎncă nu există evaluări
- Culpa e Prazer - Imagens Do Consumo Na Economia de MassaDocument16 paginiCulpa e Prazer - Imagens Do Consumo Na Economia de MassaMoacir CarvalhoÎncă nu există evaluări
- Machismo Alimenta Desigualdade Social e Traz Prejuízo À Economia - Brasil - EL PAÍS BrasilDocument3 paginiMachismo Alimenta Desigualdade Social e Traz Prejuízo À Economia - Brasil - EL PAÍS BrasilPaula CalilÎncă nu există evaluări
- O Estudo Do Consumo Nas Ciências Sociais ContemporâneasDocument26 paginiO Estudo Do Consumo Nas Ciências Sociais ContemporâneasPaula CalilÎncă nu există evaluări
- Relações de gênero e brinquedos na Educação InfantilDocument14 paginiRelações de gênero e brinquedos na Educação InfantilPaula CalilÎncă nu există evaluări
- Além Do Azul e RosaDocument62 paginiAlém Do Azul e RosaPaula CalilÎncă nu există evaluări
- Análise Do Simbolismo No Consumo Da Baixa Renda Na Produção Científica Internacional e NacionalDocument21 paginiAnálise Do Simbolismo No Consumo Da Baixa Renda Na Produção Científica Internacional e NacionalPaula CalilÎncă nu există evaluări
- A Invisibilidade Do Mercado de Baixa RendaDocument11 paginiA Invisibilidade Do Mercado de Baixa RendaRenata MonteiroÎncă nu există evaluări
- Hemais - Hedonismo e Moralismo - o Consumo Na BPDocument9 paginiHemais - Hedonismo e Moralismo - o Consumo Na BPPaula CalilÎncă nu există evaluări
- Mulher Como Outro - FerreiraDocument15 paginiMulher Como Outro - FerreiraAntonio MansurÎncă nu există evaluări
- O Corpo Na Representacao Social Das MulheresDocument118 paginiO Corpo Na Representacao Social Das MulheresPaula CalilÎncă nu există evaluări
- Best Bairro Brands 2014 PDFDocument54 paginiBest Bairro Brands 2014 PDFPaula CalilÎncă nu există evaluări
- Perfil Do Leitor de Quadrinhos em Escolas Particulares de Joao PessoaDocument87 paginiPerfil Do Leitor de Quadrinhos em Escolas Particulares de Joao PessoaPaula CalilÎncă nu există evaluări
- Citação Redes SociaisDocument2 paginiCitação Redes SociaisLee Qualquer CoisaÎncă nu există evaluări
- Metodologia Da PesquisaDocument81 paginiMetodologia Da PesquisaNascimento Jga100% (1)
- LIVRO TEXTO Geografia Agrária - UFRN - EaD PDFDocument196 paginiLIVRO TEXTO Geografia Agrária - UFRN - EaD PDFKleber Uchôa100% (1)
- Poder Local PDFDocument10 paginiPoder Local PDFClaudenor PiedadeÎncă nu există evaluări
- O Processo de Trabalho e Seus ComponentesDocument11 paginiO Processo de Trabalho e Seus ComponentesWal DirÎncă nu există evaluări
- Sociologia 12Document64 paginiSociologia 12Olga Maria Ferreira PinheiroÎncă nu există evaluări
- A Obscena Senhora D, de Hilda Hilst, e As Relações Entre Eros, Tânatos e LogosDocument92 paginiA Obscena Senhora D, de Hilda Hilst, e As Relações Entre Eros, Tânatos e LogosoliviamelofonsecaÎncă nu există evaluări
- A loucura em Foucault: arte, desrazão e exclusãoDocument15 paginiA loucura em Foucault: arte, desrazão e exclusãoGabriel Barbosa RossiÎncă nu există evaluări
- Cartilha Enfrentamento Às Violências de Gênero Do IFRS E BookDocument40 paginiCartilha Enfrentamento Às Violências de Gênero Do IFRS E BookAlba Cristina Couto dos Santos SalatinoÎncă nu există evaluări
- Projeto de PesquisaDocument28 paginiProjeto de PesquisafredswimmerÎncă nu există evaluări
- Técnicas de Atendimento: Manual de FormaçãoDocument21 paginiTécnicas de Atendimento: Manual de FormaçãoSusana Marques100% (3)
- O Japão Do Pós-Guerra A Catarse Da Tradição e Da Modernidade em Yukio MishimaDocument48 paginiO Japão Do Pós-Guerra A Catarse Da Tradição e Da Modernidade em Yukio MishimaWilliam MathiasÎncă nu există evaluări
- Fichamento 1Document14 paginiFichamento 1Thais PeriardÎncă nu există evaluări
- ARAUJO - Anete - Estudos de Gênero em Arquitetura - Um Novo Referencial Teórico para A Reflexão Crítica Sobre o Espaço ResidencialDocument12 paginiARAUJO - Anete - Estudos de Gênero em Arquitetura - Um Novo Referencial Teórico para A Reflexão Crítica Sobre o Espaço ResidencialNatália AlvesÎncă nu există evaluări
- A Cifra Negra e o Processo de Vitimização Na Criminologia CulturalDocument7 paginiA Cifra Negra e o Processo de Vitimização Na Criminologia CulturalHelmut SilvaÎncă nu există evaluări
- Metodologias Qualitativas de Investigação em Recursos HumanosDocument17 paginiMetodologias Qualitativas de Investigação em Recursos HumanospatriciamendescomprasÎncă nu există evaluări
- Aparicao Do Demônio Na FábricaDocument30 paginiAparicao Do Demônio Na FábricaEwerton BelicoÎncă nu există evaluări
- IDEOLOGIADocument4 paginiIDEOLOGIAJaqueline MiyukiÎncă nu există evaluări
- O Programa Dinheiro Direto Na Escola: Um Estudo de CasoDocument14 paginiO Programa Dinheiro Direto Na Escola: Um Estudo de CasoCarlos AlbertoÎncă nu există evaluări
- A divisão de papéis de gênero na sociedade GuaiaquiDocument7 paginiA divisão de papéis de gênero na sociedade GuaiaquiSandra GoulartÎncă nu există evaluări
- Daoismo Tropical: Transplantação do Daoismo no BrasilDocument236 paginiDaoismo Tropical: Transplantação do Daoismo no BrasilThiago PiardiÎncă nu există evaluări
- Antnio Neves - Igreja em Angola JUSTIÇA E PAZDocument379 paginiAntnio Neves - Igreja em Angola JUSTIÇA E PAZIsabel Santos BeyzaÎncă nu există evaluări
- Exercícios - Adolescência e Juventude No Séc XXIDocument9 paginiExercícios - Adolescência e Juventude No Séc XXIagnaldoalvesescritorÎncă nu există evaluări
- Análise de Performance DesportivaDocument76 paginiAnálise de Performance DesportivaYago PessoaÎncă nu există evaluări
- Walsh - Cap - 2010 - Interculturalidade Crítica e Educação Intercultural - Tradução HerlonDocument15 paginiWalsh - Cap - 2010 - Interculturalidade Crítica e Educação Intercultural - Tradução HerlonKarine Paiva Oliveira100% (1)
- O Repertório Da LDocument115 paginiO Repertório Da LVital ViliÎncă nu există evaluări
- Deslandes-Trabalho de CampoDocument15 paginiDeslandes-Trabalho de CampoEuripedes Brito Cunha JuniorÎncă nu există evaluări
- Filosofia Do DireitoDocument9 paginiFilosofia Do DireitoProfa Vanessa MonteiroÎncă nu există evaluări
- Ensino de Sociologia no Brasil: histórico e perspectivasDocument3 paginiEnsino de Sociologia no Brasil: histórico e perspectivasRogerio CarneiroÎncă nu există evaluări
- Geo interdisciplinaridadeDocument17 paginiGeo interdisciplinaridadeValter Gomes100% (3)