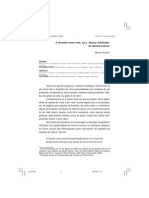Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Discurs On Um 23
Încărcat de
Toshio TakyharaTitlu original
Drepturi de autor
Formate disponibile
Partajați acest document
Partajați sau inserați document
Vi se pare util acest document?
Este necorespunzător acest conținut?
Raportați acest documentDrepturi de autor:
Formate disponibile
Discurs On Um 23
Încărcat de
Toshio TakyharaDrepturi de autor:
Formate disponibile
discurso
Os artigos publicados
na discurso so indexados por
The Philosophers Index, Clase e
Rpertoire Bibliographique
de la Philosophie.
discurso
Revista do Departamento de Filosofia da USP
n
o
23 1994 ISSN 0103-328X
Universidade de So Paulo
Reitor: Flvio Fava de Moraes
Faculdade de Filosofia, Letras e Cincias Humanas
Diretor: Adilson Avansi de Abreu
Vice-Diretor: Isidoro Blikstein
Departamento de Filosofia
Chefe: Pablo Rubn Mariconda
Vice-Chefe: Franklin Leopoldo e Silva
Comisso Executiva
Scarlett Marton (editora-responsvel),
Andra Loparic, Maria das Graas de Souza do Nascimento e Mrcio Suzuki
Conselho Editorial
Baltazar Barbosa, Benedito Nunes, Bento Prado Jr., Danilo Marcondes, Ernildo
Stein, Francis Wolff, Gerd Bornheim, Grard Lebrun, Gilda de Mello e Souza,
Gilles Gaston Granger, Guido de Almeida, Joo Paulo Gomes Monteiro, Jos
Arthur Giannotti, Jos Cavalcante de Souza, Jos Henrique Santos, Henrique
C. de Lima Vaz, Marcos Mller, Maria Sylvia de Carvalho Franco, Marilena de
Souza Chau, Michel Debrun, Michel Paty, Newton Carneiro Affonso da Costa,
Oswaldo Chateaubriand, Oswaldo Porchat de Assis Pereira da Silva, Otlia Bea-
triz Fiori Arantes, Paulo Eduardo Arantes, Raul Landim, Rubens Rodrigues
Torres Filho, Ruy Fausto e Victor Knoll
Equipe Tcnica
Produo: discurso editorial
Superviso de Produo Grfica: Milton Meira do Nascimento
Equipe de Produo: Floriano Jonas Cesar, Kleverton Bacelar Santana,
Ligia Pavan Baptista e Luiz Damon Santos Moutinho
Bibliotecria Assessora: Eunides Aparecida do Vale
Projeto Grfico: Fernando Mismetti e Marco Giannotti
Capa: Marco Giannotti
Reviso: Jos Teixeira Neto
Editorao Eletrnica: Guilherme Rodrigues Neto
Impresso e Acabamento: Bartira Grfica e Editora S/A
Endereo para correspondncia:
Address for correspondence:
discurso
Departamento de Filosofia FFLCH-USP
Av. Prof. Luciano Gualberto, 315
CEP: 05508-900 So Paulo SP Brasil
Fone/Fax: 211-2431
E-mail: discurso@cat.cce.usp.br
Tiragem: 1.000 exemplares
Hume e a Experincia Singular
Joo Paulo Monteiro
A Vaidade de Montaigne
Luiz Antonio Alves Eva
Sobre o que No Aparece (ao Neopirrnico)
Hilan Bensusan e Paulo A.G. de Sousa
Resposta a Hilan Bensusan e Paulo A.G. de Sousa
Oswaldo Porchat Pereira
Iluminao Mstica, Iluminao Profana:
Walter Benjamin
Olgria Matos
Sartre: Passagem da Psicologia Fenomenologia
Luiz Damon Santos Moutinho
Lacan: Subjetividade e Psicose
Richard Theisen Simanke
O Tempo Vertical e a Dimenso do Potico na Obra
de Clarice Lispector: Uma Leitura Bachelardiana
Maria Elisa de Oliveira
Sumrio
25
71
87
109
149
discurso n
o
23 1994 ISSN 0103-328X
7
53
177
Hume e a Experincia Singular
Joo Paulo Monteiro*
Resumo: Hume conhecido por sua teoria da induo por repetio, mas em sua filosofia h
lugar para inferncias derivadas de experincias singulares. Parte do fundamento destas infern-
cias depende de uma regra newtoniana, mas preciso acrescentar a especificao do tipo de
classe de objetos a que pertencem tanto a causa como o efeito de um modo que pode esclarecer
a exata natureza do empirismo humiano.
Palavras-chave: experincia repetio singular inferncia induo
I
A experincia repetida tem na filosofia humiana do conhecimento
um papel to relevante e to notrio, que quase se arrisca a apagar o papel
desempenhado nessa filosofia pela experincia singular. Os raciocnios cau-
sais, ou indutivos, no so apenas diretamente derivados de conjunes
constantes ou freqentes, podem consistir tambm em inferncias feitas
a partir de um nico exemplo do fenmeno examinado. Os textos falam por
si ss:
No apenas em filosofia, mas at na vida comum, podemos chegar
ao conhecimento de uma determinada causa simplesmente a partir
* Professor do Departamento de Filosofia da Universidade de So Paulo.
discurso (23), 1994: 7-24
de um s experimento, desde que feito com critrio, e aps se des-
cartarem cuidadosamente todas as circunstncias estranhas e supr-
fluas (Hume 6, p. 104; meu itlico).
certo que estes raciocnios fundados em um s experimento pare-
cem ter sua legitimidade, ou mesmo sua possibilidade, excluda por diver-
sos outros textos do mesmo filsofo. Um exemplo:
Quem tivesse visto apenas um corpo se mover sob o impulso de
outro nunca poderia inferir que qualquer outro corpo seria movido
por idntico impulso (idem 5, p. 43; meu itlico).
Os dois textos s aparentemente se contradizem. Ao contrrio deste
ltimo, o primeiro acompanhado pela referncia a uma regra ou princpio
antecedente, capaz de gerar a possibilidade de proceder a uma inferncia a
partir dessa experincia nica:
Embora aqui se suponha que temos apenas um experimento de um
determinado efeito, temos contudo muitos milhes para nos conven-
cer deste princpio, que objetos idnticos, colocados em circunstn-
cias idnticas, sempre produzem efeitos idnticos (idem 6, p. 105).
Fica assim esclarecido que so possveis as inferncias indutivas a
partir de experincias singulares, desde que se tenha o cuidado de conside-
rar apenas o que essencial nas circunstncias do caso, afastando o que
estranho e suprfluo, e desde que se aplique ao caso um princpio geral
herdado de um rico manancial de experincias repetidas anteriores. Tudo
indica que, embora fique assegurado o primado da repetio, fica tambm
estabelecido que a experincia repetida deve ser dispensada em todos os
casos aos quais possa aplicar-se esse princpio geral.
O terreno que nos fazem pisar os comentadores da filosofia humiana
que nesta se limitam a enfatizar o papel das conjunes e experincias repe-
tidas , portanto, um terreno escorregadio. Um dos mais antigos desses co-
mentadores parece mesmo ter-se enganado redondamente a esse respeito.
Numa obra de 1805, Thomas Brown utiliza a questo da experincia singu-
lar como elemento de crtica concepo humiana da induo. Partindo do
estudo da Investigao (Enquiry), Brown censura Hume porque para este,
conforme alega, a inferncia causal no surge na mente aps um exemplo
singular de seqncia, mas s depois de repetidos exemplos dessa mesma
seqncia; pois no numa observao nica, nem num nico resultado da
experincia, que nos apoiamos para confiar plenamente que descobrimos
uma causa (Brown 1, p. 324 e segs.). Esta teoria atribuda a Hume por
Thomas Brown frontalmente desmentida pelo texto do Tratado aqui cita-
do em primeiro lugar.
Este erro no costuma ser repetido pelos comentadores mais recentes,
mas quando por exemplo Antony Flew se limita a dizer que para Hume os
raciocnios indutivos so produtos de repeties (Flew 3, p. 94 e segs.), ou
quando Deleuze afirma que para esse filsofo aqueles raciocnios vm de
uma experincia cuja essncia a repetio de casos semelhantes (Deleuze
2, p. 64)
(1)
, ficam faltando esclarecimentos importantes. Tanto mais que o
prprio Hume contribui pouco para esses esclarecimentos, e em sua
formulao do problema usa uma linguagem onde se acentua apenas a
importncia da repetio, como no seguinte texto, que apresenta como a
concluso de todo o assunto da induo, e o ponto de partida da
equivocada anlise de Brown:
Toda crena em questes de fato e existncia real deriva meramen-
te de um objeto presente memria ou aos sentidos e de uma con-
juno costumeira entre ele e um outro objeto; ou por outras pala-
vras, depois de constatar que, em muitos casos, quaisquer duas es-
pcies de objetos, como a chama e o calor, ou a neve e o frio, sempre
estiveram conjugadas, se a chama ou a neve se apresentarem nova-
Monteiro, J.P., discurso (23), 1994: 7-24 9 8 Monteiro, J.P., discurso (23), 1994: 7-24
mente aos sentidos a mente levada pelo costume a esperar o calor
ou o frio, e a acreditar que essa qualidade existe e se manifestar se
nos aproximarmos mais de perto (Hume 5, p. 46) .
Seria ilusrio supor que entre o Tratado de 1739 e esta Investigao
de 1748 Hume tivesse modificado este aspecto da sua filosofia, passando
na segunda dessas obras a concentrar-se exclusivamente no papel da experi-
ncia repetida, em detrimento do outro tipo de experincia. A tese acerca
das inferncias tiradas de experincias singulares retomada quase nos
mesmos termos na Investigao, embora esteja um pouco oculta numa nota
da seo sobre a Razo dos Animais, no quadro de uma comparao entre
a cognio animal e a humana:
Depois de vivermos algum tempo e nos acostumarmos uni-
formidade da natureza, adquirimos um hbito geral pelo qual sem-
pre transferimos o conhecido para o desconhecido, e concebemos
este ltimo como similar ao primeiro. Por meio desse princpio ge-
ral habitual, consideramos que mesmo um s experimento serve de
fundamento para o raciocnio, e esperamos uma ocorrncia similar
com o mesmo grau de certeza, sempre que o experimento feito
com exatido e livre de todas as circunstncias estranhas (id., ibidem,
p. 107; meu itlico).
Creio ser este um texto suficientemente anlogo ao do Tratado para
no deixar qualquer dvida quanto identidade de contedo e significado
existente entre ambos, para alm de algumas diferenas de pormenor. Tra-
ta-se do mesmo tema da possibilidade de inferncias tiradas de experinci-
as singulares, com base num princpio mais geral que por sua vez depende
de experincias repetidas como explicitado na referncia ao hbito neste
ltimo texto
(3)
.
II
Mas qual exatamente o carter desse princpio geral, que sua pri-
meira verso se traduzia na frmula objetos idnticos produzem efeitos
idnticos, e nesta outra obra aparece como uma regra de transferncia do
conhecido para o desconhecido? interessante notar que a frmula do
Tratado equivalente de uma outra regra geral apresentada mais adian-
te na mesma obra:
A mesma causa produz sempre o mesmo efeito, e o mesmo efeito
nunca surge a no ser da mesma causa (Hume 6, p. 173).
Esta a quarta de uma srie de oito regras destinadas a julgar as
causas e os efeitos, distinguindo entre os objetos que meramente surgem
conjugados em nossa experincia e aqueles realmente ligados pela causali-
dade. Nem esta nem qualquer das outras sete se refere possibilidade de
inferncias a partir do singular. Mas esta quarta regra e o princpio enunci-
ado algumas dezenas de pginas antes deixam-se ambos resumir da mesma
maneira: qualquer deles diz essencialmente que as mesmas causas produ-
zem os mesmos efeitos. E na segunda est implcito o que vinha explicitado
na primeira que para tal necessrio as circunstncias serem tambm as
mesmas.
Trata-se portanto do mesmo princpio ou regra geral (mesma causa,
mesmo efeito), mas o comentrio da segunda formulao aponta para uma
aplicao diferente:
Quando por um claro experimento chegamos descoberta das cau-
sas ou efeitos de qualquer fenmeno, imediatamente estendemos
nossa observao a todos os fenmenos dessa mesma espcie, sem
esperar por aquela repetio constante da qual deriva a primeira idia
dessa relao (id., ibidem, pp. 173-174).
Monteiro, J.P., discurso (23), 1994: 7-24 11 10 Monteiro, J.P., discurso (23), 1994: 7-24
(2)
Ao dizer que imediatamente que estendemos uma concluso indutiva
a outros fenmenos, este comentrio no impe a necessidade de qualquer
nova experincia, repetida ou apenas singular, antes de tirar uma segunda
concluso, como aplicao da primeira. S a repetio aqui diretamente
referida, mas no apenas ela que se torna dispensvel neste caso, tam-
bm a simples experincia singular. Esta regra no se destina a tornar esta
ltima forma de experincia um fundamento suficiente para uma nova con-
cluso, dispensando a repetio; destina-se a possibilitar, dispensando qual-
quer forma de experincia, uma pronta e direta generalizao.
Esta uma questo que no Tratado bastante obscura o princpio ou
regra (termos que no caso se equivalem) parece ser e ao mesmo tempo no
ser o mesmo nos dois textos. Ou ento, se em ambos seu significado o
mesmo, como possvel ter usos to diferentes? natural o engano de J.P.
Wright, que cita todos estes textos humianos, e identifica a tal ponto as
duas verses do princpio que supe tratar-se tambm de experimentos
cruciais no caso da quarta regra (Wright 14, p. 33). Por outro lado, a
Investigao no lana qualquer luz sobre o assunto, pois nela inexiste refe-
rncia s oito regras metodolgicas do Tratado. Ora s faz sentido falar de
experimentos cruciais, ou algo equivalente, no caso da primeira verso da
regra ou princpio, que tanto numa como noutra obra de Hume se destina a
possibilitar experincias que, embora nicas, so decisivas, dando rpido
acesso a novas concluses. Mas no faz sentido falar de experimentos ou
experincias de qualquer espcie no caso da mera generalizao, feita ime-
diatamente e sem derivar de qualquer nova experincia.
Quando uma relao de causalidade fica estabelecida a partir de uma
experincia repetida, a operao indutiva realizada j inclui tacitamente
aquela generalizao, que aplicada sempre que no h razes em contrrio.
No clssico exemplo humiano, a expectativa de que as bolas de bilhar conti-
nuem fazendo mover outras bolas de bilhar com as quais colidem, obviamente
no se restringe aos movimentos futuros da bola ou bolas de que se teve
experincia, mas abrange todos os movimentos atuais ou futuros de todos
os objetos da mesma espcie (Hume 5, p. 33). E a generalizao feita
imediatamente, se logo se constata a inexistncia de razes para dela nos
abstermos. Faz parte das lies da experincia que depressa se aprenda a
distinguir entre as classes de objetos que permitem a generalizao e aquelas
em que mais racional limitar nossas expectativas aos objetos j conhecidos.
III
O princpio ou regra de Hume, em qualquer de suas verses, evoca a
clebre segunda regra de Newton: Aos mesmos efeitos naturais devemos,
tanto quanto possvel, atribuir as mesmas causas (Newton 11, p. 398). Re-
gra newtoniana que se reveste de um carter metodolgico, como princpio
do raciocnio cientfico. Esta a redao adotada pelo autor na segunda
edio de seus Principia. Na primeira edio essa regra era apresentada em
termos diferentes, alm de ser chamada, juntamente com as outras trs, hi-
ptese, e no regra: Os efeitos naturais da mesma espcie tm as mes-
mas causas (idem 12, p. 166). Compare-se tambm com outra verso de
Hume, numa outra obra: Efeitos idnticos derivam de causas idnticas
(Hume 4, p. 170)
(4)
.
No nos podemos aqui deter nas diferenas entre o cunho mais
ontolgico da primeira verso da regra newtoniana, em 1687, e o carter
mais metodolgico da verso de 1713, ou na maior proximidade das de
Hume em relao primeira. Tambm ficaria fora do mbito deste estudo
examinar as diferenas entre as regras ou princpios do Tratado, com seu
foco principal na predio de efeitos a partir de causas, e, por outro lado,
tanto as mximas newtonianas como as dos Dilogos, todas voltadas para a
atribuio de causas a efeitos. Limitemo-nos a registrar que h um conceito
central comum a todas as formulaes dos dois autores: que as mesmas
causas produzem os mesmos efeitos e os mesmos efeitos derivam das mes-
mas causas.
Ambas as verses da regra newtoniana, apesar das diferenas que h
entre elas, so equivalentes no fato de terem o mesmo alcance da segunda
das verses humianas: o da generalizao imediata dos resultados das infe-
rncias, sem qualquer necessidade de um passo intermedirio constitudo
Monteiro, J.P., discurso (23), 1994: 7-24 13 12 Monteiro, J.P., discurso (23), 1994: 7-24
por mais experincia, repetida ou singular. A regra newtoniana no se des-
tina a possibilitar inferncias do singular ou experimentos cruciais, ao
contrrio do princpio humiano referido no Tratado em primeiro lugar.
Isso fica perfeitamente claro nos comentrios tecidos por Newton a
sua regra, dando exemplos de efeitos da mesma espcie que tm as mesmas
causas: a respirao nos homens e nos animais, a queda dos corpos na Europa
e na Amrica, a reflexo da luz na Terra e nos outros planetas. Esses exemplos
so os mesmos nas duas edies e nas mesmas pginas citadas, e claramente
nada tm a ver com inferncias a partir de experincias singulares. Trata-se
de classes de fenmenos cujas causas foram estabelecidas pela cincia e a
partir da basta identificar cada fenmeno como pertencente a essa classe
para logo sabermos qual sua causa. Cada um deles, uma vez identificado
como membro de uma determinada classe de fenmenos, imediatamente
como vimos Hume afirmar abrangido por uma generalizao j
tacitamente legitimada desde a descoberta da causa comum dessa classe de
fenmenos. Identificado um fenmeno, ou efeito, como um caso de queda
dos corpos ou de respirao, imediatamente podemos concluir que sua causa
a mesma que j conhecemos como causa de outros fenmenos anlogos.
IV
O princpio geral citado primeiro no Tratado de Hume realmente o
mesmo que a quarta das oito regras gerais do captulo posterior a regra
newtoniana. O segundo caso talvez o mais claro, quer por ser mais dire-
to, quer por ser mais conhecido atravs de Newton, quer por ser o mais
comum nas obras de Hume: De um corpo com cor e consistncia idnticas
s do po esperamos idntica nutrio e sustento (Hume 5, p. 37)
(5)
. Essas
obras esto cheias de exemplos como este, onde os efeitos observados de
um objeto so esperados no futuro, no s desse objeto, mas tambm de
todos os similares. Mas no encontramos em Hume exemplos claros de
induo a partir da experincia singular embora a possibilidade desse tipo
de induo seja, como vimos, explicitamente admitida. Alm de estarem
ausentes tais exemplos, tambm no h distino ntida entre os casos em
que o princpio mesmas causas, mesmos efeitos d lugar a uma imediata
generalizao e aqueles em que serve de suporte a um raciocnio realizado
a partir de uma experincia singular.
O problema da induo a partir de um nico caso interessou tambm
a Stuart Mill, um sculo depois de Hume: Quando um qumico anuncia a
existncia e as propriedades de uma substncia recentemente descoberta, se
confiarmos em sua exatido sentimo-nos seguros de que as concluses a
que chegou sero mantidas universalmente, embora a induo esteja fundada
em um nico exemplo. Segundo Mill, s se recorre repetio para garantir
que esta experincia foi bem feita, e assim que se torna possvel inferir
uma lei geral da natureza a partir de uma experincia singular. E Mill chega
a mostrar um certo fascnio por esta questo, bem como pelo contraste entre
a certeza de algumas inferncias do singular e a relativa incerteza de algumas
indues por repetio, ao concluir entusiasticamente: Por que razo um
nico exemplo, em alguns casos, suficiente para uma induo completa,
enquanto, em outros casos, mirades de exemplos coincidentes, sem uma
nica exceo conhecida ou suposta, avanam to pouco no sentido de chegar
a uma proposio universal? Quem quer que possa responder a esta questo
sabe mais de filosofia da lgica do que o mais sbio dos antigos, e ter
resolvido o problema da induo (Mill 10, pp. 205-206).
Cabem aqui duas observaes. A primeira que Mill no parece ter
conscincia de que o problema da induo com um s exemplo j tinha sido
formulado por Hume. A segunda que a soluo encaminhada pelo Siste-
ma da Lgica passa pelo complexo aparelho da lgica indutiva, da induo
eliminativa e dos mtodos da investigao experimental. Mas o problema,
na formulao humiana, tambm pode surgir no plano da vida comum, como
se v na passagem citada no incio deste estudo. Questes como a da dife-
rena entre os casos de generalizao direta e os de induo com um s
exemplo devem ser passveis de solues menos ambiciosas e mais simples.
Para tentar esclarecer essa distino, podemos comear por perguntar
como se caracteriza a classe de fenmenos a qual o princpio ou regra se
pode aplicar. Partamos do exemplo humiano do po e da nutrio. Por que
Monteiro, J.P., discurso (23), 1994: 7-24 15 14 Monteiro, J.P., discurso (23), 1994: 7-24
podemos ns proceder imediatamente a uma generalizao, esperando nu-
trio de todos os pes sem distino, e no precisamos de qualquer nova
experincia, repetida ou apenas singular? porque essa classe de objetos se
compe exclusivamente de exemplos positivos, de objetos que sempre e
sem exceo se mostraram nutritivos. No se trata aqui apenas da diferena
entre conjuno constante e conjuno freqente, diferena essa que em
outros contextos tem a maior relevncia para Hume (Hume 5, p. 57 e segs.).
Em termos humianos, no h dvida de que a conjuno, no caso em pauta,
precisa de ser constante para que possamos ter uma expectativa que no
seja o que hoje chamaramos uma expectativa probabilstica ou estatsti-
ca. Mas pode ocorrer que essa conjuno constante e este o ponto
fundamental se verifique apenas em um dos tipos de objeto de uma deter-
minada classe. Por exemplo, se a classe constituda pelos pes se dividisse
em dois tipos, sendo os membros de um desses tipos sempre nutritivos e o
outro no tendo nunca esse efeito, no mais bastaria constatarmos que um
objeto membro dessa classe de objetos para imediatamente lhe atribuir-
mos um poder nutritivo.
Claro que na classe dos pes no h realmente essa diviso em dois
tipos, um positivo e outro negativo ou, e o que importa, isso que Hume
supe. Mas h outras classes de objetos que apresentam essa diviso, entre
um tipo de subclasse apresentando essa caracterstica positiva e outro tipo
no a apresentando, ou seja, sendo negativo quanto ao efeito em questo.
Tomemos por exemplo a classe dos metais, que se divide em diversas
subclasses ouro, ferro, alumnio, etc. , e experimentemos riscar vrios
fragmentos de algumas dezenas de metais com um outro mineral ainda des-
conhecido, que por hiptese no sabemos se ser ou no capaz de riscar
algum desses fragmentos de metal. Se ao final de uma srie de experincias
suficientemente longa, repetida e variada, tivermos constatado que esse
mineral risca uma dezena de metais, sempre, enquanto a outra dezena no
risca nunca, teremos reunido, para qualquer experincia futura no mesmo
campo, as condies suficientes para que um experimento singular, sem
necessidade de repetio, conduza a uma nova descoberta e permita uma
concluso indutiva ao mesmo tempo em que estaremos numa situao em
que essa experincia se torna necessria.
Necessria, porque se acharmos alguns exemplares de uma nova
subclasse ou espcie de metal, e quisermos saber se os membros dessa nova
subclasse vo ser riscados pelo nosso mineral, estaremos numa situao
cognitiva muito diferente de se acharmos alguns exemplares de uma nova
espcie de po. Neste ltimo caso no temos qualquer razo para hesitar em
aplicar a regra newtoniana, generalizando imediatamente os conhecimen-
tos que temos acerca dessa classe de objetos de maneira a abranger o novo
achado, juntamente com todos os outros membros dessa mesma subclasse
que venhamos a achar no futuro. Para ns a classe dos pes compe-se de
subclasses que podem ter muitos aspectos diferentes entre si, sendo inclusi-
ve uns mais nutritivos do que outros, mas, acertadamente ou no, acredita-
mos que todas essas subclasses so de fato alimentcias ou seja, perten-
cem todas ao mesmo tipo positivo. No havendo razo para admitir a hip-
tese negativa, isto , para supor que existem pes no nutritivos, nossa ge-
neralizao feita prontamente. Mas, quanto nova espcie de metal, no
sabemos se pertence ao tipo positivo ou ao tipo negativo e precisamos da
experincia para decidir.
A experincia torna-se aqui necessria mas suficiente realiz-la
uma s vez. Porque nossa deciso, antes disso, j se encontra circunscrita a
apenas duas hipteses, duas possibilidades, se tivermos aprendido a lio
indutiva das experincias (essas, repetidas) que fizemos com exemplares
das diversas subclasses ou espcies conhecidas da classe dos metais. Uma
das coisas que teremos aprendido que nessa classe todos os objetos, de
qualquer subclasse, pertencem a um de dois tipos: o positivo ou o negativo.
Ou seja, que no existe o que supomos qualquer metal que se comporte
irregularmente perante nossas tentativas de risc-lo, ou seja, no h subclasse
cujos membros umas vezes se deixem riscar e outras no. Ora, para escolher
apenas entre a hiptese negativa e a positiva, excluda que ficou a hiptese
da irregularidade, no h qualquer razo para proceder ainda a experincias
repetidas. Basta uma s vez, porque se esse fragmento de um novo metal
puder ser riscado porque pertence ao tipo positivo, pois obviamente ficou
excluda a possibilidade de ele pertencer ao tipo negativo. Ou seja, de algum
modo foram postas de lado as circunstncias estranhas e suprfluas. A
primeira hiptese foi a nica que restou, por excluso de partes, e por uma
Monteiro, J.P., discurso (23), 1994: 7-24 17 16 Monteiro, J.P., discurso (23), 1994: 7-24
espcie de experimento crucial, e por isso seria destitudo de sentido exigir
ainda que ela fosse confirmada por repetidas experincias.
Hume tinha razo ao afirmar que a inferncia feita a partir de um caso
nico se opera pela aplicao do princpio mesma causa, mesmo efeito.
Mas no estabeleceu distino entre este caso e o da simples e imediata
generalizao a partir do mesmo princpio. Nem acrescentou, como agora
podemos fazer, que um experimento fica livre de circunstncias estranhas,
de modo que conduza isoladamente a uma concluso indutiva, sem necessi-
tar da repetio, quando a classe sob investigao se divide da maneira ago-
ra indicada, tornando possvel a deciso crucial entre apenas duas possibili-
dades. Uma deciso que sem dvida obtida por deduo a partir de algu-
mas premissas mas igualmente claro que estas ltimas s poderiam ser
obtidas a partir da experincia repetida, por induo enumerativa. E aqui
indiferente que se tenha chegado a essa situao atravs de um criterioso
trabalho de investigao experimental, ou que a natureza j assim esponta-
neamente se nos apresente.
Mas em que casos a experincia singular deixa de ser suficiente para
uma concluso indutiva? Se supusermos agora que o objeto de nossa inter-
rogao por exemplo um certo animal, ou uma certa espcie animal, e que
o fenmeno a investigar a reao desse animal ou espcie a um determina-
do rudo, evidente que se nos limitarmos a examinar o animal nada pode-
remos concluir. Mas tambm no ser suficiente proceder a uma experin-
cia singular, produzindo uma s vez esse rudo e observando o comporta-
mento da resultante. Porque a classe reaes de animais a rudos nem
uniforme nem se divide apenas em dois tipos de subclasses: divide-se em
trs. Alm dos casos negativos (os que nunca fogem ao ouvir esse rudo), h
pelo menos um terceiro tipo: o dos que umas vezes fogem desse rudo e
outras no, ou seja, fenmenos irregulares, ou regulares mas apenas es-
tatsticos, freqenciais ou probabilsticos no mximo. Portanto essa
classe de fenmenos no permite que uma experincia singular decida o
problema, levando a uma concluso indutiva. Mas se pudermos submeter o
animal a uma experincia que, alm de controlada e cuidadosa, seja repeti-
da um nmero suficiente de vezes, haver um momento a partir do qual
poderemos considerar irracional continuar hesitando, se o comportamento
dele for, sempre e em todos os casos, de fuga ao ouvir o rudo, e a partir do
qual decidiremos reconhecer a concluso indutiva que se impe: que no
futuro esse animal, ou essa espcie de animal, fugir sempre ao receber
esse estmulo. Da mesma causa esperaremos o mesmo efeito.
V
Esta anlise de modo algum se pretende exaustiva do problema. Cer-
tamente que para a soluo deste ponto de interpretao de Hume podero
ser construdos modelos diferentes do modelo tripartido aqui proposto
com um tipo positivo, um tipo negativo e um tipo irregular, como
nicos tipos constitutivos de uma classe sob exame, quanto aos problemas
do recurso experincia repetida ou singular para chegar a concluses
indutivas. O objetivo da presente anlise consiste apenas em contrastar o
caso em que possvel e legtima a inferncia tirada da experincia singular
com outros dois casos ntidos: aquele em que ela ainda no necessria,
que a classe uniforme de fenmenos, e aquele em que ela j no sufici-
ente, que a classe tripartida. O primeiro caso pareceu-nos particularmente
interessante, por ser aquele a que realmente pode ser referida a segunda
formulao da regra newtoniana no Tratado humiano, em contraste com
uma primeira formulao aplicada pelo filsofo ao problema da experin-
cia singular.
No h qualquer ambigidade no Tratado quanto necessidade dessa
regra, como uma das condies de possibilidade das inferncias a partir de
experincias singulares. Onde a ambigidade se instala no fato de a mes-
ma regra ser tambm aquela que preside simples aplicao de generaliza-
es, sem qualquer nova experincia. Podemos agora admitir que essa regra
efetivamente preside aos dois tipos de operao, o primeiro nos casos em
que a classe de fenmenos uniforme e o segundo nos casos em que essa
classe bipartida, contendo apenas um tipo positivo e um tipo negativo
de subclasse.
Monteiro, J.P., discurso (23), 1994: 7-24 19 18 Monteiro, J.P., discurso (23), 1994: 7-24
Esse argumento pode ser usado para esclarecer uma outra passagem
de Hume. Na Investigao aparece o seguinte exemplo, imediatamente an-
tes da concluso quanto ao problema da induo:
Depois de uma criana experimentar uma sensao de dor ao tocar
na chama de uma vela, passar a ter o cuidado de nunca mais pr a
mo perto de qualquer vela; pois esperar um efeito similar de uma
causa que similar em sua aparncia e qualidades sensveis (Hume
5, p. 39).
Este um texto que pode ser analisado sob vrios aspectos, mas a
interpretao que parece se impor aquela que v aqui um exemplo de
inferncia a partir de uma experincia singular. Est implcito que se trata
da primeira vez que essa criana pe a mo na chama de uma vela e a
concluso tirada a partir de uma s experincia. Num caso como este,
supor a necessidade de repetir a experincia ficaria at tingido de ridculo...
Mas nada permite concluir que o carter traumtico dessa experincia que
leva concluso indutiva. No se trata de evitar um perigo, trata-se de uma
expectativa gerada por inferncia indutiva, como se v na segunda parte do
texto
(6)
. Mas Hume no esclarece como neste caso se prescinde daquela ex-
perincia repetida que nessa mesma obra, e nas pginas seguintes, nos vai
apresentar como fundamental para o raciocnio indutivo.
Se aplicarmos a este caso o nosso modelo, poderemos concluir que o
que torna possvel a inferncia acerca da vela a aplicao da regra
newtoniana a um caso em que a simples observao no podia revelar a uma
criana, ainda sem qualquer experincia dos perigos das chamas, que aque-
le objeto colorido e brilhante lhe iria causar dor, e que ao mesmo tempo a
classe de fenmenos relevante se prestava aplicao dessa regra, s com a
ajuda de uma experincia singular, sem necessidade de repetio. Que clas-
se de fenmenos? S pode ser um conjunto mais amplo do que o das velas
e das chamas uma classe da qual estas possam ser, face experincia
passada dessa criana, encaradas como casos particulares.
Essa classe pode ser algo como os objetos tocados que povoaram
essa experincia. de supor que a criana tenha tocado vrios objetos, e
que a classe constituda por estes inclua um tipo formado por aqueles que
no produziram qualquer dor (o tipo negativo) e um tipo formado por aque-
les que produziram alguma espcie de dor. Se supusermos tambm que no
existe nesse caso, ou que no foi considerado, qualquer outro tipo de fen-
meno do gnero objeto tocado, podemos considerar o exemplo humiano
como um caso de inferncia do singular, tornado possvel pelo fato de a
classe relevante de fenmenos se dividir em apenas dois tipos, conforme o
modelo aqui analisado.
A partir dessa base emprica, constituda, sem dvida, por
experincias repetidas, basta uma operao elementar e quase automtica
para chegar a uma concluso indutiva baseada nessa nica e singular
experincia. Se a chama causa dor porque obviamente no pertence ao
tipo negativo. Logo, pertence ao tipo positivo, cujos membros causam sempre
dor. De onde se segue, agora dedutivamente, que a chama que uma vez
causou dor vai sempre continuar fazendo isso a quem a tocar. Esta chama e,
por generalizao, todos os objetos da mesma espcie, todas as chamas
nunca mais essa criana se chegar a uma vela acesa. Assim, no
indispensvel que uma expectativa como essa, mesmo sob a forma
extremamente geral expressa na proposio todo fogo causa dor, se
constitua a partir da experincia repetida.
VI
O problema da induo com um s exemplo e do papel da experincia
singular no conhecimento foi objeto de variadas interpretaes durante os
sculos XVIII e XIX. Em nosso sculo, Nicod e Lalande (Nicod 13; Lalande
8) deram-lhe solues que possivelmente deveriam ser diretamente referi-
das filosofia de David Hume mas no aqui o lugar para desenvolver
Monteiro, J.P., discurso (23), 1994: 7-24 21 20 Monteiro, J.P., discurso (23), 1994: 7-24
esse tema, pois para tal seria necessrio todo um outro estudo. Os nossos
limites tero que ser aqui os da anlise interna dessa filosofia e da discus-
so do alcance que lhe pode ser atribudo.
Uma conseqncia deste aspecto da filosofia humiana da induo
que o papel da repetio em cada sujeito, em cada histria individual de
aquisio de conhecimentos acerca do mundo real, aparece como inteira-
mente contingente. Ou seja, no necessrio que as inferncias indutivas
concretas, feitas por cada indivduo concreto, derivem de experincias re-
petidas de modo predominante, e muito menos exclusivo, no decurso de sua
existncia como sujeito cognoscente. Em princpio, bastariam algumas
indues enumerativas de carter muito geral para constituir uma estrutura
fundamental, um esquema do mundo formado por proposies acerca de
grandes classes de fenmenos, estrutura que iria sendo completada com o
recurso a experincias singulares, apenas com ocasional e escasso recurso a
experincias repetidas. Esta foi uma conseqncia que Hume no tirou das
premissas contidas em sua filosofia. Mas julgo estar claro agora que ela
poderia ser tirada e, no sem ironia, dedutivamente.
Abstract: Humes theory of induction by repetition is well known, but there is room in his
philosophy for inductions from single experiments. Part of the foundation of such inferences
depends on a Newtonian rule, but we must specify the type of class of objects to which both
the cause and the effect belong so that the precise nature of Humean empiricism may be
clarified.
Key-words: experience repetition singular inference induction
Notas
(1) Outra expresso que se presta a equvocos:Sem conjuno constante, sem expe-
rincia passada formando hbito, no h inferncia causal (Malherbe 9, p. 125).
(2) Cf. Flew 3, p. 93.
(3) Como escreveu em 1879 um outro antigo comentador: O que Hume quer dizer
com costume ou hbito apenas a repetio das experincias (Huxley 7, p. 116).
(4) Ou ainda: Efeitos idnticos provam causas idnticas (Hume 4, p. 165).
(5) Este exemplo apresentado como uma aplicao de uma outra verso da
regra newtoniana: De causas que parecem similares esperamos efeitos simila-
res (Hume 5, p. 36).
(6) No se lhe aplicariam, por exemplo, comentrios como este feito por Flew em
outro contexto: Gato escaldado de gua fria tem medo (Once bitten, twice shy).
Uma s experincia realmente traumtica aparentemente suficiente para for-
mar um ansioso hbito de expectativa (Flew 3, p. 95).
Bibliografia
1. Brown, T. Observations on the Nature and Tendency of the Doctrine of
Mr. Hume Concerning the Relation of Cause and Effect. In: Brown,
R. Between Hume and Mill. N. York, ed. The Modern Library, 1970.
2. Deleuze, G. Empirisme et Subjectivit: Essai sur la Nature Humaine selon
Hume. Paris, Presse Universitaire de France, 1953.
Monteiro, J.P., discurso (23), 1994: 7-24 23 22 Monteiro, J.P., discurso (23), 1994: 7-24
3. Flew, A. Humes Philosophy of Belief. Londres, Routledge & Kegan Paul,
1961.
4. Hume, D. Dialogues Concerning Natural Religion. N. York, Bobbs-Merrill,
1947.
5. ______. An Enquiry Concerning Human Understanding (Enquiry).
Oxford, Clarendon Press, 1975.
6. ______. A Treatise of Human Nature (Treatise). Oxford, Clarendon Press,
1958.
7. Huxley, T. Hume. Londres, Macmillan and Co., 2
a
ed., 1984.
8. Lalande, A. Les Thories de lInduction et de lExprimentation. Paris,
Boivin, 1929.
9. Malherbe, M. La Philosophie Empiriste de David Hume. Paris, Vrin,
1976.
10. Mill, J.S. A System of Logic, Ratiocinative and Inductive, III. Londres,
Longmans, 1959.
11. Newton, I. Mathematical Principles of Natural Philosophy. Trad. A.
Motte, Berkeley, University of California Press, 1946.
12. ______. Princpios Matemticos da Filosofia Natural. Trad. P.R.
Mariconda, So Paulo, col. Os Pensadores, Nova Cultural, 1987.
13. Nicod, J. Le Problme Logique de lInduction. Paris, Alcan, 1924.
14. Wright, J.P. The Sceptical Realism of David Hume. Minneapolis,
University of Minnesota Press, 1983.
A Vaidade de Montaigne*
Luiz Antonio Alves Eva**
Resumo: Problematizando a confisso de Montaigne sobre a vaidade que encontra em si mesmo,
na Apologia de Raymond Sebond, tentamos defender a hiptese de estarmos diante de uma estratgia
retrica, possivelmente destinada a ocultar posio ctica do autor perante os costumes religiosos.
Palavras-chave: Montaigne ceticismo Renascimento Reforma
Propondo-se, em sua longa Apologia de Raymond Sebond (Ensaios,
II, 12), a defender o telogo catalo de objees feitas sua Teologia Natu-
ral, Montaigne avisa ao leitor que responder aos athistes, ousados adver-
srios da religio tradicional que a combatem na arena da pura razo huma-
na, golpeando-lhes o orgulho e a vaidade. Julgando-se estes vontade para
atacar as razes de Sebond, que consideram fracas e incapazes de verificar
o que pretendem (todos os artigos de f da religio por meios naturais), diz
Montaigne:
...O meio que escolho para rebater esse desvario e que me parece o
mais adequado o de esmagar e pisotear o orgulho e a arrogncia
* Este artigo apresenta alguns problemas que discuto em minha dissertao de mestrado,
intitulada Montaigne e o Ceticismo na Apologia de Raymond Sebond. Trata-se de verso
reformulada da conferncia apresentada no colquio A Questo do Ceticismo (a cujos
participantes pretendo aqui expressar meus agradecimentos, pelas crticas e sugestes),
em setembro de 1993, na Universidade Federal do Paran (Curitiba).
** Professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Uberlndia MG e
aluno de Ps-Graduao do Departamento de Filosofia da Universidade de So Paulo.
24 Monteiro, J.P., discurso (23), 1994: 7-24 discurso (23), 1994: 25-52
humana, fazer-lhes sentir a inanidade, a vaidade (vanit) e a nulida-
de do homem; desaprumar as cativas armas de sua razo, fazer-lhes
baixar a cabea e morder a terra sob a autoridade e reverncia da
majestade divina... (Montaigne 5, 448a).
Para revelar a total cegueira da razo e mostrar-lhes que se enredam
em v esperana, ao pensarem poder encontrar razes mais firmes que a do
telogo, Montaigne combater tal vaidade por meio de ampla e diversificada
argumentao ctica, cujas principais fontes so as Hipotiposes Pirronianas,
de Sexto Emprico, e os dilogos Acadmicos (Academica) e Da Natureza
dos Deuses (De Natura Deorum), de Ccero. Primeiramente, investindo con-
tra a vaidade do homem, refutando teses de inspirao estica e
neoplatnica que situam o homem no centro do universo e acima das de-
mais criaturas, das quais o pressuposto bsico a crena na exclusividade
humana da posse da razo. Adiante, apresenta elogiosamente a filosofia
ctica e se apia em argumentaes daquelas fontes antigas para combater a
vaidade do saber, a crena humana na posse de uma verdade filosfica.
Ainda seguindo argumentaes cticas, sobretudo Sexto Emprico,
Montaigne ataca, por fim, a vaidade da razo, que se revelaria na de-
monstrao da incapacidade dos instrumentos do saber (a lembrados tam-
bm o julgamento e os sentidos) em propiciar a verdade.
Apresentamos as linhas gerais dessa progresso, claramente
discernveis em meio a uma aparente desordem temtica
(1)
, apenas para in-
dicar que a vaidade athiste o pretexto permanente da argumentao cti-
ca no ensaio. Pode-se mesmo afirmar, indo alm, que a prpria vaidade
guarda grandes afinidades com noes precisas do ceticismo antigo; com a
presuno (oesis), fruto da precipitao (propteia) no juzo sobre a verda-
de das opinies defendidas, mal dogmtico do qual, segundo Sexto Empri-
co, a argumentao pirrnica se pretende uma terapia. Para tanto, explica
ele, o ctico muitas vezes se vale de argumentos que no o convencem pes-
soalmente, mas que podem convencer o interlocutor dogmtico acerca da
fraqueza das razes que defende e s quais se aferra (Sexto Emprico 7, III,
pp. 280-281; I, 12, p. 177). Nas palavras de Montaigne, os pirrnicos argu-
mentam totalmente isentos da jalousie de leur discipline, pois no filo-
sofam no intuito de preservar suas prprias concepes da crtica, mas sim-
plesmente avanam proposies contrrias s de seus interlocutores para
engendrar a suspenso (Montaigne 5, 503a). Assim como Sexto considera
que os dogmticos, por isso, so philauti, uma classe de homens que se
amam a si mesmos, arrogando-se superioridade em relao aos demais pe-
las controversas verdades que pensam possuir (Sexto Emprico 7, I, p. 90),
os vaidosos objetores athistes seriam aqueles que, confiantes no poder da
razo em fundamentar a verdade, atacam as demonstraes de Sebond e a
religio
(2)
.
Porm, apesar da ampla utilizao de argumentaes cticas, nesse e
noutros ensaios; apesar de apresentar como a mais segura posio do
entendimento aquela de uma perfeita suspenso, sem abalo ou agitao
tal como ele mesmo caracteriza a epokh (suspenso do juzo) dos pirrnicos
(Montaigne 5, 503a, 561-562a) , Montaigne no deixa de confessar a
vaidade que encontra tambm em si mesmo. Apresentando o julgamento
humano como refm de uma razo igualmente amiga da verdade e da mentira
instrumento de chumbo e cera que se amolda a qualquer medida, podendo
igualmente sustentar cem opinies contrrias sobre um mesmo assunto (id.,
ibidem, 565a) , ele encontra nessa situao conflituosa das opinies, que
parece remontar ao tema ctico da diaphona, uma ocasio de preconizar a
epokh
(3)
. Mas as paixes do corpo e da alma, muito particularmente, so a
lembradas como causa de o julgamento nunca se achar naquela que seria
sua posio mais segura:
...Por melhor inteno que tenha um juiz, se ele no se escuta de
perto, coisa de que poucos se ocupam, a inclinao amizade, ao
parentesco, beleza e vingana, e no apenas coisas to podero-
sas, mas mesmo esse instinto fortuito que nos faz favorecer uma
coisa em vez de outra e que nos d, sem o aval da razo, a escolha
entre duas coisas semelhantes, ou (ainda) alguma sombra de igual
vaidade, podem insinuar insensivelmente em seu julgamento a reco-
mendao e o desfavor de uma causa, fazendo pender a balana
(id., ibidem).
Eva, L.A.A., discurso (23), 1994: 25-52 27 26 Eva, L.A.A., discurso (23), 1994: 25-52
Essa oposio entre a epokh ideal e o desequilbrio das paixes pre-
para a tela para o seguinte auto-retrato:
Eu, que me espio mais de perto, que tenho os olhos incessantemente
voltados sobre mim, como algum que no tem muito que fazer
alhures... dificilmente ousaria dizer a vaidade (vanit) e a fraqueza
que encontro em mim. Tenho o p to instvel e pouco firme,
encontro-o to pronto a vacilar e minha vista to desregrada, que em
jejum me sinto outro que aps a refeio; se minha sade sorri para
mim e a claridade de um belo dia, eis-me uma pessoa amvel; se um
calo me aperta, eis-me aborrecido, desagradvel, intratvel (...)
(Montaigne 5, 565a).
O que dever significar essa confisso luz do ataque ctico vaida-
de em que se insere? Apesar de alvejar os objetores de Sebond com armas
cticas, acabaria Montaigne por reconhecer em si alguma forma de dogma-
tismo (como que se ferindo com tais armas, num acidente que permitiria,
talvez, medir alguma distncia filosfica entre sua posio e aquela em que
veria os cticos antigos)?
(4)
Mas, ainda que esta seja uma vaidade
dogmtica, como caberia interpret-la frente aos propsitos do autor no
ensaio? Examinemos duas hipteses possveis, guiando-nos pela diviso entre
as espcies de filosofia pela qual Montaigne norteia sua exposio.
***
Investigando a busca filosfica pela verdade para mostrar que o ho-
mem apenas obteve a confirmao de sua ignorncia natural, Montaigne
divide as filsofos em dogmticos, acadmicos e cticos pirrnicos, seguindo
a diviso formulada por Sexto na introduo das Hipotiposes (id., ibidem,
502a e segs.; Sexto Emprico 7, I, pp. 1-5). Notemos, particularmente, que
ele assim emprega o termo vanit ao transcrever os motivos pelos quais o
autor grego diferencia os pirrnicos dos acadmicos:
Pirro e os outros cticos (...) dizem que ainda esto em busca da
verdade. Eles julgam que aqueles que a pensam ter encontrado (os
dogmatistes) se enganam infinitamente e que h ainda muita ousa-
dia da vaidade nesse segundo grau que assegura serem as foras hu-
manas incapazes de atingi-la... (Montaigne 5, 502a).
Se Montaigne se vale de argumentos cticos provenientes tanto de
pirrnicos quanto de acadmicos e se acaba por declarar a sua prpria vai-
dade, uma primeira hiptese que pretendemos considerar a de que essa
declarao, em algum sentido, possa testemunhar que ele reconheceria, em
sua prpria prtica do ceticismo, uma maior afinidade com os acadmicos
do que com os pirrnicos. Mais precisamente, consideremos a possibilida-
de de Montaigne ter interpretado a perfeita epokh pirrnica de tal modo
que ela se teria afigurado, para ele, como incompatvel com o instinto
fortuito que, na vida prtica, nos leva a preferir uma opinio a outra. Ape-
sar de reconhecer uma maior coerncia da posio pirrnica acerca dos
limites de nosso conhecimento, que deveria se refletir em tal prtica ideal
da suspenso, Montaigne teria visto o seu ceticismo comprometido, em al-
gum grau, com a mesma vaidade que os pirrnicos denunciam no ceticismo
acadmico (sobretudo na primeira verso da Apologia de 1580, que os co-
mentadores, de modo geral, reconhecem corresponder a um perodo de maior
proximidade do autor em relao ao pirronismo)
(5)
.
Montaigne, com efeito, apresenta em termos particularmente hiper-
blicos a epokh pirrnica: (...) Uma pura, inteira e mui-perfeita suspenso
de julgamento... Quem imaginar uma perptua confisso de ignorncia, um
juzo sem inclinao em qualquer ocasio que possa ser, concebe o pirro-
nismo (ib., ibidem, 505a). Seria essa descrio compatvel com esta outra,
que Montaigne nos oferece de sua prtica pessoal da argumentao
antinmica?
Eva, L.A.A., discurso (23), 1994: 25-52 29 28 Eva, L.A.A., discurso (23), 1994: 25-52
...Muitas vezes (como me ocorre fazer de bom grado), tendo to-
mado por exerccio e passatempo a tarefa de sustentar uma opinio
contrria minha, meu esprito, aplicando-se e virando-se desse lado,
a me amarra to bem que no encontro mais razo na minha pri-
meira opinio, de que me despeo. Deixo-me quase levar para onde
pendo, seja para onde for, deixo-me arrastar com todo meu peso...
(Montaigne 5, 566b).
Ao confrontar a posio das duas vertentes da filosofia ctica relati-
vamente questo da epokh, Montaigne segue novamente Sexto Emprico
para observar que, embora os acadmicos recusem a resoluo (resolution)
de seu julgamento (nada afirmando assertivamente, no que estariam de
acordo com o pirronismo), facultar-lhe-iam alguma inclinao ao admitirem
o provvel, ou verossimilhante (vray-semblable) (id., ibidem, 561a; cf. Sexto
Emprico 7, I, p. 226 e segs.). Isso porque achariam demasiado rude (crud)
defender que h tanta verossimilhana na afirmao de que a neve branca
quanto na de que negra posio esta que estaria mais afeita suspenso
pirrnica, mas que Montaigne afirma considerar difcil de ser imaginada
(Montaigne, 5, 561a). Ainda assim, o juzo do autor pende em favor da
maior ousadia e verossimilhana dos pirrnicos, que criticam o contra-
senso acadmico de admitir uma inclinao para a verdade enquanto se
afirma a impossibilidade de conhec-la. Porm, Montaigne formular essa
concluso numa sentena condicional: uma vez que nossas faculdades
intelectuais e sensveis no tm p nem fundamento, a melhor posio do
julgamento seria a perfeita suspenso (que abrangeria, assim, tanto a sua
resoluo quanto a sua inclinao) (id., ibidem, 561-562a). No deveramos
ver aqui um indcio da impraticabilidade que ele, pessoalmente, teria
encontrado nessa epokh radical?
Nas passagens que Montaigne certamente segue ao expor e comentar
essas distines, Sexto tambm distingue dois sentidos de crena, expli-
cando que o pirrnico no abole aquelas que se apresentam num sentido
simplesmente fenomnico quando crer significa (...) no resistir, mas
simplesmente seguir sem qualquer impulso forte ou inclinao, como a cri-
ana segue o tutor... (Sexto Emprico 7, I, pp. 230-231). O pirrnico, se-
gundo Sexto, recusa a crena enquanto esta significa (...) assentir a algo
deliberativamente, com uma espcie de simpatia devida a um forte desejo,
como quando se acredita naquele que aprova um modo extravagante de vida.
Assim, Carnades e Clitmaco declaram que uma forte inclinao acompa-
nha sua crena e a credibilidade do objeto, enquanto ns dizemos que nossa
crena resultado de simplesmente ceder, sem prestar assentimento... (id.,
ibidem). Se, ao que parece, Montaigne entenderia haver um conflito entre a
suspenso pirrnica e a admisso de que a neve branca, e no negra (j
que afirma ser difcil imaginar, como vimos, em que consistiria essa sus-
penso), ele no menciona essa passagem em que Sexto precisa o sentido
pirrnico de crena (ainda que, muito provavelmente, dela tenha tido ci-
ncia). Citamo-la, apenas, para perguntar a qual dessas descries apresen-
tadas por Sexto deveramos aproximar esta outra passagem, em que
Montaigne relata a sua prpria maneira de crer: ...O que admito e creio
hoje, admito e creio com toda minha crena; todas as minha faculdades e
recursos empunham essa opinio e a apiam em tudo que podem. Eu no
saberia abraar nenhuma verdade nem conserv-la com mais fora...
(Montaigne 5, 563a).
No mais, notemos que Montaigne se vale do termo vray-semblable
para expor a sua prpria opinio sobre a coerncia pirrnica, termo que
por ele correntemente usado para qualificar, em geral, o aspecto conjectural
de suas opinies
(6)
. sobretudo a suspenso da resoluo que, aparente-
mente, ressurge em outras caracterizaes de seu prprio posicionamento,
como nesta passagem: ...Ns, que privamos o julgamento do direito de
fazer sentenas, observamos brandamente as opinies diversas... (id.,
ibidem, III, 8, 923b). Em sntese, diramos que, assimilando elementos c-
ticos de fontes diversas para argumentar contra a vaidade, Montaigne teria
procurado acompanhar a maior coerncia dos pirrnicos. Porm, ainda que
sem saber exatamente como os antigos cticos conformavam sua vida
doutrina
(7)
, ele teria suposto, no que tange noo de epokh, haver uma
maior afinidade entre a sua dvida filosfica e a dos acadmicos. Posteri-
ormente, travando um maior contato com as obras de Ccero sobre as ques-
tes do conhecimento, em que a filosofia da Nova Academia mais ampla-
Eva, L.A.A., discurso (23), 1994: 25-52 31 30 Eva, L.A.A., discurso (23), 1994: 25-52
mente exposta, Montaigne teria abandonado sua interpretao inicial acer-
ca das diferenas entre pirrnicos e acadmicos (o que se poderia notar
atravs da insero de passagens dos Academica no texto dos Ensaios, a
partir de 1588, com o aparente sentido de pr em xeque o julgamento ante-
rior sobre a distino entre essas vertentes cticas)
(8)
. No mesmo passo,
Montaigne teria abandonado gradualmente seu juzo inicial de maior proxi-
midade em relao aos acadmicos.
***
Porm, essa primeira hiptese comporta diversas dificuldades. Afora
o fato de Montaigne extrair dos argumentos pirrnicos que usa conseqn-
cias muito similares s que deles parece extrair o prprio Sexto Emprico
explicitando a relatividade das apreenses segundo as diversas modalidades
dos tropos de Enesidemo
(9)
, lembremos tambm que ele opta por uma in-
terpretao do modo pirrnico de proceder na vida prtica frontalmente
contrria, ao que parece, idia de uma impraticabilidade da epokh (e,
portanto, idia de que seria impossvel imagin-la). Depois de apresentar
os quatro aspectos do phainmenon a que os pirrnicos assentem para agir
entre os quais se inclui o poder das paixes , explicando que eles a
procedem da maneira comum, Montaigne afirma:
Isso faz com que eu no possa concordar com esta concepo sobre
Pirro. Eles o descrevem estpido e imvel, adotando um modo de
vida cmico e insocivel, sem se desviar de carros e precipcios e se
recusando a se acomodar s leis. Isso caoar de sua filosofia. Ele
no quis se fazer pedra nem tronco, mas homem vivo, refletindo e
raciocinando, fruindo todos os prazeres e comodidades naturais,
empregando todas as suas faculdades (pices) corporais e espiritu-
ais, em regra e de direito. Ele renunciou e deixou, de boa-f, apenas
os privilgios fantsticos, imaginrios e falsos, que o homem usurpou,
de reger, ordenar e estabelecer a verdade (Montaigne 5, 505a-c).
Como conciliar esta passagem com aquela, proveniente da mesma edi-
o dos Ensaios, em que, aparentemente, Montaigne diz o contrrio (con-
trapondo a aceitao de um instinto fortuito das paixes, que nos faz
preferir uma opinio a outra, ou mesmo a admisso da brancura da neve,
perfeita epokh)?
Outro ponto a ser lembrado a sua visvel preocupao em no incor-
rer nos mesmos problemas conceituais que os pirrnicos apontaram no ce-
ticismo acadmico. Os filsofos da Nova Academia distinguem categorias
diversas de representaes provveis (simplesmente provveis; provveis
e testadas; provveis, testadas e irreversveis cf. Sexto Emprico 7, I, pp.
227-229; Ccero 1, Academica, II, pp. 99-103), que Sexto parece condenar
como uma espcie de reiterao dos juzos dogmticos sobre a realidade e a
irrealidade das coisas (Sexto Emprico 7, I, pp. 232-233). Ainda que isso
no implique necessariamente um assentimento seu pertinncia histrica
dessas crticas, Montaigne elabora inusitadas estratgias argumentativas para,
coerentemente com seu veredicto sobre a noo ctica de epokh, negar ao
verossimilhante, tal como o adota, o estatuto de critrio de conhecimento.
Exemplificaria isso a contraposio que ele estabelece entre a revelao
divina sobre a mortalidade da alma apresentada como pouco verossmil e
efetivamente inacessvel compreenso humana (pelo fato de esta compre-
enso nunca poder licitamente transcender a experincia da unio entre a
alma e o corpo) e a opinio mais verossimilhante dos antigos, segundo a
qual a alma se engendra e perece como as demais coisas naturais. Em vez
de extrair dessa contraposio uma revogao da noo de verossimilhana
(pela qual, como dissemos, Montaigne permanece se orientando em suas
reflexes), ele conclui apenas pela completa cegueira do entendimento hu-
mano
(10)
. Igualmente, poderamos observar que algumas formulaes suas,
aparentemente mais taxativas, sobre a impossibilidade humana de conhecer
a verdade
(11)
, sero complementadas e relativizadas pela dimenso fidesta
de suas reflexes (isto , pela considerao da possibilidade de um acesso
ao verdadeiro ser por meio de um impondervel abrao sobrenatural divi-
no, que, por sua vez, no parece deixar nos Ensaios qualquer sinal mais
concreto do que essa prpria relativizao)
(12)
. De modo geral, consideran-
do a posio final de Montaigne sobre a possibilidade humana de alcanar
Eva, L.A.A., discurso (23), 1994: 25-52 33 32 Eva, L.A.A., discurso (23), 1994: 25-52
a verdade, poderamos dizer que, para todos os efeitos, sua admisso da
verossimilhana e seu fidesmo, de ndole sobretudo negativa, equilibram-
se e resultam numa posio aparentemente mais prxima do pirronismo, na
medida em que ele permanece assentindo a uma espcie de verossimilhana
para se guiar em suas opinies, sem interpret-la, porm, como indcio de
qualquer aproximao da verdade (que s poderia se manifestar por um
insondvel e misterioso favor sobrenatural).
Talvez a principal dificuldade da hiptese, porm, seja a de no escla-
recer, em particular, a passagem na qual Montaigne declara sua vaidade.
Pelo que vimos, ela parece estar diretamente associada com a mobilidade
dos seus humores em virtude das diversas circunstncias, mobilidade que,
alm de conduzi-lo a uma concluso ctica sobre nossa incapacidade de
conhecer a verdade (cf. Montaigne 5, 569a; Sexto Emprico 7, I, p. 100 e
segs.), configura-se, diferentemente do ceticismo, como uma razo para a
manuteno das opinies primeiramente aceitas (Montaigne 5, 570a-c).
Portanto, ao invs de identificada ou confirmada na admisso de crenas,
ela seria aparentemente suprimida pela admisso de primeiras opinies, cuja
natureza logo se revela. Com efeito, eis como, em seguida confisso de
sua vaidade, Montagine explica que, ante diversidade das seitas, se agar-
rou s antigas crenas da religio catlica:
...Do conhecimento de minha volubilidade, engendrei em mim algu-
ma constncia de opinies, sem alterar mais as que me so primeiras
e naturais. Pois, por mais atraente que seja a novidade, no mudo
facilmente, com medo de perder na troca. E, uma vez que no sou
capaz de escolher, tomo a escolha de outrem e me mantenho na posi-
o em que Deus me ps. Sem isso, no deixaria de oscilar sem
parada. Assim, com a graa de Deus, conservei inteiras as antigas
crenas de nossa religio, sem agitao e dores de conscincia, fren-
te a tantas seitas e divises que nosso sculo produziu... (id., ibidem,
569a).
Se a vaidade acadmica talvez pouco contribua para elucidar o senti-
do desse movimento das crenas, prestemos ateno semelhana que ele
guarda com esta outra explicao sobre a impossibilidade de permanecer
com o juzo oscilando frente diversidade de opinies que se apresentam.
(...) Crer em todas as opinies contra as quais no podemos argumentar
uma grande tolice. Se assim fosse, ocorreria que o vulgo e somos todos do
vulgo teria sua crena rodopiando como um catavento, pois sua alma,
sendo flexvel e sem resistncia, seria conduzida a receber incessantemente
outras impresses, a ltima apagando sempre o trao da precedente...
(Montaigne 5, 570-571a-c; grifo nosso). Caberia lembrar que por meio de
uma igual aluso ao vulgo que, no ensaio denominado Loucura Julgar o
Verdadeiro e o Falso por nossas Capacidades, Montaigne apresenta a se-
guinte definio de crena:
No , eventualmente, sem razo que atribumos simplicidade e
ignorncia a facilidade de crer e se deixar persuadir: pois parece-me
que aprendi outrora ser a crena uma espcie de impresso feita em
nossa alma e, medida em que esta se encontra mais tenra e sem
resistncia, seria mais fcil imprimir-lhe algo... Tanto mais a alma
vazia e sem contrapeso, mais facilmente ela se dobra carga da
primeira persuaso. Eis por que as crianas, o vulgo, as mulheres e
os doentes so mais sujeitos a serem conduzidos pelas orelhas...
(id., ibidem, I, 27, 178a-c).
Ora, mas se Montaigne, num plural misterioso, afirma sermos todos
do vulgo, pretenderia dizer que se agarra s crenas da antiga religio mo-
vido pela mesma credulidade das almas sem resistncia, que se deixam le-
var pela primeira persuaso?
***
Eva, L.A.A., discurso (23), 1994: 25-52 35 34 Eva, L.A.A., discurso (23), 1994: 25-52
Assim, talvez possamos mostrar que a melhor chave interpretativa para
o nosso problema no reside na vaidade dos acadmicos, mas no prprio
dogmatismo. Considerando que o ceticismo a inveno humana de maior
verossimilhana e utilidade (Montaigne 5, 506a), Montaigne passa a exa-
minar o porqu de os dogmatistes, sbios filsofos que eram, terem ignora-
do a fraqueza da razo e formulado assertivamente suas teorias. Para tanto,
segue uma estratgia de exposio aparentemente afeita dos antigos cti-
cos. Assim como Sexto narra a sua experincia maneira de um cronista,
convidando o leitor a acompanhar a trajetria ctica da busca pela verdade
atravs de um julgamento pessoal; assim como Ccero expe, na forma de
um dilogo, as diversas concepes sobre a natureza dos deuses para que o
leitor escolha, se puder, a verdadeira, ao mesmo tempo em que antecipa sua
concordncia com a posio dos acadmicos (Ccero 1, De Natura Deorum,
I, i-vi); Montaigne apresenta suas diversas hipteses de leitura das filosofi-
as dogmticas como um convite ao julgamento do leitor sobre a verdadeira
natureza desses dogmatismos perante a concluso ctica sobre a ignorncia
da verdade.
Em alguns casos, com evidente ironia, como ao considerar que Aristte-
les, o prncipe dos dogmticos, um pirrnico disfarado, por se cobrir
de uma obscuridade to densa que nos impede de ver suas verdadeiras
opinies (Montaigne 5, 507a). Em outros casos, aparentando levar mais a
srio sua conjectura, como ao reportar a diversidade interpretativa sobre a
natureza dogmtica ou dubitativa do platonismo e comentar o uso de um
estilo dialgico e aportico por parte de Plato com esta frase: (...) Nenhuma
filosofia foi titubeante e no-asseverante se a sua no o (id., ibidem,
509c). Ainda assim, neste caso, sem afastar de todo um olhar irnico, pois
inclui tambm esse filsofo entre aqueles que simplesmente pretenderam
mostrar, numa frmula mais palatvel, at onde foram suas especulaes
sobre a verdade:
No me persuado facilmente que Epicuro, Plato e Pitgoras nos
tenham deixado como moeda corrente seus tomos, idias e nme-
ros. Eles eram sbios o bastante para no estabelecerem seus artigos
de f em coisa to incerta e discutvel. Mas, nesta obscuridade e
ignorncia do mundo, cada um desses grandes personagens traba-
lhou para obter alguma imagem de luz, fazendo sua alma passear
por invenes que tivessem ao menos uma aparncia sutil e agrad-
vel e que, mesmo falsa, pudesse se manter contra as opinies con-
trrias... (Montaigne 5, 511a-c; 506-507a).
Movidos pela paixo dogmtica, que incita mesmo os filsofos mais
desesperanados a insistirem na busca, tais outros se contentariam em apre-
sentar teorias falsas em belas roupagens (id., ibidem, 510-511a-c) ou ima-
gens de luz que seriam apenas miragens no prisma ctico da crtica vai-
dade. No ser, por certo, no veio dessa ironia que encontraremos a vaidade
do prprio autor. Porm, abandonada entre as conjecturas heterclitas que
se oferecem, surge uma ltima explicao sobre os dogmatismos, radicada
em sua utilidade. Em certos casos, diz Montaigne, os antigos ter-se-iam
visto na obrigao de ser mais resolutivos nas suas opinies para no per-
turbar a ordem pblica. Eles quiseram tudo considerar e tudo avaliar, jul-
gando essa ocupao adequada curiosidade natural que h em ns. Algumas
coisas eles escreveram pela necessidade da sociedade pblica, como suas re-
ligies, e, por causa disso, seria razovel que eles no quisessem esfolar vivas
as opinies comuns, para no perturbar a obedincia das leis e dos costumes
do pas. (id., ibidem, 511-512a). Um exemplo bastante evidente dessa
maneira de ver estaria em Plato, nas Leis que probem a poesia desprovi-
da de fins teis e na Repblica, onde (...) ele diz, sem rodeios (...), que,
para o benefcio dos homens, freqentemente necessrio engan-los.
fcil perceber que algumas seitas seguiram a verdade e outras a utilidade,
pelo que ganharam crdito. A misria de nossa condio faz que
freqentemente o que se apresenta como mais verdadeiro nossa imagina-
o no se apresente como o mais til nossa vida... (id., ibidem, 512c).
Retomemos, assim, a descrio que Montaigne nos oferece sobre sua
adeso s crenas da antiga religio (aparentemente conforme, segundo suas
palavras, maneira de crer do vulgo) para considerar uma segunda hiptese
sobre a sua vaidade. Assim como o critrio da utilidade teria levado os an-
Eva, L.A.A., discurso (23), 1994: 25-52 37 36 Eva, L.A.A., discurso (23), 1994: 25-52
tigos a apresentarem formulaes dogmticas, Montaigne teria julgado ina-
dequado, em algum sentido, apresentar explicitamente todas as credenciais
cticas de sua reflexo. Ao confessar sua vaidade, Montaigne no estaria
pronunciando uma sentena de afastamento terico em relao s conclu-
ses suspensivas do ceticismo, mas indicando que, como teria feito Plato,
d voz a certas crenas dogmticas presentes nas opinies comuns, em fun-
o de sua utilidade para a manuteno da ordem pblica. Mais precisa-
mente, esta seria a razo pela qual Montaigne toma a maneira de crer do
vulgo como paradigma de sua prpria crena na antiga religio. Assim, quan-
do lemos somos todos do vulgo, no deveramos entender que Montaigne,
literalmente, cr na religio tradicional como faz o vulgaire. Em vez disso,
possivelmente por causa de eventuais problemas relacionados com a admis-
so explcita de uma maneira diversa de se relacionar com essas crenas
(relacionados, por certo, com a manuteno da paz social diante do embate
entre catlicos e protestantes), situar-se na perspectiva do vulgo seria um
expediente retrico pelo qual ele encobre seu verdadeiro julgamento sobre
a natureza da religio tradicional (ao menos em sua manifestao empri-
ca), sem deixar de oferecer, como veremos, alguns indcios sobre qual esse
julgamento efetivamente seria.
***
Como Montaigne bem notou, a reflexo dos antigos cticos preconiza
a aceitao das leis e dos costumes (inclusive religiosos) do pas. Parece
valer para ambas as vertentes do ceticismo consideradas a observao de
que essa adeso, porm, se d de maneira adogmtica, isenta de crenas
sobre a verdade acerca dos valores e formas relativas que o costume
contingencialmente amolda
(13)
. Teramos aqui uma primeira pista para exa-
minar por que a admisso de uma postura estritamente ctica poderia ser
problemtica, perante um panorama religioso em que, diferentemente do
que ocorria na religio grega (onde o culto assumia um papel preponderan-
te), a admisso de dogmas parece ser um trao bsico e inquestionvel.
Pista vaga, porm, e aparentemente duvidosa, se lembramos que Montaigne
vincula a suma utilidade do ceticismo antigo ao fato de fazer do homem
(...) uma pgina em branco preparada para receber da mo divina as for-
mas que a ele pretender gravar... (Montaigne 5, 506b). Nesse sentido, so
notveis os seus esforos em evidenciar a compatibilidade entre ceticismo e
religio eventualmente justificados pelas interpretaes contrrias acerca
desse ponto amplamente defendidas por seus contemporneos, como mos-
tra Richard Popkin
(14)
. No entanto, no percamos de vista que, nos termos
em que Montaigne a prope, se trata de uma compatibilizao de mo du-
pla. De sua parte, o pirrnico, no horizonte natural do desconhecimento da
verdade, adere tradio das leis, humilde, obediente, disciplinado, ze-
loso, inimigo jurado da heresia... (id., ibidem, 506a). No admite nenhuma
opinio, portanto no pode admitir opinies herticas: nada se diz de mais
preciso, a esta altura, sobre qual a natureza especificamente religiosa des-
sa adeso. Mas, como vimos, a relatividade que ele judiciosamente descortina
s pode ser rigorosamente suplantada por um abrao milagroso da f que
revele e ilumine a verdade, pelo qual se consumaria integralmente sua
cristianizao. Se, como dissemos, no parece haver nos Ensaios qual-
quer indcio de que o autor teria testemunhado de qualquer abrao sobrena-
tural dessa natureza (e, paradigmaticamente, os termos em que formula sua
prpria adeso s antigas crenas, justificada por uma impossibilidade hu-
mana de permanecer com a crena oscilando, parecem resistir a uma lei-
tura desse tipo), concedamos que, ao menos, Montaigne tenha entendido
sua harmonizao ctico-fidesta, em princpio, como plenamente coerente
e vivel, filosfica e teologicamente. A questo : ainda assim, isso signifi-
caria tambm que ele teria julgado pertinente manifestar cruamente uma
posio de adeso adogmtica e meramente formal (mesmo que provisria)
religio tradicional, sobretudo ante o panorama das perturbaes engen-
dradas pela Reforma?
Somos convidados, assim, a prestar particular ateno nas advertncias
de Montaigne sobre os perigos do mtodo ctico, que nos leva a abandonar
nossas armas para que o adversrio tambm perca as dele
(15)
. Tal perigo se
traduz numa recomendao de permanncia na via das opinies costumeiras,
Eva, L.A.A., discurso (23), 1994: 25-52 39 38 Eva, L.A.A., discurso (23), 1994: 25-52
j que raras so as almas suficientemente fortes e regradas para delas se
afastar, sem temeridade e com moderao, seguindo o seu prprio juzo:
...Nosso esprito um instrumento precrio, perigoso e temerrio.
E, no meu tempo, aqueles que tm alguma excelncia rara e superi-
or, alguma vivacidade extraordinria, vemo-los quase todos exce-
der-se na licenciosidade de costumes e opinies. milagre se en-
contramos algum assentado e socivel... Bridamos e aprisionamos
(o esprito humano) com religies, leis e costumes, com cincias,
preceitos, castigos e recompensas mortais e imortais; mesmo assim,
v-se que, por sua volubilidade e dissoluo, escapa a todas essas
correntes... (Montaigne 5, 558-559abc).
Logo adiante, o ceticismo reassume conotaes perigosas. Retoman-
do as argumentaes sextianas do dcimo tropo de Enesidemo, que o levam
a concluir pela relatividade de todas as leis e costumes
(16)
, Montaigne afir-
ma: As leis ganham sua autoridade da posse e do uso. perigoso retom-
las de seu nascimento; elas crescem e se enobrecem no seu curso, como
nossos rios... (id., ibidem, 583a). Isso posto, uma mobilidade talvez anlo-
ga quela de seu julgamento (que o levara via da antiga religio) manifes-
ta-se agora na instabilidade das leis francesas, como razo para que o con-
selho filosfico de seguir as leis em vigor no pas (o mais verossimilhante
da filosofia) se torne impraticvel, ao passo que (...) devemos grande
obrigao bondade de nosso soberano criador por ter (...) firmado (nossa
crena) na eterna base da santa palavra (id., ibidem, 579c).
O perigo de remontar ao nascedouro das leis aceitas desgua, portan-
to, numa suplantao religiosa da filosofia, que assume a solidez eterna
da santa palavra como porto seguro diante do mar instvel da ordem legal.
Porm, se a se rompe, algo abruptamente, o fio da reflexo ctica (pois
esse carter sagrado do catolicismo parece p-lo acima e a salvo da relativi-
dade humana), h outros momentos em que a prpria religio tradicional
elogiada por razes que transcendem a esse aspecto e dizem respeito, de
modo geral, natureza da crena humana (compartilhada por antigos e pa-
gos). Por exemplo, quando Montaigne comenta a falta de utilidade do
projeto do imperador Numa (conformar a devoo de seu povo a um Deus
plenamente abstrato), numa aluso certa austeridade do culto reformado:
Deixo parte os outros argumentos que se empregam em relao a
esse assunto. Mas dificilmente me convenceriam de que a viso de
nossos crucifixos e a pintura do piedoso suplcio, que as vias aco-
modadas devoo de nosso pensamento e essa emoo dos senti-
dos no aquecem a alma das pessoas com uma paixo de mui-til
efeito. (Montaigne 5, 514a)
Igualmente independente da aceitao de uma exclusividade da reli-
gio catlica, no sentido de oferecer uma verdade que suplante o ceticismo,
parece ser esta outra marca de sua utilidade, apontada algumas pginas
depois: a fora da tradio da antiga Igreja, que impede a razo humana de
se perder nos mil caminhos sediciosos das seitas diversas
(18)
.
Tocamos aqui num aspecto fundamental do catolicismo aos olhos de
Montaigne. No ensaio Do Costume e de No Mudar com Facilidade uma
Lei em Vigor (id., ibidem, I, 23), ele discorre longamente a respeito da
tirania dos costumes sobre a vida humana e sobre a prpria razo, que os
confunde com o que dita a natureza (id., ibidem, I, 23, 115-116abc). Expla-
nao enftica, que prepara uma crtica vaidade das inovaes reformis-
tas: pretendendo alterar as leis costumeiras de observncia pblica segundo
razes privadas, engendram, ainda que no por malcia, as calamidades da
guerra civil.
...H grande dvida que se possa encontrar to evidente proveito
na alterao de uma lei respeitada, seja qual for, quanto haja de mal
em remov-la, porquanto uma ordem poltica como uma constru-
o composta de diversas peas postas juntas com uma tal ligao,
que impossvel abalar uma sem que o corpo todo se ressinta... Sou
desgostoso da novidade, qualquer face que ela assuma, e tenho ra-
Eva, L.A.A., discurso (23), 1994: 25-52 41 40 Eva, L.A.A., discurso (23), 1994: 25-52
(17)
.
zo diante dos efeitos to danosos que observei. Aquela que se im-
pe a ns h tantos anos, no digo que tenha tudo causado, mas
parece possvel dizer que, de modo indireto, tenha tudo produzido e
engendrado... Parece-me, para dizer com franqueza, que h grande
amor de si e presuno em estimar as prprias opinies ao ponto de
que, para estabelec-las, seja preciso reverter uma paz pblica e in-
troduzir tantos males inevitveis e uma to horrvel corrupo dos
costumes como a que a guerra civil aporta... (Montaigne 5, I, 23,
119-20ab; id., ibidem, 121c, 122b).
Como na Apologia, Montaigne tambm a segue as argumentaes
relativizadoras de Sexto acerca das leis e costumes
(19)
, agora para mostrar
que, embora caiba libertar o julgamento dos grilhes do hbito, isso no
deve levar um homem de entendimento a deixar de seguir o estilo comum
(id., ibidem, 118a). Se l no parece haver respostas para a questo sobre a
natureza da adeso ctica aos costumes religiosos, aqui, menos laconica-
mente, ele parece dar um passo a mais na explicitao das conseqncias do
ceticismo que orienta suas reflexes, opinando que (...) todas as maneiras
afastadas (do estilo comum) partem da loucura ou da afetao ambiciosa, e
no da razo; e que o sbio deve interiormente afastar sua alma da multi-
do, mantendo-a em liberdade e poder de julgar as coisas livremente, mas,
quanto ao exterior, deve seguir inteiramente as maneiras e formas recebi-
das... (id., ibidem, grifos nossos). Trata-se, por certo, da boa conduta do
sbio, enquanto na Apologia se diz que somos todos do vulgo. Mas deve-
remos realmente entender que, ao fazer essa afirmao, Montaigne com-
preenderia sua prpria perspectiva diante dos costumes como afeita cre-
dulidade do vulgo perante o poder das crenas? Ou estaria ela antes afina-
da, ainda que se trate de dissimular tal juzo, conduta, atribuda ao homem
de entendimento (e aparentemente mais coerente com a relativizao ctica
que predomina em suas argumentaes), de assentir exteriormente s for-
mas costumeiras, que, judiciosamente consideradas, exigiro um discurso
especfico necessariamente envolvendo a manifestao de crenas?
Na Apologia, em contrapartida, h ao menos uma passagem particu-
larmente sugestiva acerca do modo de crer do vulgo e, mais precisamente,
dos perigos resultantes de question-la. Introduzindo o ensaio com uma
crtica s novidades de Lutero, Montaigne assim explica por que esse
princpio de doena tende a se degenerar num execrvel atesmo:
(...) O vulgo, no tendo a capacidade de julgar as coisas por elas
mesmas, deixando-se arrastar pela fortuna e pelas aparncias, depois
de ter em mos a ousadia de desprezar e inspecionar as opinies que
antes tinha em extrema reverncia, como aquelas relativas a sua
salvao; depois que se tenha posto em dvida e na balana alguns
artigos de sua religio, ele lana imediatamente em igual incerteza
todos os outros pontos de sua crena, que no tinham para ele mais
autoridade que aqueles que foram abalados. E sacode como se fora
um jugo tirnico todas as impresses que ele recebera pela autoridade
das leis ou pela reverncia dos antigos usos Nam cupide concultatur
nimis ante metutum
, empreendendo doravante nada aceitar a que
no tenha interposto consentimento e julgamento pessoal
(Montaigne 5, 439a).
Considerando a profunda identificao entre Igreja e Estado na Fran-
a do sculo XVI de tal ordem, que, segundo Hugo Friedrich, atacar uma
era equivalente a atacar o outro
(21)
e os problemas que, segundo Montaigne,
advm da incapacidade de o vulgo julgar as coisas por si mesmas, parece
afinal tornar-se mais claro por que a Reforma, convertendo-se aos olhos
desse vulgo num convite desobedincia civil, descrita como um princ-
pio de atesmo. Esse mesmo perigo permite compreender por que, em se-
gundo lugar, Montaigne ataca os objetores que se pem irrefletidamente a
refutar as teses de Sebond, embora ele prprio concorde com sua avaliao
acerca do real valor probatrio dessas teses
(22)
. Tais objetores, atestas-re-
formistas, no tendo examinado profundamente o poder da razo humana;
no tendo, em conseqncia disso, dimensionado a amplitude do poder do
costume na conformao da vida do vulgo, no percebem as efetivas conse-
Eva, L.A.A., discurso (23), 1994: 25-52 43 42 Eva, L.A.A., discurso (23), 1994: 25-52
(20)
qncias de deixarem razo individual a liberdade de interpretar as Escri-
turas e de atacarem abertamente razes como a desse telogo (que possuem
poder de persuaso suficiente para manter mesmo letrados homens de auto-
ridade na senda da crena tradicional) (Montaigne 5, 447-448a). Montaigne,
por sua vez, constri a defesa de Sebond sem se comprometer com as ra-
zes que este alega em defesa da religio (pois as refuta uma a uma, embora
sem avis-lo, ao atacar a vaidade do homem)
(23)
. Porm, faz-lo abertamen-
te como o fazem os seus objetores seria incorrer na mesma temeridade e
falta de julgamento que condena.
Eis como, em sua exposio, Montaigne parece considerar a ptica do
vulgo, a partir da qual talvez se observasse um inesperado irmanamento
entre a Reforma e o ceticismo, na medida em que ambos constituiriam ma-
neiras, ainda que muito diversas, de questionar a autoridade com que tradi-
cionalmente se aceitam os artigos de f. Nesse sentido, j que o vulgo sim-
plesmente entende o questionamento de suas crenas habituais como um
convite ao abandono da ordem legal, o ceticismo acabaria por se tornar to
perigoso quanto s novidades de Lutero. A partir da, parece revelar-se tam-
bm a necessidade de considerar a distino que o prprio autor estabelece
entre os referenciais da verdade e da utilidade, para bem compreender o
itinerrio de suas reflexes. Se o ctico, reconhecendo a incapacidade da
razo, prope a adeso aos costumes em vigor, encontra-se a o fundamento
do ataque precipitao reformista de querer julgar as antigas crenas pela
razo. Mas de nenhuma serventia seria formular explicitamente a natureza
da adeso aos costumes a que conduz a reflexo ctica. Faz-lo seria pr em
circulao uma potencial ameaa quilo que o prprio ceticismo, utilmen-
te, ensinaria ser adequado defender. Se no desmerecermos a complexidade
filosfica da estratgia fidesta de Montaigne, talvez as passagens em que
ele se detm em mostrar como as idias humanas se transformam segundo o
julgamento de outrem que as recebe possam aqui iluminar os perigos que
estariam em jogo
(24)
. Ao mesmo tempo, ganham um sentido mais preciso as
suas exigncias de particular destreza para o abandono das vias comuns e
para o manejo das armas cticas, exigncia que, ao que parece, ele mesmo
procurou satisfazer nas articulaes retricas de seu texto.
No nos parece, diante de tais razes, se oferecer melhor compreen-
so da passagem em que Montaigne afirma sermos todos do vulgo do que
v-la como um smbolo da perspectiva desse vulgaire, colhida e disposta no
sentido mais superficial das afirmaes, para, em seguida, ser indiretamen-
te revogada. Um primeiro passo dessa estratgia consistiria num elogio
retrico do vulgaire que, aparentemente, se trama na discusso sobre a
incapacidade da filosofia em oferecer a felicidade humana (Montaigne 5,
486-499abc). Com efeito, contraposta infelicidade do sbio, a especial
capacidade do homem comum em se defrontar com os infortnios parece
remontar nitidamente s passagens em que Sexto descreve a moderao
filosfica das afeces que resulta da suspenso pirrnica
(25)
. Porm, em
certa analogia com o que observamos ocorrer com o conselho filosfico
de seguir as leis do pas, tambm a Montaigne ataca ceticamente o
eudemonismo dogmtico dos esticos e dos epicuristas (filosofias de onde
provm os exemplos efetivamente considerados dessa precariedade), que se
apresenta sob a rubrica genrica da filosofia, para, em seguida, contrapor
a essa precariedade filosfica um elogio da simplicidade religiosa como a
melhor via para obter a felicidade. Tendo pintado o vulgo, retoricamente,
com as tintas do ceticismo, o segundo passo seria fazer de si mesmo um
personagem retrico de seu discurso filosfico, personagem forjado segundo
os atributos que ele prprio confere ao vulgo, e assim simultaneamente
ocultar o ltimo lao do fio condutor ctico de suas reflexes e deix-lo
judiciosamente mostra nas entrelinhas.
Talvez, primeira vista, menos verossmil que a hiptese anterior,
esta outra tambm parece se esquivar de uma demonstrao mais rigorosa
atravs dos textos, ainda que por razes muito diversas das que se contra-
pem quela. Trata-se agora de uma dificuldade radical, presente na circu-
laridade de sua prpria estrutura: o mesmo perigo que deve ser pressuposto
para explicar por que Montaigne omite certos aspectos de seu posicionamento
ctico torna-se uma razo para que no o possamos encontrar mais clara-
mente formulado. Se no indelicado ou arbitrrio, talvez seja tambm peri-
goso se atrever a descobrir o que no foi dito nos meandros do que ele
efetivamente disse, sobretudo quando se trata de um autor que promete vol-
Eva, L.A.A., discurso (23), 1994: 25-52 45 44 Eva, L.A.A., discurso (23), 1994: 25-52
tar do alm para perseguir os que o fizerem diferente do que , mesmo que
para honr-lo (Montaigne 5, III, 9, 983b). Mas, quanto a este ponto, opor-
tuno lembrar que, no mesmo ensaio intitulado Da Vaidade (id., ibidem,
III, 9), Montaigne afirma que considera to leviano escrever abertamente
quanto o seria atacar o partido que hoje defendemos (o catlico) por ser o
menos doente (id., ibidem, III, 9, 993b). (...) No temo, diz ele, inserir
em meu livro vrios artigos privados que consumam seu uso entre os ho-
mens que vivem hoje e que tocam a particular sabedoria de alguns que a
vero mais longe que o comum dos leitores... O tanto que me permite a
convenincia, fao aqui saberem-se minhas inclinaes e sentimentos, po-
rm, mais livremente e de bom grado o fao pela boca a qualquer um que
deseja ser informado... (id., ibidem, 982-983b). E, adiante: ...Casualmen-
te, tenho alguma obrigao particular de no dizer as coisas seno pela
metade, confusamente, discordantemente... (id., ibidem, III, 9, 995b).
Afinal, as peripcias retricas de Montaigne parecem ter tambm a
destinao de dissolver as pretenses asseverantes de seus intrpretes: se
ele nos oferece suas releituras dos dogmatismos tecidas em questes que
comportam diversos graus de ironia como um simples convite ao julgamen-
to sobre a sua efetiva natureza, o mesmo acaba por ocorrer quando se trata
de julgar qual a efetiva natureza de sua prpria vaidade, j que a convenin-
cia parece for-lo a no consolidar textualmente todos os aspectos de suas
prprias posies. Nessa medida, a estratgia do autor obrigar os intrpre-
tes de sua vaidade a alguma cumplicidade, pois devero reconhec-la em si
mesmos quando se arvoram na particular capacidade de ver mais longe que
o comum dos leitores, decifrando o sentido velado dos textos. Essa ousa-
dia, porm, parece ter alguma compensao, pois agora talvez possamos
compreender que a vaidade confessada por Montaigne, apesar da modstia
retrica que perpassa os Ensaios
(26)
, algo diversa da que o autor descobre
nos athistes. Enquanto a deles reside em se afirmarem nas suas opinies
pessoais, pondo em risco a paz coletiva, a sua parece residir, afinal, em
crer-se possuidor de um julgamento suficientemente atilado e ordenado, tal
como ele mesmo exige para que se possa bem lidar com as armas cticas e
abandonar sem temeridade o trilho das opinies comuns.
Abstract: In this article we focus Montaignes confession of his own vanity, presented by him in
the Apology of Raymond Sebond. We try to adduce reasons to show that this confession would be
part of a rethorical strategy, that probably he followed in order to hide a skeptical position about
religious habitudes.
Key-words: Montaigne skepticism Renaissance Reformation
Notas
(1) Trata-se, em suas linhas mais gerais, do plano argumentativo da Apologia
proposto por Villey (Montaigne 5, 438).
(2) Para um exame mais detalhado dessas afinidades, ver nosso artigo (Eva 3).
(3) O conflito interminvel e indecidvel entre as filosofias, argumento ctico em
favor da suspenso, tradicionalmente atribudo a Agripa e mencionado nas
Hipotiposes (Sexto Emprico 7, I, p. 165 e segs.).
(4) Alertando quela a quem dedica o ensaio, supostamente a princesa Margari-
da de Navarra, acerca dos perigos do mtodo de Sebond ento empregado,
Montaigne afirma: ... um golpe desesperado, pelo qual preciso que abandoneis
as vossas armas para fazer vosso adversrio perder as dele; um lance secreto, de
que preciso se servir rara e reservadamente. uma grande temeridade que vos
percais a vs mesma para que outro se perca... (Montaigne 5, 558a).
(5) Possamos ou no falar de uma crise pirrnica gerada pelo contato de
Montaigne, em cerca de 1576, com a traduo latina das Hipotiposes feita por
Henri Estienne, o fato que sua leitura deixa, como fartamente j se observou,
sinais evidentes na Apologia. Segundo Villey, Montaigne, na edio de 1580 dos
Ensaios, d adeso plena ao pirronismo (Villey 9, I, p. 243). Corroborando essa
Eva, L.A.A., discurso (23), 1994: 25-52 47 46 Eva, L.A.A., discurso (23), 1994: 25-52
interpretao tradicionalmente aceita, Popkin afirma ser evidente a preferncia
de Montaigne pelo ceticismo pirrnico, com base na crtica que este empreende
noo acadmica de representao provvel, que consideraremos a seguir (Popkin
6, p. 49). Igualmente, os comentadores tendem a concordar com Villey em sua
anlise cronolgica, que aponta para um maior interesse de Montaigne pelos
textos de Ccero relacionados com o problema do conhecimento apenas a partir
de 1588 (Villey 9, I, pp. 106-109).
(6) Cf., por exemplo, Montaigne 5, III, 11, 1030b: ...Falamos de tudo por precei-
to e resoluo... Fazem-me odiar as coisas verossimilhantes quando as apresen-
tam como infalveis. Adoro estas palavras, que abrandam e moderam a temerida-
de de nossas proposies: Talvez, De algum modo, Cerca de, Diz-se, Penso que,
etc...
(7) Em Da Vaidade, alm de elogiar recorrentemente a superioridade dos antigos
(v., por exemplo, Montaigne 5, III, 9, 993b), ele comenta nestes termos a opo
socrtica pela morte em lugar do exlio: ...Vrios desses exemplos raros ultra-
passam a fora de minha ao, mas alguns ultrapassam ainda a fora de meu
juzo... (id., ibidem, 973c). Nesta outra passagem, ele comenta sua prpria ex-
posio da filosofia ctica: ...Exprimo essa opinio (sobre a natureza da sus-
penso ctica) tanto quanto posso, porque vrios julgam difcil conceb-la e os
prprios autores a representam um tanto obscura e diversamente... (id., ibidem,
505a). Adiante, expondo a noo pirrnica de ataraxa (imperturbabilidade), la-
menta-se de no haver um bom compndio que explique como os antigos confor-
mavam a vida s suas doutrinas (id., ibidem, 578b).
(8) Ver especialmente Montaigne 5, 562c, onde o autor acrescenta, posteriormen-
te a 1588, esta citao dos Academica sua discusso sobre as divergncias
entre pirrnicos e acadmicos acerca da epokh: Entre as aparncias verdadei-
ras e falsas no h diferenas que devam determinar o julgamento (Ccero 1,
Academica, II, 28). No mesmo sentido parece-nos que, de modo geral, devam ser
lidas as citaes dessa obra acrescidas exposio do ceticismo (Montaigne 5,
502-506bc).
(9) Ver sobretudo a crtica aos sentidos como instrumento do conhecimento, mo-
mento culminante do ensaio (Montaigne 5, 587a e segs.), em que se segue de
maneira sistemtica a exposio sextiana dos tropos de Enesidemo (ainda que
sem explicit-lo).
(10) Ver Montaigne 5, 541-556. O autor parece defender a mesma concepo
naturalista sobre a alma em outras passagens dos Ensaios, como 519-520 e III,
13, 1113-1115bc.
(11) Por exemplo: No temos nenhuma comunicao com o ser, porque toda a
natureza humana est sempre situada entre o nascer e o morrer (...) (Montaigne
5, 601a); ...Os homens desconhecem a doena natural de seu esprito (...). Ele
pensa divisar ao longe no sei qual aparncia de clareza e verdade imaginria;
mas, enquanto corre atrs dela, tantas dificuldades cruzam seu caminho, tantos
obstculos e novas questes, que o despistam e inebriam... (id., ibidem, III, 13,
1068b).
(12) Desenvolvemos mais detidamente esses pontos, bem como outras questes
acerca do fidesmo de Montaigne em que no podemos aqui adentrar seno muito
rapidamente, em nosso artigo O Fidesmo Ctico de Montaigne (Eva 2).
(13) Ver, por exemplo, Sexto Emprico 7, I, p. 23 e Ccero 1, De Natura Deorum, I,
2. Este, em particular, explica que a piedade deve ser defendida por estar em
articulao com as demais virtudes que garantem a ordem social.
(14) Por exemplo, no prefcio dos Dialogues contre les Nouveaux Academiciens
(1557), de Guy de Brus, obra que Montaigne usa como fonte na Apologia (cf.
Villey 9 , II, p. 132), l-se que o objetivo do autor salvar os jovens que abando-
navam a religio por causa da dvida ctica (apud Popkin 6, p. 31).
(15) Ver nota 4, acima.
(16) Cf. Montaigne 5, 576-581abc; Sexto Emprico 7, I, p. 145 e segs.; III, pp.
232-235.
(17) Na crtica vaidade da razo, explicando como os sentidos podem se impor
a esta, Montaigne afirma: No h... alma to rude que no se sinta tocada de
alguma reverncia ao considerar a vastido sombria de nossas Igrejas, a diversi-
dade de ornamentos e a ordem de nossas cerimnias, e ao ouvir o som devoto de
nossos rgos e a harmonia to ponderada e religiosa de nossos coros. Aqueles
mesmos que entram com desprezo, sentem fremir o corao e algum abalo que os
pem em desconfiana de suas opinies (Montaigne 5, 593a).
Eva, L.A.A., discurso (23), 1994: 25-52 49 48 Eva, L.A.A., discurso (23), 1994: 25-52
(18) ...(A razo humana) no faz seno se extraviar por toda parte, mas sobretu-
do quando se embrenha nas coisas divinas. Quem o percebe mais do que ns?
Pois, ainda que Deus nos tenha oferecido princpios certos e infalveis, ainda que
iluminemos seus passos com a santa lmpada da verdade que aprouve a Deus nos
comunicar, vemos, porm, diariamente, que, por pouco que ela desordene a sua
senda ordinria e que se desvie ou se afaste da via traada e batida pela Igreja,
to logo ela se perde, se embaraa e se entrava, rodopiando e flutuando nesse
mar vasto, turbulento e ondulante das opinies humanas, sem brida e sem meta.
To logo perde esse grande e comum caminho, vai se dividindo e dissipando em
mil rotas diversas (Montaigne 5, 520a). Os termos que grifamos esclarecem que
no est em questo, precisamente, a admisso da verdade revelada nesse elogio
da antiga Igreja.
(19) Ver Montaigne 5, I, 23, 111-114abc; ver nota 16, acima.
(20) Pisoteia-se com avidez aquilo que antes causava medo (Lucrcio, De Natura
Rerum, V, 1139).
(21) Cf. Friedrich 4, p. 128: Outro aspecto (da relao entre fidesmo e
conservadorismo em Montaigne) a situao particular de seu pas, onde a Igre-
ja e o Trono estavam h sculos to bem ligados, que atacar a primeira significa-
va atacar o segundo; a salvaguarda da autoridade eclesistica era tambm um
imperativo poltico...
(22) Como notou Tournon, ao defender as razes de Sebond da segunda objeo
por consider-las, desprovidas do ornamento da f, to boas quanto quaisquer
outras razes humanas que lhes sejam opostas (Montaigne 5, 448a), Montaigne
parece querer dizer que, embora as defenda, elas so to fracas e incapazes de
atingir a verdade divina quanto quaisquer outras razes humanas: (...) As ra-
zes de Sebond so to slidas e to firmes quanto as outras (de seus objetores),
mas, quanto a estas, Montaigne entende mostrar que no valem nada: x=0 e
y=0... (...) Em princpio, Montaigne se prope a defender Sebond apenas atacan-
do aqueles que o criticam, afastando as objees que lhe so dirigidas, mas se
recusando a garantir formalmente sua teoria (Tournon 8, pp. 243-244).
(23) Cf. Tournon 8, p. 230: ...Pode-se constatar que (os argumentos filosficos
da Teologia de Sebond), slidos ou no, so todos, sem exceo, desacreditados
pela Apologia, pois repousam sobre o postulado da preeminncia do homem so-
bre as outras criaturas, sobre as representaes antropomrficas de Deus ou so-
bre um sistema de analogias que reduz a nada (...) a parte do sobrenatural e do
mistrio nas operaes da graa... (...) No se pode deixar de reconhecer (no
antropocentrismo cosmolgico de Sebond) o modelo acabado do orgulho que
Montaigne se pe a ridicularizar, na Apologia e em outras passagens.
(24) Ver, alm da passagem citada na nota 17, Montaigne 5, III, 11, 1027-1028bc
e III, 13, 1066 e segs.
(25) Como exemplo da descrio do vulgo em traos cticos: ...Quando nos
faltam verdadeiros males, o saber nos empresta os seus... Comparai vida de um
homem submetido a essas imaginaes (sobre os poderes da filosofia em suplan-
tar a dor) a de um trabalhador que se deixa ir segundo seu apetite natural, medin-
do as coisas apenas pelo sentimento presente, sem saberes e sem prognsticos,
que no sofre o mal seno no momento em que ele o tem. Quando o outro tem
freqentemente na alma a pedra antes de t-la nos rins... (Montaigne 5, 491a).
Nas Hipotiposes, Sexto explica, por sua vez, como o pirrnico se isenta do sofri-
mento adicional que os dogmticos acrescentam simples afeco das dores (cf.
Sexto Emprico 7, I, p. 25 e segs.). Outra passagem curiosa, relacionada com
essa discusso sobre a felicidade humana, esta, que a encerra e ao mesmo tem-
po introduz a apresentao da filosofia ctica: Eu teria uma bela tarefa se qui-
sesse considerar o homem em sua maneira habitual e geral, e o poderia fazer por
sua prpria regra de julgar a verdade no pelo peso, mas pelo nmero das vozes.
Deixemos parte o povo, (...) que no tem conscincia de si, que no julga e
deixa a maior parte de suas faculdades naturais ociosas. Quero tomar o homem
na sua mais alta condio... (Montaigne 5, 501a). Mas, se at ento Montaigne
se deteve em elogios da maneira de proceder do vulgo e se explicitamente afirma
que passa a tratar da questo da verdade segundo o referencial que julga mais
adequado, no ser essa passagem um indcio de que, em outros momentos de seu
texto, ele efetivamente considera o homem segundo sua prpria maneira habitual
e geral de considerar os fatos?
(26) Hugo Friedrich entende que o procedimento autodepreciativo dos Ensaios de
Montaigne cujos antecedentes estilsticos se apresentariam em autores como
More, Agrippa de Nettesheim e Erasmo visa dissimular elementos perigosos de
suas prprias posies (Friedrich 4, pp. 24-28).
Eva, L.A.A., discurso (23), 1994: 25-52 51 50 Eva, L.A.A., discurso (23), 1994: 25-52
Bibliografia
1. Ccero. Academica and De Natura Deorum. Cambridge (Massachusetts)
e Londres, Loeb Classical Editions, Harvard University Press and
William Heinemann, 1979.
2. Eva, L.A.A. O Fidesmo Ctico de Montaigne. In Kriterion (Revista do
Depto. de Filosofia da UFMG), pp. 42-59. Belo Horizonte, XXXIII,
86, ago./dez. 1992.
3. _______. Montaigne e o Ceticismo na Apologia de Raymond Sebond: A
Natureza Dialtica da Crtica Vaidade, em O que nos Faz Pensar
(Cadernos do Depto de Filosofia da PUC-RJ), no prelo.
4. Friedrich, H. Montaigne. Paris, Gallimard (col. Tel), 1984.
5. Montaigne, M. de. Les Essais. Ed. Pierre Villey, V.-L. Saulnier, Paris,
Quadrige-PUF, 1988. (Omitimos a indicao do ensaio nas refernci-
as Apologia.)
6. Popkin, R. The History of Scepticism from Erasmus to Espinosa. Berkeley,
University of California Press, 1979.
7. Sexto Emprico. Sextus Empiricus, Outlines of Pyrrhonism (Hipotiposes
Pirronianas). Cambridge (Massachusetts) e Londres, Loeb Classical
Editions, Harvard University Press and William Heinemann, 1976.
8. Tournon, A. Montaigne, la Glose et lEssai. Presses Universitaires de
Lyon, 1983.
9. Villey, P. Les Sources & lEvolution des Essais de Montaigne. Paris,
Hachette, 1933.
Sobre o que No Aparece (ao Neopirrnico)
Hilan Bensusan
Paulo A.G. de Sousa*
Resumo: O artigo critica a posio filosfica neopirrnica defendida por Oswaldo Porchat Perei-
ra (Porchat 5). Argumentamos que uma de suas noes bsicas, a de fenmeno, carece de uma
definio apropriada. Alm disso, mostramos que o neopirronismo abre as portas para o
irracionalismo e que a cincia moderna traz problemas para essa postura.
Palavras-chave: neopirronismo fenmeno epokh
Nosso objetivo neste artigo criticar a postura filosfica neopirr-
nica, tal como apresentada e defendida por Oswaldo Porchat Pereira (Porchat
5). Sugeriremos que os problemas dessa postura advm de que uma de suas
noes fundamentais, a de fenmeno, carece de uma definio apropriada.
Alm disso, mostraremos que, procurando se opor ao dogmatismo, o neo-
pirronismo (doravante NP) abre flancos ao irracionalismo; e que a cincia
moderna traz mais problemas para o NP do que pode parecer primeira
vista. Antes, porm, cabe uma caracterizao do NP.
Para tanto, precisamos caracterizar seus dois conceitos bsicos: fen-
meno e epokh. Comecemos por este ltimo. A epokh o estado em que se
encontra aquele que se submente completamente a uma argumentao crti-
* Alunos de Ps-Graduao do Departamento de Filosofia da Universidade de So Paulo e do
Departamento de Antropologia da Universidade de Braslia, respectivamente.
52 Eva, L.A.A., discurso (23), 1994: 25-52 discurso (23), 1994: 53-70
ca, nos termos do NP. Este estado concerne apenas a teorias, doutrinas e
dogmatismos (Porchat 5, p. 106). Ou seja, de um lado, uma teoria, uma
doutrina um conjunto de proposies filosficas
(1)
; de outro, o dogma-
tismo um tipo de atitude proposicional
(2)
. Por isso, a epokh neopirrnica
constituda pela interseco de duas faces.
Uma delas a suspenso do juzo sobre o conjunto das proposies
filosficas e a conseqente impossibilidade de utiliz-la para orientar a pr-
tica cotidiana. Esta face mostra que a viso neopirrnica do mundo no
pretende ser especulativa Ela a viso neopirrnica do mundo no
resulta de escolhas tericas, no uma construo da razo especulativa,
falta-lhe tambm sistematicidade (id., ibidem, pp. 107-108). Chamemos
esta face, simplesmente, de suspenso do juzo. ela que Porchat parece ter
em mente quando diz:
Estamos em epokh a respeito de cada assunto filosfico sobre que
nos debruamos. (...) Nossa epokh to-somente o estado em que
nos encontramos quando uma investigao exaustiva empreendida
com rigor e esprito crtico nos deixa precisamente sem condio
para escolher ou decidir. (...) Temos o juzo suspenso sobre todas as
asseres filosficas que consideramos. E nossa expectativa obvia-
mente no pode seno ser a de sermos analogamente levados epokh
acerca de qualquer assero filosfica que venhamos a considerar
(id., ibidem, p. 86).
No dispondo de critrios para decidir da realidade ou verdade das
coisas, estando em epokh sobre teorias e doutrinas, no temos como
nelas apoiar-nos para regular nossas aes na vida cotidiana
(id., ibidem, p. 103).
Por essa face, ficam demarcados dois conjuntos de proposies: o con-
junto das proposies filosficas sobre o qual se d a suspenso do juzo e
o conjunto das proposies no-filosficas que resiste suspenso do juzo
(3)
.
A outra face diz respeito indistintamente a qualquer tipo de proposi-
o. Nesta face, est destituda qualquer pretenso absoluta de verdade ou
de correspondncia com a realidade que se queira dar a qualquer proposi-
o p. Por isso, a atitude proposicional acreditar que p aquela que tem,
segundo o NP, justamente esta carga ontolgica e epistemolgica
dogmatizante substituda pela atitude aceitar que p (ou, na expresso
de Porchat, aparece-me que p). Chamemos esta outra face, simplesmente,
de mudana de atitude proposicional e as duas atitudes proposicionais men-
cionadas de acreditar que p e aceitar que p, respectivamente
(4)
. ela
que Porchat parece ter em mente quando diz:
(...) Nossa epokh, assim, atinge igualmente todo e qualquer discurso
apofntico (no sentido etimolgico do termo), filosfico ou no-
filosfico, sofisticado ou trivial, acompanhado ou desacompanhado
de uma pretensa fundamentao, todo e qualquer discurso que nos
queira fazer ver a verdade. Ela atinge toda e qualquer crena
humana que, formulada num juzo, se proponha como conhecimento
verdadeiro de uma dimenso qualquer do mundo (Porchat 5, p. 89).
Ainda que essas duas faces possam conformar rostos distintos (existe
tanto o homem comum dogmtico, como o filsofo no-dogmtico), ape-
nas a sua interseco que configura, para o NP, o estado de epokh: uma
face suspende o juzo acerca do conjunto das proposies filosficas; a
outra mantm, acerca das proposies do senso comum, uma atitude
proposicional que evita conotaes dogmticas. Uma proporciona ao
neopirrnico o olhar do homem da praa de mercado; a outra retira-lhe o
dogmatismo:
(...) O filsofo ctico, que tem seu juzo suspenso sobre todas aque-
las interpretaes do fenmeno, ao confessar faltarem-lhe critrios
e meios para decidir a controvrsia, se move to-somente naquele
terreno pr-filosfico e comum, onde tem lugar a descrio
Bensusan, H. & Sousa, P.A.G., discurso (23), 1994: 53-70 55 54 Bensusan, H. & Sousa, P.A.G., discurso (23), 1994: 53-70
consensual da situao em comum experienciada. Ele se reconhe-
ce incapaz de transcender a perspectiva modesta da praa de merca-
do (Porchat 5, p. 96).
(...) Relatamos as coisas que nos aparecem, descrevemos o fen-
meno, servindo-nos trivialmente da linguagem comum. Entendemos
como aparece ou, melhor precisando, como se dissssemos:
Aparece-nos que o mel doce. (...) Ao dizer, por exemplo, que o
mel doce, no nos pronunciamos sobre a natureza real do mel ou
da doura (...) (id., ibidem, p. 94).
Mas por que aceitar as proposies do senso comum e suspender o
juzo sobre as proposies filosficas? que o NP pensa que as proposi-
es do senso comum so suficientes para descrever aquilo que norteia a
vida do neopirrnico o fenmeno
(5)
. Enquanto, ao contrrio, uma proposi-
o filosfica, porque interpreta o fenmeno, uma forma de transcend-
lo e, por isso, como j foi dito, no pode orientar a prtica de um
neopirrnico. Se o estado de epokh, em sua primeira face, suspende o ju-
zo sobre as interpretaes do fenmeno e, na segunda, aceita as descries
do fenmeno, fica evidente que no se pode suspender o juzo sobre uma
proposio filosfica e em seguida aceit-la, pois, se este fosse o caso, uma
proposio filosfica seria, ao mesmo tempo, interpretao e descrio do
fenmeno seria, ao mesmo tempo, filosfica e no-filosfica.
Assim, o neopirrnico contenta-se em viver mergulhado na
fenomenicidade e usar a linguagem da vida cotidiana para dizer aquilo que
lhe aparece como uma inquestionvel necessidade:
O que nos aparece se nos impe com necessidade, a ele no podemos
seno assentir, absolutamente inquestionvel em seu aparecer. Que
as coisas nos apaream como aparecem independe de nossa vontade.
O que nos aparece no , enquanto tal, objeto de investigao, precisa-
mente porque no pode ser objeto de dvida. No h sentido em ar-
gumentar contra o aparecer do que aparece, tal argumentao seria
ineficaz e absurda. O que aparece, isto , esse resduo fenomnico da
epokh, esse contedo fenomnico de nossa experincia cotidiana,
configura, por assim dizer, o dado, ele nos dado (Porchat 5, p. 91).
Temos, ento, as primeiras caractersticas do fenmeno. Ele impe-se
com a necessidade de um dado, inquestionvel, irrecusvel e independe
de nossa deliberao. Alm disso, os fenmenos impem-se tanto ao enten-
dimento quanto sensibilidade:
(...) Boa parte dos fenmenos se nos do como sensveis, impondo-
se nossa sensibilidade, enquanto boa parte tambm deles, talvez a
maioria, se impem e aparecem, antes, a nosso entendimento, se nos
do como inteligveis. (...) Me aparece tambm que tenho diante de
mim um objeto que no se reduz quilo de que tenho a percepo
sensvel. Aparece-me, por exemplo, que ele [o objeto que vejo] pos-
sui partes e propriedades que meus sentidos no esto alcanando,
que ele permanece e dura quando ningum o est observando etc.
(id., ibidem, p. 92).
Portanto, o fenmeno pode ser, alm de sensvel, inteligvel ou, at,
sensvel e inteligvel. Por fim, o NP caracteriza-o como relativo:
(...) Diremos que o fenmeno se constitui essencialmente relativo,
ele relativo quele a quem aparece. Nem mesmo entendemos como
se poderia falar de um puro aparecer (id., ibidem, p. 91).
A partir destas definies, devemos ter em mente trs nveis: o do fe-
nmeno, o da descrio do fenmeno (das proposies do senso comum), o da
interpretao do fenmeno (das proposies filosficas). O estado de epokh
em sua primeira face suspende o juzo sobre as interpretaes do fenmeno e
na segunda altera a atitude proposicional acerca das descries do fenmeno.
Bensusan, H. & Sousa, P.A.G., discurso (23), 1994: 53-70 57 56 Bensusan, H. & Sousa, P.A.G., discurso (23), 1994: 53-70
Enfim, podemos entender o projeto do NP: a imerso no contedo
irrecusvel da experincia o fenmeno, a suspenso do juzo acerca das
interpretaes do fenmeno e a aceitao das descries do fenmeno. O
NP, ento, pretende-se uma postura aterica e antidogmtica.
I. Ceticismo quanto Suspenso do Juzo
Nesta seo, pretendemos mostrar que o NP no apresenta um critrio
para a delimitao do conjunto das proposies acerca do qual se deve sus-
pender o juzo. Portanto, a prpria suspenso do juzo torna-se arbitrria.
O NP no d um critrio de demarcao entre o conjunto das proposi-
es filosficas, que interpretam o fenmeno, e o conjunto das proposies
do senso comum, que descrevem o fenmeno, porque, ao incluir o intelig-
vel no domnio do fenmeno, no pode especificar o que seja uma interpre-
tao filosfica. Pois s poderia faz-lo se apresentasse uma distino de
natureza entre o que se impe ao entendimento do homem comum, ao des-
crever os fenmenos inteligveis, e o que se impe ao entendimento do fil-
sofo, ao interpretar os fenmenos. Porm, esta diferena no traada por
Porchat, e acreditamos que dificilmente seria possvel tra-la, pois as in-
terpretaes filosficas parecem provir de fenmenos inteligveis
(6)
. Assim,
no apresentando uma distino de natureza entre descrio do fenmeno
inteligvel e interpretao do fenmeno, a face de suspenso do juzo tem
um escopo apenas pragmaticamente delimitvel.
Porchat tenta eximir-se das dificuldades que so acarretadas pela dis-
tino entre descrio do fenmeno inteligvel e interpretao do fenmeno
atravs da seguinte estratgia:
(...) No cabe pretender traar fronteiras demasiado rgidas entre
os domnios do dogma (da interpretao do fenmeno) e do fen-
meno (inteligvel). (...) O assentimento a um dogma necessariamen-
te comporta um elemento fenomnico e o recorte do mundo
fenomnico jamais se pode pretender imunizado contra a presena
sub-reptcia de ingredientes dogmticos dissimulados e como em-
butidos no linguajar comum, vestgios eventuais de antigos mitos
inextricavelmente incorporados ao senso comum de uma cultura. As
fronteiras entre os dois domnios se estendem sobre uma terra de
ningum, onde os contornos se esvaem, pouco ntidos e mal deline-
ados. Assim nos aparece (Porchat 5, p. 112).
Porm, postular esta fuzziness no resolve o problema da inexistn-
cia de um critrio de distino. No mais, esta terra de ningum serve
apenas para obscurecer o erro bsico de categorizao envolvido nesta dis-
tino: ela no est erigida sobre nenhum critrio formal, mas moldada em
meras contingncias. Isto fica claro no uso que Porchat faz, durante todo
seu artigo, do predicado filosfico em expresses como interpretao
filosfica, teoria filosfica, significado filosfico, assero filos-
fica, verdade filosfica, pois esta qualificao acrescenta apenas que
estas expresses so oriundas de filsofos. Ento, o domnio do pr-filo-
sfico s pode significar aquilo que produto do senso comum. No entan-
to, claro que o senso comum tem pressupostos do tipo daqueles classifica-
dos pelo prprio NP como filosficos. Por exemplo, a proposio o objeto
que vejo persiste quando no observado parece no ser filosfica, para o
NP, apenas por nela crer o senso comum. Do mesmo modo, impossvel
prever quais proposies podem vir a ser produtos da atividade filosfica.
Imaginemos, por ilustrao, uma sociedade onde o marxismo a doutrina
comum, e portanto, neste sentido, no-filosfico. Neste caso, o marxismo
a descrio do fenmeno para o NP, enquanto as proposies do nosso sen-
so comum seriam interpretaes filosficas (bizarras) do que fenmeno
para tal sociedade.
Porchat tenta apoiar um critrio para a suspenso do juzo apenas na
distino entre filosfico e no-filosfico, mas as proposies que, em al-
guns casos, so descries do fenmeno, em outros, so interpretaes do
fenmeno. Tudo bem que se queira delimitar os usurios de certas proposi-
es, mas essa delimitao no suficiente para fundamentar o peso filo-
sfico que o NP quer dar distino entre descrio e interpretao, pois
bem pode o filsofo descrever, como o senso comum interpretar.
Bensusan, H. & Sousa, P.A.G., discurso (23), 1994: 53-70 59 58 Bensusan, H. & Sousa, P.A.G., discurso (23), 1994: 53-70
Um outro problema concernente suspenso do juzo que pelo me-
nos uma proposio filosfica deve sempre ser aceita pelo NP, ainda que
parea sua aceitao ser por mera convenincia. A proposio corpos hu-
manos so outras pessoas filosfica no sentido do NP (basta ver a secu-
lar controvrsia, entre os filsofos, sobre outras mentes) e, acerca dela, o
NP deveria, portanto, suspender o juzo. No entanto, o NP precisa aceit-la
como descrio da aparncia, pois, se no o fizesse, no poderia ser uma
posio crtica e com pretenses argumentativas. Sem ela, no poderia ar-
gumentar com quem quer que seja, em particular no poderia combater os
dgmata dos filsofos:
(...) Se um dilogo se estabelece entre o dogmtico e o ctico, se o
ctico consegue minar as bases sobre que aquele construiu a sua
crena, se o dogmtico passa a duvidar da evidncia em que se
apia ou descobre a problematicidade dos argumentos que o leva-
ram sua concluso, ento seu dgma perde sustentao e
credibilidade, deixa por isso de aparecer-lhe o que antes lhe apare-
cia. (...) Com ele ocorre o que com qualquer um ocorre, quando se
desfaz de uma crena que outrora julgara verdadeira: reconhece que
no se tratava seno de uma aparncia, fenmeno seu particular e
de fato revestido de insuspeitada precariedade (Porchat 5, p. 111).
Deste modo, o NP tem que aceitar outras pessoas, pois, sem apelar
para elas, todos os fenmenos seriam irremediavelmente particulares e no
seria possvel convencer o filsofo a abandonar o dogma. Neste caso, o
nico contra-argumento do NP residiria em aceitar uma tal proposio ape-
nas como instrumento para combater os dgmata dos filsofos, da qual se
desfaria assim que estes fossem convencidos. Seria, por assim dizer, como
uma escada wittgensteiniana que se abandona depois de subir. Mas tal es-
tratgia pouco ajudaria, pois o NP teria de recorrer escada sempre que
quisesse argumentar contra os dgmata dos filsofos.
Caso o NP queira escapar desses problemas, pode tomar dois cami-
nhos: ou bem suspende o juzo tambm sobre as descries dos fenmenos
inteligveis, ou bem no suspende o juzo sobre as proposies filosficas.
Se adota o primeiro, s pode aceitar as descries dos fenmenos sensveis,
o que o reduz a um tipo estrito de empirismo. Se adota o segundo, pode
aceitar tambm as proposies filosficas, o que descaracteriza uma das
faces do estado de epokh, pois no h mais sobre o que suspender o ju-
zo
(7)
. Passemos, ento, outra face da epokh.
II. A Ineficcia da Terapia
Nesta seo tentaremos mostrar que a face restante do estado de epokh
mascara justamente aquilo que ela parecia excluir, pois, por trs das apa-
rncias, o neopirrnico esconde um olhar dogmtico.
bom frisar de incio que, eliminada a primeira face da epokh, nesta
seo no entraremos no mrito da distino entre descrio e interpretao
do fenmeno, pois o que nos interessar ser o embate entre duas atitudes
proposicionais: segundo o NP, uma atitude dogmtica acreditar que p
e uma atitude no-dogmtica aceitar que p.
Como diz Porchat, a filosofia pirrnica se concebe como uma tera-
putica e o dogmatismo a doena que ela combate (Porchat 5, p. 112).
Segundo o NP, tal dogmatismo compartilhado tanto pelo comum dos ho-
mens, como pelos filsofos. Ele caracteriza-se por uma obstinao do ab-
soluto que, no caso dos filsofos, vem tona na construo de uma teoria
do conhecimento que prope que o conhecimento vlido aquele que tem
fundamentao ltima e segura, de uma teoria da verdade que prope que a
verdade a propriedade de representao correta da realidade e de uma
moral baseada em valores absolutos. Enfim, caracteriza-se pelo af de
apodicidade to caro a todos aqueles que buscam uma filosofia primeira.
Enquanto os dogmticos pretendem fundamentar absolutamente suas
doutrinas, o neopirrnico, diante da ausncia de argumentos cabais que pos-
sam fundamentar quaisquer doutrinas (ou que possam decidir qual, dentre
elas, , absolutamente, a melhor), pretende substituir a crena nessas dou-
trinas por uma atitude, mais fraca, de aceitao. Esta atitude proposicional
aceitar que p, que o NP caracteriza como no-dogmtica, pode ser enten-
Bensusan, H. & Sousa, P.A.G., discurso (23), 1994: 53-70 61 60 Bensusan, H. & Sousa, P.A.G., discurso (23), 1994: 53-70
dida de duas maneiras: aceitar proposies especficas com alguma funda-
mentao argumentativa, mesmo que desprovida de pretenses de
apodicidade; ou aceitar proposies especficas sem nenhum tipo de funda-
mentao argumentativa. Comecemos pela primeira.
Neste caso, seria de se esperar que um neopirrnico, a partir de algum
critrio, pudesse criticar as proposies especficas que formam o contedo
de uma atitude proposicional alheia; bem como revisar as proposies es-
pecficas que ele aceita. Contudo, por definio, o nico critrio com que
pode contar o neopirrnico para nortear sua aceitao de proposies o
fenmeno; e, este, para o NP, essencialmente relativo:
certo tambm que enfatizamos o carter relativo do fenmeno,
lembrando sempre que o que aparece aparece a algum. E que, res-
trito experincia fenomnica, minha experincia fenomnica
que estou restrito, sempre meu fenmeno que exprimo, o que a
mim aparece (Porchat 5, p. 101).
Se, alm de relativo, o fenmeno tambm irrecusvel (No h sen-
tido em argumentar contra o aparecer do que aparece, tal argumentao
seria ineficaz e absurda, id., ibidem, p. 91), o nico critrio de que se pode
valer o neopirrnico um pseudocritrio a restrio irrecusabilidade e
relatividade do fenmeno impossibilita a reviso crtica do contedo das
atitudes proposicionais, pois o mximo que se pode pretender argumentativa-
mente uma mudana da atitude proposicional de crena para a atitude
proposicional de aceitao. A nica estratgia que o NP pode utilizar ape-
lar para fenmenos comuns, isto , apelar quilo que aparece irrecusa-
velmente maioria, sendo esta maioria definida histrica e culturalmente.
Isto faria com que o indivduo se conformasse ao fenmeno comum de sua
cultura, o que pode ter conseqncias desastrosas, se pensarmos que ne-
nhum alemo na poca do Terceiro Reich teria justificao para qualquer
crtica s prticas nazistas. No mais, a inexistncia de um critrio para a
reviso crtica do contedo de atitudes proposicionais reaparece no nvel
intercultural: o mximo que uma cultura de neopirrnicos no-fascistas pode
pretender, diante de uma cultura de fascistas, mudar sua atitude de crena
para uma atitude de aceitao.
Portanto, a partir da definio de fenmeno, s possvel para o NP,
a segunda maneira de entender a aceitao de proposies aquela que
relega qualquer exerccio de fundamentao como intil. Assim, contra as
pretenses de universalidade do dogmtico, o NP pode propor apenas uma
adeso relatividade e irrecusabilidade do fenmeno; sendo que, mesmo
esta proposio, no deve ser entendida como baseada em algum tipo de
crena, mas naquilo que ele aceita simplesmente porque exprime o que lhe
aparece.
Ora, o que o NP no percebe que seu remdio sua terapia para
eliminar o dogmatismo , ao mesmo tempo que cura, transmite a doena: a
paralisia da crtica, o retorno do dogmatismo. Tanto a fundamentao abso-
luta como a ausncia de qualquer fundamentao so o verso e reverso de
uma mesma doena: o irracionalismo; pois, em verdade, o dogmatismo no
reside, como quer o NP, em um tipo especfico de atitude proposicional,
mas, principalmente, na impossibilidade de reviso crtica do conjunto das
proposies, o contedo das atitudes proposicionais. Por isso, no basta o
NP considerar, ao nosso ver apenas retoricamente, que:
(...) pela prpria natureza de seu mtodo e procedimento, o pirronis-
mo se constitui como um antdoto eficaz contra toda e qualquer forma
de irracionalismo. Ao rejeitar os dogmatismos, ele conforma uma
outra e diferente figura da racionalidade (Porchat 5, p. 117).
Pois o que realmente acontece a configurao sub-reptcia de uma nova
forma de irracionalismo, onde no existe a possibilidade de se justificar
argumentativamente qualquer tipo de virtude, seja moral, seja epistmica.
Em nossa opinio, o erro bsico da diagnose neopirrnica, que tam-
bm o de grande parte do pensamento ps-moderno e relativista contem-
porneo, pressupor uma oposio simplista entre, de um lado, uma teoria
da verdade, uma teoria do conhecimento e uma moral especficas e, de ou-
tro, a eliminao da verdade, a impossibilidade do conhecimento e a relati-
Bensusan, H. & Sousa, P.A.G., discurso (23), 1994: 53-70 63 62 Bensusan, H. & Sousa, P.A.G., discurso (23), 1994: 53-70
vidade da moral como se esta fosse, por excelncia, a alternativa crtica e
racional a se adotar diante do dogmatismo. Por isso, podemos dizer que o
NP, contrariamente ao melhor do pensamento contemporneo, parece no
ver nenhuma alternativa para a racionalidade seno a busca de uma filoso-
fia primeira. Que existam outras alternativas fica claro quando se pensa na
cincia empresa epistemicamente virtuosa, por excelncia.
III. A Cincia contra o Neopirronismo
Nesta seo tentaremos mostrar que, apesar de Porchat considerar que
uma das vantagens do NP ser este capaz de atender s demandas que a
contemporaneidade apresenta a uma postura filosfica, o NP no pode
compatibilizar-se com a cincia de hoje: ele no pode aceit-la, nem sequer
parcialmente, de um modo justificado.
A cincia, como empresa cognitiva bem-sucedida e como fonte de
informaes que pautam nossas decises e a confiana que nelas deposita-
mos, deve ser alvo de muitas atenes da filosofia contempornea. Nos
tempos helensticos, a presena da cincia na vida cotidiana, como aponta o
prprio Porchat (Porchat 5, p. 113), no era to visvel. E no o era apenas
porque produzia poucos artefatos tecnolgicos, mas porque a cincia da
poca no alcanara o sucesso da cincia contempornea sucesso na pre-
viso e manipulao da natureza e sucesso na previso de eventos que as
teorias no foram construdas para prever.
Diante da atividade cientfica de hoje, as dificuldades mencionadas
nas sees anteriores tornam-se mais graves. A cincia constri teorias que
no guardam associao imediata com aquilo que observamos. Elas podem
ser entendidas como interpretaes e/ou explicaes dessas observaes,
em sentido semelhante ao que conferido a tais expresses quando aplica-
das s construes dos filsofos. No entanto, diante das teorias cientficas,
Porchat, ao contrrio do que faz com as teorias filosficas, aceita-as como
descries das aparncias. O NP poderia tambm, acerca do discurso teri-
co da cincia, suspender o juzo, mas neste caso, como naquele, encontra
problemas.
No primeiro caso, para aceitar as teorias cientficas como descries
da aparncia, o NP deve garantir que pode distinguir entre teorias cientfi-
cas e teorias filosficas. Para tanto, no basta repetir que so distintas as
atitudes acerca destas teorias, pois isto j est suposto quando o NP consi-
dera que as teorias cientficas so aceitas como descries da aparncia.
Tambm de nada vale dizer que as teorias cientficas so mais confirmadas,
pois as teorias filosficas podem vir a ser igualmente confirmadas por
exemplo, por meio de uma associao com hipteses cientficas particula-
res. Nada disso aponta para uma distino de natureza
(8)
.
A nica sada que resta ao NP tentar substituir a distino de nature-
za por alguma distino que, ainda que contingente, possa sustentar a sepa-
rao entre os dois tipos de teoria. Pode-se imaginar que seria possvel
encontrar algo assim na distino entre a symphona associada s teorias
cientficas e a diaphona associada s suas correlatas filosficas: as teorias
cientficas escapariam do tropo da diaphona. De fato, o acordo gerado
pelas teorias cientficas, ainda que elas no tenham uma fundamentao
apofntica, mostra que nem todo discurso terico est sempre condenado
diaphona. Com esta distino, o NP poderia considerar como descrio da
aparncia apenas os discursos que trazem symphona, reservando a suspen-
so do juzo para os demais. Porm, tambm aqui, o NP est arriscado a ver
todas as proposies filosficas, acerca das quais suspendeu o juzo, surgi-
rem como corolrios das teorias que aceita como descrio da aparncia e
com isto acabar com a diaphona gerada pelos discursos filosficos. De
resto, a diaphona no condio suficiente nem necessria para um dis-
curso ser filosfico.
Esse, porm, no o nico problema que o NP, com esta estratgia,
enfrenta. Se aceita as teorias cientficas, est aceitando no apenas inter-
pretaes tericas do fenmeno, mas tambm descries do fenmeno dis-
tintas daquelas providas pela linguagem da vida cotidiana, e com isto cria-
se uma diaphona quanto s prprias descries do fenmeno
(9)
. Assim, alm
de no ter como distinguir de uma maneira conveniente teorias que revelam
as profundezas do mundo fenomnico elas exploram um mundo
fenomnico aberto a possibilidades ilimitadas de investigao (Porchat 5,
p. 116) das que tentam interpret-lo, o NP corre o risco de introduzir a
Bensusan, H. & Sousa, P.A.G., discurso (23), 1994: 53-70 65 64 Bensusan, H. & Sousa, P.A.G., discurso (23), 1994: 53-70
diaphona entre as prprias descries do fenmeno. Alm disso, nesta es-
tratgia, o NP no consegue nem ao menos delimitar as teorias cientficas,
pois basta que se tenham em mente os episdios de controvrsia cientfica,
para que se veja de pronto que a symphona no uma condio necessria
para uma teoria ser cientfica. devido a esta impossibilidade de traar
uma distino entre uma teoria cientfica e uma interpretao filosfica do
fenmeno (e a inexistncia de critrios que pautem a aceitao de proposi-
es) que Porchat pode at aceitar o que chama de realismo cientfico: con-
siderar as entidades no-observveis mencionadas nas teorias cientficas
como fenmenos inteligveis.
No havendo possibilidade de traar a distino entre teoria cientfi-
ca e teoria filosfica, o NP deveria suspender o juzo sobre todos os
discursos tericos. Restaria, ento, apenas a possibilidade de o NP suspen-
der o juzo acerca de parte das proposies de uma teoria cientfica, aquelas
que ele no consideraria descries do fenmeno. Neste caso, o NP assumi-
ria, quanto cincia, uma postura semelhante quela dos empiristas, estra-
tgia que, alis, se combina melhor com a idia de que a cincia moderna
uma tkhne e com a pretenso do NP de manter-se na perspectiva da praa
do mercado. E poderia tentar faz-lo apelando para a tradicional argumen-
tao empirista: as teorias esto sempre subdeterminadas
(10)
pelas observa-
es, apesar da symphona que acerca delas muitas vezes encontramos. No
entanto, fcil ver que aqui tambm h problemas. Uma vez que apenas
aquilo que determinado pela observao pode ser aceito como descrio
da aparncia, ter-se-ia que suspender o juzo quanto s descries dos fen-
menos inteligveis. Se no fosse este o critrio para demarcar aquilo que se
aceita, o NP manteria um estranho empirismo que, ainda que no limitado
quilo que a observao pode determinar, no aceita a teoria toda. Um pro-
blema de todo empirismo o chamado ceticismo seletivo (para uma crtica,
ver os artigos de Churchland e Hooker em Churchland & Hooker 2), ou seja, a
questo de justificar a crena em apenas parte de uma teoria. O problema
do NP, ao aceitar parte das teorias cientficas, anlogo no pode ofere-
cer um critrio para distinguir o que aceita, como descrio da aparncia,
daquilo diante do que suspende o juzo. A cada teoria especfica, o NP teria
que arbitrariamente estabelecer o que aceita como descrio da aparncia,
pois o mesmo que acontece com a suspenso do juzo acerca das interpreta-
es filosficas do fenmeno aconteceria com a suspenso do juzo acerca
das interpretaes cientficas.
Uma ltima considerao. Mesmo supondo, como faz Porchat, que
seja possvel ao neopirrnico aceitar o discurso cientfico como descrio
da aparncia, esta aceitao no pode repousar seno em uma atitude
etnocntrica que enaltece o conhecimento e a tcnica de nossa cultura. Pois,
impossibilitado de qualquer exerccio de justificao, o NP no pode nem
fundamentar a cincia, nem explicar por que ela virtuosa. Numa poca
falibilista e de epistemologia naturalizada, mais razovel apresentar justi-
ficativas no-apodticas para tal aceitao, em vez de contrapor justifica-
es definitivas ausncia de justificaes.
Vemos que em todos os casos no parece haver alternativa para que o
NP compatibilize-se com a cincia. Na verdade, essa postura torna-se ana-
crnica diante de um empreendimento to bem-sucedido como a cincia e
de nada adianta a artimanha de dizer que ela investiga com sucesso o fen-
meno, pois, se tudo que dissemos correto, isto no significa nada: tudo
pode ser fenmeno. A cincia moderna, que tantos desafios pe ao empre-
endimento de pensar o conhecimento humano, no apenas deixa clara a
inadequao de posturas como o NP, tambm nos convida a buscar alterna-
tivas filosficas que levem em conta seu sucesso em desbravar os cami-
nhos, muitas vezes acertados, mas no seguros, que nos possibilitam au-
mentar nosso conhecimento do mundo para alm do que aparece.
Abstract: The paper criticizes the neo-pyrrhonian philosophical proposal defended by Porchat
Pereira (Porchat 5). We argue that one of its fundamental notions, the notion of phenomenon,
lacks an appropriate definition. Moreover we show that neo-pyrrhonism does not avoid irrational-
ity and that modern science brings problems to this proposal.
Key-words: neo-pyrrhonism phenomenon epokh
Bensusan, H. & Sousa, P.A.G., discurso (23), 1994: 53-70 67 66 Bensusan, H. & Sousa, P.A.G., discurso (23), 1994: 53-70
Notas
(1) Em grande parte de seu texto, Porchat, revelando-se impreciso na utilizao
dos termos teoria e doutrina, utiliza-os como equivalentes a expresses como
tese metafsica ou interpretao filosfica do fenmeno. Utiliza, alm disso,
as expresses teoria cientfica e doutrina cientfica. Para evitar confuses,
pois este lado da epokh concerne apenas a teorias (doutrinas) filosficas, por
enquanto, entenderemos uma teoria como um conjunto de proposies filosficas.
Na ltima seo do artigo falaremos sobre as teorias (doutrinas) cientficas.
(2) Entendemos por proposio um conjunto de representaes conceituais,
eventualmente atualizadas lingisticamente como o significado de uma sentena.
Por atitude proposicional entendemos uma atitude qualquer com respeito a
uma proposio. Assim, atitudes proposicionais podem diferir em duas dimen-
ses: quanto ao tipo de atitude crena, desejo, medo etc. ; e quanto ao seu
contedo, a proposio o sol nascer amanh, os anjos no tm sexo etc. (cf.
Devitt & Sterelny 3, p. 255).
(3) Entre as proposies que resistem suspenso do juzo, esto o subconjunto
das proposies cientficas e o subconjunto das proposies do senso comum.
Por enquanto, na caracterizao do NP, enfatizaremos apenas as proposies do
senso comum. Sobre a aceitao, pelo NP, das teorias cientficas, falaremos na
ltima seo do artigo.
(4) importante notar que, quanto s proposies acerca das quais se suspende
o juzo, no se pode manter nenhuma atitude proposicional; no mximo, a sus-
penso de juzo sobre alguma proposio pode acarretar a mudana de atitude
quanto a outras. isso que acontece com Bas van Fraassen (van Fraassen 6), ao
combinar suspenso do juzo, aceitao e crena. Ele considera que se deve man-
ter quanto s proposies das teorias que falam sobre no-observveis uma ati-
tude de aceitao desprovida de crena. Isto porque aquilo que poderia dar fun-
damento para consider-las verdadeiras ou falsas so proposies que, por sua
vez, merecem que, acerca delas, se suspenda o juzo. Deste modo, van Fraassen
suspende o juzo quanto a certas proposies (Todos os termos das teorias cien-
tficas referem), aceita outras (as proposies que falam de no-observveis) e
acredita em outras (as que falam de observveis).
(5) Porchat (cf. Porchat 5, p. 105) considera que tanto o fenmeno como suas
descries esto fora do escopo da suspenso do juzo.
(6) Pode-se ver tambm esta dificuldade como um problema na prpria noo de
fenmeno. Se o fenmeno irrecusvel, no deliberado e se impe com a necessi-
dade de um dado, no possvel que sejam fenmenos as propriedades no dire-
tamente observveis de um objeto, como a de dividir-se em partes ou persistir
quando no observado. Nada disso nos dado de modo irrecusvel, no delibe-
rado ou necessrio. A descrio do fenmeno inteligvel, por descrever algo inte-
ligvel, tem, acerca da recusabilidade, da deliberao e da necessidade, o mesmo
estatuto que as interpretaes do fenmeno.
(7) Pensamos que uma sada para o NP manter esta face seria tentar delimitar
dois domnios diferentes de inteligveis, um dos quais caracterizaria o fenmeno
(inteligvel). Algo semelhante encontra-se na distino entre teoria primria e
teoria secundria proposta em Horton 4.
(8) Poder-se-ia entender a suspenso de juzo quanto a teorias filosficas que o
NP prope como uma suspenso de juzo acerca de quaisquer proposies que
recebem certos tipos de justificao; por exemplo, as justificaes que habitual-
mente os filsofos do para suas proposies. Mas neste caso o NP no seria
mais que uma crtica aos mtodos de justificao habituais dos filsofos, no
podendo de modo algum defender a impossibilidade de justificar a deciso (atra-
vs de qualquer mtodo) acerca de determinadas proposies.
(9) Isso fica claro quando se pensa em filsofos, como Churchland (cf., por exem-
plo, Churchland 1), que consideram que as descries ordinrias dos eventos
devem ser eliminadas e substitudas pelas descries providas pelas teorias cien-
tficas. No caso do famoso problema de Eddington, em vez de se falar em mesa,
fala-se em conjunto de molculas.
(10) Utilizamos este termo para traduzir o ingls underdetermination. Ignoramos
se alguma outra traduo para este termo j corrente.
Bensusan, H. & Sousa, P.A.G., discurso (23), 1994: 53-70 69 68 Bensusan, H. & Sousa, P.A.G., discurso (23), 1994: 53-70
Bibliografia
1. Churchland, P. Scientific Realism and the Plasticity of Mind. Cambridge,
Cambridge University Press, 1979.
2. Churchland, P. & Hooker, C. Images of Science. Chicago, The University
of Chicago Press, 1985.
3. Devitt, M. & Sterelny, K. Language and Reality. Oxford, Basil Blackwell,
1987.
4. Horton, R. Tradition and Modernity Revisited. In: Hollis, M. & Lukes, S.
Rationality and Relativism. Oxford, Basil Blackwell, 1982.
5. Porchat Pereira, O. Sobre o que Aparece. In: discurso, n
o
19, So Paulo,
1992.
6. van Fraassen, B. The Scientific Image. Oxford, Oxford University Press, 1980.
Resposta a Hilan Bensusan
e Paulo A.G. de Sousa
Oswaldo Porchat Pereira*
Resumo: Em resposta a crticas dirigidas contra a postura neopirrnica defendida pelo autor em
artigo anterior (Porchat 3), mostra-se que elas provm de uma incompreenso bsica da noo de
fenmeno no ceticismo grego.
Palavras-chave: pirronismo neopirronismo fenmeno
1. Muita coisa, por certo, no aparece ao neopirrnico. Muitas coisas, porm,
lhe aparecem. Aparece-lhe, por exemplo, que uma leitura menos atenta de
um texto pode, por vezes, ser causa de desnecessrios mal-entendidos. o
que me parece ter acontecido com os autores do artigo Sobre o que No
Aparece (ao Neopirrnico) (Bensusan e Sousa 1, pp. 53-70)
(1)
. De qualquer
maneira, sou-lhes agradecido por me propiciarem esta ocasio de retomar o
tema ctico do fenmeno.
Trs so os pontos bsicos da crtica desenvolvida naquele texto, vi-
sando a postura neopirrnica que expus em Sobre o que Aparece (Porchat
3): entenderam que a noo de fenmeno carece de uma definio apropri-
ada, que o neopirronismo abre flancos ao irracionalismo e que a cincia
moderna incompatvel com essa postura. As trs acusaes parecem-me
* Professor de Epistemologia no Departamento de Filosofia da Universidade de So Paulo.
70 Bensusan, H. & Sousa, P.A.G., discurso (23), 1994: 53-70 discurso (23), 1994: 71-86
provir, todas elas, de uma compreenso inadequada da doutrina ctica sobre
o fenmeno, e creio que isso fcil de mostrar. Para tanto, no terei de
acrescentar nenhuma nova explicao ao que j se encontra naquele meu
artigo, bastando-me relembrar algumas coisas que l foram explicadas. Mas
desde j devo dizer que a noo de fenmeno, tal como tematizada em So-
bre o que Aparece, no neopirrnica, mas simplesmente pirrnica. Em
outras palavras, os mal-entendidos em que incorre a crtica a que estou re-
plicando concernem imediatamente prpria doutrina de Sexto Emprico.
2. Essa incompreenso a respeito da doutrina sextiana do fenmeno in-
dissocivel do modo defeituoso pelo qual nossos autores entenderam a sus-
penso ctica do juzo (epokh). Eles a viram como constituda pela
interseco de duas faces (Bensusan e Sousa 1, p. 54), a primeira sendo a
suspenso de juzo sobre o conjunto das proposies filosficas e a conse-
qente impossibilidade de utiliz-la para orientar a prtica cotidiana (id.,
ibidem), a outra face dizendo respeito indistintamente a qualquer tipo de
proposio (id., ibidem, p. 55) e mantendo, acerca das proposies de
senso comum, uma atitude proposicional que evita conotaes dogmticas
(id., ibidem). Atribuiu-se, assim, ao neopirronismo a doutrina de que so-
mente as proposies filosficas so objeto da epokh, subtraindo-se ao
escopo desta as proposies de senso comum, que o neopirronismo aceita-
ria. Os autores propuseram-se a mostrar que o neopirronismo no apresen-
ta um critrio para a delimitao do conjunto das proposies acerca do
qual deve-se suspender o juzo, o que tornaria arbitrria a prpria suspen-
so do juzo (id., ibidem, p. 58). Faltaria ao neopirronismo um critrio de
demarcao entre o conjunto das proposies filosficas, que interpretam o
fenmeno, e o conjunto das proposies do senso comum, que descrevem o
fenmeno (id., ibidem), e a razo disso residiria em no ter o neopirronismo
oferecido uma distino de natureza entre descrio do fenmeno inteli-
gvel e interpretao do fenmeno.
3. H aqui vrias confuses a dissipar. Em primeiro lugar, a epokh pirrnica
sempre particular, ela diz respeito a uma proposio ou doutrina dogmtica
especfica sob considerao no momento, ela jamais diz respeito ao con-
junto das proposies ou doutrinas de tal ou qual tipo. Cuidando por no
incorrer, ele prprio, no dogmatismo que denuncia, o mximo que pode o
ctico dizer acerca das proposies dogmticas que at tal momento foi
sempre levando suspenso de juzo com relao quelas sobre que se de-
bruou, devido equipotncia das razes que se podiam aduzir a seu favor
e contra elas. Esse ponto da doutrina ctica bastante conhecido e tematizado
pelos estudiosos, e Sexto nele insistiu vrias vezes (por exemplo, em Sexto
Emprico 4, H.P., I, pp. 199, 200, 203 etc.).
Por outro lado, incorreto atribuir ao pirronismo a doutrina de que
se deve suspender o juzo sobre tal ou qual proposio. A epokh um
estado em que o pirrnico se encontra aps investigao das razes favor-
veis e contrrias aceitao de tal ou qual posio dogmtica, ante a impos-
sibilidade de uma opo justificada por alguma delas. Descobrimo-nos com
o juzo suspenso, isto , retido, a reteno do juzo no sendo ato que
devamos praticar. Esse ponto foi amplamente elucidado em Sobre o que
Aparece (Porchat 3, p. 86).
4. Uma confuso mais importante concerne relao entre filosofia e senso
comum. Se certo que os cticos gregos visaram de modo particular os
discursos filosficos da antiguidade e se aqueles filsofos que eles chama-
ram de dogmticos foram seus alvos prediletos, eles no deixaram menos
claro que sua epokh, sempre particularizada sobre matria submetida no
momento sua considerao, atingia todo e qualquer discurso apofntico
(no sentido etimolgico do termo), filosfico ou no filosfico, sofisticado
ou trivial, acompanhado ou desacompanhado de uma pretensa fundamenta-
o, todo e qualquer discurso que nos queira fazer ver a verdade. Ela
atinge toda e qualquer crena humana que, formulada num juzo, se propo-
nha como conhecimento verdadeiro de uma dimenso qualquer do mundo
(id., ibidem, p. 89; os itlicos so de agora). Esse meu texto citado por
extenso em NANP (Bensusan e Sousa 1, p. 55), mas fica-me a impresso de
que nossos autores no quiseram demorar-se em melhor consider-lo e em
dele extrair as necessrias conseqncias. Porque o que nessa passagem fica
claro e o ponto retomado em outras passagens de Sobre o que Aparece e
em outros artigos meus que a epokh pirrnica se exerce sobre qualquer
Porchat Pereira, O., discurso (23), 1994: 71-86 73 72 Porchat Pereira, O., discurso (23), 1994: 71-86
discurso ttico investigado pelo ctico, qualquer discurso que exiba a pre-
tenso de dizer as coisas como elas realmente so. Se essa dimenso dog-
mtica no consiste em outra coisa o dogmatismo, tal como o entendem
os pirrnicos particularmente manifesta e confessada nos discursos filo-
sficos, o discurso no-filosfico tambm a exibe com alguma freqncia
e no lhe certamente imune o discurso do senso comum, cujo dogmatismo
apenas carece da sofisticao prpria ao discurso filosfico (Porchat 3, pp.
88-89; cf. tambm Porchat 2, p. 219).
Que o senso comum freqentemente dogmtico, que ele tambm
est bastante impregnado por doutrinas religiosas, cientficas e filosficas,
algo evidente aos olhos de qualquer um, o pirrnico o primeiro a
reconhec-lo. E no tem o pirrnico por que preocupar-se em estabelecer
linhas de demarcao entre senso comum e filosofia. Nem tem tal demar-
cao, se acaso possvel, algo a ver com a caracterizao da suspenso ctica
do juzo. O que entra em pauta na problemtica da epokh to-somente o
carter ttico ou no-ttico do discurso, no a sua origem, se filosfica ou
no filosfica. A confuso em que os autores de NANP incorreram a propsi-
to dessa questo viciou definitivamente sua argumentao, ao longo de in-
meras pginas do artigo. No parecem eles ter-se dado conta de que o que
cai sob o escopo da suspenso ctica do juzo o discurso que se quer
expresso da Verdade, veculo da apreenso do Real, instrumento do Conhe-
cimento. Que se prope a transcender nossa vivncia imediata do mundo da
experincia cotidiana. Esse o discurso que se torna objeto da diaphona
das doutrinas, do conflito infindvel e indecidvel das interpretaes.
5. A epokh pirrnica no tem, portanto, duas faces de que seria a interseco,
como se pretendeu. E isso sobretudo porque o fenmeno, o que aparece,
precisamente o que no cai sob o escopo da epokh, por no concernir
controvrsia sobre discursos dogmticos; o que resiste suspenso do juzo
porque sua aceitao no depende da opo por um certo juzo. O fenme-
no se impe a ns com necessidade e de modo imediato, numa experincia
irrecusvel que no podemos seno reconhecer. Um ctico poder
eventualmente dizer que o reconhecimento desse nosso pthos a outra
face da epokh, mas estar apenas significando o carter, por assim dizer,
residual do fenmeno com relao s nossas suspenses de juzo, o fenme-
no constituindo tudo aquilo que elas no podem atingir, o contedo mesmo
de nossa experincia de vida, que se no deixa aprisionar em controvrsias
doutrinrias.
6. Essa nossa experincia fenomnica, podemos diz-la e a dizemos em
nosso discurso cotidiano. Mas esse discurso que se limita a diz-la, no-
ttico, est apenas a exprimir e descrever vivncias imediatas, sensveis ou
inteligveis. Em Sobre o que Aparece recorri didaticamente ao exemplo de
um grupo de filsofos reunido em torno de uma mesa de bar (Porchat 3, pp.
95-97), a tomar chope e conversar no filosoficamente sobre amenidades,
usando espontaneamente da linguagem cotidiana para falar sobre itens quais-
quer de um experincia comum e como tal reconhecida, manifestando seu
eventual acordo sobre alguns desses itens, concordando por exemplo em
dizer O chope est quente. Contrapus esse discurso queles que esses
mesmos filsofos profeririam, entre si necessariamente conflitantes, se acaso
levados a explicar e tematizar aquela experincia comum luz de suas dife-
rentes doutrinas. Pretendi ilustrar assim uma distino conveniente a fazer-
se entre um uso descritivo prprio ao discurso fenomnico e um uso
interpretativo prprio ao discurso dogmtico, por exemplo ao discurso
dogmtico dos filsofos. O primeiro dizendo a fenomenicidade sensvel ou
inteligvel, o segundo propondo-se a transcend-la.
Situaes como essa parecem-me autorizar claramente a distino en-
tre fenmeno e dogma, entre uso no-ttico e uso ttico da linguagem, entre
descrio e interpretao. Didticas e necessariamente relativas, tais dis-
tines no se podem nunca pretender absolutas, no cabendo e no ca-
bendo sobretudo a um ctico quer-las fundadas na natureza das coisas,
o que quer que possa significar essa expresso. Nossos autores, no entanto,
julgaram-se autorizados a exigir do ctico que este apresente uma distin-
o de natureza entre descrio do fenmeno inteligvel e interpretao do
fenmeno. No lhes ocorreu que propor distines de natureza e critrios
formais num domnio como este prprio apenas de quem dogmaticamente
postula naturezas, formas ou essncias; de quem julga ser nossa linguagem
filosfica capaz de atingir a preciso das linguagens formais, de quem acre-
Porchat Pereira, O., discurso (23), 1994: 71-86 75 74 Porchat Pereira, O., discurso (23), 1994: 71-86
dita que se podem impor experincia humana do mundo categorizaes
moldadas sobre bases outras que no meramente pragmticas, de quem
cr que a lgica de nosso discurso filosfico se pode construir sobre mais
do que meras contingncias... Quanto aos cticos, conduzidos por toda a
sua postura a privilegiar a dimenso pragmtica da linguagem, de h muito
renunciaram eles a esses mitos.
7. Por outro lado, parece-me claro que no se pode reduzir a diferena apon-
tada pelo pirronismo entre os discursos dogmtico e fenomnico a uma di-
ferena entre atitudes proposicionais, como se pretendeu. Segundo os auto-
res de NANP, o neopirronismo faz corresponder ao discurso dogmtico a
atitude acreditar que p, substituindo-a pela atitude aceitar que p ( as-
sim que interpretam aparece-me que p), ao tematizar o discurso de fen-
meno (Bensusan e Sousa 1, p. 55), alterando portanto a atitude proposicional
(id., ibidem, p. 57). E entendem que o neopirronismo pretende substituir a
crena nas doutrinas dogmticas por uma atitude mais fraca, de
aceitao(id., ibidem, p. 61).
Alguns comentrios se impem. Em primeiro lugar, o neopirrnico
suspende o juzo sobre se h, ou no, proposies, enquanto distintas de
sentenas. Alis, no se ignora que inmeros e respeitveis filsofos con-
temporneos, que ningum dir cticos, julgam plenamente dispensvel fa-
lar de proposies... Por outro lado, crena um termo que se usa, como
tantos outros da linguagem filosfica, em vrios sentidos. Num sentido que
podemos dizer mais forte, crena (em grego: dgma) diz respeito
aceitao de uma pretensa verdade, postulao implcita de uma corres-
pondncia entre nosso discurso e a chamada Realidade: tal compromisso
ontolgico torna ento dogmtica (no vocabulrio ctico) a crena corres-
pondente. Mas crena se pode tambm usar num sentido mais fraco, sig-
nificando simplesmente o reconhecimento do fenmeno, de uma experin-
cia irrecusvel que se impe a ns. E, nesse sentido mais fraco, pode-se
dizer que os cticos crem, que eles crem nos fenmenos, no aparecer que
experienciam. Tal a doutrina sextiana, como foi explicado em Sobre o que
Aparece (Porchat 3, p. 104).
Assim, quando o pirrnico diz aparece-me que p, ele est signifi-
cando que a sentena p lhe parece contar de modo razoavelmente adequado
a experincia que est vivenciando, que se lhe impe de modo necessrio e
irrecusvel. E, nesse sentido, pode dizer-se tambm que ele acredita que
p. Se algum prefere dizer que o ctico est aceitando que p, este nada
tem a opor-lhe, desde que esta frase no pretenda dizer mais que precisa-
mente aquilo que o ctico quer dizer com aparece-me que p. No entanto,
se a referncia a uma atitude proposicional, atitude de aceitar que p,
tem outras implicaes e pretende dizer algo mais, isso fica por conta e
risco de quem assim se exprime, e o ctico no ter, ento, por que endossar
tal uso lingstico.
8. Talvez seja oportuno considerar alguns exemplos introduzidos em NANP,
nos quais se podem perceber melhor as dificuldades em que seus autores se
enredaram. Assim, seja o caso de o objeto que vejo persiste quando no
observado (Bensusan e Sousa 1, p. 59), que NANP toma como exemplo de
um pressuposto filosfico do senso comum, cujo estatuto filosfico eu no
teria reconhecido em Sobre o que Aparece. Ora, nesse artigo, comentando a
noo pirrnica e sextiana de fenmeno inteligvel, eu digo, a propsito de
um objeto fsico familiar, aparecer-me que ele permanece e dura quando
ningum o est observando. Por que fenmeno inteligvel? Porque se trata
de algo que se impe a meu entendimento, se filosoficamente desprevenido
e desarmado, na experincia da vida coditiana; de algo que me vejo
compelido a aceitar e de fato aceito, que no posso recusar e de fato no
recuso, de algo em que creio (no sentido fraco de crer). E me tambm
fenmeno que assim aparece ao comum dos homens, que eles acreditam
que assim se passam as coisas, isto , que os objetos fsicos familiares
continuam a existir, independentemente de estarem sendo, ou no,
observados.
Trata-se, ento, de um fenmeno comum (Porchat 3, pp. 92-93) que,
alis, nos parece configurar uma crena humana imemorial, certamente an-
terior a toda e qualquer doutrina filosfica ou pronunciamento dogmtico.
Por isso mesmo, parece-me totalmente inadequado falar aqui de um pressu-
Porchat Pereira, O., discurso (23), 1994: 71-86 77 76 Porchat Pereira, O., discurso (23), 1994: 71-86
posto filosfico do senso comum. Porque essa crena comum, os seres hu-
manos de modo geral a temos, conheamos ou no posies dogmticas e
reflexes doutrinrias acerca do estatuto ontolgico ou epistemolgico dos
assim chamados objetos externos, sobre a relao entre objetos fsicos e
sense-data etc. Isto , ns a temos, independentemente de nossa aceitao
ou rejeio de qualquer doutrina. Para nossa vivncia das crenas
fenomnicas, os pronunciamentos dogmticos sobre elas, quaisquer que eles
sejam, so-nos, em geral, totalmente irrelevantes. Ningum de bom senso
filosfico supor, por exemplo, que o imaterialismo de Berkeley ou o ide-
alismo transcendental de Kant tenham privado esses filsofos de suas
vivncias e crenas fenomnicas, que eles deixaram de acreditar que suas
mesas de trabalho permaneciam inteiras sua espera quando delas se afas-
tavam e ningum mais as estava observando... preciso cuidar por no
confundir o registro fenomnico e no-filosfico da observncia da vida
com o registro filosfico, ou meramente dogmtico, em que aquelas
vivncias e crenas se interpretam.
Nada obsta, no entanto, a que a mesma expresso lingstica que ex-
prime nossa experincia do fenmeno venha a receber, no registro filosfi-
co ou dogmtico, uma conotao que lhe confira uma dimenso ontolgica
ou epistemolgica. H movimento aqui pode dizer-se no-teticamente,
relatando o fenmeno, assim como se pode tambm dizer filosfica ou
dogmaticamente, exprimindo uma verdade (ou falsidade) filosfica, sob o
prisma de tal ou qual doutrina. Sexto Emprico foi bastante claro e explcito
a esse respeito. Assim, no que concerne ao movimento, ele exps longa-
mente, por um lado, os argumentos dogmticos favorveis ou contrrios
realidade do movimento, cuja isosthneia leva o ctico suspenso do juzo
(Sexto Emprico 3, H.P. III, pp. 65-81; A.M. X, pp. 45-108). Mas, por outro
lado, ele se referiu ao carter incontestvel dos relatos de nossas vivncias
cotidianas e banais de movimento (id., ibidem, H.P. III, p. 66): afinal, mes-
mo quem nega a realidade do movimento reconhece, por exemplo, que sai
de sua casa e que volta depois a ela... E Sexto lembrava de modo algo gaiato
que os que seguem a observncia comum da vida empreendem viagens por
terra e por mar, constroem navios e casas e fazem crianas, sem dar ateno
aos discursos contra o movimento e a gerao (id., ibidem, H.P. II, p. 244).
Sexto lembrava tambm o episdio da visita de Diodoro Cronos, autor de
argumentos famosos contra a realidade do movimento, ao renomado mdi-
co Herfilo, para pedir-lhe que repusesse no lugar seu ombro deslocado:
quando o mdico invocou ironicamente seus argumentos para mostrar-lhe a
impossibilidade de ter havido qualquer deslocamento, Diodoro lhe suplicou
que deixasse, por um momento, os argumentos de lado e aplicasse a seu
ombro as prescries da arte mdica (Sexto Emprico 3, p. 245). Parecer-
me-ia que os autores de NANP acreditam que Diodoro no poderia, sem
contradizer-se, fazer esse pedido a Herfilo...
Essa mesma dificuldade em distinguir o registro fenomnico do re-
gistro dogmtico reaparece quando eles afirmam (Bensusan e Sousa 1, p.
60) que o neopirronismo deveria suspender o juzo sobre a proposio cor-
pos humanos so outras pessoas, pois deveria reconhecer seu carter filo-
sfico, no podendo ignorar as controvrsias filosficas sobre, por exem-
plo, a existncia de outras mentes. Entretanto, continuam eles, o neopir-
ronismo no efetua nesse caso a epokh, e no pode efetu-la, sob pena de
no mais poder criticar e argumentar contra posies dogmticas, defendi-
das por outras pessoas. Uma vez mais, a confuso em que NANP incorre
procede da no distino entre o registro ttico e o registro no-ttico do
discurso, da no compreenso de que uma mesma sentena ora simples-
mente relata a experincia fenomnica, ora se usa carregada de conotaes
dogmticas. E para o uso do discurso fenomnico pelo ctico totalmente
irrelevante que tais ou quais itens de sua experincia fenomnica sejam
objeto de problematizaes filosficas ou de controvrsias dogmticas.
O ctico se reconhece fenomenicamente inserido no mundo fsico e
humano e neles age e os diz em seu discurso (fenomnico), independente-
mente dos pronunciamentos filosficos. Em Sobre o que Aparece fui bas-
tante claro e explcito, parece-me, a esse respeito: ...me apareo como um
vivente (zon) humano, em meio aos outros seres humanos que coabitamos,
todos, o mesmo mundo fsico que nos envolve e de que compartilhamos a
experincia, nele vivendo nossa vida comum. Este homem que sou me apa-
reo como este corpo e estas sensaes, emoes, paixes, sentimentos,
representaes, pensamentos que o acompanham. Meu eu sente e pensa,
mas tem carne e osso tambm. Um corpo vivo como os outros corpos vivos
Porchat Pereira, O., discurso (23), 1994: 71-86 79 78 Porchat Pereira, O., discurso (23), 1994: 71-86
do mundo, sentimentos e pensamentos como os dos outros homens. Vivendo
numa contnua interao com eles, em meio s coisas e eventos do mundo
(Porchat 3, p. 102; os itlicos so de agora). Quer parecer-me que nossos
autores no atentaram suficientemente nessa passagem e em outras daquele
artigo que comentam esse mesmo ponto. Eles parecem-me profundamente
impregnados por aquele preconceito vulgar curiosamente, no entanto, en-
dossado por alguns crculos filosficos que se manifesta, por exemplo, na
crena filosoficamente ingnua de que um filsofo dogmtico que nega a
existncia de outras mentes, ou que dela duvida, se deveria proibir de tentar
convencer algum de seu ponto de vista...
9. A incompreenso acerca da noo pirrnica de fenmeno tem em NANP
uma outra conseqncia grave: os autores so levados a um total contra-
senso sobre o significado e o alcance mais geral da postura pirrnica (ou
neopirrnica), nela vendo a configurao sub-reptcia de uma forma de
irracionalismo (Bensusan e Sousa 1, p. 63), que teria como resultado a
paralisia da crtica, o retorno do dogmatismo (id., ibidem). Entendem eles
que o neopirrnico, em conseqncia de sua restrio irrecusabilidade e
relatividade do fenmeno, no tem como fazer a crtica efetiva das
proposies dogmticas de outrem nem como revisar as proposies
especficas que ele aceita (id., ibidem, p. 62). Dogmatismo e irracionalismo
surgiriam dessa inexistncia de critrio para a reviso crtica do contedo
de atitudes proposicionais (id., ibidem, p. 62). E, segundo eles, um neo-
pirrnico no-fascista, na Alemanha nazista, no mais poderia fazer que
mudar sua atitude de crena para uma atitude de aceitao (id., ibidem).
Revela-se a uma surpreendente ignorncia dos procedimentos argu-
mentativos empregados pelos pirrnicos em sua incessante polmica contra
os dogmticos. No era esse o tema de Sobre o que Aparece, que no se
props a analisar a prtica ctica que precede a epokh
(2)
. Mas uma leitura,
mesmo superficial, da obra de Sexto Emprico torna imediatamente claro
que a crtica ctica ao discurso dogmtico se exerce no pelo recurso aos
fenmenos o que seria, alis, totalmente ineficaz , porm mediante o uso
dialtico do prprio discurso dogmtico. Como expliquei em Ceticismo e
Argumentao (Porchat 2, p. 231), o ceticismo faz o dogmatismo servir
denncia do dogmatismo, ele usa o dogmatismo como instrumento. Opon-
do razes dogmticas a razes dogmticas, o ctico pratica o mtodo das
antinomias, constri a equipotncia (isosthneia) dos discursos
conflitantes e torna manifesta a impossibilidade de uma opo crtica por
uma qualquer das posies dogmticas consideradas. A suspenso do juzo
no mais que o desenlace inevitvel de uma tal situao dialtica. Os
tropos de Enesidemo e os de Agripa servem precisamente para encaminhar
o processo argumentativo nessa direo.
Porque o dogmatismo sempre pode renascer e efetivamente renasce,
tambm porque o ctico se probe coerentemente a universalizao ou ge-
neralizao dos resultados de sua pesquisa crtica, o ceticismo se assume
como uma postura filosfica de investigao (ztesis) permanente, por isso
mesmo se disse zettico. Ele privilegia decididamente, assim, o exerccio
crtico da razo e faz da desmistificao dialtica do dogmatismo sua
tarefa teraputica permanente.
Por outro lado, a esfera fenomnica oferece todo um vasto e rico cam-
po a ser explorado por uma razo liberta de entraves dogmticos ou
dogmatizantes. O pirronismo histrico no avanou muito nessa direo,
ainda que nos tenha legado resultados importantes e propiciado indicaes
sugestivas, por exemplo, ao fazer a apologia da tkhne e dos procedimentos
empricos de investigao. Cabe ao neopirronismo aprofundar essa temtica.
Nossos autores, como vimos, dizem tambm que o ctico no tem
como revisar as proposies especficas que ele aceita. Um exemplo ba-
nal e simples suficiente, no entanto, para mostrar como efetua o ctico, se
a ocasio para isso se apresenta, a reviso de suas crenas fenomnicas:
ele a faz como a faz um homem qualquer. Suponhamos que aparea a al-
gum haver uma cobra num quarto mais ou menos escuro, sob uma cama,
por exemplo. Que assim lhe apaream as coisas, nesse momento e lugar,
algo que no pode negar nem questionar. Suponhamos agora que a mesma
pessoa, momentos depois, armada de coragem e um pedao de pau, mexa
na suposta cobra e descubra que se trata apenas de uma corda enrolada.
Aparece-lhe agora, -lhe fenmeno, que descobriu tratar-se apenas de uma
corda enrolada, aparece-lhe agora que h pouco se enganara, pensando tra-
tar-se de uma cobra. Era-lhe irrecusvel que lhe aparecia ento uma cobra,
Porchat Pereira, O., discurso (23), 1994: 71-86 81 80 Porchat Pereira, O., discurso (23), 1994: 71-86
-lhe irrecusvel agora que no se trata de uma cobra, mas sim de uma
corda. A sentena uma cobra aparecia-lhe como descrio adequada da
experincia ento vivenciada, aparece-lhe agora que inadequada, mas que
adequado e correto dizer-se uma corda enrolada. A correo do dis-
curso operou-se de modo banal, como vezes inmeras acontece aos seres
humanos na experincia de cada dia.
A irrecusabilidade da experincia do fenmeno no de fato, no
teria como ser impedimento para a reviso das crenas fenomnicas,
que tem lugar conforme os procedimentos costumeiros e pelas razes cos-
tumeiras. Julgar o contrrio com freqncia provm da crena errnea de
que no pode o ctico, se coerente com sua postura, reconhecer enganos,
iluses perceptivas, erros etc. Talvez seja esse o caso de nossos autores. Se
o for, devemos dizer em seu favor que se trata de um erro extremamente
generalizado, produzido por uma m compreenso no menos generalizada
do ceticismo pirrnico e pela longa familiaridade do pensamento filosfico
com certas verses caricaturais do ceticismo moderno.
Tudo nos mostra, ento, no apenas que o pirronismo plenamente
compatvel com o exerccio autocrtico da razo seja na crtica dos deva-
neios dogmticos seja no lidar com o domnio fenomnico , mas que ele o
precisamente porque se define por esse exerccio autocrtico com o qual,
em ltima anlise, se identifica. Mas, por isso mesmo, o pirronismo consti-
tui o mais poderoso antdoto contra qualquer forma de irracionalismo.
10. No quero ir adiante sem dizer uma palavra sobre os neopirrnicos no-
fascistas que os autores de NANP imaginaram em plena Alemanha nazista
(Bensusan e Sousa 1, pp. 62-63), incapazes de uma postura crtica, nada
mais podendo fazer do que apelar para fenmenos comuns, isto , apelar
quilo que aparece irrecusavelmente maioria, sendo esta maioria definida
historica e culturalmente, tendo, no mximo, a possibilidade de mudar
sua atitude de crena para uma atitude de aceitao. Vimos acima quo
descabida a afirmao de que est vedada ao ctico uma postura crtica,
consideremos agora sob este novo prisma a questo do fenmeno comum.
Se entendi bem o que os autores tm em mente, parece-me que esto
a considerar, tomando como exemplo o caso da Alemanha nazista, situa-
es histricas em que uma determinada sociedade logrou de tal modo fa-
zer aceitar uma doutrina dogmtica pelo comum das pessoas, tendo-as for-
mado e educado atravs de mecanismos eficientes de condicionamento
global, que as tornou incapazes de uma atitude crtica e as fez acreditar nos
dogmas da doutrina como evidncias irrecusveis que naturalmente se
impem ao seu entendimento, sem a mnima conscincia de todo esse pro-
cesso. Ento, aquilo que para um observador externo manifestamente um
dogma, vivenciado por essas pessoas to-somente como um fenmeno
comum.
Como se comportaria um neopirrnico numa situao desse tipo? Se
se trata de um neopirrnico, trata-se por definio de um filsofo cujo ce-
ticismo se consolidou na crtica incessante aos pronunciamentos dogmti-
cos, na prtica da argumentao antinmica, na incessante autocrtica. A
postura no-fascista que, no caso da sociedade nazista, nossos autores lhe
reconhecem, est, por certo, intimamente ligada a toda a sua postura filos-
fica. Ele no membro da maioria condicionada e educada por uma efi-
ciente lavagem cerebral (se dela tivesse sido membro, dificilmente teria
tido condies para tornar-se no-fascista e filsofo ctico; se o tivesse
conseguido, teria sido por um processo de crtica e ruptura, de no aceita-
o e recusa do antigo condicionamento). Ele pertence, ento, minoria
que, por esta ou aquela razo, escapou ao processo coletivo de lavagem
cerebral, minoria que no ignora o carter dogmtico do que aos membros
da maioria se impe como fenmeno comum e se pauta por outros valores,
que no se conciliam com os dogmas da doutrina dominante. Essa minoria,
que teve a felicidade de preservar o esprito crtico, no aceita nem pode
aceitar o regime nazista; com mais fortes razes, no o aceita nem pode
aceit-lo o neopirrnico.
11. Finalmente, dito em NANP que o neopirronismo no pode
compatibilizar-se com a cincia de hoje: ele no pode aceit-la, nem sequer
parcialmente, de um modo justificado (Bensusan e Sousa 1, p. 64). Lem-
brando o trusmo de que a cincia constri teorias que no guardam asso-
ciao imediata com aquilo que observamos (id., ibidem), nossos autores
afirmam a seguir: No entanto, diante das teorias cientficas, Porchat, ao
Porchat Pereira, O., discurso (23), 1994: 71-86 83 82 Porchat Pereira, O., discurso (23), 1994: 71-86
contrrio do que faz com as teorias filosficas, aceita-as como descrio
das aparncias (Bensusan e Sousa 1, p. 64). Tendo feito essa curiosa afir-
mao, fica-lhes ento fcil inventar dificuldades para o neopirronismo:
este teria de garantir um critrio efetivo e aceitvel de demarcao entre
teorias cientficas e filosficas para legitimar aquela diferena de trata-
mento e, de outro lado, no tem como dar conta das diferenas entre filoso-
fia e senso comum na prpria descrio dos fenmenos (id., ibidem, pp. 66-
67). Ou, ento, o neopirronismo teria de estabelecer arbitrariamente, a pro-
psito de cada teoria cientfica, uma distino entre o que passvel de
suspenso de juzo (porque discurso terico) e o que se dir descrio do
fenmeno, sem no entanto dispor de critrio efetivo para tal distino.
Entretanto, o que eu disse em Sobre o que Aparece foi apenas que o
pirronismo parece-nos inteiramente compatvel com a prtica cientfica
moderna e contempornea (Porchat 3, p. 113; o itlico de agora, dou-me
conta de que talvez devesse t-lo usado j na redao original). Mas a se-
qncia do texto parece-me deixar claro que o que eu tinha em mente era o
progressivo privilgio conferido investigao experimental na cincia mo-
derna e contempornea, o abandono do velho ideal da epistme grega, o
crescente distanciamento entre o desenvolvimento experimental da cincia
e os pontos de vista metafsicos, ou mesmo epistemolgicos. E acrescentei
ento (os itlicos so de agora): muito fcil ver como toda essa postura,
ao menos em seus aspectos mais fundamentais, de ndole essencialmente
pirrnica. Ou pode, ao menos, tranqilamente associar-se concepo
pirrnica da cincia. como se tivssemos assistido ao triunfo progressivo
da velha tkhne sobre a veneranda epistme. Por certo, a natureza bem mais
complexa e rica da cincia moderna exige uma reelaborao e sofisticao
das conceituaes pirrnicas nesse campo, poderamos mesmo dizer que
tal seria uma das tarefas mais urgentes para um neopirrnico, hoje (id.,
ibidem, p. 114).
Jamais poderia ter-me passado pela cabea a tola idia de que as teorias
cientficas modernas se reduzem, ou devem reduzir-se, a descries de
aparncias. Ou que no estejam muitas vezes comprometidas com uma viso
dogmtica do mundo, por vezes associadas de modo estreito a doutrinas
filosficas. Ou que a imagem cientfica do mundo no colida freqentemente
com a imagem que dele oferece o senso comum. Nossos autores parecem-
me ter feito uma leitura algo precipitada da passagem acima reproduzida.
Se nela se tivessem um pouco mais demorado, nela e nas pginas que
imediatamente a precedem, ou nas que a seguem, ter-lhes-ia ficado manifesto
que: 1) eu digo encontrar uma ndole ctica e pirrnica na cincia moderna,
disso propondo alguns indcios; 2) eu sugiro como programa para uma
investigao filosfica neopirrnica a elaborao de uma conceituao
adequada que possa vir a dar conta dos traos fundamentais da cincia
moderna, dentro do quadro conceitual do neopirronismo; 3) exceo feita
para algumas rpidas observaes adicionais, eu me limito a isso e no digo
mais nada alm disso.
Por isso mesmo, no me parece que deva aqui ocupar-me com resol-
ver problemas eventualmente decorrentes de afirmaes que no fiz e com
as quais, alis, no concordo. J to difcil, s vezes, fazer compreender
aquilo que, de fato, se disse...
So Paulo, janeiro de l994
Abstract: In reply to criticisms proposed against the neo-pirrhonian stand taken by the author in
a previous paper (Porchat 3), it is argued that they arise from a basic misunderstanding concerning
the notion of phenomenon in ancient skepticism.
Key-words: pyrrhonism neo-pyrrhonism phenomenon
Porchat Pereira, O., discurso (23), 1994: 71-86 85 84 Porchat Pereira, O., discurso (23), 1994: 71-86
Notas
(1) Usarei a sigla NANP para a ele referir-me.
(2) Essa prtica foi por mim longamente analisada em Ceticismo e Argumentao.
Bibliografia
1. Bensusan, H. e Sousa, P.A.G. Sobre o que No Aparece. In: discurso, n
o
23,
So Paulo, 1994.
2. Porchat Pereira, O. Ceticismo e Argumentao. In: Vida Comum e Ceti-
cismo. So Paulo, Ed. Brasiliense, 1994
3. _______. Sobre o que Aparece. In: discurso, n
o
19, So Paulo, 1992.
4. Sexto Emprico. Sextus Empiricus, in four volumes. Cambridge (Massa-
chusetts) e Londres, Loeb Classical Library, Harvard University Press
and William Heinemann Ltd., vol. 1: Outlines of Pyrrhonism (H.P.);
vols. 2-4: Adversus Mathematicos (A.M.), 1976.
Iluminao Mstica, Iluminao Profana:
Walter Benjamin*
Olgria Matos**
Resumo: O presente trabalho procura mostrar as possveis significaes dos conceitos benjaminia-
nos de iluminao profana e imagens dialticas, a fim de ampliar a Razo das Luzes, para a
qual o acaso e a fortuna so incontornveis e inquietantes para a estabilidade do projeto racionalista.
Palavras-chave: acaso imagens dialticas iluminao profana melancolia iluminismo razo
Conheo uma regio rude cujos bibliotecrios repu-
diam o costume supersticioso e vo de procurar sentido
nos livros, e o equiparam ao de procur-lo nos sonhos
ou nas linhas da mo (Borges, A Biblioteca de Babel)
A contrapartida Razo Iluminista matemtico-algbrica , para
Benjamin, a Presena de Esprito, apta a acolher o acaso. Este o
incontornvel para o Sujeito da conscincia reflexiva, o eu pensante. Ao
* O conceito de iluminao profana remete aos alumbrados espanhis, aos msticos do sculo
XVI e seus procedimentos para chegar a vises do paraso e do escondido. Para tanto, seria
importante desenvolver o lugar da imagem na preparao da contemplao mstica aurtica e
intransmissvel na lgica analtica, o que no foi possvel realizar no mbito deste ensaio. A esse
respeito, consultem-se: Certeau 18; Bergamo 16; Morel 27; Rosa 32; Fabre 25 e Fabre 24.
** Professora do Departamento de Filosofia da Universidade de So Paulo.
86 Porchat Pereira, O., discurso (23), 1994: 71-86 discurso (23), 1994: 87-108
estabelecer os princpios de uma Cincia universal, Descartes comea opondo
desordem no mundo, ordem no pensamento. Ordem esta, descoberta na
solido da Subjetividade, pois Cincia tarefa de um s: V-se que os
edifcios empreendidos e concludos por um s arquiteto costumam ser mais
belos e mais bem ordenados do que aqueles que muitos procuraram refor-
mar, fazendo uso de velhas paredes, construdas para outros fins. Assim,
essas antigas cidades, que, tendo sido no comeo pequenos burgos, torna-
ram-se no correr do tempo grandes centros, so ordinariamente to mal
compassadas, em comparao com essas praas regulares, traadas por um
engenheiro sua fantasia numa plancie, que, [...] a ver como se acham
arranjados, aqui um grande, ali um pequeno, e como tornam as ruas curvas
e desiguais, dir-se-ia que foi mais o acaso do que a vontade de alguns ho-
mens usando da razo que assim os disps (Descartes 20, p. 42). mathesis
universalis essa Cincia universal da ordem e da medida , W. Benjamin
contrape a alegoria e a presena de esprito: a verdade no se encontra no
Sujeito, mas a um s tempo no Sujeito e no Objeto, naquele que conhece e
no que conhecido. A alegoria o mtodo para captar o mundo da mudan-
a, o da temporalidade, tanto no Drama Barroco Alemo (do sculo XVII)
quanto em Baudelaire, na modernidade. Apreender o acaso ser suscetvel
ao tempo. Assim, na obra Rua de Mo nica onde h aforismos sobre
cartazes, publicidade, placas, luminosos , encontramos uma metafsica da
transitoriedade. Esta s pode ser compreendida por uma mathesis singularis
a da iluminao profana , aquela que o Sujeito clssico no pode, com
sua lgica linear, alcanar.
Entre os fenmenos apreendidos por uma iluminao profana, Benja-
min coloca o acaso, noo que o pensamento racionalista confunde com
iluso, pois, a exemplo da conscincia emprica, a conscincia reflexiva
coloca seus objetos na realidade. Acaso pois: encontro ou desencontro.
Para design-lo, Aristteles utiliza o termo automaton o que se move por
si mesmo (cf. Aristteles 1, 195b31-198a13). A tik significa: atribui-se a
x, nomeado fortuna, a responsabilidade de uma srie causal feliz ou infeliz.
A tik oscila entre o absolutamente no necessrio (acaso) e o absolutamen-
te necessrio (destino)
(1)
.
No ensaio Destino e Carter, Benjamin reflete acerca do carter
para compreender se este capaz de forjar um destino, pois, nesse sentido,
ele seria a fatalidade, o ningum escapa a seu destino. Ningum escapa a
seu destino significa ningum escapa ao Real. E o Real o acaso. Ningum
escapa ao destino significa, pois, que ningum escapa ao acaso (cf. Rosset
33). O destino no , assim, o inelutvel, mas o inesperado. No h fatali-
dade. O mesmo ocorre com o nome que recebemos ao nascer: , ao mesmo
tempo, dado e fonte de inveno permanente. Nesse sentido o nome de um
homem seu destino, pois criamos a realidade do nome: Assim, escreveu
Benjamin, a Divina Comdia no seno a aura criada em torno do nome
de Beatriz, a mais poderosa representao de que todas as formas e figuras
do cosmos procedem do nome que permanece inclume pela fora do amor
(Benjamin 6, p. 297).
Escrever nossa prpria histria (ou a histria coletiva) no reencon-
trar o passado, mas cri-lo a partir de nosso presente, pois o passado no
estvel: o presente que polariza o acontecimento em uma pr e uma ps-
histria (idem 13, p. 586). O sentido da histria no se desvenda a um
Sujeito no processo de sua evoluo, mas na ruptura de sua continuidade
aparente, em suas fendas, acidentes e acasos, onde o sbito surgimento do
imprevisvel vem interromper seu curso. O tempo do Sujeito benjaminiano
um tempo que se desintegra e se reconstitui. Em seu ensaio sobre Proust,
Benjamin nos mostra que a obra no apresentou uma vida tal qual efetiva-
mente foi; tampouco a vida lembrada, mas aquela que foi esquecida: Arti-
cular historicamente o passado no significa narr-lo tal qual efetivamente
foi, mas assenhorear-se de uma imagem do passado tal qual ela brilha de
maneira fugidia (idem 6, p. 253; idem 10, I).
***
Por acaso ou por destino, por acaso e por destino, em Benjamin vida e
obra se correspondem. A maneira como termina sua vida confere obra
completude, completude e continuidade no lineares. O recurso
Matos, O., discurso (23), 1994: 87-108 89 88 Matos, O., discurso (23), 1994: 87-108
periodizao no garante a cronologia convencional das obras de juventu-
de e maturidade.
Considerando seus poemas e ensaios entre os anos 1910 e 1918, seu
editor italiano denominou-os Metafsica da Juventude
(2)
. Trata-se de uma
poca em que se preocupa com os movimentos da juventude, o judasmo, a
filosofia da linguagem, enfatizando a metafsica em suas interrogaes.
Benjamin publica Duas Poesias de Friedrich Hlderlin (1915), A Vida dos
Estudantes (1915), Programa da Filosofia Vindoura (1918), visando com-
binar arte e religio. De 1918 a 1923 trabalha sobre a Crtica de Arte e o
Esprito do Romantismo, publicando entre outros Romantismo, Rplica do
No Iniciado; de 1925 a 1927, constri o pessimismo como conceito his-
trico e filosfico em relao com uma esttica anticlssica, substituindo a
mmesis e a potica aristotlica pela alegoria. Elabora seus Retratos de
Cidades: Paris, Berlim, Moscou, Ibiza, Npoles, Marselha. Neles, trata anti-
kantianamente as noes de espao e tempo: as cidades tornam-se visveis
em sua desordem espacial e temporal. Entre 1929 e 1933, com a aproximao
do fim do classicismo de Weimar e a iminncia do nazismo, rene crise
poltica e crtica filosfica. Por fim no exlio, em particular o parisiense,
dedica-se arte sem aura (1933 a 1937), obra Trabalho das Passagens
(iniciada entre 1927 e 1929 e retomada entre 1934 e 1939) e sua ltima
filosofia da histria, com XVIII Teses (1940) (Witte 35; Benjamin 10).
Consideramos uma trplice periodizao nos escritos de Benjamin, e
o fazemos levando em conta a maneira pela qual o passado se transforma
em histria, convertendo-se em funo do presente de um Sujeito, em rela-
o ao momento no qual, num instante do tempo e num lugar do espao, um
discurso se engendra. Trs paradigmas portanto: o teolgico (entre 1916 e
1923); o esttico (entre 1923 e 1928) e o poltico (de Passagen Werk s
Teses de Sobre o Conceito de Histria de 1940). Porm, no paradigma est-
tico do Drama Barroco (1928), subsistem elementos do paradigma teolgi-
co, assim como o paradigma poltico domina a viso da histria e do Sujei-
to no Trabalho das Passagens, e as Teses incorporam o paradigma esttico e
o teolgico. O esttico, o poltico, o teolgico tratam de uma histria no
regida pela causalidade ou pela Conscincia Constituinte de um Sujeito,
indicando uma rea de temporalidade autnoma. O carter qualitativo do
tempo religioso e a vigilncia poltica articulam-se com a sensibilidade re-
ligiosa. H, na obra de Benjamin, a desformalizao da idia do tempo pelo
esttico, pelo poltico e pelo teolgico.
Nesse conjunto de escritos, o ano de 1924 parece constituir o centro a
partir do qual seus primeiros escritos renovam sua significao, ponto para
o qual suas reflexes parecem convergir, tanto a pr quanto a ps-histria
de seus escritos, quando passado e futuro se entrelaam num s presente,
conferindo-se mutuamente sentido. Desse modo, as reflexes benjaminianas
sobre a Histria no so novas, sendo anteriores obra Trauerspiel, como
se depreende de suas observaes Sobre a Linguagem em Geral e Sobre a
Linguagem Humana (1916). A prpria Teoria do Conhecimento, apresenta-
da na introduo ao Trauerspiel, uma teoria da linguagem maquiada em
teoria das Idias. Nela, Benjamin retoma seus primeiros escritos, presen-
tes na crtica aos poemas de Hlderlin e Sobre a Linguagem em Geral e
Sobre a Linguagem Humana. Eles, por sua vez, ressurgem no Fragmento
Teolgico-Poltico, que parece datar de 1932 (Dufour-el-Maleh 22).
Este centro virtual se constitui na seqncia das noes de idia,
origem, alegoria diversas tentativas de nomeao de seu objeto e de crti-
ca s filosofias do Sujeito, da Conscincia e da Representao (a cartesiana
e a kantiana). A realidade histrica, escreve Benjamin, possui seu coefi-
ciente prprio graas ao qual todo conhecimento autntico dessa realidade
leva o sujeito a se conhecer a si mesmo, no de um ponto de vista psicol-
gico, mas no sentido de uma filosofia da histria (Benjamin 4, II, p. 43).
Seus primeiros escritos podem parecer e a Universidade alem por isso os
recusou esotricos: Programa da Filosofia Vindoura e o prefcio ao
Trauerspiel mesclam escolstica e metafsica, Kant e Plato. Porm, o
hermetismo , aqui, o que depura e torna possvel um trabalho do conceito
sobre si mesmo, fazendo nascer a prtica da citao: a idia benjaminiana
cita a Idia platnica, a Idia kantiana, a Idia romntica, sem tratar-se de
simples reexame, sntese ou ultrapassagem
(3)
. A citao desorganiza a uni-
versalidade do campo referencial trabalhando, por vezes, com o mal-enten-
dido, oferecendo falsas pistas, ao mesmo tempo em que nos alerta contra
falsos reconhecimentos. Assim a concepo do mito: A relao que liga o
mito verdade de excluso recproca. Ambguo por natureza, o mito no
Matos, O., discurso (23), 1994: 87-108 91 90 Matos, O., discurso (23), 1994: 87-108
d lugar nem verdade nem ao erro. Como no se pode falar tampouco de
uma verdade concernente ao mito (...), no pode haver no que diz respeito
ao esprito do mito seno um puro e simples conhecimento do esprito.
Para que a verdade se instaure, preciso, antes, saber o que o mito, que se
o conhea como realidade indiferente ao verdadeiro e destruidora do verda-
deiro (Benjamin 6, p. 98; idem 9).
O Trauerspiel procura levar a termo o que fora estabelecido no ensaio
As Afinidades Eletivas de Goethe, reconciliando a idia romntica e o ideal
goethiano da arte: As idias ou ideais, na terminologia de Goethe, so a
mo fustica, permanecem obscuras at que os fenmenos as reconheam e
circundem. funo dos conceitos agrupar os fenmenos, e a diviso que
neles se opera graas inteligncia, com sua capacidade de estabelecer distin-
es, tanto mais significativa quanto tal diviso consegue em uma s e
mesma operao dois resultados: salvar os fenmenos e apresentar as idias
(idem 12, p. 57). vertigem da idia romntica, Benjamin ope o jogo
regrado de uma combinatria de idias: Do conceito romntico de crtica
procede o conceito moderno de crtica; porm, nos romnticos, a crtica
era um conceito esotrico e, no que se refere ao conhecimento, tinha suportes
msticos (...) O messianismo o corao do romantismo (idem 4, II, p.
187). E no ensaio Programa da Filosofia Vindoura, Benjamin honra Kant
mas por razes pouco kantianas e at mesmo antikantianas, pois fala em
magia crtica, associando misticismo e kantismo, como que realizando
uma regresso pr-crtica. Tambm nas primeiras pginas do Trauerspiel,
Benjamin fala de algo que prprio e pertence a todas as obras filosficas
dignas deste nome: H nelas um esoterismo de que so incapazes de se
despojar, que lhes interditado renegar, do qual no podem retirar a glria
sem pronunciar sua prpria condenao (idem 12, p. 24).
Nesse sentido, ao deter-se em Plato e Kant, Benjamin se coloca alm
de qualquer referncia veracidade ou falsidade interpretativa fundadas em
um Sujeito cognoscente: v no Belo platnico e na escrita kantiana o espa-
o de uma experincia metafsica, um lugar de reminiscncias. Em Kant
Benjamin encontra essa experincia: No sentir em Kant a luta do
pensamento que habita a prpria doutrina no apreend-lo em sua letra
como algo a transmitir, como um tradendum; com o mais extremo respeito,
ignorar o principal da filosofia. Eis por que a crtica de seu estilo filos-
fico pura e simples tagarelice (...) Estou persuadido de que a prosa de
Kant representa um limiar da grande prosa de arte. No fosse assim, a Cr-
tica da Razo Pura no teria transtornado Kleist no mais ntimo de si mes-
mo (Benjamin 4, I, pp. 139-140). A escrita um lugar de uma experincia
metafsica, alqumica: Para utilizar uma comparao, quando se olha uma
obra que cresce e uma fogueira funerria, seu comentador pode ser compa-
rado a um qumico, seu crtico a um alquimista. Enquanto o primeiro s
reconhece lenha e cinza, o segundo s se interessa pelo enigma da chama.
Assim, o crtico interroga a verdade cuja chama ardente continua a subir
acima das pesadas lenhas do passado e das rarefeitas cinzas da vida de ou-
trora (idem 6, p. 162).
Ao distinguir conhecimento e verdade, a primeira questo de raciona-
lidade analtico-cientfica, Benjamin concebe a possibilidade de um conhe-
cimento sem conscincia, no sentido que Benjamin confere a Kant: Toda
experincia autntica repousa na pura conscincia (transcendental), enten-
dida em nvel da teoria do conhecimento, se este termo for ainda aplicvel
quando se impe um abandono de todo elemento subjetivo. A pura consci-
ncia transcendental especificamente diferente de todo conhecimento em-
prico, a tal ponto que preciso perguntar se o termo conscincia aqui
pertinente
(4)
. O mesmo j ocorrera com a Teoria das Idias de Plato. Na
Premissa Gnoseolgica, Benjamin busca as demarcaes e os limites de
uma leitura racionalista de Plato, desde que h, em sua obra, o recurso a
mitos e alegorias, isto , a necessidade de ampliar essa racionalidade. Em
sua obra Mythe et Socit en Grce Ancienne, Vernant mostra como Homero
e Hesodo fixaram para os gregos um repertrio de relatos que colocam em
cena as Potncias do Alm, ao narrarem, atravs de todo tipo de desventu-
ras, sua prpria genealogia. A palavra mgica, a origem do Cosmos, cele-
brada pelo mito: Em grego, mythos designa uma palavra formulada, quer
se trate de uma narrativa, um dilogo ou enunciao de um projeto. Mythos
, pois, da origem do legein, como o indicam seus compostos mythologein,
mythologia, e no contrasta, de incio, com o logos (...) Mesmo quando as
palavras possuem uma forte carga religiosa, quando se transmitem a um
grupo de iniciados, as formas de narrativas concernentes aos deuses ou he-
Matos, O., discurso (23), 1994: 87-108 93 92 Matos, O., discurso (23), 1994: 87-108
ris, um saber secreto, interditado ao vulgo, os mythos podem tambm ser
qualificados de hieroi logoi, discursos sagrados (Vernant 34, p. 196).
Sabe-se que, no VII livro da Repblica, Plato expulsa de sua Politia
o artista, em particular, o poeta Homero e o pintor: os poetas nos mostram
os heris em excessos de fria, euforia ou tristeza, em hybris, o que poderia
propiciar a diviso interna da Repblica, arruinando a Cidade Perfeita em
Idia. O poeta um corruptor dos costumes. Quanto aos heris, tomados
pela clera, prejudicam o Estado, porque dizem palavras culpadas he-
ris tomados pela clera no respeitam as demarcaes dos deuses, desco-
nhecem o limite, extraviam-se. Dumzil diz que na mitologia indo-europia
h sempre a presena da divindade triste (Dumzil 23, pp. 90 e 124). Nos
Problemata (Aristteles 2), o texto da escola aristotlica que realizou uma
sntese entre a teoria mdica da melancolia e a concepo platnica do fu-
ror, aparecem Ajax e Bellerofonte: o primeiro, porque perde completamen-
te a razo; o outro, porque perseguia as solides. De Bellerofonte, Homero
disse: Depois de ter-se tornado odioso aos deuses, solitrio vagava pela
plancie de Alea, corroendo-se a alma, evitando a companhia dos homens
(id., ibidem, 10-B). Tambm Plato, no Fedro, distingue o furor divino da
doena, e fala na grandeza de Hracles, na tragicidade de Ajax, na solido
de Bellerofonte. A mente de Ajax convulsionada por Aten, o tormento de
Bellerofonte como xito da hostilidade dos deuses contra ele e a depresso
de Hracles tudo reenvia experincia do limite que atravessa e dilacera
o Olimpo. Nela, Zeus, senhor dos destinos, experimenta uma situao cru-
cial os limites de sua potncia. O furor que os gregos denominavam
doena sagrada, hiera nosos revela que o heri , ao mesmo tempo,
tomado por uma maldio, mas uma maldio que o sinal de sua eleio.
E ainda: aquele que possudo pelo furor escapa ao poder do prprio deus.
Que se recorde o primeiro verso da Ilada: Mnin aeid, thea,
Plaiado Achiles (A clera de Aquiles, filho de Peleu, cantai, deu-
sa). De qualquer forma, de estranhar que Plato, no Fedro, faa Scrates
afirmar: Os maiores benefcios nos vm da loucura. Paradoxo essencial,
pois Plato no est, aqui, apenas atribuindo ao patrono do racionalismo
ocidental a premissa de que melhor ser louco do que so de esprito,
doente do que ter boa sade. Mas qualifica sua afirmao, dizendo: Com a
condio que essa loucura nos seja dada por dom de deus
(5)
.
Para compreendermos o recurso de Plato ao mito, necessrio inter-
rogar, antes de mais nada, qual a importncia que ele atribua aos fatores
no racionais no comportamento humano e como os interpretava. Desde
seus dilogos de juventude quando grande discpulo de Scrates orgu-
lhava-se em regular todas as questes no tribunal da razo e compreendia
todo o comportamento humano em termos de interesse pessoal racional,
bem como dispunha da convico de que at a aret (a virtude) era essenci-
almente uma tcnica racional
(6)
. Durante os dez anos que se seguiram morte
de Scrates, retornaram a Plato certas palavras do mestre, como, por exem-
plo: A psique humana comporta algo de divino (cf. Xenofonte 36, III, 14)
e nosso principal interesse cuidar de sua sade (cf. Plato 28, 30ab).
Segundo Dodds, Plato teria efetuado uma hibridizao da tradio
racionalista grega com as idias mgico-religiosas remontando cultura
xamnica setentrional. Na Repblica, por exemplo, apenas os filsofos, ou
seja, uma poro nfima do povo, possuam dons naturais que permitiam
fazer deles os guardies do Estado (idem 30, 428e, 429a; idem 29, 69c).
Assim tambm a loucura vem por dom divino: a que inspira o profeta ou
o poeta uma verdadeira intruso do sobrenatural na vida humana. poss-
vel dizer que o recurso platnico a mitos e alegorias intervm todas as ve-
zes que a lgica discursiva, o encadeamento analtico das definies em
questes essenciais como deus, alma, vida futura, insuficiente. Expe,
ento, seu pensamento sob a forma mais oposta a seu mtodo habitual, a
dialtica. O Timeu, por exemplo, quando trata da formao do Mal, da ori-
gem dos deuses e das almas, parece apresentar argumentaes mticas de
ponta a ponta.
Desse ponto de vista, mitos contm pelo menos uma parte de verdade
e, em uma medida a ser determinada por Plato, podem constituir parte
integrante de sua Filosofia. Mas como aceitar esta idia, se sabemos que o
objeto da Cincia no comporta nenhuma possibilidade de mudana, de
transformao, e que apenas a razo, seja por intuio seja por demonstra-
o, pode atingi-la? A doxa, ao contrrio da Cincia, infinitamente vari-
Matos, O., discurso (23), 1994: 87-108 95 94 Matos, O., discurso (23), 1994: 87-108
vel e cambiante. Quer dizer, o verossimilhante, mas no o verdadeiro, apre-
senta uma infinidade de graus, por ser fugidio e mvel. Lembremos como
Plato trata os poetas e Homero na Repblica. Que se recorde ainda que, ao
tempo de Plato, Homero e tambm Hesodo e Simnides eram modelos
onde se procuravam belos exemplos, preceitos, regras de conduta. Ora, para
Plato, a imaginao suspeita onde quer que se manifeste. Mas, no Timeu,
a teoria de Deus um mito, como o da alma e a doutrina relativa imorta-
lidade. A explicao do universo no tem, nessa obra, nada de platnico.
To-somente a Teoria das Idias e a Teoria das Idias-Nmeros, que a elas
se associa e so seu desenvolvimento, podem ser consideradas platnicas.
Segundo Brochard (Brochard 17), privilegiar em Plato a prevalncia da
Teoria das Idias e das Idias-Nmeros torn-lo por demais eleata. Uma
filosofia inimiga dos mitos no trabalharia com tantos mitos. Se, na Rep-
blica, a doxa apresentada como intermediria entre a Cincia e a Ignorn-
cia, tambm o devir o intermedirio entre o ser e o no-ser. A opinio
verdadeira de grande valor e, apesar de no se confundir com a Cincia,
no parece estar muito distante dela: importante todas as vezes que no
seja possvel atingir a verdadeira Cincia, a demonstrativa. E no Fedro, Pla-
to enumera as maneiras de se chegar opinio verdadeira. So elas:
1) a inspirao potica,
2) a adivinhao,
3) o delrio proftico,
4) o amor.
Se a Cincia est para a opinio verdadeira como o ser para o devir, a
opinio verdadeira a Cincia do devir. Nesse horizonte, quando Benjamin
reflete sobre Plato, o Sujeito romntico ou clssico recorrendo alegoria,
ele o faz procurando uma escrita anterior ao Sujeito e Representao. A
escrita filosfica no , para Benjamin, a exposio da verdade, pois ela
mesma procura uma verdade que no est dada em parte alguma e da qual
no se pode antecipadamente dizer se ao final do percurso se revelar que-
le que escreve. De observador, o Sujeito torna-se lugar de passagem, limiar
aquele mesmo Sujeito que reduzido posio de Sujeito pela virtude
classificatria do juzo. Ao liberar-se do Sujeito da Representao, Benja-
min pode designar um modo da temporalidade fora das determinaes es-
pao-temporais, que escapa fantasmagoria de um tempo cronolgico,
representvel. Para apresent-lo, signific-lo, prope a alegoria: Signifi-
car, diz Benjamin, um vestgio do imitar, medium no qual se teriam
fundido as antigas capacidades de perceber semelhanas, de tal sorte que
representa, agora, o meio no qual as coisas se encontram, no como antes
no esprito do vidente ou do sacerdote , mas em suas essncias, suas subs-
tncias mais sutis e efmeras (...) e entram em relao umas com as outras
(Benjamin 14, p. 116).
O conceito benjaminiano de crtica o pressentimento de que todo
saber falho, de onde no ser possvel uma cincia crtica: Kant, cuja
terminologia no est impregnada (...) de esprito mstico, o havia, no en-
tanto, preparado quando, ao rejeitar os dois pontos de vista, o do dogmatis-
mo e o do ceticismo, a eles ops no tanto a verdadeira metafsica na qual
deveria culminar seu sistema , mas a crtica em nome da qual ela foi inau-
gurada (idem 5, p. 52; cf. idem 11). Ou seja, da crtica kantiana, Benjamin
preserva, essencialmente, sua posio mstica diante do saber, como se o
pensamento se avivasse pela ferida crtica. O misticismo de Kant , para
Benjamin, o grmen de uma Filosofia da Histria que permitiria culminar
em uma ferie dialtica, na qual os objetos rompem a indiferena com a
qual os envolvia o conceito de Representao. Benjamin excede a concei-
tuao tomada de emprstimo a Kant e, ao reinterrogar as relaes entre
conhecimento e experincia, ele o realiza a partir, justamente, do que em
Kant os tornava comensurveis: o tempo. Mas se Kant o pensa no quadro do
espao e da construo de um Sujeito, procedendo de uma necessidade l-
gica, Benjamin impacta: mostra que a unidade do objeto postulado pelo
conhecimento to-somente o conceito dogmtico da continuidade da ex-
perincia para alm do espao e do tempo. A suspenso transcendental a
crisis , esta fenda aberta por Kant no corao do Sujeito do Conhecimen-
to, torna-se, para Benjamin, a condio de possibilidade de uma autntica
cincia das lembranas. Seu ndice temporal se desprende de seu co-
pertencimento ordem do tempo e da representao. Essa falha, que abala
o idealismo transcendental, sulca todas as teorias da experincia que pre-
tendem encobri-la. Partindo de Kant, Benjamin procura metodicamente
Matos, O., discurso (23), 1994: 87-108 97 96 Matos, O., discurso (23), 1994: 87-108
encontrar seus rastros, registrando as oscilaes da modernidade entre uma
aguda conscincia do tempo e o desejo de preservar a unidade e a identida-
de do Sujeito, reconhecendo a marca de uma impossvel cicatrizao. O
recurso benjaminiano s Idias platnicas se faz visando encontrar uma es-
fera de neutralidade em relao aos conceitos de objeto e de sujeito, pois,
assim como h o fetichismo do objeto, h o fetichismo da representao. As
Idias no podem ser objeto nem de intuio nem de deduo: absoluta-
mente impossvel pensar o ser das idias como objeto de uma intuio,
mesmo que intelectual. Pois mesmo sua formulao mais paradoxal, a do
intellectus archetypus, no d conta do carter prprio verdade, a saber,
que ela um dado que escapa a toda espcie de intuio e, com mais fora,
no aparece como inteno. Enquanto o objeto do conhecimento for deter-
minado pela inteno, no a verdade. A verdade um ser sem
intencionalidade, formada a partir das idias (...) A verdade a morte da
inteno. O ser destacado de todo fenomenalismo que tem esse poder
somente o nome. ele que determina o carter de dado das idias (...) sem
t-lo perdido na comunicao, ligada esta ao conhecimento (Benjamin 12,
pp. 32-33).
Isso significa que a verdade no se transforma em conceito, o
significante em significado, em representao. Motivo pelo qual Benjamin
escreve acerca do mtodo do conhecer: O tratado uma forma rabe. Em
sua aparncia exterior, est desprovido de pargrafos e, assim, nada chama
a ateno; corresponde fachada das construes rabes cuja organizao
s comea no ptio (interno). Assim tambm, a estrutura que organiza o
tratado no visvel do exterior, s se revela do interior (idem 15, p. 188).
Esta homenagem ao tratado, reaparece no Drama Barroco: Sua primeira
caracterstica renunciar ao curso ininterrupto da inteno. Incansavelmente,
o pensamento recomea sempre e retorna laboriosamente prpria coisa
(...); este recomear lhe d um impulso sempre renovado e justifica as
intermitncias de seu ritmo (idem 12, p. 25). Este procedimento tambm
a reabilitao do trabalho do cabalista: fundindo em um mesmo elogio tra-
dio escolstica e tradio cabalstica, Benjamin busca no a autoridade
da referncia, mas a experincia de um mundo, antes de mais nada, como
livro, em uma percepo quase literria do real. Cita cabala e escolstica a
ttulo de contribuies sua reflexo sobre a linguagem e a histria. A
relao que une palavra a coisa, a vida prpria da lngua, Benjamin a define
como histria, sendo o que torna a traduo possvel. Cada palavra, por
correspondncia, no exata, mas uma constelao, um mbile de ima-
gens. Tais imagens que se erguem desprendidas de todos os laos antigos
no so como as madeleines proustianas uma oferenda milagrosa da
memria: a autntica lembrana a que, transcendendo o arbitrrio de sua
apario, sabe transform-lo em ocasio, em virtualidade, em realizao,
isto , torna-se presente, faz-se conscincia de si. Se a memria involunt-
ria de Proust nascia no narctico (tourdissement) de uma incerteza se-
melhante que se encontra por vezes em uma viso inegvel, no momento
do adormecer (Proust 31, p. 875), a lembrana benjaminiana o despertar:
Na verdade, o despertar o exemplo da lembrana, no caso de termos a
chance de nos lembrarmos do que mais prximo, mais banal, mais evi-
dente (Benjamin 13, p. 491).
O presente das imagens dialticas o de uma crise crise sem vio-
lncia, na qual Benjamin reconhece o estranhamento do que era familiar e o
espanto, esse espanto de despertarmos cada dia em um quarto novo, o que
equivale ao nascimento do olhar. Ao reunir o olhar da Melancolia, de Drer
(Drama Barroco Alemo, 1928), o olhar que contempla o sublime em Kant
(Crtica do Juzo) em Projeto de uma Filosofia Vindoura (1921), o olhar do
poeta-alegorista (Alguns Temas Baudelairianos, de 1938), o olhar proustiano
(Para uma Imagem de Proust) e o olhar do Anjo da Histria (1940), Benja-
min procura discriminar-se das frmulas da Filosofia da Representao:
tempo e histria, memria e lembrana devem ser incorporadas a uma teo-
ria do Sujeito. O divino (a linguagem admica de Algumas Observaes
sobre a Teoria da Linguagem e Doutrina das Semelhanas, 1921), o anglico
(Agesilaus Santander, 1933), o humano (intrprete dos sinais messinicos),
a lembrana involuntria (Proust) ou o instante revolucionrio (Tese VII)
so processos sem origem. Razo pela qual a alegoria mtodo digressivo:
Enquanto o smbolo, transfigurando o declnio luz da salvao, revela
fugidiamente a face de uma natureza liberada, a alegoria oferece ao olhar a
facies hippocratica da histria, como a paisagem petrificada da pr-hist-
ria (id., ibidem, p. 575). Onde o smbolo evoca o instante mstico no qual
Matos, O., discurso (23), 1994: 87-108 99 98 Matos, O., discurso (23), 1994: 87-108
se reconciliariam sentido e inteno, a alegoria se crispa na obsesso de sua
inultrapassvel separao. O objeto que o smbolo apresentava com sentido
imune, a alegoria s contempla o fragmento inerte do que foi.
Avisos, sinais, porm, postulam a transcendncia da histria: o sm-
bolo em favor de uma Naturgeschichte e na esperana de salvao; o mundo
decado da alegoria e o da salvao do smbolo so duas faces de uma mes-
ma representao da histria, tal como se pode compreender na alegoria das
teses Sobre o Conceito de Histria: Existe um quadro de Klee que se intitula
Angelus Novus. Atravs do Anjo da Histria, Benjamin revela a estreita
conjuno que une declnio e progresso. H o progresso que arrasta o anjo
para o futuro, e h as vtimas desse progresso, as runas que se acumulam
diante de seus olhos estarrecidos. O quadro de Klee representa um anjo
que parece querer afastar-se de algo que ele enfrenta fixamente. Seus olhos
esto tomados de horror, sua boca escancarada, suas asas abertas. Este deve
ser o aspecto do anjo da histria. Seu rosto se dirige para o passado. Onde
vemos uma cadeia de acontecimentos, ele v uma catstrofe nica, que acu-
mula, incansavelmente, runa sobre runa e as joga a seus ps. Ele gostaria
de deter-se para despertar os mortos e reunir os vencidos. Mas uma tempes-
tade sopra do paraso e incide to fortemente em suas asas, que no pode
mais fech-las. Essa tempestade o impele irresistivelmente para o futuro,
ao qual ele d as costas, enquanto o amontoado de runas cresce at o cu.
Essa tempestade o que chamamos o progresso (Benjamin 6, Tese IX).
Messianismo e niilismo so o quadro comum de pensadores da deca-
dncia e do progresso; no h sinal de uma boa nova no messianismo,
pois este opera negativamente, como impossibilidade radical de representar
a histria: Sabe-se que era interditado aos judeus prever o futuro. A Tor e
a orao se ensinam (...) na comemorao (id., ibidem, Tese XVIII B).
Esse niilismo inteiramente poltico. Benjamin preconiza a organizao
do pessimismo, isto , contra o idealismo moral dos social-democratas,
uma estratgia do desespero: Um relato da cabala conta que a cada segun-
do Deus cria uma infinidade de anjos; antes de desaparecerem no nada,
todos comparecem um instante diante de seu trono para cantar seus louvo-
res. O meu interrompeu seu ofcio: seus traos no ofereciam nada de hu-
mano. Fez-me pagar caro t-lo incomodado, pois aproveitou da circunstn-
cia que me fez nascer sob o signo de Saturno planeta das mais lentas
revolues, astro da hesitao e dos atrasos e, s atravs de um desvio
mais longo e funesto, reenviou a sua figura masculina, que representava o
quadro, seu duplo feminino, os anjos que no entanto estiveram to prxi-
mos (Benjamin 4). A imagem do Anjo no dialtica no sentido da repre-
sentao conceitual, mas torna-se, na medida em que pe em cena a dialti-
ca da representao, o que implica construir o olhar. A imagem s se realiza
como imagem dialtica no trabalho do historiador: As idias se referem s
coisas como as constelaes aos astros; o que significa no serem nem con-
ceitos nem leis (idem 13, p. 119). Essas constelaes so as da memria: a
lembrana comea por descrever o contexto da rememorao.
O saber do tempo como transcendental exigiu a modificao radical
da noo de experincia: a experincia do spleen, da melancolia, a ltima
defesa contra a histria naturalizada, petrificada. Sua contrapartida a aura
como doutrina da experincia: O que propriamente falando a aura? Uma
trama singular de espao e de tempo: a apario nica de um longnquo, por
mais prximo que seja. Descansando no vero, ao meio-dia, seguir a linha
de uma cadeia de montanhas no horizonte ou um ramo que projeta sua som-
bra naquele que o contempla, at que o instante ou a hora participem de sua
manifestao respirar a aura destas montanhas, desse ramo (idem 14, p.
27). O elemento central dessas observaes consiste na distino entre a
apario noo kantiana espao-temporal e a apario nica. A dialti-
ca torna-se questo de ptica, no de lgica: a imagem trabalha a represen-
tao at torn-la legvel. Assim ocorre com o ano e a boneca turca na Tese
I, que recorre teologia, o salto tigrino na Tese XIV, que rompe com a
repetio na histria, a partir do salto no cu livre da histria, o anjo na Tese
IX, os revolucionrios de 1830
(7)
atirando nos relgios pblicos na Tese XV.
Todas estas observaes de Benjamin se referem modernidade, essa poca
da subjetividade que a idade barroca, com sua desagregao da viso religi-
osa do mundo, talvez tenha inventado. Nela, a histria figura em um mes-
mo espao o martrio e a apoteose do santo. Em carta de 1923, Benjamin
relata sua estada em Basilia: Vi os originais das clebres obras grficas
de Drer: O Cavaleiro, a Morte e o Diabo, a Melancolia, o So Jernimo, e
muitos outros que por acaso estavam expostos. S agora tenho uma idia da
Matos, O., discurso (23), 1994: 87-108 101 100 Matos, O., discurso (23), 1994: 87-108
fora de Drer; sobretudo a Melancolia obra de uma expressividade
indizivelmente profunda. A seu lado, surpreende a fora primitiva de Holbein,
o Velho. E, por ltimo, o maior quadro que a se encontrava, a crucificao
de Grnewald, que me atingiu ainda mais que nos anos precedentes (Ben-
jamin 8, p. XIV). Trata-se de obras que revelam a ausncia de qualquer
consolo metafsico. Tal como no Drama Barroco, h tristeza de suas perso-
nagens e luto de seus espectadores. O Trauerspiel para o qual a Melanco-
lia de Drer o cone fundador da modernidade uma representao
que se exibe diante de seres tristes cujo cenrio coloca diante de seus olhos
o desenvolvimento catastrfico de sua prpria histria e da histria do mun-
do. Toda a dialtica benjaminiana se prende a este enigma de uma imagem
que vacila e se apaga, de um Sujeito que, a cada despertar, faz a experincia
de sua no-identidade.
A imagem dialtica no articula duas imagens a do mito e da utopia
, mas dois desejos: o do passado e o do presente. esta a situao do Anjo
da Histria: Ele os fixa com o olhar (os que jazem prostrados e vencidos)
e recua aos poucos irreversivelmente. E por qu? Para tomar o caminho do
futuro, de onde ele vem, e que conhece to bem, a ponto de o percorrer sem
se voltar e sem abandonar seu olhar daquele que elegeu. Na Tese IX, o
Anjo Melanclico um anjo barroco que se encontra na contramo da
histria, contemplando catstrofe e runas; sua viso uma alegrica expo-
sio da histria como sofrimento do mundo: A significao e a morte so
tanto o produto do desenvolvimento da histria quanto grmen, inter-rela-
cionados no estado de pecado da criatura excluda da graa divina (idem
12, pp. 178-179). Quer dizer, os melanclicos. Deste ponto de vista, a Me-
lancolia de Drer nos apresenta os instrumentos da vida ativa espalhados
no cho, inutilizados, como objetos de meditao morosa na qual se mes-
clam o saber daquele que rumina seus pensamentos e as pesquisas do eru-
dito (id., ibidem, p. 152). O esprito da tristeza no outro seno o do
demnio. Foi assim que os msticos do sculo XVI a ele se referiam. O
tirano do Drama Barroco ainda em vida est privado da razo, de sentido,
pois no v nem ouve o mundo vivo sua volta, to-somente as mentiras
que o demnio pinta em seu crebro at chegar ao delrio e perdio no
desespero. (...) Na tristeza, Sat tentador. Inicitico, faz aceder a um sa-
ber, mas o fundamento de uma conduta condenvel. Se Scrates se enga-
na ao ensinar que o conhecimento do bem leva a pratic-lo, isto ainda
mais verdadeiro para o conhecimento do mal. E este saber no (...) o
lumen naturale que surge na noite da tristeza, mas luz subterrnea (...).
Essa luz mortia ilumina, naquele que rumina seus pensamentos, o olhar
penetrante e subversivo de Sat (Benjamin 12, p. 247).
Tais observaes podem ser mais bem compreendidas nas cartas de
Benjamin. Em sua correspondncia, encontramos as razes dessa organi-
zao do pessimismo: Pretendo estudar o livro de Lukcs
(8)
e enganar-
me-ia redondamente se a discusso crtica dos conceitos hegelianos e das
asseres da dialtica contra o comunismo no manifestassem os funda-
mentos de meu niilismo (idem 4, I, p. 325). Esse niilismo, que mantm
imobilizado o Anjo da Histria, no , porm, inativo: sua imobilizao no
desmobilizao diante das vtimas do progresso: Os conceitos dos domi-
nantes sempre foram o espelho graas ao qual pde nascer a imagem de
uma ordem (idem 10, III, p. 215). O spleen baudelairiano, portador de
runas internas do poeta, inverte-se em Ideal. Para Benjamin, esse poeta-
alegorista soube considerar que o saber do tempo como um transcendental
exigia uma completa transformao do conceito de experincia. Quem a
tem: o poeta-alegorista e o Anjo alegrico. O anjo quer a felicidade: o com-
bate que leva a termo culmina no alumbramento que o acontecimento ni-
co, novo, oferece, aquele que nunca foi vivido e que se liga a esta felicidade
da repetio, da reapropriao do j vivido (idem 4). O presente designa um
modo da temporalidade que coloca o Jetztzeit sob a figura metafsica do
acaso. Razo pela qual o acaso pode ser benigno, trazer serenidade e
completude. Tal como o poeta-alegorista, o Anjo da Histria v a destrui-
o, no v nada de durvel: Eis por que em toda parte v caminhos (...).
Se o carter destrutivo faz de tudo runas, no por amor s runas, mas
pelo caminho que se desenha entre elas (idem 5, p. 396).
Abstract: This paper examines the significance of Benjamins concepts of profane enlighten-
ment and diatectical images in order to amplify the Reason of Enlightenment, in which chance
and fortune are unavoidable and upset the stability of the rationalistic project.
Key-words: chance dialectical profane enlightenment melancholy reason
Matos, O., discurso (23), 1994: 87-108 103 102 Matos, O., discurso (23), 1994: 87-108
Notas
(1) O grego automaton traduz-se pelo casus latino, de onde procede cadere, cair.
Casus possui trs significaes:
a) encontro, oportunidade, Zufall, causalidade, caso, ponto de interseco de
duas ou vrias sries causais; o fortuito deslocado do conjunto de um encade-
amento ao carter imprevisvel do encontro em pontos de certos encadeamentos:
uma telha cai sobre um passante. Em um certo ponto do tempo e do espao, duas
sries se encontram, o que significa chegar inesperadamente ao mesmo tempo;
b) contingncia (cum-tangere): deriva da idia de simultaneidade. Em filoso-
fia significa a no necessidade, a imprevisibilidade aplicada a encontros casu-
ais, a coincidncia de duas sries diferentes. Se tudo no previsvel, logo tudo
no necessrio;
c) acaso: proveniente do rabe Al-Sar, castelo da Sria, do qual se tem notcia
na Europa no sculo XII, quando Guillaume de Tiro, cronista das Cruzadas, es-
creve Historia rerum in partibus transmarinis gestarum. Al-Sar designa o nome de
um castelo e, tambm, o jogo nele praticado pelos cruzados, importado, mais
tarde, para a Europa. No Castelo do Acaso, o jogo tem por interdio qualquer
recurso externo, seja ele sorte, destino, providncia ou fatalidade. Com o tempo,
acaso passou a significar risco, perigo, situao que se furta a qualquer possibi-
lidade de controle, sendo a eventualidade de um revs. No sculo XV, o acaso o
que no pode ser avaliado pelo olhar do esprito. Acaso a possibilidade de
perda de referencial, experincia da perdio (cf. Corominas 19, II).
(2) Cf. Benjamin 8, onde se encontra uma rigorosa reconstituio da cronologia
da vida e obra do filsofo entre 1910 e 1918.
(3) A citao tira o texto do original, mas ao mesmo tempo evoca o contexto
original (Benjamin). E mais: deslocar os objetos de seu contexto significa retir-
los de uma histria que os desfigurou, em que narrativas falsificadoras inseri-
ram-se no processo de sua transmisso.
(4) Cf. Benjamin, Programa de Filosofia Vindoura. As questes discutidas na se-
qncia so significativas para a compreenso da leitura benjaminiana de Pla-
to no Drama Barroco e para a anlise do estatuto do Sujeito da Razo Histrica.
(5) Em seguida, Plato nos d quatro expresses dessa doena:
1) a demncia proftica, cujo patrono divino Apolo;
2) a demncia ritual, cujo patrono Dionisos;
3) a demncia potica, inspirada pelas musas;
4) a demncia ertica, inspirada por Afrodite e Eros.
Mas quando Plato fala da epilepsia, emprega o termo hiera nosos, porque
essa doena afeta a cabea, isto , a parte santa do homem (Timeu, B5 ab). No
Timeu, Plato cita essa doena como uma das causas que favorecem a apario
de poderes sobrenaturais. O limite entre a loucura comum e a demncia proftica
difcil de ser fixado. Plato distingue a mediunidade apolnea, aquela que
quer conhecer seja o futuro, seja o presente oculto, e a experincia dionisaca,
que buscada por ela mesma, ou como meio de cura mental, de tal forma que o
elemento mntico ou medinico no existe ou um elemento subordinado. Segun-
do Dodds (cf. Dodds 21), a mediunidade um dom raro, prprio a indivduos
escolhidos, eleitos. Quanto experincia dionisaca, essencialmente coletiva,
experincia de uma assemblia e est longe de ser rara, pois altamente conta-
giosa. Os mtodos diferem tanto quanto os fins: as duas grandes tcnicas
dionisacas o uso do vinho e da dana religiosa no desempenham nenhum
papel na produo do xtase apolneo, medinico. Em Delfos, e parece que na
maior parte de seus orculos, Apolo no produzia vises, mas o entusiasmo. A
Ptia tornava-se entheos plena do deus.
(6) Segundo Dodds, diversos acontecimentos na Atenas do sculo V ao sculo IV,
levaram Plato a afastar-se dessa modalidade de racionalismo, transformando
seu sentido e dando-lhe uma dimenso metafsica: A transio do V ao IV sculo
foi marcada (...) por acontecimentos que induziram qualquer racionalista a
reexaminar sua f. A runa moral e material qual poderia ser conduzida uma
sociedade pelo princpio do interesse pessoal racional, o destino de Atenas impe-
rial foi uma demonstrao: o que este princpio podia fazer de um indivduo,
tornou-se evidente no destino de Crtias, Crmide e dos outros tiranos. Por outro
lado, o processo de Scrates oferecia o estranho espetculo do mais ilustre sbio
da Grcia, no momento decisivo de sua vida, zombando deliberadamente e gra-
tuitamente deste princpio, pelo menos no sentido em que o mundo o entendia
(Dodds 21, pp. 206-207).
(7) A maioria dos comentadores diz tratar-se da Revoluo Francesa. Nas Passagen
Werk, no entanto, Benjamin se refere revoluo de 1830. Para o filsofo, a
Matos, O., discurso (23), 1994: 87-108 105 104 Matos, O., discurso (23), 1994: 87-108
Revoluo Francesa se fez na conciliao entre interesses burgueses e proletri-
os, deu-se num continuum temporal, tempo dos relgios; o calendrio rompe com
a repetio, pois seus dias o so de rememorao. Diferentemente da tirania do
tempo abstrato dos relgios, o calendrio marcado por interrupes. As horas
do relgio so regulares; as do calendrio calculam de outra forma. Os dias de
rememorao constituem, no calendrio, um gesto talvez o ltimo, na lgebra
temporal, ou o primeiro na ordem da interrupo-criao.
(8) Trata-se de Histria e Conscincia de Classe.
Bibliografia
1. Aristteles. Physics. In: The Works of Aristotle. Oxford, Clarendon Press,
1948.
2. _______. Problmes (Problemata), XXX, 1, LHomme de Gnie et la
Mlancolie. Paris, ed. Rivages Roche, Petite Bibliothque, 1988.
3. Benjamin, W. Charles Baudelaire. Paris, Payot, 1982.
4. _______. Correspondance, 2 vol. Paris, Aubier, 1969.
5. _______. Gesammelte Schriften, 1, 1. Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1973.
6. _______. Illuminationen. Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1980.
7. _______. Immagini di Citt. Torino, Einaudi, 1971.
8. _______. Metafisica della Giovent. Torino, Einaudi, 1982.
9. _______. Mythe et Violence. Paris, Denol, 1971.
10. _______. Obras Escolhidas, I (1985), II (1987), III (1989). So Paulo,
Brasiliense.
11. _______. O Conceito de Crtica de Arte no Romantismo Alemo. Tradu-
o de Mrcio Seligmann-Silva. So Paulo, Iluminuras/Edusp, 1993.
12. _______. Origem do Drama Barroco Alemo. So Paulo, Brasiliense,
1984.
13. _______. Passagen Werk, II vol. Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1982.
14. _______. Posie et Rvolution. Paris, Denol.
15. _______. Sens Unique. Paris, Les Lettres Nouvelles, 1978.
16. Bergamo, M. La Science des Saints: Le Discours Mystique au XII Sicle
en France. Grenoble, ed. Jrme Millon, 1992.
17. Brochard, V. tudes de Philosophie Ancienne et Philosophie Moderne.
Paris, Vrin, 1966.
18. Certeau, M. de. La Fable Mystique au XVI et XVII Sicle. Paris,
Gallimard, 1982.
19. Corominas, J. Diccionario Crtico-Etimolgico de la Lengua Castellana.
Ed. Gredos, 1954.
20. Descartes. Discurso do Mtodo. So Paulo, col. Os Pensadores, Abril
Cultural, 1973.
21. Dodds, E. Les Grecs et lIrrationnel. Paris, Flammarion, 1977.
22. Dufour el Maleh, M.C. Angelus Novus. Paris, Ousia, distribuio Vrin,
1990.
23. Dumzil, G. Mythe et Epope. Paris, Gallimard, 1971.
24. Fabre, P.A. Les Frontires Rligieuses en Europe du XV au XVII Sicle.
Paris, Vrin, 1992.
Matos, O., discurso (23), 1994: 87-108 107 106 Matos, O., discurso (23), 1994: 87-108
Sartre: Passagem da Psicologia
Fenomenologia*
Luiz Damon Santos Moutinho**
Resumo: Este texto investiga a passagem sartriana filosofia primeira. O mrito maior da feno-
menologia a superao da querela entre realismo e idealismo ser comprometido pelo pensa-
mento ulterior de Husserl, caracterizado como idealista. Recusando o conceito de noema irreal,
Sartre procurar retomar os verdadeiros princpios da fenomenologia, reinaugurando o discurso
da filosofia primeira.
Palavras-chave: Sartre psicologia fenomenologia conscincia intencionalidade imagem noema
I
Aps os primeiros ensaios de psicologia, escritos durante os anos 30,
Sartre, j em 1943, aparece com um ensaio de ontologia fenomenolgica,
obra que, apenas por esse subttulo, muda o tom em relao s anteriores.
Isso resulta, para Spiegelberg por exemplo, numa seqncia surpreendente
cuja conexo no parece clara; Sartre, diz ele, oferece poucos indcios
25. _______. Ignace de Loyola: Le Lieu de lImage. Paris, Vrin/EHESS, 1992.
26. Horkheimer et allii. Horkheimer, Adorno, Marcuse, Benjamin, Habermas.
So Paulo, col. Os Pensadores, Abril Cultural, 1973.
27. Morel, G. Le Sens de lExistence selon S. Jean de la Croix. Paris, Aubier,
1960.
28. Plato. Apologia de Scrates. So Paulo, col. Os Pensadores, Abril Cul-
tural, 1972.
29. _______. Fdon. Paris, Belles-Lettres, 1926.
30. _______. Republique. Paris, Belles-Lettres, 1956.
31. Proust, M. Le Temps Retrouv. III vol. Paris, Pliade.
32. Rosa, A. La Cultura della Contrariforma. Bari, Laterza, 1988.
33. Rosset, C. A Anti-Natureza: Elementos para uma Filosofia Trgica. Rio
de Janeiro, ed. Espao e Tempo, 1989.
34. Vernant, J.-P. Mythe et Socit en Grce Ancienne. Paris, Maspero, 1974.
35. Witte, Bernd. Einfhrung in Leben und Werk. Hamburgo, Rowohlt
Tasehenbuch Verlag, 1985.
36. Xenofonte. As Memorveis. So Paulo, col. Os Pensadores, vol. Scra-
tes, Abril Cultural, 1972.
108 Matos, O., discurso (23), 1994: 87-108 discurso (23), 1994: 109-148
* Este texto, adaptado s circunstncias, parte de um trabalho mais amplo sobre Psicologia e
Fenomenologia em Sartre.
** Aluno de Ps-Graduao do Departamento de Filosofia da Universidade de So Paulo.
explcitos para a conexo em sua obra na sua surpreendente seqncia
(Spiegelberg 14, p. 471).
Para que compreendamos essa passagem, talvez valha a pena comear
lembrando a distino entre psquico e transcendental, estabelecida desde
1934, no Essai sur la Transcendance de lEgo. Essa distino sofreu algumas
mudanas, medida que novos conceitos surgiam; mas ela mesma, enquanto
tal, permaneceu, reafirmando sempre, de um lado, o psquico, objeto da
psicologia, e de outro, o transcendental, objeto da fenomenologia. No cabe
aqui apontar as transformaes que essa distino sofreu, mas apenas lembrar
o papel fundante que, para Sartre, a fenomenologia sempre teve: De uma
maneira geral o que lhe interessa ( Psicologia) o homem em situao.
Enquanto tal, ela (...) subordinada fenomenologia, pois um estudo
verdadeiramente positivo do homem em situao deveria elucidar de incio
as noes de homem, mundo, ser-no-mundo e situao (Sartre 8, p. 17). A
psicologia no pode ser um comeo, pela simples razo de que os fatos
psquicos tambm no o so: Eles so, em sua estrutura essencial, reaes
do homem contra o mundo; supem portanto o homem e o mundo e no
podem tomar seu sentido verdadeiro a no ser que se tenham de incio elu-
cidado essas duas noes (id., ibidem, p. 13). Essa elucidao, por sua vez,
cabe fenomenologia: Se queremos fundar uma psicologia, precisaremos
ir alm do psquico, alm da situao do homem no mundo, at a fonte do
homem, do mundo e do psquico: a conscincia transcendental e constitu-
tiva que alcanamos pela reduo fenomenolgica (id., ibidem).
Contudo, embora conceda fenomenologia esse papel de prima
philosophia, nosso filsofo no sai do terreno da psicologia. A pelos anos
30 desenvolve apenas, como um bom discpulo de Husserl, uma psicologia
fenomenolgica da imaginao e um esboo de uma teoria fenomenolgica
das emoes. Assim, por exemplo, em A Imaginao, aps mostrar as in-
suficincias da psicologia introspectiva e reclamar uma psicologia eidtica,
ele diz: a ele (Husserl) que vamos pedir, agora, para guiar nossos pri-
meiros passos nesta cincia difcil (idem 12, p. 95). Reclamando a influn-
cia husserliana, Sartre dedica-se portanto quela rea do saber cujo sentido
depende de outra, desenvolvida por Husserl.
Essa imagem de bom discpulo deve contudo ser nuanada. Afinal,
j em Essai, Sartre pretende fazer reparos ao Eu transcendental de Ideen,
ainda que para estabelecer a conscincia no-egolgica das Investigaes;
em A Imaginao, tem dificuldade em aceitar o noema irreal, por no ver
como distingui-lo da imagem. Entretanto, essas objees no representam
ainda uma dificuldade a ponto de se tornar necessrio reescrever a cincia
da conscincia pura transcendental (Sartre 12, p. 97), que como lhe apa-
rece a fenomenologia. verdade que na Concluso de LImaginaire passa
ao plano do transcendental, quando se coloca a questo de saber se imagi-
nar uma especificao contingente ou essencial da conscincia; mas trata-
se a de resolver um problema no devidamente enfrentado por Husserl.
Ora, o que vai ocorrer mais tarde, e causar espcie a Spiegelberg, que em
Ltre et le Nant precisamente toda a fenomenologia que est em ques-
to, toda ela que reescrita. Sartre se coloca de vez no plano da fenome-
nologia pura, desenvolvendo ele mesmo aquela cincia da conscincia pura
transcendental! E de fato: em Esquisse, citamos acima, aparece como tare-
fa da fenomenologia a elucidao das noes de homem, mundo, ser-no-
mundo e situao, exatamente a elucidao de que Ltre et le Nant pro-
cura se desincumbir: Qual a relao sinttica que chamamos o ser-no-
mundo? (...) Que devem ser o homem e o mundo para que a relao seja
possvel entre eles? (idem 10, p. 38).
Assim, temos, de um lado, as primeiras obras como exerccios de psi-
cologia fenomenolgica; a essa altura, apesar de algumas observaes
fenomenologia de Husserl, esta parece contudo fornecer os instrumentos
bsicos ao desenvolvimento da psicologia. Ela j aquela cincia da cons-
cincia pura transcendental. De outro lado, temos Ltre et le Nant se
propondo responder precisamente quelas questes fundantes da Psicologia
e que so objeto mesmo da cincia da conscincia
(1)
. Ora, o que aconte-
ceu nesse percurso? O que se passou com a fenomenologia de Husserl (e,
certamente, tambm a de Heidegger), que se tornou necessrio reescrev-
la? Por que, alm disso, tomou ela a forma de uma ontologia?
Moutinho, L.D.S., discurso (23), 1994: 109-148 111 110 Moutinho, L.D.S., discurso (23), 1994: 109-148
II
Em A Imaginao, a fenomenologia de Husserl parece fornecer os
instrumentos necessrios para a elaborao e desenvolvimento das cincias
positivas. Entretanto, apenas parece. Porque no sem considerandos que
Sartre apresenta esse grande acontecimento da filosofia (Sartre 12, p.
97); j a, ele detecta alguns problemas que dizem respeito, ao final das
contas, noo de objeto intencional.
Num primeiro momento, ele procura estabelecer a posio fundante
da fenomenologia, e estabelec-la em condies diversas daquelas do Essai,
de modo que se torne possvel a constituio de uma psicologia fenome-
nolgica ainda ignorada em 1934. Com Husserl, temos finalmente um m-
todo uma experincia privilegiada que nos pe imediatamente em
contato com a lei (id., ibidem, p. 95), isto , com a essncia, base daquela
psicologia. Entretanto, Husserl no se contenta em nos fornecer um mto-
do (id., ibidem, p. 99); ele lana ainda as bases para uma nova psicolo-
gia. Essas bases so, de incio, o conceito de intencionalidade e a recusa
do conceito de representao, sua conseqncia mais bvia para Sartre:
O psicologismo, partindo da frmula ambgua o mundo nossa represen-
tao, faz com que se desvanea a rvore que percebo em uma mirade de
sensaes, de impresses coloridas, tcteis, trmicas etc., que so repre-
sentaes (id., ibidem). Que se lembre aqui da filosofia alimentar, di-
gestiva, e o Esprito-Aranha que atrai as coisas para sua teia, cobrindo-as
de uma baba branca e reduzindo-as sua prpria substncia (idem 11, p.
29). Husserl, entretanto, estabelecendo uma distino radical entre a cons-
cincia e aquilo de que se tem conscincia, comea por colocar a rvore
fora de ns (idem 12, p. 99).
A essa altura, a hyl no oferece problemas: ela sem dvida con-
tedo de conscincia, mas no o objeto da conscincia: Certamente, ele
(Husserl) no nega a existncia de dados visuais ou tteis, que fazem parte
da conscincia como elementos subjetivos imanentes. Mas eles no so o
objeto: a conscincia no se dirige para eles; atravs deles visa coisa exte-
rior (Sartre 12, p. 99). Aqui, um pequeno parntese: trata-se exatamente
de coisa exterior: mesmo quando, e isso desde o Essai, o objeto intencional
aparece como unidade ideal de uma infinidade de aspectos, esse obje-
to, paradoxalmente, no seno a coisa exterior, o objeto espao-temporal
(idem 9, p. 33)
(2)
! Assim, a hyl convive aqui com a coisa em carne e osso:
espcie de quase vermelho, sobre ela se aplica a inteno que se trans-
cende e procura atingir o vermelho que est fora dela (idem 12, p. 100).
De todo modo, o mrito da intencionalidade assegurado, uma vez que a
hyl no representa o inerte que o associacionismo humiano introduz na
conscincia. Ainda que impresso subjetiva, ela no uma impresso
enfraquecida (id., ibidem, p. 87): a hyl no guarda trao de opacidade
porque ela no representao, porque no duplica; ela apenas uma
matria subjetiva que perfila a cor, a superfcie etc. Ainda que conte-
do de conscincia, ela o ultrapassado em favor do objeto, a inteno se
dirige para fora, para a rvore fora de ns, exterior, espao-temporal.
Ora, esse mesmo esquema vale tambm para a imagem. Como em
uma percepo, distinguir-se- uma inteno imaginante e uma hyl que a
inteno vem animar (id., ibidem, p. 100). Quanto imagem, ela deixa
de ser um contedo psquico; ela no se acha na conscincia a ttulo de
elemento constituinte (id., ibidem). O objeto, destacado da hyl, situa-se
fora da conscincia tambm aqui. Conforme citao de Ideen, o centauro
em si mesmo no , naturalmente, nada de psquico, ele no existe na alma
nem na conscincia, nem em parte alguma; no existe absolutamente, em
seu todo inveno (id., ibidem)
(3)
. Com isso, a imagem deixa de ser con-
tedo inerte e torna-se ato: Conscincia una e sinttica em relao com
um objeto transcendente. A imagem de Pedro no mais um Pedro em
formato reduzido, mas uma forma organizada de conscincia que se rela-
ciona, sua maneira, a Pedro (id., ibidem). Forma organizada de mesmo
tipo daquelas que se dirigem a quadros, desenhos, fotos, ditas imagens
externas: Se a imagem torna-se uma certa maneira de animar um con-
tedo hiltico, poder-se- muito bem assimilar a apreenso de um quadro
como imagem apreenso intencional de um contedo psquico (id.,
ibidem, p. 101), como o caso da imagem que formo de meu amigo Pedro.
Moutinho, L.D.S., discurso (23), 1994: 109-148 113 112 Moutinho, L.D.S., discurso (23), 1994: 109-148
E certamente: a imagem sendo ato, forma de conscincia, em nada impede
essa aproximao, para alm da diversidade das matrias (Sartre 13, p.
42). A famlia da imagem se alarga, se diversifica, como espcies de um
mesmo gnero (id., ibidem, p. 45). assim que a apreenso de uma gua-
forte de Drer tambm imagem; na verdade, posso apreender essa gua-
forte de duas maneiras diferentes: pela percepo normal, onde o correlato
a coisa gravura, ou pela contemplao esttica, onde nos dirigimos para
as realidades representadas em imagem, mais exatamente, para as realida-
des imagificadas, o cavaleiro de carne e osso etc. (idem 12, p. 101)
(4)
.
Nesse caso, a hyl indubitavelmente a mesma, na apario esttica e na
pura e simples percepo. A diferena se acha antes na estrutura intencio-
nal: a tese recebeu, na apario esttica, uma modificao de neutrali-
dade. De onde a concluso de que a matria, isto , a hyl insuficiente
para distinguir imagem e percepo; preciso pensar antes no modo de
animao da matria (id., ibidem).
Essa distino, contudo, diz respeito percepo e s imagens externas;
necessrio abordar ainda a imagem mental, e abord-la perguntando eviden-
temente por sua hyl. Ser esta a mesma que a da percepo? Quando formo
a imagem de Pedro, a hyl a mesma de quando o percebo? Parece que
dessa vez apenas a estrutura intencional ser insuficiente, pois se fossem
as matrias idnticas seria preciso convir que a imagem mental apareceria
aqui como sensao renascente, de base sensvel, numa palavra, coisificada.
Segundo Sartre, h motivos para desconfiar de que assim para Husserl;
por exemplo, quando ele toma a rememorao como implicando a reiterao,
ainda que em uma conscincia modificada, de todos os atos perceptivos
originais: a imagem-lembrana aparece portanto como uma conscincia
perceptiva modificada, isto , afetada por um coeficiente de passado; desse
modo, a lembrana de um teatro iluminado outrora percebido implica a
reproduo da percepo do teatro iluminado (id., ibidem, p. 102; grifos
nossos). Ou, ainda, quando concede imagem a funo de preencher
saberes vazios: Se penso em uma cotovia, posso faz-lo no vazio, isto ,
produzir apenas uma inteno significante fixada sobre a palavra cotovia.
Mas, para preencher essa conscincia vazia e transform-la em conscincia
intuitiva, indiferente que eu forme uma imagem de cotovia ou olhe uma
cotovia de carne e osso (Sartre 12, p. 102). A imagem aqui parece possuir
uma matria impressional concreta, ser um cheio, como a percepo.
Se isso admitido, o problema se agravar ainda mais quando for
operada a reduo fenomenolgica: com ela, surgiro dificuldades que tor-
naro a distino entre imagem mental e percepo ainda mais difcil. As
dificuldades se colocam na medida em que o noema aparece como irreal.
Sartre faz igualar esse irreal, no plano fenomenolgico, com o que, j an-
tes, sabia do centauro imaginado, tambm irreal: Agora a coisa rvore foi
posta entre parnteses, no a conhecemos mais seno como o noema de
nossa percepo atual; e, como tal, este noema um irreal, assim como o
centauro (id., ibidem, p. 103; grifos nossos). Centauro que tambm no
nada, que tambm no existe em lugar nenhum (id., ibidem)
(5)
. Ora, ocorre
que, antes da reduo, encontrvamos nesse nada mesmo um meio para
distinguir a fico da percepo (id., ibidem): a rvore em flor estava a,
coisa espao-temporal; j o centauro no estava em parte alguma, nem em
mim, nem fora de mim (id., ibidem). Claro que o problema se coloca tendo
por pressuposto que a ambivalncia hiltica, antes observada, se repete
aqui (antes, ela significava o fato de que gravuras, fotos etc., podem ser
percebidas como coisas ou contempladas esteticamente). Supondo agora
que a imagem mental sensao renascente, e que portanto agora sua hyl
a mesma da percepo, nosso problema se agrava com a reduo
fenomenolgica na medida em que ambos, rvore e centauro, aparecem
agora como irreais; j no temos a rvore em flor que podamos estreitar,
tocar etc. E Sartre entende que assim parece ser para Husserl, quando este
fala, por exemplo, em apario ora caracterizada como realidade em carne
e osso, ora como fico, no interior do plano fenomenolgico: como se
se tratasse de intenes diferentes animando uma mesma matria, isto ,
como se bastasse a inteno para diferir carne e osso de fico.
Parece assim que o prprio Husserl vtima da iluso da sensao
renascente. Husserl que, no primeiro momento, parecia ter-se afastado dessa
concepo (que Sartre denomina iluso de imanncia: nosso hbito de
pensar a conscincia em termos de espao). Afinal, foi Husserl mesmo quem
distinguiu imagem externa e percepo pelas intenes, e no pelas matrias,
estabelecendo assim uma distino intrnseca que nada tinha que ver com
Moutinho, L.D.S., discurso (23), 1994: 109-148 115 114 Moutinho, L.D.S., discurso (23), 1994: 109-148
a intensidade humiana. Husserl, contudo, parece se mostrar vtima daquela
iluso na medida em que repete essa mesma concepo, vlida para as
imagens externas, para o caso da imagem mental. Parece agora que a
distino no pode estar apenas na estrutura intencional, ou, por outra,
parece que a identificao das matrias no pode ser feita, a menos que eu
acredite poder animar uma hyl como percepo ou imagem a meu bel-
prazer: Desde que se trate de uma imagem mental, cada qual pode verificar
que impossvel animar sua hyl para fazer dela a matria de uma percepo
(Sartre 12, p. 104). Ser necessrio afirmar, portanto, para alm da diferena
das intenes, a diferena das matrias, e isso aparentemente contra Husserl,
apontando positivamente qual a matria da imagem mental. Observe o leitor
que o problema da imagem aparece em Sartre condicionando integralmente
sua colocao do problema do noema, de modo que a soluo daquele forar
a retomar esse ltimo, levando soluo distinta daquela de Husserl.
III
A hyl da imagem mental ser caracterizada em LImaginaire. a
essa obra que a concluso de A Imaginao remete e, j um pouco antes, ao
terminar o captulo sobre Husserl, e enumerando os problemas que devero
ser tratados na obra seguinte, Sartre destaca entre eles o problema da hyl:
Enfim, e principalmente, ser preciso estudar a hyl prpria da imagem
mental (id., ibidem, p. 105). J sabemos que a famlia da imagem envolve
desde a psquica at as imagens externas, tais como retratos, caricaturas,
imitaes, desenhos esquemticos, manchas em muros etc. Em quaisquer
dos casos, a conscincia imaginante ser sempre conscincia de um objeto
em imagem, e no conscincia de uma imagem (idem 13, pp. 171-172). Se
quero me voltar para o ato imagem, preciso refletir: A imagem como
imagem no descritvel seno por um ato de segundo grau pelo qual o
olhar se volta do objeto para se dirigir maneira pela qual esse objeto
dado (Sartre 13, p. 15). Essa reflexo no outra que a reflexo eidtica,
no plano da psicologia.
Assim, preciso, de incio, pr-se de acordo quanto a isso: uma repre-
sentao mental, uma fotografia e uma caricatura que tm por objeto meu
amigo Pedro so maneiras diferentes de visar ao mesmo objeto, que no
nem a representao, nem a foto, nem a caricatura: meu amigo Pedro
(id., ibidem, p. 41). A hyl termo que no aparece em LImaginaire, sendo
traduzido sempre por matria , nos dois ltimos casos, um objeto fsi-
co, que pode ser percebido por si mesmo (id., ibidem, p. 42): a foto e a
caricatura. Essa hyl, quando animada por uma inteno imaginante, tor-
na-se um analogon; assim, eu me sirvo de uma certa matria que age como
analogon, como um equivalente da percepo (id., ibidem); ela no deve
ser qualquer, mas deve apresentar alguma analogia com o objeto em ques-
to (id., ibidem, p. 45). O analogon portanto a matria mesma, mas ani-
mada e, nessa medida, representante do objeto.
Ora, todo o captulo A Famlia da Imagem no seno uma descrio
reflexiva desse analogon para o caso daquelas imagens externas; a descrio,
que comea com o retrato e termina com a imagem hipnaggica
(6)
, segue o
critrio em que o analogon progressivamente diminudo nas suas qualida-
des representativas, fazendo crescer com isso o trabalho da conscincia, via
movimento, saber e afetividade: medida que a matria da conscincia
imaginante se afasta da matria da percepo, medida que ela se penetra
mais de saber, sua semelhana com o objeto da imagem se atenua. Um fen-
meno novo aparece: o fenmeno de equivalncia. (...) O movimento ser
hipostasiado como equivalente da forma, a luminosidade como equivalente
da cor (id., ibidem, p. 107). Com o empobrecimento da matria, o saber
cresce em importncia e a inteno ganha em espontaneidade (id., ibidem,
p. 108). Assim, num crescendo, quando se chegar imagem mental, por sua
matria no ter exterioridade, ela dever aparecer como espontaneidade
plena. Mas isso tambm implicar em que, quando se chegar imagem
mental, a prpria reflexo no possa mais ser operada dada a no ex-
terioridade da matria. E de fato: naqueles primeiros casos, quando a cons-
cincia propriamente imaginante se esvanecia, restava um resduo sensvel
Moutinho, L.D.S., discurso (23), 1994: 109-148 117 116 Moutinho, L.D.S., discurso (23), 1994: 109-148
que se podia descrever: era a tela pintada ou a mancha do muro (Sartre 13,
p. 111). Dessa vez, contudo, a reflexo aniquila, junto conscincia
imaginante, a matria que lhe servia de analogon: No permanece resduo
que se possa descrever, encontramo-nos em face de uma outra conscincia
sinttica que nada tem em comum com a primeira (id., ibidem, p. 112). Por
conta disso, ser preciso abandonar o terreno seguro da descrio feno-
menolgica e voltar psicologia experimental (id., ibidem), ou, se se quiser,
ser preciso abandonar o terreno do certo e passar ao do provvel.
Ora, com isso nosso problema parece se complicar, pois, afinal, con-
forme sabemos, a hyl da percepo aparece sempre acessvel reflexo:
Cada Erlebnis feita de tal forma, que existe uma possibilidade, em
princpio, de dirigir o olhar para ela e para os seus componentes reais ou,
numa direo oposta, para o noema, diz Sartre citando Husserl (idem 12,
p. 103)
(7)
. J a hyl da imagem mental, ao contrrio, por ser puramente
psquica, no resiste reflexo. Perdemos, assim, qualquer possibilidade de
uma resposta positiva acerca de uma possvel ambivalncia hiltica entre
percepo e imagem mental.
Mas ser de fato assim? Pela razo mesma dessa impossvel compara-
o no encontramos uma resposta bastante que ateste a inexistncia daque-
la ambivalncia hiltica? Parece que sim, e para isso basta que nos lembre-
mos de que, se a hyl da imagem mental contedo psquico, verdade
tambm que ela transcendente, e isso assegurado ainda no terreno do
certo; essa transcendncia afirmada dada a necessidade para a matria
da imagem mental de ser j constituda em objeto para a conscincia (idem
13, p. 110). Ora, precisamente essa transcendncia que inexiste na hyl da
percepo. Trata-se, nesse caso, de elementos subjetivos imanentes: so da-
dos visuais ou tcteis que fazem parte da conscincia como elementos sub-
jetivos imanentes, mas que no so o objeto (idem 12, p. 99). Essa ima-
nncia da matria da percepo, por seu lado, o avesso do carter passivo
da percepo, por oposio ao carter espontneo da imagem mental, na
qual a matria inteiramente constituda, produto de nossa livre esponta-
neidade: Uma conscincia perceptiva se aparece como passividade. Ao con-
trrio, uma conscincia imaginante se d a si mesma como conscincia
imaginante, isto , como uma espontaneidade que produz e conserva o ob-
jeto em imagem (Sartre 13, p. 35). A espontaneidade vai aqui ao ponto de
constituir uma matria psquica transcendente que funciona como analogon.
Ora, isso no razo bastante para se afirmar uma dessemelhana entre as
duas matrias?
No, de fato no. Basta que consideremos o caso anterior, a gravura
de Drer. A hyl da percepo imanente, e isso atesta bastante a passivida-
de da percepo. Entretanto, se tomamos essa mesma gravura como ima-
gem, na qual a hyl se mantm, j no podemos mais falar de imanncia. De
fato, a espontaneidade mesma da imagem, na medida em que anula a passi-
vidade da percepo, anula igualmente a hyl enquanto imanncia: toda
matria de toda imagem transcendncia. mesmo porque, quando se re-
fere reflexo a propsito da imagem externa, Sartre fala no de resduos
impressionais, mas de um resduo sensvel que no seno a prpria tela
pintada ou mancha do muro: tambm aqui o contedo transcendente se ani-
quila com a reflexo, como ocorre no caso da imagem mental; da por que
precisamos refazer certos movimentos, deixar novamente agir sobre ns
as linhas e as cores (id., ibidem, p. 111), numa palavra, reconstituir o
analogon! A partir daqui foroso concluir que imanncia num caso e trans-
cendncia no outro no so garantias de dessemelhana entre as matrias.
De qualquer forma, ainda que a natureza da hyl da imagem mental
seja mera hiptese, pode-se assegurar com certeza no ser ela de base sen-
svel. Em LImaginaire a vez de objetar a Husserl, que aparece agora como
vtima de fato, no apenas suspeito (como ocorria em A Imaginao), da
iluso de imanncia. Sartre cita novamente as Investigaes e retoma a
tese do preenchimento (Erfllung): Se penso andorinha, por exemplo,
posso ter de incio apenas uma palavra e uma significao vazia no esprito.
Se a imagem aparece, faz-se uma nova sntese e a significao vazia torna-
se conscincia plena de andorinha (id., ibidem, p. 118). Essa tese, segundo
Sartre, chocante. A objeo a ela feita pela lembrana de que a ima-
gem ela mesma uma conscincia; ao invs de preenchimento de significa-
o, trata-se antes de significao degradada, descida ao plano da intui-
o (id., ibidem, p. 64). Assim, na imitao, por exemplo, se os elementos
propriamente intuitivos so pobres, eles sero substitudos pela afetividade,
de modo a realizar o objeto em imagem (id., ibidem, p. 63): h aqui mu-
Moutinho, L.D.S., discurso (23), 1994: 109-148 119 118 Moutinho, L.D.S., discurso (23), 1994: 109-148
dana de natureza, no preenchimento (Sartre 13, p. 64). E precisamente
isso o que ocorre com a imagem mental, de modo que Sartre aponta aqui
como analogon as impresses cinestsicas, mais amplamente os movimen-
tos, o objeto afetivo (id., ibidem, p. 161), a palavra (id., ibidem, p. 169)
etc., nunca dados visuais ou tcteis. Assim, por exemplo, quando fecho
os olhos e trao um 8 com o indicador: uma forma ser visualizada irre-
almente sobre a impresso cinestsica real (id., ibidem, p. 158).
Ora, a que nos levou tudo isso? Sem dvida, levou-nos bem alm da-
quela aparncia de resposta (idem 12, p. 104) que A Imaginao levan-
tou, e que consistia apenas em apontar uma sntese passiva para a percepo
e uma sntese ativa para a imagem, explicao que, de resto, Sartre subscre-
via inteiramente. E continuou a faz-lo em LImaginaire; apenas dessa
vez procurou mostrar em que consiste de fato a matria da imagem mental.
Entretanto, lcito perguntar: isso responde integralmente aos problemas
levantados em A Imaginao? Basta simplesmente mostrar a hyl desprovi-
da de carter sensvel para que aqueles problemas tenham sido resolvidos?
Aparentemente, sim. Havia de incio a observao de que Husserl pa-
recia supor uma ambivalncia hiltica entre percepo e imagem mental;
por conta dessa ambivalncia, colocava-se a dificuldade adicional em se
distinguir uma coisa da outra no plano fenomenolgico. Assim, desde que
se mostre a dessemelhana das matrias, tudo de fato parece resolvido. En-
tretanto, devemos nos lembrar de que se a ambivalncia hiltica apareceu
como um problema ela supe ser a imagem mental uma sensao renas-
cente , esse problema se agravou com a reduo fenomenolgica, e se
agravou porque um elemento novo foi introduzido: o noema irreal. Afinal,
antes da reduo, sabamos, malgrado aquela ambivalncia, distinguir uma
coisa da outra: agora, uma vez feita a reduo, j no sei distinguir o
centauro que imagino da rvore em flor que percebo (id., ibidem, p. 103).
Esse elemento novo parece constituir-se aqui num problema a mais: agora a
prpria rvore, coisa do mundo, aparece como irreal: eis aqui a outra face
do problema. Se a distino das matrias resolve a questo da hyl da ima-
gem mental, ela deixa intacto o problema do noema da percepo no interi-
or do plano fenomenolgico, pois ele tornado irreal como o centauro que
imagino. Ou, por outra: a soluo at aqui diz respeito diferena entre
imagem e percepo na atitude natural; no resolve a questo no plano
fenomenolgico, pois, mostradas as matrias dessemelhantes, o noema per-
siste como irreal, tal como o centauro. Evidentemente, esse problema se
coloca uma vez feita a reduo. Talvez consigamos uma boa pista para
aclarar a nossa questo se comearmos seguindo a trilha da reduo, a ma-
neira pela qual ela aparece na obra de Sartre.
IV
(A) No Essai, a reduo s pode ser entendida luz da distino prvia
estabelecida entre dois tipos de reflexo, distino que, com matizes diver-
sos, ser retomada em Ltre et le Nant: a reflexo pura e a reflexo impu-
ra. A primeira aquela que se atm exclusivamente aos dados da imann-
cia, enquanto a ltima, operando uma passagem ao infinito, constitui um
sentido transcendente para a imanncia (por exemplo, o dio para um
vivido de repulso). Dessa maneira constitudo o Ego, que se d como
permanente, para alm de minha conscincia atual. A reduo fenomeno-
lgica, por seu lado, aparecer como um ato reflexivo puro que entrega a
conscincia a si mesma como espontaneidade no-pessoal (Sartre 9, p.
73). E, na medida em que deve ser apreenso da verdadeira espontaneidade,
isto , da conscincia pura sem Ego, a reduo fenomenolgica exige ainda
ser realizada sem nenhuma motivao anterior (id., ibidem). a motiva-
o psicolgica, por exemplo, na origem do mtodo cartesiano (empresa
de um Eu), que o faz encontrar um Eu em seu horizonte (id., ibidem). O
cogito aqui impuro.
A reduo, por seu lado, ser possvel porque, apesar de a conscincia
constituir o Ego como uma falsa representao de si mesma (id., ibidem,
p. 82) e com o objetivo de mascarar conscincia sua prpria
espontaneidade (id., ibidem, p. 81), esse esforo no ser jamais
completamente recompensado: Basta um ato simples de reflexo para que
a espontaneidade consciente se arranque bruscamente do Eu e se d como
Moutinho, L.D.S., discurso (23), 1994: 109-148 121 120 Moutinho, L.D.S., discurso (23), 1994: 109-148
independente (Sartre 9, p. 84). Evidentemente, trata-se de uma reflexo
no motivada, razo pela qual a epoch aparece no como um milagre,
no como um mtodo intelectual, um procedimento sbio, mas antes como
uma angstia que se impe a ns e que no podemos evitar, um evento
puro de origem transcendental e um acidente sempre possvel em nossa
vida cotidiana (id., ibidem, p. 84). Assim, ao contrrio do que acontece em
Husserl, no operamos a reduo, ela nos acontece, ela se impe a ns, tal
como a nusea. J no mais um mtodo, um procedimento, mas um acidente
na nossa vida: a espontaneidade que, por acidente, livrando-se das amarras
do Eu, se nos impe decisivamente.
Mas no durar muito essa visada do Essai. J na obra seguinte, em A
Imaginao, desaparece por completo esse carter acidental da reduo.
Ela agora um mtodo, um procedimento que permite uma intuio
de essncias (idem 12, p. 97). Da mesma forma em LImaginaire. A redu-
o fenomenolgica aparecer como mtodo e adequado apenas ao cam-
po da fenomenologia, por oposio reduo eidtica, aplicada no terreno
da psicologia. E de fato: na primeira parte da obra, quando o assunto era
psicologia, foi operada a reduo eidtica. J na Concluso, quando pela
primeira vez Sartre passa ao plano da fenomenologia, quando se volta para
a conscincia transcendental, a questo do mtodo j no aparece to sim-
ples. Comea reafirmando que a reduo fenomenolgica nos coloca em
presena da conscincia transcendental, permitindo-nos fixar por concei-
tos o resultado de nossa intuio eidtica da essncia conscincia (idem
13, p. 343). Mas isso apenas no primeiro momento! Porque, logo a seguir,
ele afirma: Essa questo (a de saber se a funo de imaginar essencial ou
contingente) deveria poder se regular pela simples inspeo reflexiva da
essncia conscincia e assim que tentaramos regul-la de fato, se no
nos dirigssemos a um pblico ainda pouco acostumado aos mtodos
fenomenolgicos. Mas, como a idia de intuio eidtica repugna ainda a
muitos leitores franceses, usaremos de um vis, isto , de um mtodo um
pouco mais complexo (id., ibidem, pp. 344-345). Observe o leitor que esse
o primeiro momento em que Sartre posto diante da necessidade de ope-
rar a reduo fenomenolgica e simplesmente no a opera.
(B) Conforme escreve Sartre em seus dirios, os ltimos captulos de
LImaginaire no foram escritos sob inspirao de Husserl. Segundo ele,
na verdade toda a obra escrita contra Husserl, mas tanto quanto um
discpulo pode escrever contra seu mestre (Sartre 7, p. 226). Parece-nos
que o contra se deve aqui recusa do carter sensvel da hyl da imagem
mental, ou, por outra, recusa da tese do preenchimento. De qualquer modo,
mesmo que contra Husserl, ainda sob sua inspirao. J os ltimos
captulos representam um afastamento de Husserl, no ainda, certo, a
ruptura mais profunda acontecida em Ltre et le Nant
(8)
, mas um afasta-
mento. Parece-nos que os ltimos captulos, no indicados por Sartre,
so na verdade a quarta parte e a Concluso da obra, o que representa cerca
de um tero de LImaginaire. No porque apenas a aparea o nome de
Heidegger
(9)
, mas porque s a introduzido o conceito ser-no-mundo.
Que esse conceito implica? Lembremos que o problema da Concluso
saber se a funo de imaginar uma especificao contingente e metaf-
sica da essncia conscincia ou (se) ao contrrio deve ela ser descrita como
uma estrutura constitutiva dessa essncia (idem 13, p. 344). Problema que
deveria ser abordado pela reduo fenomenolgica, mas que no o ser de-
vido ignorncia francesa dos mtodos fenomenolgicos. Assim, a ques-
to deve tomar outra forma, nos moldes do mtodo regressivo da anlise
crtica: Que deve ser uma conscincia para poder imaginar? (id., ibidem,
p. 345). Os resultados a obtidos sero comparados queles que nos d a
intuio cartesiana realizada pelo cogito (id., ibidem). Esse o vis
pelo qual escapamos da reduo, reduo cuja possibilidade, tenhamos isso
presente, convive aqui com o conceito ser-no-mundo. Sigamos esse mto-
do, pois atravs dele ser introduzido o conceito ser-no-mundo, conceito
cuja implicao nos forar a recolocar a nossa questo anterior a questo
do noema irreal.
Para introduzir a regresso, Sartre estabelece de incio o carter espe-
cfico da imagem, pelo qual ela se distingue da lembrana ou do ser visado
no vazio (pelas intenes vazias por exemplo, os arabescos do tapete es-
condidos pela cadeira). E entre todas as caractersticas estabelecidas no pri-
meiro captulo da primeira parte
(10)
, vlidas para a imagem externa ou men-
Moutinho, L.D.S., discurso (23), 1994: 109-148 123 122 Moutinho, L.D.S., discurso (23), 1994: 109-148
tal, Sartre retoma a terceira delas: A conscincia imaginante pe seu obje-
to como um nada. Minha imagem de Pedro uma certa maneira de no
toc-lo, de no v-lo, uma maneira que ele tem de no estar a tal distncia
(...) Neste sentido, pode-se dizer que a imagem envolve um certo nada. (...)
To viva, to tocante, to forte que seja uma imagem, ela d seu objeto
como no sendo (Sartre 13, pp. 34-35).
Assim, retomada no processo regressivo, essa ser a primeira condi-
o para que uma conscincia possa imaginar: preciso que ela tenha a
possibilidade de pr uma tese de irrealidade (id., ibidem, p. 351), ou seja,
preciso que ela tenha a possibilidade de pr o nada. Pois, ao me represen-
tar Pedro, eu apreendo nada (rien), isto , eu ponho o nada (rien) (id.,
ibidem, p. 349). Dessa forma, pode-se afirmar que a questo adquire aqui
um novo escopo: regresso a propsito da imagem, de fato; mas apenas
enquanto por ela que a conscincia pe o nada, ou enquanto por ela que
o ato negativo se realiza
(11)
. E aqui, tal como em Bergson, o Nada sempre
relativo; supondo um h prvio (Prado Jr. 6, p. 58), o Nada-de-alguma-
coisa posterior logicamente. Dessa vez, ele aparece relativo totalidade
do real: Pr uma imagem constituir um objeto margem da totalidade
do real, ter o real distncia, dele se libertar, em uma palavra, neg-lo
(Sartre 13, p. 352). Assim, Charles VIII, objeto irreal, deve aparecer sem-
pre fora de alcance por relao realidade (id., ibidem).
Ora, aqui mesmo outra condio se revela: para que o ato negativo se
realize, ser necessria a apreenso da totalidade do real, ou antes, ser
necessrio que a conscincia possa pr o mundo em sua totalidade sinttica.
Entretanto, essa condio ultrapassa de longe a mera condio da imagem,
na qual apreender a totalidade do real constitu-lo como mundo, o que,
repetindo Heidegger, Sartre chama nadificao: Pr o mundo como
mundo ou nadific-lo uma s e mesma coisa (id., ibidem, p. 354). E
essa apreenso do real como mundo, por sua vez, s possvel se a
conscincia est situada, se ela -no-mundo, termo ltimo da regresso:
preciso que a conscincia esteja em situao no mundo, que ela seja-no-
mundo, para que haja constituio e nadificao do mundo (id., ibidem,
p. 357). Assim, a regresso, partindo da imagem, chegou ao ser-no-mundo
como sua condio; o nada, para ser posto, exige a apreenso da totalidade
do real, isto , do mundo como conjunto sinttico, ou ainda: o Nada exige a
apreenso do Todo, e esse, por sua vez (que se d no ato de nadificao),
exige a situao. Do nada ao mundo e da ao ser-no-mundo: eis as fases da
regresso analtica.
Mas o mtodo, conforme vimos, no pra por a; ele exige ainda a
comparao com o que nos oferece o cogito
(12)
. Vejamos o que acerca
disso nos diz Sartre: Essa conscincia livre, com efeito, cuja natureza ser
conscincia de alguma coisa, mas que, por isso mesmo, se constitui a si
mesma em face do real e que o ultrapassa a cada instante porque ela s pode
ser sendo-no-mundo, isto , vivendo sua relao ao real como situao,
que seno simplesmente a conscincia tal como se revela a si mesma no
cogito? (Sartre 13, p. 357). De um nico golpe, o cogito legitima o ser-no-
mundo e seu conceito correlato, o de nadificao; o cogito reclama aqui o
mundo. E de fato: A condio mesma do cogito no de incio a dvida,
isto , ao mesmo tempo a constituio do real como mundo e sua nadificao
(...)? (id., ibidem). Exigncia um tanto singular: no ser ela mesma a
conscincia s pode ser sendo-no-mundo a razo mais profunda, para
alm da ignorncia francesa, da dificuldade com a reduo, reduo que
precisamente pe o mundo fora de jogo, entre parnteses? Por ora, deixe-
mos essa questo em suspenso; lembremos apenas que a nadificao implica
ainda ultrapassamento: a conscincia (...) se constitui a si mesma em
face do real e (...) o ultrapassa a cada instante porque ela s pode ser sendo-
no-mundo, isto , vivendo sua relao ao real como situao (id., ibidem).
Ou, por outra: Todo existente, desde que posto, por isso mesmo ultra-
passado (id., ibidem, p. 359); na verdade, nadificar o mundo constitu-lo
por ultrapassagem. Ora, mas para que ultrapassado o existente?
Segundo interpretao sartriana de Heidegger, do texto ao qual reme-
te essa discusso, Que Metafsica?, o para-qu em Heidegger o nada,
tido por Sartre como extra-mundano (idem 10, p. 55)
(13)
. Essa a inter-
pretao presente em Ltre et le Nant, mas temos razes para crer que j
aquela de LImaginaire. No ser por outro motivo que o para-qu em Sartre
aparecer em ntida oposio a Heidegger. Essa oposio se constituir numa
clivagem importante no pensamento de Sartre. Pouco importa aqui a juste-
za da interpretao; importa-nos saber por que o Nada ultra-mundano deve
Moutinho, L.D.S., discurso (23), 1994: 109-148 125 124 Moutinho, L.D.S., discurso (23), 1994: 109-148
ser recusado. E para compreend-lo talvez devamos recorrer crtica
bergsoniana idia de Nada; essa crtica nos ajudar a compreender a obje-
o de Sartre a Heidegger e o papel do negativo no seu pensamento.
V
(A) A crtica idia do Nada em Bergson procurar exatamente mostrar
como essa idia no corresponde nem a uma experincia pura, nem est
implicada em qualquer experincia possvel (Prado Jr. 6, p. 50). Entretan-
to, ainda que no haja experincia do Nada, incontestvel que se fala do
Nada (id., ibidem). E esse falar postula o Nada como horizonte do Ser.
O problema, contudo, diz respeito no ao que dito, mas ao que efetiva-
mente pensado, de onde a necessidade, apesar de tudo, de se procurar sa-
ber se o vocabulrio do negativo nasce de uma experincia do prprio ne-
gativo (id., ibidem). Mas, de fato, a experincia do Nada se revelar im-
possvel; a imaginao, que por sucesso de eliminaes, pretendeu chegar
a ele, se ver aprisionada no interior da Presena (id., ibidem, p. 51). Essa
impossibilidade, contudo, diz respeito, ao Nada absoluto, pois, por meio do
exame da experincia da imaginao, um Nada parcial (id., ibidem) apa-
receu: A imagem propriamente dita de uma supresso de tudo no jamais
formulada pelo pensamento. O esforo pelo qual tendemos a criar essa ima-
gem consegue simplesmente nos fazer oscilar entre a viso de uma realida-
de exterior e a de uma realidade interna. Nesse vaivm de nosso esprito
entre o fora e o dentro, h um ponto, situado a igual distncia dos dois, em
que nos parece que j no percebemos um e que ainda no percebemos o
outro: a que se forma a imagem do nada (Bergson 1, p. 731). Aqui, pois,
o Nada como realidade derivada, nada relativo: Nada-de-mundo ou Nada-
de-conscincia (Prado Jr. 6, p. 52), no os dois ao mesmo tempo (Bergson
1, p. 731).
No contudo apenas um nada relativo que aqui se revela: ainda a
posterioridade do nada. Do mesmo modo no que se refere idia do Nada
quando constituda no pela imaginao, mas por uma atividade conceitual,
pois se se pode conceder que no imaginamos o Nada, pode-se ainda pre-
tender que o concebemos, como ocorre com o quiligono. O resultado o
mesmo: para que haja uma abolio de todo objeto da experincia o
Nada no sendo seno a abolio integral necessrio que a reiterao
da operao conserve o seu passado (Prado Jr. 6, p. 58), passagem justa-
mente contraditria, pois, na verdade, a supresso de qualquer coisa cor-
responde posio de um outro existente (id., ibidem, p. 54): que no se
percebe jamais a ausncia do que quer que seja (Bergson 1, p. 733), essa
ausncia s sendo possvel para um ser capaz de lembrana ou de espera
(id., ibidem). O Nada significa pois um no-mais ou um ainda-no,
resultado de negao essencialmente local, razo pela qual a negao
continua aqui relativa. Se a conservao de negaes passadas visando ao
Nada absoluto contraditria porque a negao implica sempre afirma-
o do outro. Assim, o Nada absoluto nada tem que ver com o quiligono,
este sim concebvel; ele antes um impensvel, como o crculo quadrado
(Prado Jr. 6, p. 56).
Tampouco a mera representao do negativo, que decreta a inexistn-
cia total pura e simplesmente, sem o recurso da abolio, nos leva ao Nada.
Na verdade, uma representao tomada como inexistente a mesma se to-
mada como existente, j que, conforme a argumentao kantiana contra a
prova ontolgica, a existncia no um predicado. Assim, pensar um obje-
to como inexistente implica de incio pens-lo como objeto, portanto exis-
tente, e depois pensar que uma outra realidade, com a qual ele incompa-
tvel, o suplanta (id., ibidem, p. 57). Da por que h mais, no menos na
idia de um objeto concebido como no existente do que na idia desse
mesmo objeto concebido como existente (id., ibidem, p. 58). A negao
assim dependente de uma dupla afirmao: a afirmao anterior do obje-
to mesmo em questo e a afirmao da realidade total que suplanta esse
objeto. Tambm aqui, novamente, se revela a posterioridade do negativo, a
necessidade do Ser prvio sobre o qual ele se aplica.
(B) Ora, que tem isso a ver como a recusa sartriana do nada alm-mundo
de Heidegger? Sabe-se que para Heidegger o Nada no se revela como ob-
Moutinho, L.D.S., discurso (23), 1994: 109-148 127 126 Moutinho, L.D.S., discurso (23), 1994: 109-148
jeto ou como ente, ele se revela ao contrrio juntamente com o ente em sua
totalidade (Heidegger 5, p. 238), se revela com ele de uma nica vez. Como
em Bergson, no se trata de uma destruio do ente, de uma negao a
partir da qual se atingiria ento o Nada; ocorre antes o contrrio: o Nada
vem a ns, ele nos visita na angstia. Se, conforme observa Bento Prado
Jr., Heidegger, em Que Metafsica?, reproduz o itinerrio de Bergson
(Prado Jr. 6, p. 37), verdade tambm que aqui ele se separa: o Nada ser
no uma iluso, no uma miragem, mas a rejeio que remete ao ente
em sua totalidade que desaparece (Heidegger 5, p. 238). A essa remisso
que rejeita, Heidegger denomina nadificao (Nichtung), e, enquanto tal,
enquanto remisso que rejeita, o ente aparece como o absolutamente outro
em face do nada (id., ibidem, p. 239). Sim, o Nada no resultado de
destruio, de abolio, ou mesmo resultado de uma negao, mas se as-
sim porque o prprio nada nadifica, de onde, na interpretao de
Sartre
(14)
, o nada como vazio indiferenciado ou como alteridade que no se
(pe) como alteridade (Sartre 10, p. 54). Para Sartre, o nada aparece aqui
como cingindo o ser por toda parte e, por isso mesmo, expulso do ser (id.,
ibidem). o Nada aqui desempenhando funo transcendental, razo
mesma da impossibilidade em ser pensado como objeto (Prado Jr. 6, p.
37): ele aparece como possibilitao da revelao do ente enquanto tal
para o ser-a humano (Heidegger 5, p. 239).
a esse nada por meio do qual o mundo recebe seus contornos de
mundo (Sartre 10, p. 54), alteridade que no se pe como alteridade,
que Sartre no d o seu assentimento. O nada entendido como o para-qu se
d o movimento de ultrapassamento. E exatamente aqui que surge a refe-
rncia a Bergson; segundo Sartre, o ultrapassamento se faz sempre, neces-
sariamente, para alguma coisa, e no para nada. Ou melhor, se faz sem-
pre para o nada de alguma coisa. E a razo parece estar nas anlises de
Bergson, que, para Sartre, permanecem vlidas: um ensaio para conceber
diretamente a morte ou o nada de ser est votado por natureza ao fracasso
(idem 13, p. 359). Por aqui se v que o Nada absoluto, que a crtica
bergsoniana revelou ser miragem, parece ser aqui identificado ao Nada
de Heidegger, que Sartre entende como extra-mundano, j que o pensa no
movimento de ultrapassamento
(15)
. Da por que esse ultrapassamento se faz
para o imaginrio (nada do mundo), no para esse vazio indiferenciado, e
para compreend-lo basta fazer o movimento inverso de LImaginaire, no
mais regressivo, mas progressivo.
(C) O ser-no-mundo apareceu-nos como a condio ltima revelada pela
regresso analtica. O ser-no-mundo, sempre situado, implica uma perma-
nente nadificao do mundo, isto , uma permanente ultrapassagem do
mundo. Ora, essa ultrapassagem, que implica uma posio da totalidade do
real (que se revela mundo), s pode ser feita se do lado de l algo se pe
por relao a essa totalidade; precisamente o que ocorre com a imagem,
que s se constitui por relao totalidade do real: Para que meu amigo
Pedro me seja dado como ausente, preciso que eu tenha sido levado a
apreender o mundo como um conjunto tal que Pedro no poderia a estar
atualmente e para mim presente (Sartre 13, p. 355). Mas para que isso
ocorra preciso ainda que esse algo seja um nada j que se pe por
relao totalidade do real
(16)
. E essa igualmente, conforme vimos, a
caracterstica da imagem: ao me representar Pedro eu apreendo nada (id.,
ibidem, p. 349).
Assim, temos aqui o nada para o qual h o ultrapassamento, o nada do
outro lado do mundo, mas que, conforme a crtica bergsoniana, no pode
se dar seno como infra-estrutura de alguma coisa (id., ibidem, p. 350).
Isto , um nada de alguma coisa, que se define enquanto tal por relao a
alguma coisa no caso, por relao totalidade do real , que se coloca por
oposio a essa totalidade. Assim, o resvalamento do mundo no seio do
nada e a emergncia da realidade-humana nesse mesmo nada, diz Sartre
maneira de Heidegger, mas opondo-se-lhe, no se do no nada puro, total,
mas pela posio de alguma coisa que nada por relao ao mundo e por
relao a qu o mundo nada (id., ibidem, p. 359). Eis precisamente como
se d a constituio do imaginrio. portanto pelo ato mesmo de imagi-
nar que passamos para o outro lado do existente.
Ora, mas isso no implica que toda percepo do real deva se inver-
ter em imaginrio, ou que a imagem seja permanentente posta, tal como
em Heidegger a angstia, que revela o nada, no nos acossa permanente-
mente. Entretanto, mesmo se nenhuma imagem produzida nesse instan-
Moutinho, L.D.S., discurso (23), 1994: 109-148 129 128 Moutinho, L.D.S., discurso (23), 1994: 109-148
te, toda apreenso do real como mundo tende por si mesma a se acabar pela
produo de objetos irreais (Sartre 13, p. 356). E se isso no ocorre
simplesmente porque a produo da imagem exige uma inteno particu-
lar: o mundo leva em si sua possibilidade de negao, a cada instante e de
cada ponto de vista, por uma imagem, ainda que a imagem deva ser consti-
tuda por uma inteno particular da conscincia (id., ibidem). Em
Heidegger, trata-se antes de uma dissimulao do nada, que se deve ao
fato de nos perdermos, de determinada maneira, absolutamente junto ao
ente. Quanto mais nos voltamos para o ente em nossas ocupaes, tanto
menos ns o deixamos enquanto tal, e tanto mais nos afastamos do nada
(Heidegger 5, p. 239). Por essa razo mesma, a angstia rara. Entretan-
to, num caso e noutro, a nadificao ininterrupta (id., ibidem).
No se trata portanto, se pensamos em Sartre, de que apenas na cons-
tituio da imagem o mundo aparea como conjunto sinttico; trata-se an-
tes de que h sempre e a cada instante para (a conscincia) uma possibili-
dade concreta de produzir o irreal (Sartre 13, p. 358). Inversamente, ser
apenas pela produo do irreal que a nadificao se descobrir, tal como
em Heidegger o nada se revela apenas na angstia: Quando o imaginrio
no posto de fato, o ultrapassamento e a nadificao do existente esto
colados ao existente, o ultrapassamento e a liberdade esto a, mas no se
descobrem, o homem est esmagado no mundo (id., ibidem, p. 359).
(D) Para alm dessas observaes, h contudo uma distino ainda mais
funda, entre Sartre e Heidegger, no que se refere nadificao. Para
Heidegger, o termo mesmo nadificao s se coloca uma vez lembrado
que o nada no aparece como resultado de uma destruio ou de uma nega-
o; ao contrrio, na medida em que se compreende que sua essncia
a remisso que rejeita o ente em totalidade, nessa medida que se pode
falar em nadificao: o nada no como resultado de uma negao, mas
para alm de toda negao. precisamente o significado de o prprio
nada nadifica (Heidegger 5, p. 238), como se quisssemos dizer: O nada
se alimenta de si mesmo
(17)
, se isso no tornasse o nada um ente, rompendo
precisamente com o que ocorre na revelao do nada, ou seja, o
emudecimento de qualquer dico do (id., ibidem). No h portanto
um algo sobre o qual se aplica a nadificao; h, sim, uma relao
nadificadora, um comportamento nadificador, como a negao, a frus-
trao, a privao, todas fundadas no nadificar do nada (Heidegger 5, p.
240). Elas testemunham a constante (...) revelao do nada, mas revela-
o obscurecida, que somente a angstia originariamente desvela (id.,
ibidem).
J em Sartre, as coisas se passam de outro modo. J no o nada que
nadifica, mas a conscincia, uma vez que no se trata mais de um nada
ultra-mundano, expulso do ser (Sartre 10, p. 54). Trata-se antes de um
nada de ser, que se coloca por relao totalidade do real; trata-se de um
nada que, ao contrrio do que ocorre em Heidegger, alteridade que se pe
como alteridade; a imagem o outro lado do mundo, o para-qu ultrapas-
sado o existente, o nada, mas nada por relao ao mundo. Da por que ele
j no exerce funo transcendental (Prado Jr. 6, p. 37), como o fazia em
Heidegger, j no mais possibilitao de revelao do ente enquanto tal
para o ser-a humano (Heidegger 5, p. 239); nem poderia exercer esta fun-
o, pois se trata de um nada cuja posterioridade bem definida: nada do
mundo. No que Heidegger afirme a anterioridade do nada, tal como o faz
a metafsica clssica criticada por Bergson, mas, ao tom-lo como meio
infinito (Sartre 10, p. 58), ignora que o nada s pode dar-se, como Bergson
o teria mostrado, como uma infra-estrutura de alguma coisa (idem 13, p.
358). A nadificao torna-se assim no o indicador de uma espcie de sub-
sistncia do Nada, mas o modo mesmo pelo qual a conscincia apreende o
real constituindo-o como mundo. a conscincia, no o nada, que nadifica.
VI
(A) Se pelas mos de Heidegger que aparece o conceito ser-no-mundo
na obra sartriana, esse conceito j aparece contudo marcado por objees,
conforme uma leitura toda prpria de Sartre. Leitura essa que dever se
modificar em vrios aspectos j na obra seguinte, Ltre et le Nant, ou
Moutinho, L.D.S., discurso (23), 1994: 109-148 131 130 Moutinho, L.D.S., discurso (23), 1994: 109-148
melhor, j em Drle de Guerre, obra pstuma escrita cerca de um ano de-
pois da Concluso de LImaginaire. J a o conceito ser-no-mundo aparece
com novo sentido. E para mostr-lo necessrio falar aqui, novamente, do
nada. Sartre retoma em Drle de Guerre a tese de LImaginaire: a
posterioridade do nada. H uma prioridade do Ser sobre o Nada (Sartre 7,
p. 169)
(18)
, diz ele, ou do real sobre o possvel (id., ibidem, p. 53). Dessa
vez, contudo, o nada j no aparece na figura da imagem, mas, pela primei-
ra vez, a prpria conscincia aparece como nada. E, tambm aqui, a questo
do nada se esclarece pela anlise da negao.
H dois tipos de negao: uma aquela que reclama o concurso da
conscincia (a mesa no o tinteiro, o papel no poroso); esse con-
curso se reclama na medida em que no est no ser do papel no ser poro-
so (id., ibidem, p. 217). Outra
(19)
, que altera os dados do problema, aque-
la em que a prpria conscincia, a conscincia que ns somos (id., ibidem,
p. 218), est envolvida diretamente, no mais operando uma sntese, mas
sendo ela prpria a negao; por exemplo, a conscincia no extensa.
No h aqui terceiro homem para constatar que duas substncias inertes, a
conscincia e a extenso, no tm relao de pertencimento (rapport
dappartenance) (id., ibidem). a prpria conscincia que deve ser como
no sendo a extenso, ela mesma seu prprio nada de extenso (id.,
ibidem). Segundo Sartre, j no se trata aqui de uma negao que como
uma categoria (id., ibidem, p. 217), ligao categorial e ideal (idem 10,
p. 223), como no caso precedente, mas de uma negao em que o no torna-
se caracterstica existencial (idem 7, p. 218)
(20)
. Ou, se se quiser, o no j
no mais no nvel do juzo, mas como modo de ser.
Para que isso seja possvel, para que a conscincia seja negao da
extenso, preciso que ela encubra no mais profundo de seu ser uma rela-
o unitria com essa extenso que ela no (id., ibidem, p. 219). Trata-se
aqui de uma ligao to ntima quanto possvel, unidade sinttica su-
posta pela negao. Sartre d um exemplo servindo-se da idia de contato.
Se mantenho uma distncia, por infinitesimal que seja, entre dois objetos,
no posso dizer que eles se tocam. Mas tampouco posso fundir um ao outro,
pois, ainda que relao ntima, o contato no fuso: necessrio garan-
tir a separao entre os objetos. Trata-se de assegurar, ao mesmo tempo que
a ausncia de distncia, uma separao que, contudo, no pode ser pequena,
sequer infinitesimal: aqui, nada deve separar os objetos (Sartre 7, p. 222).
o que ocorre quando duas curvas so tangentes uma a outra (idem 10, p.
227).
Retomando o mesmo exemplo de Drle de Guerre, Sartre dir: se se
permite ver apenas a extenso em que as curvas so tangentes, seria impos-
svel distingui-las (id., ibidem), pois nada as separa. Mostradas, entretanto,
em sua inteireza, ns as apreendemos novamente como sendo duas sobre
toda sua extenso. Isso no ocorre porque realizamos uma brusca sepa-
rao, mas porque os dois movimentos pelos quais traamos as duas curvas
para perceb-las envolvem cada um uma negao como ato constituinte
(id., ibidem). Assim, uma pura negatividade separa as duas curvas ali
mesmo onde elas se tangenciam, negatividade que a contrapartida de
uma sntese constituinte (id., ibidem).
Ora, segundo essa forma sinttica que Sartre pensa aquela relao
unitria entre conscincia e extenso, relao suposta pela negao: s na
base dessa relao original, a conscincia, sem interveno contempla-
tiva de um terceiro homem, pode no ser a extenso (idem 7, p. 219).
preciso um tipo de presena da extenso conscincia que em Drle de
Guerre Sartre chama investissement (id., ibidem, p. 220) de modo que
apenas no sendo a extenso a conscincia possa lhe escapar. Essa relao
primeira se tomada a conscincia e a totalidade do em-si , pensada
com a negao: eis o que Sartre agora denomina ser-no-mundo; ela im-
plica uma aderncia imediata e sem distncia do mundo ao para-si (id.,
ibidem, p. 221), de modo que se constitua aquilo que mais tarde ser deno-
minado identidade negada (idem 10, p. 227). Trata-se aqui de uma rela-
o de contato do mundo conscincia (idem 7, p. 224), unidade ou sntese
que tem uma negatividade como contrapartida, ou, se se quiser, a nadificao.
(B) Ora, j aqui se pode visualizar a distncia entre essa idia de ser-no-
mundo e aquela de LImaginaire. Se antes a nadificao era entendida como
um ato duplo, que envolvia ao mesmo tempo o ato de pr o mundo como
totalidade sinttica e o ato de recuar com relao ao mundo (idem 13, p.
354), dessa vez precisamente o recuo que se torna impensvel, e isso
Moutinho, L.D.S., discurso (23), 1994: 109-148 133 132 Moutinho, L.D.S., discurso (23), 1994: 109-148
porque se constituiu agora uma unidade sinttica (Sartre 7, p. 219) entre
conscincia e mundo: O movimento de nadificao do para-si no um
recuo. Se a nadificao se acompanhasse de recuo, ela seria nadificao de
nada e recairia no em-si. (...) Ao contrrio, a nadificao implica uma ade-
rncia imediata e sem distncia do mundo ao para-si (id., ibidem, p. 221),
de onde precisamente a idia de que a conscincia est em contato com o
mundo (id., ibidem, p. 223). Ao invs de recuo, trata-se antes de um desa-
bamento (effondrement), uma descompresso (id., ibidem, p. 263).
Mas no se trata apenas de uma sntese que aparece. ainda o fato
mesmo, at ento ausente na obra de Sartre, de a conscincia aparecer como
o negativo, o que implica novo sentido para o conceito de nadificao. Se
em LImaginaire era recusada a idia heideggeriana segundo a qual o pr-
prio nada nadifica, dessa vez, como que se corrigindo e voltando a
Heidegger, novamente o nada nadifica, mas com uma diferena que a pas-
sagem por Bergson no eliminou: de fato, o nada por relao ao mundo que
era a imagem torna-se aqui a prpria conscincia; nessa medida, o nada, ou
a conscincia, nadifica. Mais ainda: o nada recobra a funo transcenden-
tal que havia perdido em LImaginaire; ele aparecer novamente como con-
dio de possibilidade da experincia, como o que torna possvel a existn-
cia de um objeto para a conscincia. Ou, mais precisamente, j no o nada,
pois ele posterior, no ultra-mundano, pois ele ainda nada de alguma
coisa, mas a relao de que ele membro
(21)
. Por ora, entretanto, deixemos
em suspenso essa questo e voltemos ao problema da reduo. Parece-nos
que j reunimos aqui alguns elementos que permitem responder questo
que formulvamos atrs.
(C) Dizamos que a reduo no era praticada na Concluso de
LImaginaire sob alegao de uma ignorncia francesa dos mtodos
fenomenolgicos. Mas ser de fato assim, se ali j aparecia o conceito ser-
no-mundo? No ser a idia mesma de que a conscincia est sempre situ-
ada, de que ela s pode ser sendo-no-mundo, a razo mais profunda pela
qual a reduo no pde ser praticada? Reduo, era o que lembrvamos,
que pretende exatamente pr o mundo fora de jogo, entre parnteses?
Sartre de fato faz coexistir no mesmo texto o conceito ser-no-mundo
e a possibilidade da reduo, coexistncia cuja impossibilidade apontada
por Ltre et le Nant: O concreto o homem no mundo com esta unio
especfica do homem ao mundo que Heidegger, por exemplo, chama ser-
no-mundo. Interrogar a experincia, como Kant, sobre suas condies de
possibilidade, efetuar uma reduo fenomenolgica, como Husserl, que re-
duzir o mundo ao estado de correlativo noemtico da conscincia, come-
ar deliberadamente pelo abstrato. Mas no se chegar jamais a restituir o
concreto pela soma ou a organizao dos elementos que se abstraram
(Sartre 10, p. 38). Ora, o que h de especfico em LImaginaire, que a redu-
o no aparece ali como abstrao, mas como possibilidade (verdade que
no efetivada, dada a ignorncia francesa...)? Parece-nos que isso pode ser
compreendido se lembrarmos que o conceito ser-no-mundo a referido no
tem o mesmo sentido que ter logo depois, j em Drle de Guerre e mesmo
em Ltre et le Nant. E de fato: esse conceito exprime agora uma unidade
sinttica entre conscincia e mundo desconhecida por LImaginaire; trata-
se de um investissement do mundo, uma ausncia de distncia (idem 7,
p. 223), que tornam impossvel o recuo antes admitido.
Assim, em LImaginaire: O ato de pr o mundo como totalidade sin-
ttica e o ato de recuar com relao ao mundo so um s e mesmo ato. Se
podemos usar de uma comparao, precisamente colocando-se a distncia
conveniente com relao a seu quadro que o pintor impressionista distin-
guir (dgagera) o conjunto floresta ou ninfias da multido de peque-
nos toques que ele aplicou sobre a tela (idem 13, p. 354). J agora, tornan-
do-se totalidade sinttica, a reduo mesma que o ser-no-mundo pe abai-
xo: precisamente por separar uma totalidade que ela agora ser acusada de
abstrao (idem 10, p. 38).
Desse modo, parece que aquele nosso primeiro problema surgido em
A Imaginao tambm se encontra resolvido. Lembremo-nos de que a re-
duo implicava ali uma dificuldade parte, pelo fato mesmo de ela trazer
consigo um noema irreal: era uma vez feita a reduo que eu no tinha
mais como distinguir o centauro que imagino da rvore em flor que perce-
bo (idem 12, p. 103). E esse problema parece se resolver na medida mesma
Moutinho, L.D.S., discurso (23), 1994: 109-148 135 134 Moutinho, L.D.S., discurso (23), 1994: 109-148
em que a prpria reduo aparece como um erro! Essa soluo contudo,
evidentemente, no pode nos satisfazer: ela deixa em suspenso a questo da
natureza do noema, ou, em termos sartrianos, a questo da natureza do ser.
No por outra razo, seno para resolver esse problema, que, j na Intro-
duo de Ltre et le Nant, Sartre, qual um proustiano, parte em busca do
ser perdido por Husserl, e perdido por torn-lo um irreal. Essa busca con-
sumar a definitiva ruptura com o antigo mestre e a instalao necessria
no terreno da cincia fundante.
VII
(A) Sartre fala dessa ruptura em Drle de Guerre, quando trata da influ-
ncia que Heidegger exerceu sobre ele. Segundo Sartre, para que essa influ-
ncia ocorresse de fato foi preciso que, antes, ele tivesse esgotado Husserl
(Sartre 7, p. 226). Fala, por exemplo, de sua primeira leitura de Que
Metafsica? e de Ser e Tempo, em 1930 e 1934, respectivamente, e do fra-
casso que foram essas leituras; da ltima obra, por exemplo, no ultrapas-
sou cinqenta pginas. Sentia ento uma repugnncia por essa filosofia
brbara e to pouco sbia aps a genial sntese universitria de Husserl,
para ele mais acessvel, dada a sua aparncia de cartesianismo.
Ao Sartre husserliano, a filosofia de Heidegger parecia ento no-
vamente cada na infncia; passaria quatro longos anos vendo tudo atra-
vs das perspectivas de Husserl, at esgot-lo: Para mim, esgotar um fil-
sofo refletir em suas perspectivas, fazer idias pessoais sua custa at que
eu caia em um beco-sem-sada (id., ibidem)
(22)
. A ltima obra escrita sob a
influncia de Husserl La Psych; depois dela, diz Sartre, pouco a pouco,
sem que eu me desse conta, dificuldades se acumulavam, um fosso cada vez
mais profundo me separou de Husserl: as dificuldades deveriam aqui con-
duzi-lo ao beco-sem-sada, apontado pelo prprio Sartre: Sua filosofia
evolua no fundo para o idealismo, o que eu no podia admitir, e sobretudo,
como todo idealismo ou como toda doutrina simpatizante, sua filosofia ti-
nha sua matria passiva, sua hyl, que uma forma vem modelar (categorias
kantianas ou intencionalidade) (Sartre 7, p. 226)
(23)
. Eis aqui o ponto-cha-
ve de ruptura com Husserl: a evoluo de sua filosofia para o idealismo,
consubstanciada no noema irreal. nessa medida que na Introduo de
Ltre et le Nant aparecer o ataque hyl, j que a partir dela que se
pode constituir o noema irreal, conforme interpretao de Sartre. J no se
tratar mais de apontar matrias distintas para a percepo e a imagem men-
tal, mas de recusar a prpria noo de hyl passiva para a percepo.
(B) A busca do ser comea pela observao de que o pensamento moder-
no realizou progresso considervel reduzindo o existente srie de apari-
es que o manifestam (idem 10, p. 11). Com isso, vm abaixo todos os
dualismos que turvavam a filosofia. Na verdade, nem todos os dualismos.
H ainda um outro, de que Husserl vtima, e que estar na origem do erro
husserliano, o noema irreal: o dualismo do finito e do infinito.
De incio, o existente no se reduz a uma srie finita de manifestaes
na medida mesma em que cada uma delas uma relao a um sujeito em
perptua mudana (id., ibidem, p. 13). Alm disso, se a srie fosse finita,
as primeiras aparies no teriam a possibilidade de reaparecer ou, pior
ainda, elas poderiam ser dadas todas ao mesmo tempo (id., ibidem). Dois
absurdos que exigem a srie infinita. A prpria apario, se reduzida a si
mesma sem recurso srie de que faz parte, nada seria seno plenitude
intuitiva e subjetiva. assim que o objeto, se deve ser transcendente, e no
plenitude subjetiva, exige que a apario se faa sempre transcender: o
objeto mesmo pe por princpio a srie de suas aparies como infinitas
(id., ibidem). Eis a, segundo Sartre, o novo fenmeno husserliano. Aqui, a
realidade da coisa substituda pela objetividade do fenmeno, e essa obje-
tividade fundada por sua vez em um recurso ao infinito (id., ibidem).
Ora, aonde isso nos levar? Sem dvida, direto ao no-ser, ao noema
irreal! Sartre aborda essa questo nas sees IV e V da Introduo. De incio,
na seo IV, comea por recusar a tese husserliana de que esse percipi, tese
que em Husserl se efetiva na medida em que o ser mesmo do percipi aparece
como constitudo, verdade que no por um sujeito no sentido kantiano do
termo, mas por uma subjetividade entendida como imanncia de si a si
Moutinho, L.D.S., discurso (23), 1994: 109-148 137 136 Moutinho, L.D.S., discurso (23), 1994: 109-148
(Sartre 10, p. 24). Para mostrar que o ser do percipi no pode se reduzir
quele do percipiens isto , conscincia (id., ibidem), Sartre comea por
um exame das exigncias ontolgicas do percipi (id., ibidem).
Esse exame mostra de incio que o modo do percipi o passivo (id.,
ibidem, p. 25); Sartre fala aqui do modo; que se atente bem para isso, pois
no se trata do ser do percipi, pois o que o exame dever mostrar que
precisamente a passividade pode dizer respeito maneira de ser, mas no
ao ser (id., ibidem, p. 27). Sou passivo quando recebo uma modificao de
que no sou a origem (...) Assim, meu ser suporta uma maneira de ser de
que no a fonte. Somente, para suportar, ainda preciso que eu exista, e
assim minha existncia se situa sempre alm da passividade (id., ibidem,
p. 25). Se a passividade atingisse tambm o ser, j no haveria distino
entre criador e criatura: Se o ser criado sustentado at em suas mais
nfimas partes, se no tem nenhuma independncia prpria, (...) ento a
criatura no se distingue de nenhuma maneira de seu criador, ela se absorve
nele (id., ibidem). J no teramos seno uma falsa transcendncia, um
nada; a passividade portanto relao de um ser a um ser, e no de um ser
a um nada (id., ibidem,).
Certamente, assegurar aqui a verdadeira transcendncia (ou, se se
quiser, a transfenomenalidade) mais um round na luta contra Husserl,
pois, na interpretao de Sartre, a conscincia husserliana pretende consti-
tuir, fundar o ser do percipi, justamente torn-lo passivo no seu ser mesmo.
Isso, porm, no tudo. preciso lembrar ainda que, na medida em que a
passividade do paciente reclama uma passividade igual no agente, confor-
me o princpio de ao e reao (id., ibidem), nessa medida mesma Husserl
ser obrigado a introduzir a passividade na noese, noutras palavras, a criar
a hyl: ela representa a passividade do lado de c, j que para constituir ser
tambm necessria a passividade no constituinte. Dessa vez, contudo, ao
contrrio do que ocorria em A Imaginao, a hyl aparecer como inin-
teligvel. verdade que s agora ela aparece ligada ao tema da constitui-
o, e sob esse prisma que ela aparece inaceitvel: a hyl agora implica
passividade e, portanto, opacidade. Dessa vez, pouco importa se ela no
contedo de conscincia, como A Imaginao lembrou diversas vezes:
isso j no surte efeito. Agora, a hyl j no pode ser da conscincia porque
ela se esvaneceria em translucidez e no poderia oferecer esta base
impressional e resistente que deve ser ultrapassada para o objeto (Sartre
10, p. 26). Ser hbrido, meio conscincia, meio coisa, a hyl uma fico
cujo sentido permitir a constituio do ser, a passagem de uma a
outro (id., ibidem).
O mesmo exame se repete para a pretenso de que o ser do percipi
seja relativo ao percipiens: Que pode significar a relatividade de ser, para
um existente, seno que este existente tem seu ser em outra coisa que nele
mesmo, isto , em um existente que ele no ? (id., ibidem). Mesmo concebi-
do como irreal, preciso que esse ser exista. Assim, a conscincia no pode
constituir, fundar o ser transfenomenal do fenmeno (id., ibidem, p. 27),
e no pode precisamente porque ele transfenomenal, isto , transcendente.
Ora, mas como se d a constituio em Husserl? Esse exame impor-
tante porque ele nos mostra como surge a fico do noema irreal. Para
mostr-lo, Sartre retoma o que dissera contra a passividade, o que significa
agora que, se se quer a todo preo que o ser do fenmeno dependa da
conscincia, preciso que o objeto se distinga da conscincia no por sua
presena, mas por sua ausncia, no por sua plenitude, mas por seu nada
(id., ibidem). Assim, se o objeto no a conscincia, verdade contudo que
ele no o na medida em que um no-ser, no na medida em que outro
ser. Ora, precisamente assim aparece o noema husserliano, e a raiz disso, a
fonte do erro de Husserl, reside na sua interpretao equvoca do fenme-
no: Husserl se mostrar vtima do dualismo finito/infinito mostrado acima.
(C) O dualismo se consagra em Husserl na medida em que, de incio, o
ser do objeto por ele reduzido sucesso de suas maneiras de ser (id.,
ibidem), razo pela qual Husserl tido como fenomenista (id., ibidem, p.
115): Tendo reduzido, com razo, o objeto srie ligada de suas aparies,
eles (os fenomenistas) acreditaram ter reduzido seu ser sucesso de suas
maneiras de ser (id., ibidem, p. 27). Essa reduo funda precisamente aquele
recurso ao infinito; no por outra razo que para Husserl as intenes
que podem ser preenchidas num dado ncleo hiltico no bastam para nos
fazer sair da subjetividade (id., ibidem, p. 28); para alm delas, so ne-
cessrias ainda as intenes vazias, as verdadeiramente objetivantes, aque-
Moutinho, L.D.S., discurso (23), 1994: 109-148 139 138 Moutinho, L.D.S., discurso (23), 1994: 109-148
las que visam para alm da apario presente e subjetiva a totalidade infini-
ta da srie de aparies (Sartre 10, p. 28; grifos nossos).
Isso ocorre na medida em que essas intenes no podem jamais ser
dadas todas ao mesmo tempo, razo pela qual temos, de um lado, a im-
possibilidade de princpio de que os termos da srie, em nmero infinito,
existam de uma s vez diante da conscincia; de outro lado, e simultane-
amente, temos a ausncia real de todos esses termos, salvo um: essa im-
possibilidade e essa ausncia de nica exceo constituem-se justamente no
fundamento da objetividade (id., ibidem). Aqui, a ausncia das impres-
ses correspondentes a essas aparies faz o ser objetivo, pois, presentes,
elas desabariam no subjetivo: Assim, o ser do objeto um puro no-ser.
Ele se define como uma falta. o que se furta, o que, por princpio, no
ser jamais dado, o que se entrega por perfis fugitivos e sucessivos (id.,
ibidem). A realidade do objeto aparece aqui portanto inteiramente fundada
na plenitude subjetiva impressional (esse percipi), e a objetividade, por
sua vez, fundada no no-ser (esse irreal).
o fenmeno assim interpretado a raiz do erro: nele, a pretensa redu-
o do ser do objeto sucesso de suas maneiras de ser. Essa reduo
conduz direto ao no-ser exatamente porque ela fora a buscar o ser no
infinito! Mas, alm disso, o prprio ser aparece como constitudo, e apare-
ce porque seu fundamento foi posto em suas aparies (maneiras de ser).
Assim, a realidade, de um lado, se funda na noese, e a objetividade, por
outro lado, se funda no infinito, objetividade posta para alm do ncleo
hiltico dado, arrancada, por assim dizer, s intenes vazias, que justa-
mente visam srie infinita. Realidade reduzida noese e objetividade ar-
rancada ao infinito so dois lados de uma mesma moeda que traduzem sem-
pre uma m compreenso do fenmeno. Contra o ser constitudo e integral-
mente passivo (portanto no verdadeiramente transcendente) que aparece,
ser necessrio colocar o ser transcendente do percipi, ser transfenomenal,
real e irredutvel apario.
Transfenomenalidade j assegurada na seo II, onde se procurou
mostrar que o fenmeno de ser, a apario de ser, desse ser que pode ser
fixado em conceitos (id., ibidem, p. 16), exige um ser dos fenmenos. A
razo simples: o que me aparece, o ser que se desvela a mim, no da
mesma natureza que o ser dos existentes que me aparecem. Posso ultrapas-
sar o fenmeno para a sua essncia: trata-se aqui de passagem do homog-
neo ao homogneo (Sarte 10, p. 15), de onde a possibilidade de uma re-
duo eidtica. Mas, se ultrapasso o existente para o fenmeno de ser,
estarei de fato ultrapassando-o para seu ser? (id., ibidem).
Ao falar que a realidade humana ntico-ontolgica, isto , que
ela pode sempre ultrapassar o fnomeno para seu ser (id., ibidem),
Heidegger teria alcanado o ser? Mas o ser no nem uma qualidade do
objeto apreensvel entre outras, nem um sentido do objeto (id., ibidem).
Tudo o que se pode dizer que o objeto , no que ele possui o ser. Assim,
o ser torna-se aqui simplesmente a condio de todo desvelamento: ele
ser-para-desvelar e no ser desvelado (id., ibidem), de onde a impossibili-
dade da reduo fenomenolgica. Da por que ao pr a questo do ser-mesa
ou do ser-cadeira, Heidegger no ultrapassou o fenmeno para o seu ser: se
eu volto meus olhos da mesa-fenmeno para fixar o ser-fenmeno, que
no mais a condio de todo desvelamento mas que ele mesmo um
desvelado, uma apario, esse ser mesmo tem por sua vez necessidade de
um ser sobre o fundamento do qual ele possa se desvelar (id., ibidem).
Parece que a crtica concepo errnea do fenmeno vale no apenas para
Husserl, mas tambm para Heidegger. E com efeito, ao expor a idia de
fenmeno, Sartre afirma tratar-se da idia tal como se pode encontr-la
por exemplo na fenomenologia de Husserl ou de Heidegger (id., ibidem,
p. 12). Depois de ter dito isso, vem a crtica a essa idia de fenmeno: ela
contm o dualisno finito/infinito etc. A diferena estaria em Heidegger ter
omitido o cogito e ter ido direto analtica existencial (id., ibidem, p. 115):
ele no opera a reduo fenomenolgica, e com isso evita cair no noema
irreal, mas nem por isso escaparia ao erro, que seria aqui julgar ter atingido
o plano do ser, quando atingiu o que se pode atingir o plano do fen-
meno do ser, do sentido do ser (id., ibidem, p. 30). Assim, o fenmeno de
ser aparece como ontolgico, no sentido em que se chama ontolgica a
prova de Santo Anselmo e Descartes. Ele um apelo de ser; ele exige, enquan-
to fenmeno, um fundamento que seja transfenomenal (id., ibidem, p. 16).
Moutinho, L.D.S., discurso (23), 1994: 109-148 141 140 Moutinho, L.D.S., discurso (23), 1994: 109-148
(D) A prova ontolgica ser realizada na seo V e, evidentemente, por
oposio ao ser constitudo de Husserl; ela diz respeito ao ser transfenomenal,
aquele irredutvel apario, sucesso das maneiras de ser. E por
conta dessas duas concepes de ser que Sartre fala de duas concepes
distintas de intencionalidade: Ou entendemos que a conscincia
constitutiva do ser de seu objeto, ou (...) que a conscincia em sua natureza
mais profunda relao a um ser transcendente (Sartre 10, p. 27). Eviden-
temente, o primeiro sentido, por desconhecer a transfenomenalidade do ser,
no se agenta de p: ele a expresso do idealismo husserliano, e a
intencionalidade torna-se aqui mera caricatura (id., ibidem, p. 153).
J o segundo sentido, aquele que assegura a transfenomenalidade, o
que respeita a transcendncia como estrutura constitutiva da conscincia.
Assim, se cada apario remete a outras aparies, verdade tambm que
cada uma delas j por si s um ser transcendente, no uma matria
impressional subjetiva uma plenitude de ser, no uma falta uma presen-
a, no uma ausncia (id., ibidem, p. 28). A realidade no se funda aqui na
noese, nem a objetividade arrancada ao infinito, e pela razo simples de
que se assegura a verdadeira transcendncia. Sartre tem cuidado em afastar
dessa prova ontolgica a refutao kantiana do idealismo problemtico,
pois no se trata de mostrar a existncia de fenmenos objetivos e espaci-
ais, mas de mostrar que a conscincia implica em seu ser um ser no
consciente e transfenomenal (id., ibidem, p. 29): eis o que mostra a verda-
deira intencionalidade, eis a prova ontolgica. Da por que a lembrana
de Descartes, pois estamos aqui no plano do ser, no no do conhecimen-
to. E de fato: a prova ontolgica reclama ser; e, tal como na 5
a
Meditao
a essncia reclama existncia, tambm aqui a aparncia reclama ser (id.,
ibidem).
V-se pois que se encontra aqui reproduzido movimento anlogo quele
estabelecido pela nova regra cartesiana, segundo a qual o movimento deve
ser do quid ao quod, da essncia existncia (Guroult 3, pp. 129-130).
verdade, contudo, que esse movimento no diz respeito a Deus, de onde
talvez se devesse pensar mais na 2
a
e 6
a
Meditaes do que na 5
a
; entretan-
to, a prova aplicada essncia de Deus que est aqui em questo, e para
falar do ser desta mesa, deste pacote de tabaco, da lmpada, mais geral-
mente (do) ser do mundo que implicado pela conscincia (Sartre 10, p.
29). Eis o ser encontrado, que Husserl perdera; ele transcendente,
transfenomenal, no-passivo, irredutvel s maneiras de ser.
VIII
Todo esse movimento possibilita a Sartre retomar aquilo que, desde o
incio (j em 1934), lhe pareceu a vantagem maior da fenomenologia: a
superao do impasse entre realismo e idealismo, a afirmao da soberania
da conscincia e da transcendncia absoluta do mundo. A intencionalidade
era ento o segredo maior; ela levou a pr uma conscincia vazia, sem
contedos: por ela, Sartre via o ocaso da representao. Que se lembre
aqui do Essai ou do curto artigo onde Sartre aponta a intencionalidade como
idia fundamental da fenomenologia de Husserl.
Ora, no diferente o tema da Introduo de Ltre et le Nant. Nova-
mente ressurge a querela entre idealismo e realismo. Dessa vez, entretanto,
no se trata mais de enfrentar o representacionismo clssico, o que j foi
feito nas obras anteriores, mas de enfrentar o idealismo husserliano. E no-
vamente a intencionalidade aparece, j agora em um sentido que deve dis-
tinguir-se daquele presente em Husserl (por oposio a uma conscincia
constituinte, uma conscincia que relao a um ser transcendente). E isso
porque Husserl introduziu na conscincia uma matria, tornou-a cheia,
matria a partir da qual o prprio ser do mundo constitudo.
Assim, possvel afirmar que sempre foi essa a perspectiva que Sartre
desejou assegurar, apesar das mudanas no curso de sua leitura da fenome-
nologia. Se ele abandonou o terreno da psicologia para colocar-se no plano
da filosofia primeira, no foi seno porque era necessrio assegurar, desta
vez, a transcendncia absoluta do mundo contra o tardio idealismo
husserliano. certo que essa objeo traz consigo a posio da soberania
da conscincia, precisamente o outro ser que aparece na Introduo de Ltre
et le Nant, meio pelo qual a querela integralmente superada, e meio pelo
Moutinho, L.D.S., discurso (23), 1994: 109-148 143 142 Moutinho, L.D.S., discurso (23), 1994: 109-148
qual reafirmada novamente a contingncia absoluta de ambos os seres, do
mundo e da conscincia. Pois esse tema que faz a unidade das diferentes
leituras, dos diferentes momentos: foi a contingncia que Husserl permitiu
afirmar no primeiro momento, e foi ela que ele ps em risco, no segundo
momento. Mas esse tema para um prximo texto.
Astract: This paper examines Sartres passage to the prima philosophia. The phenomenology
greatest achievement i.e. overcoming the argument between realism and idealism will be
endangered by Husserls further thought which Sartre points out as an idealistic one. Refusing
the concept of unreal noema, Sartre will retake the true principles of the phenomenology,
starting again the speech of the prima philosophia.
Key-words: Sartre psychology phenomenology conscience intentionality image noema
Notas
(1) Certamente, ser-no-mundo um conceito heideggeriano, ainda desconhecido
por A Imaginao. Entretanto, referido em Esquisse, ele ainda exige que se v at
a conscincia transcendental e constitutiva, alcanvel pela reduo
fenomenolgica (Sartre 8, p. 13). Alm do mais, a fenomenologia ainda aparece,
seja a de Husserl, seja a de Heidegger, como a cincia fundante.
(2) Voltaremos a esse assunto mais adiante.
(3) Citado de Ideen, edio original alem, p. 43.
(4) Citado de Ideen, edio original alem, p. 226.
(5) Evidentemente, Sartre vtima aqui da tradicional confuso entre irreal no
sentido natural e irreal no sentido fenomenolgico.
(6) Por exemplo, uma mancha em um muro: o saber, atravs dessa mancha, e
ainda os movimentos, que se tornam simblicos, criam a imagem. Mas a mancha
no posta como provida de propriedades representativas e portanto o objeto da
imagem no posto como existente. Se essa tese neutralizada substituda por
uma tese positiva, se conferida mancha um poder de representao, eis
que estamos em presena da imagem hipnaggica (Sartre 13, pp. 78-9).
(7) Citado de Ideen, edio original alem, p. 206.
(8) De que falaremos adiante.
(9) Ele j citado no Essai. Cf. Sartre 9, p. 58.
(10) Quando Sartre, presumidamente, ainda no sofrera a influncia de
Heidegger!
(11) A primeira parte de Ltre et le Nant tambm contm uma regresso anal-
tica e tambm a propsito de uma conduta que envolve o negativo.
(12) Trata-se da garantia de verdade. Sartre utiliza esse mesmo procedimento em
Ltre et le Nant: aps a regresso, a reflexo.
Moutinho, L.D.S., discurso (23), 1994: 109-148 145 144 Moutinho, L.D.S., discurso (23), 1994: 109-148
(13) (...) de que serve afirmar que o Nada funda a negao se para fazer em
seguida uma teoria do no-ser que separa, por hiptese, o Nada de toda negao
concreta? Se eu emerjo no nada para alm do mundo, como esse nada extra-
mundano pode fundar esses pequenos lagos de no-ser que encontramos a cada
instante no seio do ser? (...) preciso verdadeiramente ultrapassar o mundo para
o nada e voltar em seguida at o ser para fundar esses juzos cotidianos? (Sartre
10, p. 55).
(14) Verdade posta pela interpretao de Ltre et le Nant, mas que, a nosso ver,
era j a de LImaginaire, conforme dissemos acima.
(15) Certamente, o Nada absoluto criticado por Bergson, o da metafsica clssi-
ca, no o de Heidegger: o Nada extra-mundano no o abismo original, no
anterior ao ser.
(16) No h em Bergson, certamente, a totalidade, o avesso apenas do nada ab-
soluto.
(17) Em Ltre et le Nant, diz Sartre: o Nada que tira de si a fora necessria
para se nadificar (Sartre 10, p. 58).
(18) Afinal, o ttulo da obra seguinte ltre et le nant, no o oposto.
(19) Em Ltre et le Nant, Sartre denominou, respectivamente, negao externa
e interna. Cf. Sartre 10, p. 223 e segs. Ver-se- adiante que a negao interna
precisamente o que ele chama nadificao.
(20) Existencial aqui no sentido definido por Heidegger em Ser e Tempo: Todas
as explicitaes que resultam da analtica do ser-a so obtidas luz de sua
estrutura de existncia. E porque eles se determinam a partir da existenciali-
dade que chamaremos existenciais os caracteres do ser-a. Existenciais que, por
sua vez, se opem s categorias, que so determinaes de ser (...) caractersti-
cas do ente que no um ser-a (Heidegger 4, p. 159 e segs.).
(21) Poder-se-ia indagar: para no ser tal ser no necessrio um conhecimento
prvio desse ser? S posso saber se no sou um japons ou um ingls se tenho
conhecimento prvio desses seres. Mas a negao de que falamos no a distin-
o emprica; trata-se antes de uma relao ontolgica que deve tornar toda
experincia possvel e que visa a estabelecer como um objeto em geral pode exis-
tir para a conscincia (Sartre 10, p. 224). No tenho experincia do objeto an-
tes de constitu-lo como tal. Cf. idem, p. 224 e segs.
(22) Quatro anos que vo do Essai a La Psych (ou Esquisse). Exclui-se aqui a
Concluso de LImaginaire, escrita depois, e, muito provavelmente, a Introduo
de Esquisse.
(23) Desanti se equivoca quando aponta, entre os trs culs-de-sac que Sartre
encontrou na fenomenologia de Husserl, o Ego, pois ele o recusou no momento
em que ainda era (e permaneceu) husserliano. Em seu lugar, precisaria falar
da hyl. Cf. Desanti 2.
Bibliografia
1. Bergson, H. Oeuvres. Paris, PUF, 1959.
2. Desanti, J.-T. Sartre et Husserl ou Les Trois Culs-de-Sac de la Phnomno-
logie Transcendantale. In: Les Temps Modernes, n
o
531-533, Paris,
1990.
3. Guroult, M. Descartes selon lOrdre des Raisons. Paris, Aubier-
Montaigne, 1968.
4. Heidegger, M. Que Metafsica? So Paulo, col. Os Pensadores, Abril
Cultural, 1973.
5. _______. tre et Temps. Paris, trad. Emmanuel Martineau, Authentica.
6. Prado Jr., B. Presena e Campo Transcendental Conscincia e
Negatividade na Filosofia de Bergson. So Paulo, Edusp, 1989.
7. Sartre. Les Carnets de la Drle de Guerre. Paris, Gallimard, Paris, 1983.
Moutinho, L.D.S., discurso (23), 1994: 109-148 147 146 Moutinho, L.D.S., discurso (23), 1994: 109-148
Lacan: Subjetividade e Psicose
Richard Theisen Simanke*
Resumo: Este artigo se prope a discutir as investigaes iniciais de Lacan em torno da noo de
sujeito, correlativas eleio da psicose principalmente a parania como paradigma clnico
para sua teoria.
Palavras-chave: psicanlise filosofia da psicanlise Lacan psicose subjetividade
Substancialmente, no posso deixar de manter as minhas
idias desenvolvidas anteriormente sobre a incapacidade de
Deus na situao contrria Ordem do Mundo, que surgiu
com relao a mim, como conseqncia da conexo nervosa
exclusiva com um nico homem de julgar corretamente o
homem vivo enquanto organismo. (...) Em particular, se sus-
tenta que Deus, que em circunstncias normais s mantinha
relacionamento com almas e com o fim de extrair seus
nervos tambm com cadveres, acredita poder me tratar
como uma alma, ou em certos casos como um cadver, des-
conhecendo totalmente as necessidades que resultam da exis-
tncia de um corpo vivo, impondo-me todo o modo de pen-
sar e de sentir das almas, sua linguagem, etc. (...)
(Daniel Paul Schreber, Memrias de um Doente dos Nervos)
discurso (23), 1994: 149-175
* Aluno de Ps-Graduao do Departamento de Filosofia da Universidade de So Paulo.
8. _______. Esquisse dune Thorie des motions. Paris, Hermann, 1966.
9. _______. Essai sur la Transcendance de lEgo. Paris, J. Vrin, 1988.
10. _______. Ltre et le Nant. Paris, Gallimard, 1969.
11. _______. Une Ide Fondamentale de la Phnomnologie de Husserl:
lIntentionnalit. In: Situations I. Paris, Gallimard, 1947.
12. _______. A Imaginao. So Paulo, col. Os Pensadores, Nova Cultural,
1990.
13. _______. LImaginaire. Paris, Coll. Folio/Essais, Gallimard, 1986.
14. Spiegelberg, H. The Phenomenological Movement. Boston, Martinus
Nijhoff, 1984.
148 Moutinho, L.D.S., discurso (23), 1994: 109-148
Uma vez formulado o imperativo do retorno a Freud como dire-
triz de pesquisa e, depois, como lema de Escola , Jacques Lacan jamais
deixou de definir-se como freudiano; ele o reiterou at o ltimo alento de
seu esforo terico e de seu ensino
(1)
. No escapa a ningum, claro, o
carter fortemente idiossincrtico deste retorno, cujo esprito, alis, o pr-
prio autor no se cansou de esclarecer. Mas, mesmo com isto em mente, a
sombra de Freud tende a projetar-se capciosamente sobre o texto de Lacan,
e vice-versa. Assim, se, por um lado, ao abordar Freud a partir de Lacan,
cai-se com facilidade na iluso retrospectiva, vendo ali pr-figurados, for-
mulados de modo confuso ou em uma linguagem imprpria, temas e ques-
tes apenas pensveis aps uma longa elaborao de responsabilidade ex-
clusivamente lacaniana, da mesma forma e em sentido inverso fcil
desencaminhar-se pensando encontrar em Lacan respostas novas e, talvez,
melhores, para velhos problemas freudianos. Se inegvel que, a partir de
certo momento de sua trajetria, ocorre uma convergncia entre a pesquisa
de Lacan e a psicanlise, no menos verdade que ele parte de problemas e
premissas muito particulares e que nada devem a Freud. Apreender a
especificidade destes problemas e destas premissas faz-se, ento, impres-
cindvel para a compreenso do lacanismo e, mesmo, das bases em que se
d o seu encontro com a psicanlise freudiana
(2)
.
De fato, o incio da investigao terica do psiquiatra Jacques Lacan
se d sobre o fundo de uma formao intelectual e de uma experincia cl-
nica perfeitamente distintas das de Freud. Tomando da formao intelectual
apenas o que aparece expresso na obra (isto , deixando de lado um certo
anedotrio biogrfico) e, principalmente, levando em conta a clnica como
o campo a partir do qual se colocam para um investigador mdico, mas
filosoficamente informado, tanto uma certa ordem de problemas quanto os
parmetros para a sua resoluo, trata-se, aqui, de avanar algumas conside-
raes sobre um tema que vir a adquirir uma importncia central na obra
futura de um Lacan j psicanalista, a saber, a questo do sujeito. Deixa-se
entrever que essas elaboraes posteriores vm a situar-se num quadro de
exigncias fixado de modo mais ou menos ntido em seu trabalho inicial.
A obra terica inaugural de Lacan sua tese de doutorado. Ele o assu-
me plenamente em seu captulo final: Nossa tese , antes de tudo, uma tese
de doutrina (Lacan 13). No se trata, portanto, de esquivar-se s responsa-
bilidades da teoria, pretendendo apenas relatar um fato, mas propor uma
doutrina da personalidade capaz de dar conta do fenmeno psictico. Sob
certo aspecto, a psicose mais especificamente, a parania representa
para Lacan o que a neurose mais especificamente, a histeria representa
para Freud. Ambas definem e circunscrevem um certo campo da experin-
cia, que se apresenta como essencialmente problemtico para o saber mdi-
co psiquitrico num caso, neurolgico no outro disponvel para os dois
autores e que vai exigir um trabalho terico tal, que culminar na constitui-
o de uma nova disciplina. No caso de Freud, essa disciplina a psicanli-
se. J Lacan conclui sua tese enunciando a necessidade e fornecendo as
bases para a criao de uma cincia da personalidade compatvel com o
fato psictico, e suas pesquisas subseqentes so permeadas de preocupa-
es mais francamente epistemolgicas. Se, nesse caminho, ele reencontra
a psicanlise freudiana, devido natureza mesma dos problemas com que
se defronta. Lacan, poca da tese, est perfeitamente consciente de que a
convergncia com a psicanlise uma conseqncia de sua investigao, e
no uma premissa da mesma
(3)
.
A incidncia da psicanlise na tese da qual Lacan presta contas com
certo detalhe em seu captulo final talvez tenha sido, em parte, mediada
pela Crtica dos Fundamentos da Psicologia, de Politzer, no citado, mas
cuja influncia faz-se sentir nos parmetros propostos para a sua cincia
da personalidade. Se, de alguma maneira, o ideal de uma psicologia
concreta, que aparece assumido de modo mais ntido na obra imediatamente
posterior, acabou por ser substitudo pelo projeto mais ambicioso de
formulao de uma teoria do sujeito, isto talvez se deva percepo de que
havia em Freud, se no a letra, ao menos o esprito inexplicitado de uma tal
teoria, com chances de harmonizar-se satisfatoriamente com as exigncias
que Lacan j estabelecera.
De qualquer forma, o problema do sujeito surge muito cedo em Lacan,
na aurora mesma de sua produo terica e, portanto, de modo independen-
te de Freud. Se verdadeira a hiptese de que a psicose constitui-se no seu
paradigma clnico por excelncia
(4)
, esta dever ser uma teoria do sujeito
compatvel com as condies do fenmeno psictico, o que, como se ver,
Theisen Simanke, R., discurso (23), 1994: 149-175 151 150 Theisen Simanke, R., discurso (23), 1994: 149-175
de modo algum um ponto pacfico. Partindo destas consideraes, a ex-
posio que se segue ocupa-se, em primeiro lugar, do porqu da necessida-
de de introduzir (ou reintroduzir) a noo de sujeito na reflexo psiquitri-
ca sobre a parania, preocupao que permeia as elaboraes lacanianas na
tese de doutorado; este tpico se justifica na medida em que no , de ime-
diato, evidente que um mdico deva se preocupar com uma teoria do sujeito
(ao contrrio, o que se verifica, historicamente, que a medicina passa
muito bem sem ela). A seguir, so discutidas as dificuldades que acarreta a
formao de uma teoria do sujeito que comporte um lugar para a experin-
cia psictica, ao confrontar-se como Lacan insiste em fazer com o ponto
de vista do saber mdico, por um lado, e com o ponto de vista da tradio
filosfica, por outro.
***
Para diz-lo em uma nica frmula, a necessidade da reintroduo do
sujeito se justifica por uma exigncia, enunciada na tese, de compreenso
da parania como fenmeno total, ou seja, da totalidade do fenmeno para-
nico
(5)
. Em outras palavras, resulta da assuno de um ponto de vista estri-
tamente anti-reducionista: compreender a totalidade do fenmeno parani-
co implica apreender o sentido das formaes delirantes, o que imposs-
vel para um olhar organicista, que reduz as manifestaes psquicas a seus
determinantes fisiolgicos, caindo em um epifenomenismo desqualificatrio.
Essa exigncia de compreenso tem sua fonte mais evidente na psiquia-
tria fenomenolgica de Jaspers, mas incorporada com importantes
ressalvas, que convm precisar. Abrindo um parntese, cabe lembrar que,
mais tarde, Lacan vai chegar a invocar seu velho mestre Clrambault, um
campeo do organicismo, para fazer justamente a crtica do conceito de
relao de compreenso, da qual Jaspers faz o piv de toda a sua
psicopatologia dita geral (Lacan 15, p. 14); em suma, para dizer que aquilo
que eficaz na causao da psicose , precisamente, o que no se
compreende, ou seja, os fenmenos anidicos, que Clrambault privilegiava
na evoluo da psicose, configurando o chamado automatismo mental
(6)
.
Porm, j na tese, Lacan defende uma noo de compreenso que no
entre em conflito com os requisitos da objetividade
(7)
. Em outras palavras,
ele insiste na manuteno de um ponto de vista que define como determinista
e materialista (em oposio, talvez, a um certo espiritualismo latente na
concepo de Jaspers). Ou seja: seu projeto terico, no nvel da tese, con-
ciliar as exigncias da compreenso com as da cientificidade
(8)
.
Para tanto e de acordo com o ideal cientfico algo politzeriano que
professa j para a psicologia necessrio que as condies da compreen-
so se harmonizem com o imperativo da concretude. nesse contexto que
Lacan enuncia a sua definio de compreenso, que vale a pena citar na
ntegra: Compreender, ns entendemos por isso dar seu sentido humano s
condutas que observamos em nossos doentes, aos fenmenos mentais que
eles nos apresentam. Certamente, a est um mtodo de anlise que , nele
mesmo, muito tentador para no apresentar graves perigos de iluses. Mas
saiba-se bem que, se o mtodo faz uso de relaes significativas, uso que
funda o assentimento da comunidade humana, a aplicao delas determi-
nao de um fato dado pode ser regida por critrios puramente objetivos,
que a resguardem de toda contaminao pelas iluses, elas mesmas assina-
ladas, da projeo afetiva (Lacan 13, pp. 309-310; grifos do autor). Nessa
definio, cruzam-se praticamente todos os itens de seu projeto
epistemolgico nascente: o apelo s relaes significativas, ou seja, a exi-
gncia de compreenso do sentido das formaes delirantes; a invocao de
critrios puramente objetivos para a apreenso do sentido desta ordem de
fatos
(9)
; e, last but not least, a necessidade de buscar um modo especfico de
determinismo para o campo da subjetividade, implicada na proposta de dar
seu sentido humano s condutas patolgicas observadas.
Em suma, a estratgia terica de Lacan consiste em inserir as funes
intencionais, que so prerrogativas do sujeito, em uma ordem de determi-
nao que seja prpria do fenmeno humano, ou seja, sua pesquisa assume,
ento, a forma da busca de um estilo de determinismo apropriado perso-
nalidade, conceito invocado para representar a totalidade ou a sntese das
Theisen Simanke, R., discurso (23), 1994: 149-175 153 152 Theisen Simanke, R., discurso (23), 1994: 149-175
funes psquicas. Ora, uma tal determinao, se ela no deve ser
reducionista, s pode ser buscada no meio especfico do homem, ou seja
e este um dos axiomas da tese , no meio social: a primeira forma que ir
assumir a preocupao de Lacan com o problema da constituio do sujeito
ser a elaborao de uma teoria da gnese social da personalidade (Ogilvie
19, p. 15). A acusao de recair na psicologia (assim, entre aspas, para
indicar, mais exatamente, um psicologismo) devolvida, ento ao
organicista, ao defensor dos agentes mticos do automatismo mental (Lacan
13, p. 310). Lacan julga-se suficientemente vacinado contra o espiritualismo,
pelo respaldo das correntes materialistas citadas acima. Quando se trata da
realidade humana, o reducionismo que se torna abstrato: Vemos, com
efeito, este [o auto-intitulado organicista] tratar as alucinaes, as pertur-
baes sutis dos sentimentos intelectuais, as auto-representaes
aperceptivas e as prprias interpretaes como se se tratassem de fenme-
nos independentes da conduta e da conscincia do sujeito que as experi-
menta e, inconsciente de seu erro, fazer desses eventos objetos em si. Que
ele suponha a esses delitos o corpo de alguma leso, alis puramente mti-
ca, sem dvida este doutrinrio cr assim ter mostrado o nada da psicolo-
gia, mas ele, de fato, erige seus conceitos em dolos. As abstraes da
anlise tornam-se, para ele, realidades concretas
(10)
.
O que, neste ponto, permite a Lacan invocar o comportamento animal
como critrio de objetividade para o esforo de compreenso do sentido da
experincia psictica a referncia aos trabalhos de Von Uexkll, cuja impor-
tncia na formulao de uma tpica do imaginrio nos anos do ps-guerra
tambm assinalada por Bento Prado Jr. no texto citado. ele, com efeito,
que coloca no centro da investigao biolgica a noo de um meio prprio
(Umwelt) para cada ser vivo dado, noo que permite manter a espe-
cificidade do fato vital (assim como Lacan quer preservar a especificidade
do psquico), cumprindo a funo de rejeitar como abstrata a atitude redu-
cionista: o meio eficaz na determinao do comportamento visto como
estruturado e organizado a partir do prprio organismo que constitui o seu
centro; no um dado bruto que possa ser invocado como instncia ltima
de uma causalidade grosseiramente material. E Lacan prossegue: V-se
que, em nossa concepo, aqui conforme a Aristteles, o meio humano, no
sentido que lhe d Uexkll, seria por excelncia o meio social humano
(Lacan 13, p. 337, nota). No homem, portanto, o vital converge para o social.
A considerao destas passagens, entre outras, leva Ogilvie inscrever Lacan
em um certo contexto de poca, mapeado em parte na filosofia da biologia
de Canguilhem, que se caracteriza por um respeito epistmico ao nvel
prprio de objetividade em que deve vir a se situar cada cincia. A partir
da, o projeto lacaniano neste estgio pode ser sintetizado como segue: Para
resumi-la [a pesquisa de Lacan] em uma frmula, poder-se-ia dizer que seu
objetivo a descoberta da ordem de determinao que caracteriza o meio
humano em sua especificidade, quer dizer, ao mesmo tempo, enquanto a se
reencontra esta idia de uma atividade de um centro (um organismo) que
debate com um ambiente do qual ele faz um meio inteiramente determi-
nado por suas caractersticas prprias (sua organizao interna), e enquanto
ele se diferencia dos outros meios vivos pela importncia determinante que
a assume a relao social: no homem, a cultura que ocupa o lugar da
natureza, a instituio, o do instinto e o desvio pela comunicao, a
linguagem e as manifestaes mentais que ocupa o lugar do automatismo
reacional que se observa nos animais (Ogilvie 19, p. 69).
Dentro desses parmetros, a pretendida cincia da personalidade se
converte no estudo gentico das funes intencionais, onde o psiquismo
abandona o aspecto de um fantasma ocioso pairando sobre o funcionamento
real de um organismo vivo, para assumir o estatuto de fator de adaptao do
indivduo ao seu meio, a entendido o meio social (id., ibidem, p. 52). Da a
necessidade de uma revoluo na antropologia (idem), ou seja, a formu-
lao ou a descoberta de uma antropologia antiindividualista
(11)
, uma antro-
pologia que considere o fato social ou cultural em sua realidade prpria e
autnoma, no dependente da ao dos indivduos. Este pressuposto absolu-
tamente necessrio para que possa haver determinao do sujeito, no sentido
em que Lacan a deseja, na medida em que compe uma ordem transcendente
( qual pode ser remetida a causalidade), mas no heterognea (o que permite
escapar ao reducionismo). Em seu percurso posterior, Lacan vai encontrar
ou pensar encontrar essa expectativa realizada, primeiramente, na relei-
tura de Hegel empreendida por Kojve, que faz da Fenomenologia do Esprito
uma espcie de antropologia filosfica (uma teoria da antropognese do
Theisen Simanke, R., discurso (23), 1994: 149-175 155 154 Theisen Simanke, R., discurso (23), 1994: 149-175
sujeito) (cf. Arantes 1), e, mais tarde, no estruturalismo de Lvi-Strauss,
porm, a j em novas bases: Lvi-Strauss faz convergir uma teoria da cultura
com uma certa teoria da linguagem (lembrando, por exemplo, que o problema
das relaes de parentesco surge inicialmente como um problema de nomen-
clatura), na qual Lacan, no sem adapt-la aos seus fins, vai fundar a to
necessria teoria da constituio do sujeito.
neste contexto que se tornam compreensveis aquelas que Ogilvie
considera as duas idias principais da tese, que vm a delimitar o conceito
de personalidade: a da psicose como estrutura reacional e a de dependncia
do sujeito (Ogilvie 19, p. 54). So elas que definem as condies nas quais
a noo de sujeito pode ser readmitida dentro do campo da racionalidade
mdica. No sem problemas, j que Lacan no abre mo da atividade do
sujeito, como aparece no resumo de Ogilvie citado acima: a ao do sujeito
diante do meio fundamental, mesmo que se trate de uma reao. Ela
essencial para a compreensibilidade dos atos intencionais da conscincia
delirante. Este postulado colocar problemas cruciais em seu dilogo com a
tradio mdica, mas, numa outra direo, o impedir, tambm, de subsumir
totalmente as teses estruturalistas.
***
Pelo prprio fato de que a pesquisa lacaniana , inicialmente, interna
medicina, seu objetivo de reintroduzir o sujeito como condio para a
compreensibilidade dos fenmenos psicticos esbarra, de imediato, em di-
ficuldades inerentes ao prprio discurso mdico. Um olhar de relance sobre
a histria da formao deste discurso deve bastar para situar a natureza
dessas dificuldades.
Foucault, em O Nascimento da Clnica (Foucault 8), reconstitui a evo-
luo da medicina, a partir do engendramento progressivo dos paradigmas
que condicionam diferencialmente aquilo que designa como o olhar mdi-
co
(12)
. Parte da medicina classificatria fase preliminar, inventariante e
descritiva das doenas, concebidas como entidades e organizadas em uma
taxonomia, ao modo das espcies botnicas ou zoolgicas e chega at a
constituio da antomo-patologia, passando pelo momento decisivo do
surgimento da clnica, como primeira ocasio, no pensamento ocidental,
em que o indivduo humano concreto torna-se objeto de uma disciplina com
pretenses de racionalidade. Foucault assinala, por isso, em sua concluso,
a importncia que este momento da histria da medicina adquiriu para a
formao deste ramo do conhecimento que passou a designar-se como o das
cincias do homem
(13)
.
Mas, na direo das cincias naturais, com Bichat e a implantao
hegemnica da anatomia patolgica, na primeira metade do sculo XIX,
que se realiza o ideal da objetividade mdica, com a medicina instituindo-
se como cincia de pleno direito. Foucault descobre sua formulao mais
cabal expressa no imperativo do abram alguns cadveres, de Bichat: Du-
rante 20 anos, noite e dia, se tomaro notas, ao leito dos doentes, sobre as
afeces do corao, dos pulmes e da vscera gstrica, e o resultado ser
apenas confuso nos sintomas que, a nada se vinculando, oferecero uma
srie de fenmenos incoerentes. Abram alguns cadveres: logo vero desa-
parecer a obscuridade que apenas a observao no pudera dissipar
(14)
. Eis,
portanto, a observao liberta das perturbaes intercaladas pelas manifes-
taes da subjetividade a queixa, o autodiagnstico equivocado, a identi-
ficao por conta prpria da causa provvel do mal, etc. das quais se
toma nota cabeceira dos doentes. A concluso se impe: a excluso do
sujeito pr-condio para que se consume o projeto de objetividade raci-
onal da medicina ou, no dizer de Foucault, para que se atinja plenamente a
acuidade do olhar mdico
(15)
.
Ora, esta excluso tem efeitos reducionistas em todos os mbitos. A
crtica de autores como Georges Canguilhem , justamente, de que, no limite,
todos os fenmenos so achatados contra o solo ontolgico fundamental
dos processos fsico-qumicos no fundo, o nico real, o resto aparncia
, perdendo-se de vista a especificidade da ordem vital. Se isto produz distor-
es significativas mesmo no nvel da medicina orgnica, seus efeitos so
ainda mais devastadores no domnio da patologia mental.
Um primeiro efeito deste achatamento a perda da distino entre o
orgnico e o psquico, nenhum dos dois tendo dignidade ontolgica sufici-
Theisen Simanke, R., discurso (23), 1994: 149-175 157 156 Theisen Simanke, R., discurso (23), 1994: 149-175
ente para impor-se em seu nvel prprio de realidade. Em Doena Mental e
Psicologia, Foucault parte exatamente de uma crtica da identificao entre
a patologia mental e a orgnica, que tende a estabelecer para ambas estrat-
gias clnico-teraputicas equivalentes. Ele descobre o fundamento desta iden-
tidade na suposio implcita de uma patologia geral e abstrata, de uma
espcie de metapatologia subjacente, que antecede e governa as patologi-
as especficas
(16)
, reencontrando assim o abstracionismo que Lacan imputa
s pretenses hiper-objetivistas do olhar redutor.
J Canguilhem aponta para os efeitos nocivos da miragem reducionista
dentro da prpria medicina orgnica e, mesmo, na cincia biolgica dita
pura, numa crtica perspicaz cujos detalhes no possvel reproduzir aqui.
Ele chega a empreender uma reabilitao filosfica do vitalismo, como uma
doutrina que, apesar de seus equvocos equvocos s vezes imputados
injustamente por uma crtica superficial ou uma condenao a priori ,
tem, ao menos, o mrito de resgatar a especificidade do fato vital:
entretanto um fato que a designao de vitalismo convm, a ttulo
aproximativo e em razo da significao que ela tomou no sculo XVIII, a
toda biologia ciosa de sua independncia com relao s ambies
anexionistas das cincias da matria
(17)
.
nesse sentido que Ogilvie aponta que Lacan s pde elaborar seu
ponto de vista renunciando ao mortalismo da antomo-patologia. Ele as-
sinala que Lacan a no faz seno seguir uma diretriz tipicamente positivista
e comtiana, ao definir um objeto e a disciplina terica apropriada para
abord-lo (Ogilvie 19, p. 60). Tal atitude pode, perfeitamente, ser imputada
tambm a Freud: ao criar a psicanlise, desvinculando-a da referncia
anatmica e da tutela mdica, seu interesse era o de engendrar uma cincia
positiva do inconsciente. Alis, o prprio movimento progressivo de apaga-
mento da diferena entre a neurose e a normalidade que se verifica desde as
obras iniciais de Freud tem uma orientao comtiana. A premissa de que
no h seno diferenas de grau entre o normal e o patolgico encontra-se
no comentrio de Augusto Comte ao que ele chama o princpio de
Broussais, conforme a anlise de Canguilhem
(18)
. Que Freud tenha evolu-
do na direo de uma apreciao qualitativa e, mesmo, estrutural avant la
lettre (e, talvez, malgr lui), como querem alguns inclusive um Lacan
mais tardio das manifestaes neurticas e psicticas, em nada invalida a
sua inspirao comtiana original. No caso de Lacan, o que Ogilvie aponta
como proveniente do positivismo comtiano a convergncia da postulao
da autonomia do sociolgico com a busca da especificidade do vital: A
decomposio da humanidade em indivduos propriamente ditos no cons-
titui seno uma anlise anrquica, tanto irracional quanto imoral, que tende
a dissolver a existncia social no lugar de explic-la, j que ela no se torna
aplicvel seno quando a associao cessa. Ela to viciosa em sociologia
quanto o seria, em biologia, a decomposio qumica do indivduo, ele mes-
mo, em molculas irredutveis, cuja separao no ocorre jamais durante a
vida
(19)
. A primeira requisito para que possa haver determinao do su-
jeito por uma ordem transcendente, porm homognea. A segunda condi-
o para a reapario do sujeito no campo do discurso mdico.
Em que pese esta renncia ao mortalismo mdico, curioso assinalar
que, na medicina orgnica, o morto est para o vivente, assim como, na
investigao psiquitrica e psicolgica, a desrazo est para o psquico
(20)
.
Se a antomo-patologia desenvolveu-se para prover a clnica mdica de dados
confiveis e precisos, no menos verdade que a clnica das perturbaes
mentais deixou constitudas no seu rastro as cincias psicolgicas e huma-
nas em geral, se acompanharmos Granger e Foucault. H, portanto, equiva-
lncia e simetria. em sua negao que vida e razo encontram sua verdade.
Tanto que Lacan vai, na continuidade, reintroduzir como essencial em sua
constituio a relao do sujeito com a morte, via Hegel/Kojve inicialmente,
depois resgatando a pulso de morte freudiana de sua formulao biolgica
e inserindo-a na prpria lgica do funcionamento da linguagem.
De qualquer forma, no nvel de elaborao em que se encontrava, pode-
se concluir por uma perfeita solidariedade entre a reintroduo do sujeito, a
crtica do reducionismo e a busca do determinismo prprio do psquico (e
do humano, lendo-se a sua existncia social) nos primrdios da pesquisa
lacaniana. Todas so condies para que se possam prestar contas da pre-
sena do sentido no seio da experincia psictica. O que ressalta da apreen-
so clssica da patologia mental que o comportamento anormal absurdo
porque determinado, ao passo que o normal compreensvel porque
livre: quando o corpo interfere que a alma se desarticula. Lacan, ao con-
Theisen Simanke, R., discurso (23), 1994: 149-175 159 158 Theisen Simanke, R., discurso (23), 1994: 149-175
trrio, anuncia a possibilidade de compreender o sentido do fenmeno
psictico a partir de sua determinao especfica. Com isso, entretanto,
faz-se necessrio dialogar com uma certa tradio filosfica, que faz da
autonomia do sujeito um obstculo para a aceitao da loucura no seio de
sua experincia.
***
Em primeiro lugar, por que este dilogo com o discurso filosfico?
Assim como no evidente que um psiquiatra ou mesmo um psicanalista
tenha que buscar uma teoria do sujeito, tambm no o que tenha que
prestar contas dela diante da filosofia. Mas, em primeiro lugar, confronta-
se aqui uma questo de fato: toda a obra de Lacan est permeada por um
constante debate com a filosofia. Percebe-se j na tese uma ateno ao campo
filosfico como nunca se encontrar em Freud. Ao forjar seus conceitos,
Lacan nunca deixa de dar destaque a suas repercusses filosficas, mesmo
que, s vezes e principalmente em sua obra mais tardia , a referncia aos
filsofos possa assumir um carter um tanto metafrico ou ilustrativo.
Por outro lado, h esse aspecto francamente epistemolgico, j aludi-
do, na sua reflexo sobre o campo psicanaltico. Ele patente no momento
inaugural da tese, mas prolonga-se at fases posteriores e decisivas da
evoluo de seu pensamento, ou seja, um questionamento reiterado sobre a
natureza do saber que serve psicanlise
(21)
. Mesmo na tese, Lacan no
deixa de apontar que determinadas mises au point necessrias so de natu-
reza metafsica. Aqui se manifesta um dos aspectos do propalado espinosis-
mo lacaniano: trata-se de criticar a doutrina clssica do paralelismo
psiconeurolgico, encarnado principalmente na pessoa de Taine (Lacan 13,
p. 45 [nota 32] e pp. 335-337), e rejeit-la em prol de um paralelismo
verdadeiro, que na verdade um monismo ao gosto de Espinosa. A perso-
nalidade no paralela aos processos neuronais, mas sim totalidade for-
mada pelo indivduo mais seu meio prprio, ou seja, ela se define como um
aspecto particular (um atributo, um modo) de uma nica substncia sin-
gular que a existncia social do indivduo, no sentido especfico que Lacan
quer defender: no uma teoria da ao do indivduo em sociedade, mas da
ao da sociedade sobre o indivduo e de sua resposta reativa
(22)
. Esta recusa
de um dualismo substancialista, por outro lado, concorda plenamente com
o esforo anti-reducionista de Lacan. Ogilvie j aponta como, sobre o pla-
no psiquitrico, [todo dualismo] no pode seno terminar em uma desvalo-
rizao das representaes (Ogilvie 19, p. 63). Bento Prado Jr. assinala
como, curiosamente, a prpria tripartio simblico/imaginrio/real parece
estar a servio deste monismo: A teoria da ordem do simblico visa,
claro, evitar a queda numa espcie de Naturphilosophie e a supresso da
ordem propriamente antropolgica aberta com a psicanlise. Mas, ao faz-
lo (...), no se trata de salvar o dualismo puro e simples, que justape ou
ope os domnios do biolgico e do psicolgico. De resto, Lacan j se ope
firmemente a esse tipo de dualismo (...) (Prado Jr. 20, p. 55; grifos do
autor). Metapsicologia e metafsica aproximam-se, aqui, estreitamente.
De qualquer modo, a referncia filosofia est efetivamente presen-
te, e o problema da reintroduo do sujeito ter de ser e ser discutido
em termos filosficos, e no apenas por ateno s questes epistmicas.
Mas resta saber qual filosofia ser invocada a este propsito. A resposta
que a inspeo dos textos revela no deixa de ser surpreendente: sempre
que Lacan colocar em questo o sujeito do inconsciente, a referncia prin-
cipal ser Descartes
(23)
. No cabe aqui historiar ou descrever com detalhes
as nuances e implicaes desta escolha. O interesse principal discriminar
os problemas que ela possa oferecer a uma teoria que tem por conceito-
chave o inconsciente e por paradigma clnico a psicose. Mesmo assim, so
necessrias algumas palavras para situar o problema, antes de tentar mos-
trar que tal opo no incompatvel com o projeto lacaniano at ento
descrito.
Em primeiro lugar, com Descartes, Lacan se reporta tradio filos-
fica que se designa como racionalismo. A pergunta, ento, pode assumir a
seguinte forma: por que as premissas para uma teoria do sujeito, dentro da
psicanlise, tm que ser as do racionalismo? A primeira resposta oferecida
pode ser negativa: as condies para uma tal teoria no poderiam ser as do
empirismo
(24)
. De resto, a crtica e a oposio ao empirismo so notrias em
Theisen Simanke, R., discurso (23), 1994: 149-175 161 160 Theisen Simanke, R., discurso (23), 1994: 149-175
Lacan, tanto no plano da clnica quanto no da teoria (Juranville 10, p. 81 e
segs.). No que diz respeito ao problema em pauta o sujeito , no difcil
atinar com as razes desta incompatibilidade: se uma doutrina empirista
coloca o sujeito na posio segunda que Lacan lhe atribui, apresentando-o
como determinado, ela incapaz de escapar ao epifenomenismo que ele
condena. O sujeito ser a sempre considerado como feixe de representa-
es, resultado ilusrio do cruzamento de tendncias e moes, cuja causa
sempre exterior e heterognea, e nunca, portanto, um centro ativo capaz
de trabalhar o real na produo de um mundo prprio adequado sua natu-
reza. Este sujeito ocioso na teoria, e sua hiptese intil.
com uma concepo racionalista do sujeito, ento, que Lacan vai
dialogar, apesar de esta concepo incorrer em todos os pecados que Freud
denunciava nas filosofias da conscincia. verdade que, a tambm, vai
introduzir as necessrias correes de perspectiva, entrando em questo aqui,
particularmente, aquelas que se prestam a permitir a atribuio deste sujei-
to experincia psictica.
Os termos do problema se apresentam, agora, de modo muito diverso
e talvez at mesmo opostos ao que ocorria quando o interlocutor era o
discurso mdico: no h mais excluso do sujeito, mas, pelo contrrio, na
tradio que se inaugura com Descartes, ele a primeira certeza e o ponto
de partida de todo o conhecimento. Em resumo, ele , essencialmente, au-
tnomo e indeterminado, ao passo que todo o esforo de Lacan descrito at
agora foi para fundamentar uma teoria da dependncia do sujeito, esforo
que, sabemos, se perpetuar nas verses posteriores da teoria, onde o recur-
so noo de estrutura visar justamente conciliar o par antagnico da
dependncia e da atividade. Embora Lacan nunca tenha sido completamen-
te estruturalista (ao contrrio do que dizem certas leituras
(25)
), embora ele
no pudesse t-lo sido, j que o estruturalismo seguido risca, ao centrar a
anlise e localizar a explicao para os fatos de linguagem ou de cultura na
combinatria dos elementos nos nveis hierrquicos da estrutura, no deixa
espao para a atividade do sujeito como centro organizador da experin-
cia
(26)
em que pese tudo isso, a sua posio inconcilivel com a autono-
mia absoluta do sujeito cartesiano. preciso que se realize a passagem do
sujeito entendido como causa de suas representaes para o sujeito enten-
dido como efeito destas mesmas representaes, para que este possa ser
objeto de um conhecimento que se pretenda objetivo. Viu-se que o proble-
ma maior de Lacan, na tese, era reintroduzir o sujeito na apreenso mdica
da psicose, sem sair dos parmetros do determinismo. Porm, alm disso, a
dificuldade que surge quando do confronto com este tipo de concepo
filosfica do sujeito a impossibilidade destas teorias em admitir a loucu-
ra como uma das formas de manifestao da subjetividade.
Essa a conhecida tese defendida por Foucault na sua Histoire de la
Folie (Foucault 7, pp. 56-59), numa espcie de prefcio sua anlise do
grand renfermement. Descartes teria subtrado a loucura dentre aquelas que
seriam as boas razes de duvidar, participando, assim, do estranho gol-
pe de fora que, na aurora da idade clssica, baniu a loucura de seu cenrio
e a reduziu ao silncio. Mas esta excluso no se d somente por um pre-
conceito de poca: a loucura no pode ser uma das razes de duvidar, na
medida em que a dvida que ela instaura diz respeito no ao objeto do
pensamento, mas ao sujeito que pensa. Enquanto os argumentos anteriores
o sonho e a iluso dos sentidos comportam um fundo de verdade que os
impede de levar a dvida ao ponto extremo de sua universalidade, para
garantir o pensamento contra a loucura, Descartes obrigado a recorrer a
uma impossibilidade a priori de o pensamento ser louco: No se pode, ao
contrrio [do sonho], supor, mesmo pelo pensamento, que se louco, pois a
loucura, justamente, condio de impossibilidade do pensamento (id.,
ibidem, p. 57). Inserida no movimento inicial da dvida, logo aps a apre-
sentao das razes naturais de duvidar, no que diz respeito ao conheci-
mento do mundo a loucura poderia oferecer uma espcie de atalho para a
instalao da dvida hiperblica, ao colocar em xeque a totalidade da expe-
rincia. Mas este resultado seria irresgatvel pela certeza posterior do cogi-
to, j que ele obtido atravs de um golpe certeiro e fulminante dirigido
nica garantia da possibilidade do conhecimento, o Eu pensante. A loucura
comprometeria, assim, todo o projeto fundacionista de Descartes, o que
decreta sua excluso a priori: Eu, que penso, no posso ser louco (id.,
ibidem).
Essas afirmaes de Foucault so contestadas por Jacques Derrida.
Em primeiro lugar, para ele, a certeza do cogito vlida em seu instante
Theisen Simanke, R., discurso (23), 1994: 149-175 163 162 Theisen Simanke, R., discurso (23), 1994: 149-175
pontual, ou seja, verdadeira como ato de afirmao do sujeito, indepen-
dentemente do fato de o eu que pensa ser louco ou no
(27)
. No haveria
excluso da loucura em Descartes, mas a efetivao de uma dmarche que
conduz a um ponto onde a distino entre a razo e a desrazo se dilui em
uma certeza de ser que comum a ambas: Que eu seja louco ou no, Cogi-
to, sum (Derrida 4, p. 86). De resto, ele no restringiria, de fato, em mo-
mento algum, o alcance e a significao da loucura, mas apenas fingiria
faz-lo na fase inicial, no momento no-hiperblico da dvida natural
(id., ibidem). Escorado nestas consideraes, Juranville avana a idia de
que a loucura reingressa na economia da dvida, travestida na hiptese do
gnio maligno, que pe em questo a veracidade da experincia como um
todo. Apelando para o conceito do grande Outro lacaniano alicerce da
ordem simblica e sustentculo do tipo de verdade de que o conhecimento
humano capaz , ele define o louco como o sujeito exposto a uma alteri-
dade essencialmente enganadora, da qual o gnio maligno constituiria a
perfeita metfora: O louco s conhece o outro enganador; no pode acre-
ditar no Outro, est mergulhado no que Lacan, seguindo Freud, denomina
de Unglauben (pensemos no escrnio de Deus no delrio de Schreber)
(Juranville l0, p. 130). A loucura ento, assim disfarada, encontraria seu
lugar no interior da ordem das razes, promovendo o ultrapassamento das
razes naturais de duvidar e inaugurando a dimenso hiperblica da dvida
cartesiana.
No entanto, a loucura, considerada em sua realidade prpria, ela
mesma uma razo natural de duvidar. preciso no esquecer o carter de
artifcio metodolgico da hiptese do malin gnie. E, como razo natural, a
loucura conduz de uma maneira mais imediata ao estabelecimento de um
tipo de dvida que s se pode caracterizar como hiperblica, uma vez que
coloca em xeque todo o conhecimento do mundo, mesmo que se possa
conceb-la como tendo acesso certeza instantnea do cogito. Ora, justa-
mente a ultrapassagem desta certeza que visa Descartes. Se ele permite que
o mundo se dilua na dvida hiperblica, somente para poder resgat-lo
fortalecido da incerteza, aps a demonstrao da veracidade divina. Mesmo
se for correta a interpretao de Juranville, a loucura transmutada na hi-
ptese do gnio maligno e assim convertida em artifcio seria admitida
dentro da lgica do filsofo, mas tornada j inofensiva para os seus objeti-
vos pela negao de sua realidade prpria e pela desautorizao de sua ex-
perincia como forma de pensamento. Desde esta perspectiva, parece sen-
sato subscrever-se s observaes de Foucault e reconhecer esta dificulda-
de intrnseca natureza da loucura que impede Descartes de inseri-la em
seu raciocnio: a impossibilidade de reconhecer no louco uma subjetivida-
de pensante, no modelo proposto pelo cogito que ir decretar sua excluso.
Na concepo do sujeito que emerge do racionalismo, no haver lugar para
a loucura, porque, por mais que ele aceda certeza de si, esta certeza no
poder funcionar como fundamento para o conhecimento.
***
Ora, o conhecimento um dos problemas centrais da tese de Lacan
seno o problema principal. Trata-se de apreender o modo de operao do
conhecimento paranico da realidade. Lacan vai procurar demonstr-lo
como sendo perfeitamente rigoroso, coerente e sistemtico ou seja, no
um fenmeno de dficit (Lacan 13, p. 287) , mas que funciona a partir
de premissas e princpios diferentes, que so determinados pela reao de
um sujeito diante de situaes vitais especficas, um sujeito ou uma per-
sonalidade, alis que se constitui ao modo desta estrutura reacional: Ns
definimos a, com efeito, uma ordem de fenmenos por sua essncia huma-
namente compreensvel quer dizer, por um carter social, cuja gnese, ela
mesma social (leis mentais da participao), explica a existncia do fato.
Entretanto, estes fenmenos tm, por um lado, o valor de estruturas
fenomenologicamente dadas (momentos tpicos do desenvolvimento hist-
rico e da dialtica das intenes); por outro lado, eles resultam de uma
especificidade unicamente individual (momentos nicos da histria e da
inteno individual). Esses trs plos do individual, do estrutural e do soci-
al so os trs pontos desde onde se pode ver o fenmeno da personalidade
(id., ibidem, p. 313). Fica patente, nesta passagem, como as definies de
psicose e personalidade convergem. Dos trs plos para a considerao da
Theisen Simanke, R., discurso (23), 1994: 149-175 165 164 Theisen Simanke, R., discurso (23), 1994: 149-175
personalidade e da parania como fenmenos globais, o estrutural faz a
articulao entre os outros dois: o indivduo reage ao social ao modo de um
sistema de respostas consistente e relativamente estvel (esta a condio
para a previsibilidade, que Lacan tambm defende), sistema que define a
personalidade, tanto mrbida quanto sadia
(28)
.
A partir da, Lacan pode redefinir o delrio como uma forma de co-
nhecimento vlida, porm em desacordo com as necessidades do grupo so-
cial, ou seja, como uma estrutura reacional no sancionada, mas que no
difere qualitativamente dos comportamentos aceitos. Em sentido inverso,
Lacan aponta para o assentimento social como critrio de objetividade para
o conhecimento verdadeiro. Isto posto, os problemas da psicose so coloca-
dos no plano de rigor gnoseolgico que lhes convm. Com efeito, tende-se
muito, no estudo dos sintomas mentais da psicose, a esquecer que eles so
fenmenos de conhecimento, e que, como tais, eles no poderiam ser
objetivados sobre o mesmo plano que os sintomas fsicos (Lacan 13, p.
338; grifos do autor). Aqui e no pela ltima vez em Lacan a
epistemologia desce ao encontro da clnica.
Fica claro que o que est em pauta um conhecimento que se consti-
tui autonomamente e que, portanto, difere muito daquele que Descartes vi-
sava. O sujeito surge a muito mais como uma funo deste conhecimento
do que como seu fundamento e condio. Lacan no pode, de fato, reivindi-
car para o inconsciente o sujeito cartesiano sem fazer determinadas corre-
es de perspectiva. Ele dir, no Seminrio XI, que o sujeito do inconscien-
te o sujeito cartesiano reconduzido por Freud ao seu lugar prprio. O
recurso a Hegel servir, alm de fornecer um modelo para a constituio
intersubjetiva do indivduo humano, para operar algumas dessas correes.
Na famosa inverso do Cogito, em A Instncia da Letra... Eu penso
onde eu no sou, portanto eu sou onde no penso (idem 12, p. 517) ,
Lacan est to-somente aplicando a crtica hegeliana ao cartesianismo a
conscincia sinnimo de auto-engano, o eu no um dado imediato, mas
o resultado de um processo de formao, portanto algo pensa no sujeito,
antes que ele possa dizer eu, ou seja, a estrutura do saber , duplicada por
um recurso ao ponto de vista tpico (onde), to caro a Freud e ainda
indispensvel na psicanlise lacaniana.
Uma vez realizadas essas inverses tanto na concepo do sujeito,
quanto na de conhecimento e verdade , num mesmo golpe se supera a
incompatibilidade entre a cincia mdica e um discurso sobre o sujeito:
ressalta das anlises de Canguilhem e Foucault que eram justamente sua
autonomia, sua ausncia de determinao que colocavam obstculos ao olhar
mdico. Ao mesmo tempo, podem ser aproximados o sujeito e a loucura:
sujeito da certeza ele tambm conforme Derrida que, alis, um autor
lacanianamente informado , o louco funda nessa certeza uma forma pecu-
liar de relao cognitiva com a realidade, e a compreenso das formas para-
nicas do conhecimento a compreenso do fenmeno total desta afeco.
Reintroduzido o sujeito, Lacan pode se ocupar com o mistrio de sua ori-
gem e de sua gnese, que constitui o problema principal de sua pesquisa nos
anos que se seguem tese
(29)
.
A queixa, citada em epgrafe acima, que Schreber enderea a Deus
por trs do qual Freud rapidamente percebeu que se perfilava o pai mdico
de alguma forma resume a mgoa que todos os psicticos podem ter com
relao filosofia e medicina. Os desenvolvimentos aqui recapitulados
sugerem que Lacan, sua maneira, ofereceu uma resposta a essa queixa.
Abstract: This essay deals with the discussion of Lacans early investigations concerning the
concept of subject, related to the choice of psychosis mainly paranoia as a clinical paradigm
for his theory.
Key-words: psychoanalysis philosophy of psychoanalysis Lacan psychosis subjectivity
Theisen Simanke, R., discurso (23), 1994: 149-175 167 166 Theisen Simanke, R., discurso (23), 1994: 149-175
Notas
(1) Mesmo que de modo um tanto performtico. Por exemplo, no Seminrio de
Caracas, julho de 1980: Fica a seu critrio serem lacanianos, se quiserem.
Quanto a mim, eu sou freudiano (apud Juranville 10, p. 10).
(2) Este ponto de partida sugerido por B. Ogilvie, em seu livro Lacan: La
Formation du Concept de Sujet (Ogilvie 19, pp. 98-99, p. ex.), cujas pginas
iluminam boa parte das reflexes que se seguem.
(3) , com efeito, como um concurso imposto pelos fatos que preciso considerar
o socorro que ns parecemos tirar dos dados da psicanlise (Lacan 13, p. 318).
(4) Cabe assinalar, em apoio a este ponto de vista, que no movimento de cons-
tituio da teoria lacaniana do significante o fulcro, pode-se dizer, de todo o
seu sistema que se insere o essencial de sua contribuio abordagem das
psicoses. Esta abordagem , mesmo, um momento decisivo na formao daquela
teoria.
(5) uma tal chave compreensiva que ns aplicamos ao caso da doente Aime,
e que, mais que toda outra concepo terica, nos pareceu responder realidade
do fenmeno da psicose, o qual deve ser entendido como a psicose tomada em sua
totalidade, e no em tal ou qual dos acidentes que dela se possam abstrair (Lacan
13, p. 311; grifos do autor).
(6) No se trata, evidentemente, do recuo a um organicismo redutor. Lacan recu-
pera a noo de automatismo mental e a aproxima ao Wiederholungszwang
freudiano (tradicionalmente traduzido em francs por automatismo de repeti-
o), ambos revistos luz de sua teoria do significante.
(7) Lacan se refere, inicialmente, s relaes de compreenso no quadro do que
considera como anlise objetiva da personalidade (em oposio anlise
introspectiva). Mas esta ltima [sntese psquica], ela mesma, se encontra at
certo ponto sob uma forma objetiva. Com efeito, esses estados sucessivos da per-
sonalidade no so separados por rupturas puras e simples, mas sua evoluo e
as passagens de um para outro so, para ns, observadores, compreensveis
(Lacan 13, p. 38). Ou ainda: Estas relaes de compreenso tm um valor obje-
tivo certo (...), etc. (id., ibidem, p. 39; grifos do autor).
(8) E, mesmo, com uma concepo bastante tradicional de cincia: A ltima
palavra da cincia prever, e se o determinismo, o que ns acreditamos, se aplica
em psicologia, ele deve nos permitir resolver o problema prtico que cada dia se
coloca para o especialista a propsito dos paranicos (...) (Lacan 13, p. 298;
grifos nossos).
(9) Estes critrios se referem, basicamente, subordinao da atitude compreen-
siva aos dados do comportamento objetivo. Lacan recorre aqui, por um lado, aos
modelos do materialismo histrico e do behaviorismo (Lacan 13, p. 309, nota),
como exemplos de um materialismo no-mecanicista, que d margem compre-
enso, e, por outro, etologia e ao paradigma do comportamento animal, atravs
da noo de ciclo de comportamento, a partir da qual aponta como exemplo o
que seria uma definio objetiva de desejo (id., ibidem, p. 311) e que emprega
para a prpria descrio da parania de autopunio de sua paciente Aime.
Trata-se, enfim, de exigir, para reconhecer estas relaes de compreenso em
um comportamento dado, signos muito exteriorizados, muito tpicos, muito glo-
bais (id., ibidem). Ver, tambm, Ogilvie 19, pp. 18-21.
(10) Lacan 13, p. 310; grifos do autor. Bento Prado Jr. assinala a permanncia
da crtica a esta posio ao longo do movimento de elaborao da metapsicologia
lacaniana, crtica que se estende a autores to diversos quanto Brunschvicg, Lvy-
Bruhl e Karl Abraham: Mas, de ambos os lados, a razo da crtica a mesma:
trata-se de filosofias de cincias, da cultura ou do psiquismo que propem como
telos dos processos coletivos ou individuais uma relao positiva com o objeto
definido como ser real ou em si. Isto , trata-se de uma epistemologia, de uma
antropologia e de uma teoria psicanaltica que fazem economia da indispensvel
teoria da constituio do objeto. Trata-se de dogmatismo (Lacan: Biologia e
Narcisismo ou a Costura entre o Real e o Imaginrio. In: Prado Jr. 20, p. 59;
grifos do autor).
(11) Lacan vai perseguir uma tal antropologia no seu escrito sobre os complexos
familiares publicado inicialmente como verbete de enciclopdia , que constitui
uma espcie de primeira sntese de suas investigaes imediatamente posteriores
tese (Lacan 11). Mas ele j o enuncia claramente na prpria tese: intil
sublinhar quanto esta concepo [do meio humano como meio social] se ope s
Theisen Simanke, R., discurso (23), 1994: 149-175 169 168 Theisen Simanke, R., discurso (23), 1994: 149-175
doutrinas, alis arruinadas, da antropologia individualista do sculo XVIII, etc.
(Lacan 13, p. 337, nota).
(12) A identificao do modo de investigao mdica com o espao e o olhar
enunciado na abertura do livro: Este livro trata do espao, da linguagem e da
morte; trata do olhar (Foucault 8, p. vii). A solidariedade entre a vitria de um
certo mortalismo (ao qual se far referncia adiante) dentro da prtica mdi-
ca, o imprio do olhar e o fato de que os mdicos puderam dispensar-se, cada vez
mais, de ouvir seus doentes apontada, tambm, por Ogilvie, nas pginas inici-
ais de seu livro sobre Lacan (Ogilvie 19, pp. 11-14).
(13) Pode-se compreender, a partir da, a importncia da medicina para a cons-
tituio das cincias do homem: importncia que no apenas metodolgica, na
medida em que ela diz respeito ao ser do homem como objeto de saber positivo
(Foucault 8, p. 227). G.G. Granger, em Pense Formelle et Sciences de lHomme,
nesta mesma linha, d destaque marca impressa por essa origem nas cincias
humanas como um todo: Poder-se-ia falar de plo clnico das cincias do ho-
mem para caracterizar este aspecto [o processo de integrao em uma prtica
que abre a via para uma concepo cientfica do individual]. A palavra permane-
ce obscura, porque carregada de subentendidos inerentes a uma prtica especfi-
ca, a medicina, ainda insuficientemente separada, em nosso esprito, de seus mi-
tos. Ns procuramos mostrar como ele pode se estender, clarificando-se, ao con-
junto de uma prtica que prolonga e penetra todas as cincias do homem (cito
de um original datilografado, cap. VII, seo 7.2).
(14) Bichat, X. Anatomie Gnerale (apud Foucault 8, p. 168; grifos nossos).
(15) Um dos modos possveis alis, apreciado pelos lacanianos de se expres-
sar a passagem da medicina para a psicanlise o deslocamento da ateno do
olhar para a escuta, o que traz de volta a boa e velha prtica de tomar notas ao
leito dos doentes, rejeitada por Bichat. Para isso, necessrio que o universo
da psicanlise, aquilo que vincula os sintomas e permite superar a incoern-
cia dos fenmenos, seja transferido da anatomia para a prpria linguagem. No
necessrio recorrer a Lacan para tanto. Este , mesmo, o tema do livro de John
Forrester, A Linguagem e as Origens da Psicanlise (Forrester 5, ver, principal-
mente, pp. 295-297).
(16) Foucault 6, pp. 7-8. Esta metapatologia parece ser muito bem um caso da
mauvaise mtaphysique a que Lacan se refere na tese (Lacan 13, p. 338), ou seja,
uma metafsica desencaminhadora professada inconscientemente por aqueles que
rejeitam interrogaes da natureza filosfica, em prol de uma atitude puramente
objetivista, como o caso do organicismo.
(17) Canguilhem, G. Aspects du Vitalisme. In: Canguilhem 2.
(18) O grande aforisma de Broussais, segundo Comte, o de que toda modi-
ficao, artificial ou natural, da ordem real concerne unicamente intensidade
dos fenmenos correspondentes. A partir disso, ele enuncia: O estado patol-
gico era, at ento, relacionado a leis totalmente diferentes daquelas que regem o
estado normal, de modo que a explorao de um no podia nada decidir para o
outro. Broussais estabelece que os fenmenos da doena coincidem essencial-
mente com aqueles da sade, dos quais eles no diferem jamais seno por inten-
sidade. Este luminoso princpio tornou-se a base sistemtica da patologia, assim
subordinada ao conjunto da biologia (Comte, A. Systme de Politique Positive,
apud Canguilhem 3).
(19) Comte, A. Systme de Politique Positive, apud Ogilvie 19, pp. 59-60.
(20) Cf. Foucault 8, p. 227: que o homem ocidental s pde se constituir a
seus prprios olhos como objeto de cincia, s se colocou no interior de sua
linguagem, e s se deu, nela e por ela, uma existncia discursiva por referncia
sua prpria destruio: da experincia da Desrazo nasceram todas as psicolo-
gias e a possibilidade mesma da psicologia; da colocao da morte no pensa-
mento mdico nasceu uma medicina que se d como cincia do indivduo. Cf.,
tambm, Ogilvie 19, p. 13.
(21) Exemplos de como esta reflexo epistmica emerge nos momentos em que se
operam viradas importantes nos rumos da psicanlise lacaniana podem ser en-
contrados na abertura do Seminrio I (Lacan 14, pp. 9-12), no Seminrio sobre a
tica como um todo (idem 16), nas duas primeiras sesses do Seminrio XI (idem
17, pp. 9-36), alm das primeiras pginas de Subverso do Sujeito e Dialtica do
Desejo no Inconsciente Freudiano (idem 12, pp. 793-800).
(22) Em outros termos, a personalidade no paralela aos processos neurxicos,
nem mesmo apenas ao conjunto dos processos somticos do indivduo: ela o
Theisen Simanke, R., discurso (23), 1994: 149-175 171 170 Theisen Simanke, R., discurso (23), 1994: 149-175
totalidade constituda pelo indivduo mais seu meio prprio (Lacan 13, p. 337;
grifos do autor). Ver tambm Ogilvie 19, p. 63.
(23) As passagens mais significativas esto em A Instncia da Letra no Inconsci-
ente ou a Razo desde Freud a famosa inverso do cogito (Lacan 12, pp. 516-
518) e a terceira sesso do Seminrio XI, Sobre o Sujeito da Certeza (idem
17, pp. 37-50) .
(24) Lacan o afirma explicitamente, por exemplo, no texto em que culmina a
elaborao de sua teoria do sujeito: Usando entretanto de seu favor [desta
assemblia] para ter por concordado que as condies de uma cincia no
poderiam ser as do empirismo (Subverso do Sujeito e Dialtica do Desejo no
Inconsciente Freudiano. In: Lacan 12, p. 795). Ou ainda: Brucke, Ludwig,
Helmholtz, Du Bois-Reymond tinham constitudo uma espcie de f jurada tudo
se reenvia foras fsicas, as da atrao e da repulso. Quando nos damos estas
premissas, no h nenhuma razo para sair delas. Se Freud saiu, que ele se deu
outras (idem 14, p. 10). Um bom exemplo das conseqncias desastrosas de
uma leitura de Lacan em chave empirista o texto de Richard Wollheim, O Gabinete
do Dr. Lacan (In: Wollheim 22).
(25) Por exemplo, Anika Lemaire: Jacques Lacan estruturalista. Ele o frisou
nas suas entrevistas. Ele assinou com seu prprio nome a entrada da psicanlise
nesta corrente de pensamento (...), etc. (Lemaire 18). O trabalho dessa autora,
no obstante, extremamente til para a introduo a um certo aspecto do pensa-
mento lacaniano.
(26) Ogilvie assinala como a reintroduo do sujeito, ao colocar em causa o
desejo do analista j que o investigador da subjetividade ele mesmo um sujei-
to , ameaa precipitar a psicanlise no obscurantismo ou, por um movimento
retrgrado, num cientificismo psicologista. O antdoto para isto estaria em uma
teoria da linguagem e no apelo ao estruturalismo, o que, no entanto, pode dege-
nerar em uma nova ordem de mecanicismo. Este o risco estruturalista de que
fala o autor (Ogilvie 19, pp. 40-42).
(27) O ato do cogito e a certeza de existir escapam bem, pela primeira vez,
loucura; mas, alm de que no se trata mais a, pela primeira vez, de um conhe-
cimento objetivo e representativo, no se pode mais dizer, ao p da letra, que o
Cogito escapa loucura por se manter fora de seu alcance, ou porque, como diz
Foucault, eu, que penso, no posso ser louco, mas sim porque em seu instante,
em sua instncia prpria, o ato do Cogito vale mesmo se eu sou louco, mesmo se
meu pensamento louco de ponta a ponta (Derrida, J. Cogito et Histoire de la
Folie. In: Derrida 4, pp. 85-86; grifos do autor).
(28) A noo de estrutura com que Lacan trabalha na tese provm da fenomenolo-
gia alem, via Jaspers e Minkowski. De Clrambault, Lacan empresta o conceito
de reaes passionais, o qual ele, ento, privilegia bem mais do que o automatismo
mental que repisar mais tarde. Da sobreposio dos dois nasce a noo de es-
trutura reacional.
(29) Bento Prado Jr. aborda este tpico do ponto de vista da formao de uma
doutrina da constituio dos objetos, que a contraparte da constituio do su-
jeito pelo narcisismo idia que Lacan defende a partir do desenvolvimento de
sua teoria da fase do espelho e at orientar suas preocupaes para a introduo
da ordem simblica. O ponto de vista epistmico assume a, ainda, um papel
central. Lacan assimila os objetos da libido aos objetos do conhecimento: Mas
o que tem esta conversa epistemolgica ou filosfica a ver com as categorias da
psicanlise? A palavra objeto guarda o mesmo sentido, quando falamos de part-
culas da microfsica e dos bons e maus objetos a que se refere Melanie Klein?
Ora, esta estranha assimilao que Lacan parece fazer no texto citado, quando
fala da relao narcsica como condio da relao de objeto e da objetivao
cientfica (Prado Jr. 20, p. 59).
Theisen Simanke, R., discurso (23), 1994: 149-175 173 172 Theisen Simanke, R., discurso (23), 1994: 149-175
Bibliografia
1. Arantes, P.E. Um Hegel Errado, mas Vivo: Notcia sobre o Seminrio de
Alexandre Kojve, 1991 (original datilografado).
2. Canguilhem, G. Aspects du Vitalisme. In: Canguilhem, G. La Connaissance
de la Vie. Paris, J. Vrin, 1975.
3. _______. Le Normal et le Pathologique. Paris, PUF, 1966.
4. Derrida, J. Cogito et Histoire de la Folie. In: Lcriture et la Diffrence.
Paris, Seuil, 1967.
5. Forrester, J. A Linguagem e as Origens da Psicanlise. Rio de Janeiro,
Imago, 1983.
6. Foucault, M. Doena Mental e Psicologia. Rio de Janeiro, Tempo Brasi-
leiro, 1975.
7. _______. Histoire de la Folie lge Classique. Paris, Gallimard, 1972.
8. _______. O Nascimento da Clnica. Rio de Janeiro, Forense-Universit-
ria, 1977.
9. Granger, G.G. Pense Formelle et Sciences de lHomme (original datilo-
grafado).
10. Juranville, A. Lacan e a Filosofia. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1987.
11. Lacan, J. Os Complexos Familiares na Formao do Indivduo: Ensaio
de Anlise de uma Funo em Psicologia. Rio de Janeiro, Jorge Zahar,
1990.
12. _______. crits. Paris, Seuil, 1966.
13. _______. De la Psychose Paranoaque dans ses Rapports avec la Per-
sonnalit. Paris, Seuil (Points), 1980.
14. _______. O Seminrio. Livro I: Os Escritos Tcnicos de Freud. Rio de
Janeiro, Jorge Zahar, 1979.
15. _______. O Seminrio. Livro III: As Psicoses. Rio de Janeiro, Jorge
Zahar, 2.ed., 1988.
16. _______. Le Sminaire. Livre VII: Lthique de la Psychanalyse. Paris,
Seuil, 1987.
17. _______. Le Sminaire. Livre XI: Les Quatre Concepts Fondamentaux
de la Psychanalyse. Paris, Seuil (Points), 1973.
18. Lemaire, A. Jacques Lacan: Uma Introduo. Rio de Janeiro, Campus,
1982.
19. Ogilvie, B. Lacan: la Formation du Concept de Sujet. Paris, PUF, 1987.
20. Prado Jr., B. Lacan: Biologia e Narcisismo ou a Costura entre o Real e
o Imaginrio. In: Prado Jr., B. (org.). Filosofia da Psicanlise. So
Paulo, Brasiliense, 1991.
21. Schreber, D.P. Memrias de um Doente dos Nervos. Rio de Janeiro,
Graal, 1984.
22. Wollheim, R. O Gabinete do Dr. Lacan. In: Souza, P.C. (org.). Sigmund
Freud e o Gabinete do Dr. Lacan. So Paulo, Brasiliense, 1989.
Theisen Simanke, R., discurso (23), 1994: 149-175 175 174 Theisen Simanke, R., discurso (23), 1994: 149-175
O Tempo Vertical e a Dimenso do Potico
na Obra de Clarice Lispector:
Uma Leitura Bachelardiana*
Maria Elisa de Oliveira**
Resumo: A presena marcante de uma prosa-potica na produo ficcional de Clarice Lispector
possibilitou-nos exemplificar algumas noes centrais (tempo vertical e instante potico) na
rica e sugestiva reflexo de Gaston Bachelard acerca do universo potico.
Palavras-chave: tempo vertical tempo presente instante potico prosa-potica literatura
Embora Gaston Bachelard afirme que algumas snteses de objetos,
to bem realizadas pela dimenso do potico, estariam impossibilitadas de
se exprimir na linguagem da prosa (Bachelard 2, p. 79), no caso da prosa
clariciana, acreditamos, seguramente, que ela tambm capaz de oferecer
ao leitor uma grande alegria de palavras, tanto quanto o poeta. Com isto,
podemos afirmar que a prosa-potica de Clarice Lispector
(1)
est povoada
de imagens-frases
(2)
, no dizer do pensador francs, que vo contra aquilo
que comumente aceito, os lugares-comuns, criando assim expresses no-
* Este artigo dedicado ao lvaro (in memoriam) e constitui uma verso modificada da palestra
apresentada no 3
o
Congresso da Abralic, realizado em agosto de 1992, na UFF, em Niteri-RJ.
** Professora do Departamento de Filosofia da Unesp, em Marlia-SP.
discurso (23), 1994: 177-190
vas. Sua escritura
(3)
confirmaria, igualmente, um aspecto que particular
poesia e que foi assinalado por Bachelard, ou seja, o comeo e a novidade
(Bachelard 2, p. 75).
A linguagem de Clarice capaz, portanto, de, como a poesia e a pr-
pria filosofia, provocar admirao, vindo ao encontro, mais uma vez, das
palavras de Bachelard, para quem, a poesia uma admirao, exatamente
no nvel da palavra, na palavra e pela palavra (id., ibidem, p. 79).
O emprego, por exemplo, do oxmoro e do paradoxo figuras ampla-
mente encontradas no estilo de Clarice no ofereceria, pois, a oportunida-
de de entrarmos em contato com essas snteses de objetos, que, pela es-
tranheza e contraste, abalariam o leitor, arrancando-o do seu torpor?
O que dizer, ento, apenas como exemplo, desta potica passagem,
colhida ao acaso, e que d ttulo ao segundo romance da autora brasileira,
O Lustre:
Havia o lustre. A grande aranha escandescia. Olhava-o imvel, in-
quieta, parecia pressentir uma vida terrvel. Aquela existncia de
gelo. Uma vez! uma vez a um relance o lustre se espargia em
crisntemos e alegria. Outra vez enquanto ela corria atravessando
a sala ele era uma casta semente. O lustre (Lispector 6, p. 14).
Na verdade, Clarice no compara o lustre com a aranha, j que se
fosse assim no teramos uma imagem (Bachelard 2, p. 74), e sim explica-
es e aproximaes que fariam diminuir, segundo Bachelard, o impulso de
uma imaginao. Aqui, ao contrrio, h fuso, unio entre o lustre e a ara-
nha, entre o lustre e a flor! Recordamos aqui, a propsito, as palavras de
Octavio Paz: A imagem nunca quer dizer isto ou aquilo. Sucede justamen-
te o contrrio, (...): a imagem diz isto e aquilo ao mesmo tempo. E mais
ainda: isto aquilo (Paz 12, p. 231). Eis a a inaugurao de um reino das
imagens decisivas, das decises poticas (Bachelard 2, p. 35) na prosa-
potica clariceana. Audcia da poesia apenas, nica a saber unir, numa s
imagem, dois objetos? No: a prosa-potica de Clarice tambm consegue
reinar no domnio da imaginao, livre e criativa, proporcionando a fuso
entre lustre e aranha, lustre e flor, fazendo o leitor sonhar e, sobretudo,
entrar nos castelos do devaneio
(4)
.
Aps apontarmos o elemento de poesia na obra ficcional de Clarice
Lispector, possvel, como decorrncia, destacar, usando os termos de
Bachelard, uma perspectiva vertical que paira sobre o instante potico,
(Bachelard 3, p. 105), e que pode ser entendida tanto no sentido da profundeza
quanto da altura
(5)
.
Mas que tempo esse que se define e se qualifica como sendo, afinal,
um tempo raro e complexo, que nada tem que ver com a durao comum,
visto que esta ltima se dispersa, incessantemente?
Na concepo bachelardiana, trata-se de um tempo que, ao contrrio,
capaz de transportar o ser para fora da durao comum (id., ibidem, p.
109), colocando-o assim num outro eixo vertical. Para isso preciso,
ainda segundo o pensador francs, trabalhar o tempo, de tal maneira, que
se consiga converter a contradio em ambivalncia e o sucessivo, em si-
multneo, caractersticas alis da imagem potica (Paz 12, pp. 119-138).
Nas palavras de Bachelard: o instante potico a conscincia de uma
ambivalncia (Bachelard 3, p. 104), ou ainda, no instante potico o ser
sobe ou desce, sem aceitar o tempo do mundo (...) (id., ibidem).
Ora, no difcil encontrar uma certa perspectiva vertical na obra
de Clarice Lispector e, um exame um pouco mais demorado do quinto ro-
mance da autora brasileira, A Paixo segundo G.H., de 1964, poder ilus-
trar a afirmao que acabamos de fazer. No entanto, essa escolha no indica
exclusividade; outros romances poderiam, igualmente, servir para o mesmo
propsito. O aspecto de romance-poema de A Paixo, como alguns o cha-
maram
(6)
, significando pois uma marcante fuso entre prosa e poesia, foi-
nos, todavia, determinante.
Vejamos ento como pode se dar a inscrio material desta perspec-
tiva vertical no texto em questo.
Antes, porm, de examinarmos a presena de uma verticalidade tempo-
ral em A Paixo, devemos insistir no aspecto essencialmente verbal do tem-
po, como um elemento que se realiza e se materializa na e pela linguagem.
A Paixo segundo G.H., narrada na primeira pessoa, um longo e
intenso monlogo interior procura de uma compreenso. A narrativa abre
Oliveira, M.E., discurso (23), 1994: 177-190 179 178 Oliveira, M.E., discurso (23), 1994: 177-190
e fecha com seis travesses indicando, nas palavras de Massaud Moiss
(Moiss 7, p. 5), a circularidade de um poema, fazendo assim com que o
incio coincida com o final, semelhana de uma serpente que engolisse a
prpria cauda
(7)
. Aqui, tudo se transfigura para dar lugar a uma perspectiva
vertical. O emprego dos recursos sintticos e semnticos produzem um
efeito incomum, como se o fantstico fosse a realidade do mundo, a di-
menso propriamente humana e no outra qualquer, transcendente
(Lispector 5, p. 5). Com isto, espao e tempo sofrem uma profunda trans-
formao, criando uma atmosfera transfigurada onde, afinal, se processa a
ao e tambm a autodescoberta da personagem-protagonista.
Na verdade, todo o romance uma grande metfora da peregrinao
de G.H. ao encontro do seu ncleo interno. interessante observar que a
experincia inslita, vivida por G.H. (o confronto com o inseto-barata, esma-
gado na porta do guarda-roupa, no quarto de empregada), se passa no ltimo
andar de um edifcio, mais exatamente, numa cobertura. O local sugere j
um sentido de verticalidade que se estende at atingir o quarto de empregada
onde a personagem-protagonista G.H. vive uma profunda metamorfose:
Forcei-me a me lembrar que tambm aquele quarto era posse mi-
nha, e dentro de minha casa: pois, sem sair desta, sem descer nem
subir, eu havia caminhado para o quarto. A menos que tivesse havi-
do um modo de cair num poo mesmo em sentido horizontal, como
se houvessem entortado ligeiramente o edifcio e eu, deslizando,
tivesse sido despejada de portas a portas para aquela mais alta (idem
4, p. 49).
Em outras passagens, G.H. se refere ao quarto de empregada como
quarto-minarete, oratrio, e a sensao de que ele est ainda mais alto
ou, at mesmo, desligado do resto do edifcio, onde ela se situa ,
freqentemente, registrada:
O quarto parecia estar em nvel incomparavelmente acima do pr-
prio apartamento. Como um minarete. Comeara ento a minha pri-
meira impresso de minarete, solto acima de uma extenso ilimita-
da (Lispector 4, p. 40).
No ser inteiramente regular nos seus ngulos dava-lhe uma impres-
so de fragilidade de base como se o quarto-minarete no estivesse
incrustado no apartamento nem no edifcio (id., ibidem, p. 41).
Nesta outra passagem, Ah, quero voltar para a minha casa, pedi-me
de sbito, pois a lua mida me dera saudade de minha vida. Mas daquela
plataforma eu no conseguia nenhum momento de escurido e lua (id.,
ibidem, p. 126), o uso de uma linguagem plurissignificativa permite que a
protagonista se refira ainda ao quarto de empregada como um local
suspenso
(8)
. Nesse mesmo quarto-minarete sentimos ressoar o aspecto da
ambivalncia, de que fala Bachelard
(9)
, sem o qual no podemos entender
as noes de instante potico e tempo vertical. Mencionando a fuso dos
sentimentos vividos por G.H., por ocasio do confronto com o inseto, Be-
nedito Nunes formula o seguinte comentrio:
Projetam-se diante dela [G.H.], em figuras mutveis, os contrastes
inconciliveis da existncia amor e dio, ao, violncia e mansi-
do, crueldade e piedade, santidade e pecado, esperana e desespe-
ro, sanidade e loucura, salvao e danao, pureza e impureza, li-
berdade e servido, o belo e o grotesco, o humano e o divino, o
estado natural e o estado de graa, o sofrimento e a redeno, o
inferno e o paraso. Cada um desses plos se confunde com o seu
oposto, na viso abismal que reduz as diferenas e tende a suprimi-
las. Alegria e dor se interpenetram; presente e futuro tornam-se
momentos indivisveis da existncia em ato, idntica, abolindo a
separao e a diviso (Nunes 9, p. 59).
Oliveira, M.E., discurso (23), 1994: 177-190 181 180 Oliveira, M.E., discurso (23), 1994: 177-190
Podemos enfim dizer que G.H. experimenta todos esses sentimentos,
juntos, sem que se possa afirmar ainda que um viria antes ou sucederia ao
outro. Nas palavras de Bachelard:
Tal ambivalncia no pode ser descrita nos tempos sucessivos, como
um balano vulgar de alegrias e pesares passageiros. Contrrios to
vivos [como os de, por exemplo, A Paixo], to fundamentais, de-
pendem de uma metafsica imediata. Vive-se a oscilao num nico
instante, por xtases e quedas que podem at estar em oposio aos
acontecimentos: o desgosto de viver se apodera de ns no gozo, to
fatalmente quanto a altivez na infelicidade (Bachelard 3, p. 188).
Os dois plos o da descida e o da subida do ser (id., ibidem, p. 105)
se acham presentes em A paixo, reforando assim um outro aspecto do
instante potico, conforme entende Bachelard. No primeiro caso, bastaria
lembrar o gesto extremo e ltimo da personagem-protagonista, quando, ao
levar a mo boca, ela come da matria viva (pardia da comunho) repre-
sentada pela barata, vivendo assim as piores penas, intensa e profunda-
mente (id., ibidem, p. 107). No segundo caso, o plo da subida, vale lem-
brar o comentrio de Bachelard:
Sobre o tempo vertical ao subir que se consolida a consolao
sem esperana, essa estranha consolao autctone, sem protetor.
Em suma, tudo que nos afasta da causa e da recompensa, tudo que
nega a histria ntima e o prprio desejo, tudo que desvaloriza ao
mesmo tempo o passado e o futuro encontra-se no instante potico
(id., ibidem, p. 187).
Ora, em A Paixo segundo G.H. vemos crescer a importncia do tem-
po presente e, dentro deste, o tempo atual, a atualidade, apesar da profunda
sensao de que este tempo , de algum modo, inalcanvel:
Eu me contoro para conseguir alcanar o tempo atual que me rodeia,
mas continuo remota em relao a este mesmo instante. O futuro, ai de
mim, me mais prximo que o instante j (Lispector 4, p. 146).
No seu arroubo e xtase G.H. atinge ainda um tempo vertical, que no
reconhece o valor do passado e do futuro, mas que se condensa no hoje e
no agora-j:
(...) quero encontrar a redeno no hoje, no j, na realidade que
est sendo e no na promessa, quero encontrar a alegria neste ins-
tante quero o Deus naquilo que sai do ventre da barata mesmo
que isto, em meus antigos termos humanos, signifique o pior, e, em
termos humanos, o infernal (id., ibidem, p. 97).
Pela ferida ou abertura/fresta do inseto provocada pelo esmagamento
do inseto na porta do guarda-roupa G.H. tem ento a oportunidade de ver
o outro lado do ser, do seu ser, resultado tambm da ruptura do espao e
do tempo, que se d neste momento. Tem incio, a partir da, uma srie de
vertigens, cujo desfecho culmina no contato ntimo (manducao da barata)
entre a matria-prima e a personagem-protagonista.
Se, por outro lado, atentarmos para a opinio de Benedito Nunes, se-
gundo a qual, gua Viva traz a mesma obsesso da matria primordial [o
it] com que nos deparamos em A Paixo segundo G.H. (Nunes 9, p. 158),
veremos que a presena de um tempo vertical potico se faz aqui, igual-
mente, presente. O embate entre duas realidades distintas designadas pela
personagem-narradora, alis, sem nome, sugere a importncia de um tempo
vertical, em contraste com um tempo e uma realidade comum e ordinria:
Ser que passei sem sentir para o outro lado? O outro lado uma
vida latejantemente infernal. Mas h a transfigurao do meu ter-
ror: ento entrego-me a uma pesada vida toda em smbolos pesados
Oliveira, M.E., discurso (23), 1994: 177-190 183 182 Oliveira, M.E., discurso (23), 1994: 177-190
(10)
como frutas maduras. Escolho parecenas erradas mas que me ar-
rastam pelo enovelado. Uma parte mnima de lembrana do bom
senso de meu passado me mantm roando ainda o lado de c. (...)
Mas ningum pode me dar a mo para eu sair: tenho que usar a
grande fora e no pesadelo em arranco sbito caio enfim de bruos
no lado de c. Deixo-me ficar jogada no cho agreste, exausta, o
corao ainda pula doido, respiro s golfadas. Estou a salvo? enxu-
go a testa molhada (Lispector 5, p. 21-22).
Todavia, a noo de verticalidade do instante potico no pode deixar
de estar ligada, particularmente na obra de Clarice Lispector, questo da
discursividade da linguagem. No devemos esquecer que os grandes temas
encontrados na produo ficcional de Clarice a morte, o tempo, a preca-
riedade da vida, apenas para citar alguns no se desvinculam das suas
preocupaes com a linguagem e a natureza especfica da fico da vida
(S 13, p. 87).
Quanto a Bachelard, no percebemos que o autor tenha dispensado,
ao analisar e investigar a gnese potica e a noo de tempo vertical
(11)
, um
tratamento mais amplo s questes da linguagem propriamente dita, ou mes-
mo, natureza especfica da fico. Ora, no caso da autora brasileira essa
abordagem indispensvel
(12)
.
Assim, um dos problemas que devemos enfrentar na prosa-potica de
Clarice a conciliao entre a verticalidade, caracterstica do instante po-
tico, instantneo e pleno, e o tempo do discurso. Em outras palavras, como
fundir o instante potico (vertical), com a capacidade de dar, instanta-
neamente, uma viso do universo e o segredo/mistrio de uma alma, e a
discursividade (linear) da linguagem, ou, enfim, como dizer o instante.
A prpria Clarice, lamentando o aspecto da discursividade limitadora
da linguagem, confessa:
Novo instante em que vejo o que vai se seguir. Embora para falar
do instante de viso eu tenha que ser mais discursiva que o instante:
muitos instantes passaro antes que eu desdobre e esgote a comple-
xidade una e rpida de um relance (Lispector 5, p. 64).
Um recurso para fazer face a essa insuficincia seria, como observa
Olga de S, (...) desejar para a linguagem, os processos da pintura e at a
fotografia (...) (S 13, p. 158), como acontece em gua Viva. Neste texto,
escrito em primeira pessoa, a pintora-narradora comenta:
Tambm tenho que te escrever porque tua seara a das palavras dis-
cursivas e no o direto de minha pintura (Lispector 5, pp. 10-11).
Escrevo-te como exerccio de esboos antes de pintar. Vejo palavras. O
que falo puro presente e este livro uma linha reta no espao.
sempre atual, e o fotmetro de uma mquina fotogrfica se abre e ime-
diatamente fecha, mas guardando em si o flash (id., ibidem, p. 19).
Texto profundamente dramtico, nas palavras de Benedito Nunes, es-
critura alis, dura escritura, como declara a personagem-pintora de gua
Viva , criao de sobrevida e aproximao da morte (Nunes 9, p. 156) e
fluido quanto matria, gua Viva no tem outra histria seno a do fluxo
de uma meditao erradia, apaixonada, ao sabor da variao de certos temas
gerais (id., ibidem, p. 157). Sem enredo e sem personagens, podemos dizer
que o texto narra as oscilaes internas, vividas pela personagem-narradora-
pintora, por xtases e quedas, segundo motivos aparentemente desconexos,
entre eles, o tempo, a morte, paisagens hipotticas, Deus, suscitando um
bailado de imagens e idias-sensaes, onde o devaneio e o sonho funcionam
como fantasia protetora. Este texto-improviso, como foi qualificado pela
protagonista, foi, tambm por ela, associado a um caleidoscpio:
Um instante me leva insensivelmente a outro e o tema atemtico
vai se desenrolando sem plano mas geomtrico como as figuras su-
cessivas num caleidoscpio (Lispector 5, p. 14).
Oliveira, M.E., discurso (23), 1994: 177-190 185 184 Oliveira, M.E., discurso (23), 1994: 177-190
Sujeita linearidade do signo lingstico e ao carter consecutivo da
linguagem verbal, a narrativa de gua Viva, que conta com uma poderosa
fora do imaginrio, pode representar a fulgurao da chispa temporal do
instante, na ordem sucessiva, como ponderou Benedito Nunes (Nunes 9,
p. 159). A inteno declarada pela personagem-pintora de gua Viva de
reter uma sbita iluminao ou epifania, num presente imvel ou, ao me-
nos, num tempo detido (vertical) e estabilizado, encontra, contudo, no ato
de narrar ou na escritura, uma dupla dificuldade: a sua expanso no tempo
(horizontal, linear) e a necessidade de ser lida, temporalmente. neste sen-
tido que se pode dizer, com Olga de S, que a personagem-narradora de
gua Viva procurou, com seu discurso, no papel-tela-bloco de pedra, dese-
nhar, pintar e esculpir ou, enfim, fotografar uma escritura atemporal (S
13, p. 96).
Mas para isto seria necessrio abandonar e estar liberto das formas
plenas e do crculo fechado do pensar e se entregar a uma nova plenitude
(Almeida 1, p. 6), inaugurando assim uma linguagem redonda, enovela-
da e tpida (Lispector 5, p. 9); uma linguagem onde predominem as
formas desemolduradas, libertas do discurso (linear) e do narrativo que se-
guiria um plano, previamente elaborado; um texto-caleidoscpio onde, mais
do que descrever fatos e acontecimentos, apresente, ao invs, as cintilaes
de uma linguagem (Motta Pessanha 8, p. xiii) que acompanhasse as vicis-
situdes de um tempo pontilhado de instantes nicos e que no seguem a
medida.
A importncia do plano da narrao, do ponto de vista do ato de nar-
rar, em gua Viva, adquire um grande interesse devido reduo do enredo
e apresentao aleatria dos vrios temas. Trata-se de um texto que foi
considerado por Benedito Nunes um caso extremo da experincia tempo-
ral na arte de narrar (Nunes 11, p. 66), num anseio por fundir o tempo do
enredo e o tempo da narrao. Recusando a todo momento qualquer enredo
ou histria que poderia limitar o seu texto a uma construo prvia e depen-
dente, a personagem, num dado momento, reconhece que sua escritura
(...) atravessada de ponta a ponta por um frgil fio condutor qual? O do
mergulho na matria da palavra? O da paixo? Fio luxurioso, sopro que
aquece o decorrer das slabas (Lispector 5, p. 30). Com isto, nomeamos o
grande tema no apenas de gua Viva, mas de toda a obra de Clarice
Lispector: a preocupao sempre com a prpria natureza da linguagem. No
entanto, o reconhecimento deste grande tema (o mergulho na matria da
palavra) equivaleria aceitar o aspecto discursivo da linguagem e a dificul-
dade de reproduzir em palavras certos momentos-epifnicos:
to difcil falar e dizer coisas que no podem ser ditas. to
silencioso. Como traduzir o silncio do encontro real entre ns dois?
Dificlimo contar: olhei para voc fixamente por uns instantes. Tais
momentos so meu segredo. Eu chamo isto de estado agudo de
felicidade (Lispector 5, p. 63).
Atrs do pensamento atinjo um estado. Recuso-me a dividi-lo em
palavras e o que no posso e no quero exprimir fica sendo o mais
secreto dos meus segredos (id., ibidem, p. 85).
Todavia, preciso notar que, embora a personagem-narradora declare
a dificuldade em dizer coisas que no podem ser ditas, ela, efetivamente,
j o diz.
O mpeto, enfim, da personagem-narradora em transformar a prpria
palavra em algo que seja um marco/posse (imagem de verticalidade), que
seja capaz de atingir e fixar a essncia/halo das coisas, evidencia-se ainda
nesta bela passagem:
O halo vertiginoso. Finco a palavra no vazio descampado: uma
palavra com o fino bloco monoltico que projeta sombra (id., ibidem,
p. 56).
A linha perpendicular representada pela palavra (fino bloco mono-
ltico), fincada no vazio descampado (horizontalidade), no significaria,
afinal, a dimenso potica (vertical) de uma fala criativa e inaugurante,
capaz de oferecer ao homem a possibilidade de vencer o tempo que escorre
Oliveira, M.E., discurso (23), 1994: 177-190 187 186 Oliveira, M.E., discurso (23), 1994: 177-190
e foge inexoravelmente para um fim (morte)? gua Viva, mais do que tudo,
vive, simultaneamente, a voluptuosidade em ir criando o que dizer e a
cerimnia da iniciao da palavra e meus gestos so hierticos [Rainha
egpcia!] e triangulares (Motta Pessanha 8, p. 19).
Notas
(1) Gilda de Mello e Souza, num artigo citado por Olga de S (S 13, p. 32),
ressalta o fato de que Clarice, no respeitando o princpio da limitao dos gne-
ros, usa na fico os processos da poesia (linguagem anmica, violentao do
sentido lgico da frase, anotao do excepcional).
(2) Bachelard chama essas imagens-frases de sentenas poticas, e no fragmen-
tos, j que, para o autor, o nome de fragmentos, utilizado pelos fragmentaristas,
prejudica-os. Nada partido numa imagem que encontra fora em sua
condensao (Bachelard 2, p. 75).
(3) Olga de S (S 13) analisou, magistralmente, a escritura clariceana apontan-
do a metfora estranhada como sua caracterstica mais evidente. Enfatizemos
essa anlise, pois, lembrando que a metfora ocupa um lugar privilegiado na
escritura clariceana.
(4) A partir de 1938, Bachelard ir se debruar sobre os fundamentos da legitimi-
dade do devaneio e do sonho, como atividades imprescindveis, no s para a
arte, mas para a prpria vida. Nas palavras de Motta Pessanha, o pensador fran-
cs conquista o direito de sonhar (Motta Pessanha 8, p. xi), o que deu ttulo a uma
coletnea pstuma Le Droit de Rver.
(5) A sugesto de transcendncia que pode advir da foi entendida por Benedito
Nunes, especialmente em se tratando de A Paixo segundo G.H., de Clarice
Lispector, como trans-descendncia. Ver, a este respeito, Nunes 10, p. 138.
(6) Ver, a este respeito, Moiss 7, pp. 5-6.
(7) Cirlot, no seu Dicionrio de Smbolos (p. 57), comenta, entre outras interpre-
taes, o aspecto de sntese que se pode aplicar a ouroboros, ou seja, a unio
entre dois princpios: ctnico (serpente) e o celeste (pssaro). Em sentido geral,
esta imagem, seguindo o autor, simbolizaria o tempo e a continuidade da vida.
(8) Ao lado desta palavra, outras ainda foram usadas (oratrio, escrnio,
sarcfago, cmara-ardente), num esforo revelado pela protagonista-narra-
dora para exprimir a polivalncia das sensaes da personagem G.H. com rela-
o ao quarto de empregada.
(9) Ver, a este respeito, Bachelard 3.
(10) Esta contoro se opera em nvel da linguagem e perceptvel na sintaxe dos
textos clariceanos, particularmente, em A Paixo. Eis alguns exemplos: O mun-
do se me olha, tudo olha para tudo, tudo vive o outro; neste deserto, as coisas
sabem as coisas (Lispector 4, p. 87).
(11) Estamos nos referindo, basicamente, a Bachelard 3, fundamental para a com-
preenso da noo bachelardiana de tempo vertical.
(12) A leitura das obras de Benedito Nunes, em especial Nunes 9, e de Olga de S
(S 13) fundamental para a compreenso da questo da linguagem em Clarice
Lispector.
Oliveira, M.E., discurso (23), 1994: 177-190 189 188 Oliveira, M.E., discurso (23), 1994: 177-190
Abstract: The remarkable presence of a poetical prose in the fictional work of Clarice Lispector
made possible to exemplify some central notions (vertical time and poetical instant) in the fertile
and suggestive reflection of Gaston Bachelard about the poetical universe.
Key-words: vertical time present time poetical instant poetical prose literature
Bibliografia
1. Almeida, A.M. de. O It/Id da Escritura. In: Minas Gerais, Belo Horizon-
te, 1
o
jun. 1935. Suplemento Literrio, 974: 6-8.
2. Bachelard, G. A Chama de uma Vela. Trad. Glria de Carvalho Lins. Rio
de Janeiro, Editora Bertrand Brasil, 1989.
3. _______. Instant Potique et Instant Mtaphysique. In: LIntuition de
lInstant. s.l., Gonthier, 1932.
4. Lispector, C. A Paixo segundo G.H. (rom.). 5
a
ed. Rio de Janeiro,
J.Olympio, 1977.
5. _______. gua Viva (fico). So Paulo, Crculo do Livro, s.d.
6. _______. O Lustre (rom.). 4
a
ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1976.
7. Moiss, M. Clarice Lispector: Introspeco e Lirismo. In: O Estado de
S.Paulo, So Paulo, 20 jul. 1991, Cultura 8 (571) p. 5-6.
8. Motta Pessanha, J. A. Introduo. In: Bachelard, G. O Direito de Sonhar.
Trad. Jos Amrico Motta Pessanha et al., 2
a
ed., So Paulo, Difel,
1986.
9. Nunes, B. O Drama da Linguagem. Uma Leitura de Clarice Lispector.
So Paulo, tica, 1989.
10. _______. O Imaginrio em Clarice Lispector. In: O Dorso do Tigre.
2
a
ed. So Paulo, Perspectiva, 1976.
11. _______. O Tempo na Narrativa. So Paulo, tica, 1988.
12. Paz, O. A Imagem. In: O Arco e a Lira. Trad. Olga Savary. Rio de Janei-
ro, Nova Fronteira, 1982.
13. S, O. de. A Escritura de Clarice Lispector. Petrpolis-RJ, Vozes; Lorena-
SP, Fatea, 1979.
190 Oliveira, M.E., discurso (23), 1994: 177-190
Hume and the Singular Experience
Joo Paulo Monteiro
The Vanity of Montaigne
Luiz Antonio Alves Eva
On What Doesnt Appear
Hilan Bensusan and Paulo A.G. de Sousa
Reply to Hilan Bensusan and Paulo A.G. de Sousa
Oswaldo Porchat Pereira
Mystical Enlightenment, Profane Enlightenment:
Walter Benjamin
Olgria Matos
Sartre: From Psychology to Phenomenology
Luiz Damon Santos Moutinho
Lacan: Subjectivity and Psychosis
Richard Theisen Simanke
The Vertical Time and the Poetical Dimension in
Clarice Lispectors Work: A Bachelardian Interpretation
Maria Elisa de Oliveira
Contents
53
discurso n
o
23 1994 ISSN 0103-328X
109
7
25
71
87
149
177
1. Os trabalhos enviados para publica-
o devem ser inditos, conter no
mximo 40 laudas (30 linhas x 70
toques) e obedecer s normas tcni-
cas da ABTN (NB 61e NB 65).
2. Os artigos devem ser acompanhados
de resumo de 5 linhas, em portugus
e ingls (abstract), palavras-chave em
portugus e ingls e bibliografia. As
obras citadas devem ser ordenadas al-
fabeticamente pelo sobrenome do au-
tor e numeradas em ordem crescente,
obedecendo s normas de referncia
bibliogrfica da ABTN (NBR 6023).
3. A comisso executiva se reserva o di-
reito de aceitar, recusar ou reapresen-
tar o original ao autor com sugestes
de mudanas. Os relatores de pare-
ceres permanecero em sigilo.
4. Trabalhos produzidos em microcom-
putadores devem ser enviados em
disquetes de 3 1/2" ou 5 1/4" em
padro compatvel com PC.
INSTRUES PARA OS AUTORES
Edusp - Editora da Universidade de So Paulo
O Exrcito na Poltica: Origens da Interveno Militar, 1850-1894,
de John Schulz, Edusp, 228 pp.
A convivncia com governos militares em dcadas passadas, e a cons-
tante ameaa golpista, levou John Schulz a pensar sobre as origens
da interveno militar na poltica brasileira. O autor examina quatro
dcadas de histria (1850-1894), passando pelos principais aconte-
cimentos que marcaram o fim do sculo XIX: a Guerra do Paraguai,
a Abolio da Escravatura, a Proclamao da Repblica e o episdio
de Canudos.
O Exrcito na Poltica acompanha a trajetria dos militares
enquanto grupo de oposio elite, analisando as razes que esti-
mularam os civis a apoiar a participao militar na poltica, na dca-
da de 1880, e tambm o processo pelo qual o Exrcito foi afastado
do poder. Quanto s condies que propiciaram o advento da Rep-
blica, John Schulz relaciona a conjuntura favorvel ao Exrcito, ge-
rada a partir da Abolio, e a emergncia dos cafeicultores paulistas
como fora poltica.
O fim do governo de Floriano Peixoto explica-se, num proces-
so inverso, pela formao de um consenso dentro da elite civil de
que os militares deveriam retornar s suas funes puramente pro-
fissionais. Ao lado da incompetncia poltica e econmica, predo-
minaram as atitudes autoritrias e o desrespeito aos direitos civis.
Para quem ainda acredita no papel do Exrcito como soluo dos
problemas polticos do Brasil, John Schulz adverte que um dos ca-
minhos para que se evitem futuras tragdias a reflexo histrica.
O Lugar da Arquitetura depois dos Modernos,
de Otlia Arantes, Edusp, 248 pp.
O Lugar da Arquitetura depois dos Modernos representa seguramente
o primeiro esforo sistemtico, no Brasil, de um balano crtico da
arquitetura contempornea internacional.
Combinando anlise esttica e crtica da cultura, o conjunto de
ensaios reunidos nesse livro mostra a evoluo problemtica da ar-
quitetura contempornea, transformada na matriz da nossa civiliza-
o dominada pela mdia, pois afinal o palco dessa irrealidade
imagtica a prpria cidade.
Escritos de 1987 a 1993, so textos que abordam tanto as
questes mais candentes do debate arquitetnico atual da moder-
nidade ps-modernidade, dos historicismos arquitetura high tech,
do desconstrutivismo ao regionalismo crtico , quanto a produo
mundial em maior evidncia, de Rossi a Eisenman e demais
protagonistas do star system aos Grandes Projetos de Miterrand, pas-
sando pela estetizao da memria praticada pela arquitetura dos
Novos Museus.
Novos Lanamentos
Bahia
Universidade Federal da Bahia
Centro Editorial Didtico
R. Baro do Geremoabo s/n Olinda
40170-290 Salvador BA Campus Universitrio
Tel. (041) 245-9564
Cear
Universidade Federal do Cear
C.S.C. Edies UFC distribuio
Av. da Universidade, 2995 Benfica
60020-181 Fortaleza CE
Tel. (085) 281-3444 r. 74 / 281-5124 r. 74
Fax (085) 243-4746
Distrito Federal
J. Quinder Distribuidores de Livros Ltda
SCLN310 Bloco D Loja 7
70756-540 Braslia DF
Tel. (061) 374-8461 / 347-7386
Esprito Santo
Universidade Federal do Esprito Santo
Editora Fundao Ceciliano Abel de Almeida
Av. Fernando Ferrari, s/n
Campus Universitrio Goiabeiras
29060-970 Vitria ES
Tel. (027) 227-5144 / 227-5547
Gois
Universidade Catlica de Gois
Editora da UCGO
Av. Universitria, 1440 Setor Universitrio
74605-010 Goinia GO
Tel. (062) 225-1188 r. 1885/1886
Universidade Federal de Gois
Centro Editorial Grfico
Campus Samambaia CP 131
74001-900 Goiana GO
Tel. (062) 205-1015
Pea discurso e lanamentos EDUSP nas seguintes livrarias e distribuidores:
Maranho
Infolivros
Rua de So Joo, 300, lj. C
65010-600 So Lus MA
Tel. (098) 221-4692
Mato Grosso
Livraria Janina
R. Antonio Joo, 270
78005-810 Cuiab MT
Tel. (065) 321-8195 / 321-8128
Mato Grosso do Sul
Livraria da Universidade do Mato Grosso do Sul
Campus Universitrio CP 649
79070-900 Campo Grande MS
Tel. (067) 787-3311 r. 349
Minas Gerais
Editora da Universidade Federal de Minas Gerais
Av. Antonio Carlos, 6627 Biblioteca Central 4 andar
31270-010 Belo Horizonte MG
Tel. (031) 443-6803 / Fax (031) 441-9354
Livraria Liberdade
R. Marechal Deodoro, 444 3 piso loja 317
Marechal Center
36010-071 Juiz de Fora MG
Tel. (032) 215-7863
Universidade Federal de Juiz de Fora
Livraria da Editora
Campus Universitrio Prdio da Biblioteca Central
36036-330 Juiz de Fora MG
Tel. (032) 229-3783
Par
Livraria Jinkins R.A. Jinkings & Cia. Ltda.
R. dos Tamoios, 1592
66025-540 Belm PA
Tel. (091) 222-7286
Paran
Universidade Federal do Paran
Praa Santos Andrade, s/n.
80020-300 Curitiba PR
Tel. (041) 224-6623
Livraria do Chain Editora
R. General Carneiro, 441
80060-110 Curitiba PR
Tel. (041) 264-3484
Pernambuco
Cortez Editora e Livraria Ltda
R. Gonalves Maia, 221
50070-060 Recife PE
Tel/Fax (081) 424-4227
Rio de Janeiro
Instituto de Filosofia e Cincias Sociais
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Livraria do I.F.C.S.
Largo de So Francisco de Paula, 1 Centro
20051 Rio de Janeiro RJ
Tel/Fax (021) 221-1470 / 252-8033
Universidade Federal Fluminense
Livraria Universitria
R. Miguel Frias, 9 Icara
24220-000 Niteri RJ
Tel. (021) 717-8080 r. 200 / Fax (021) 717-4553
Rio Grande do Norte
Polylivros Distribuidora Ltda
Rua Felipe Camaro, 609 Centro
59025-200 Natal RN
Tel. (084) 211-2001
Rio Grande do Sul
Wilson Wilson Distribuidora de Livros Ltda.
R. Demtrio Ribeiro, 845
90010-310 Porto Alegre RS
Tel. (051) 221-4768
Editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Av. Joo Pessoa, 415 Cidade Baixa
90040 Porto Alegre RS
Tel. (051) 224-8821
Universidade Federal de Pelotas
Livraria da UFPEL
R. Marechal Deodoro, 673 Centro
96020-220 Pelotas RS
Tel. (0532) 259-9144 / 21-5100
Santa Catarina
Editora da FURB
R. Antonio Veiga, 140
89013-900 Blumenau SC
Tel. (0473) 26-8288 r. 118
Editora da Universidade Federal de Santa Catarina
Campus Universitrio Trindade CP 476
88040-900 Florianpolis SC
Tel. (0482) 31-9408
So Paulo
Navegar Distribuidora e Editora Ltda.
R. Marqus de Abrantes, 372
03060-020 So Paulo SP
Tel. (011) 264-7947
Cntaro Livraria e Editora
R. 9, 1315 Sta Cruz
13500-220 Rio Claro SP
Tel. (0195) 24-1476
Editora da UNICAMP
R. Ceclio Feltrini, 253 Baro Geraldo
13084-110 Campinas SP
Tel. (0192) 39-3720 / Fax (0192) 39-3157
Livraria do Campus Marlia UNESP
Av. Hygino Muzi Filho, 737 Campus Universitrio
17525-900 Marlia SP
Tel. (0144) 23-4148
Livraria do Campus Presidente Prudente UNESP
R. Roberto Simonsen, 305
19060-080 Presidente Prudente SP
Tel. (0182) 33-5388, r. 126
Livraria Paraler
R. Amrico Brasiliense, 221
14015-050 Ribeiro Preto SP
Tel. (016) 636-6600 / 625-1920
EDUSP Editora da Universidade de So Paulo
Av. Professor Luciano Gualberto, Travessa J, n 374
6 andar Ed. da Antiga Reitoria Cidade Universitria
05508-900 So Paulo SP Brasil
Tel. (011) 813-8837 / 813-3222, r. 2633/2643
Fax (011) 211-6988
discurso editorial
Fundada em 1993 pelo corpo docente do Departamento de Filosofia da USP, a
Discurso Editorial uma sociedade civil sem fins lucrativos que visa ao desen-
volvimento de atividades de apoio docncia e pesquisa em filosofia, artes,
letras e cincias humanas em diversas modalidades: traduo de livros de au-
tores clssicos e comentadores, produo de textos, de vdeo, promoo de
cursos, conferncias, seminrios, colquios, congressos e outros.
A produo grfica da revista discurso feita pela Discurso Editorial
desde o n
o
22, estando previstas, para 1994, a traduo de autores clssicos de
filosofia, a promoo de eventos culturais e a produo de vdeos. A valori-
zao do trabalho intelectual em filosofia, artes, letras e cincias humanas est
no horizonte da sociedade. Por isso, em breve, lanar um jornal com resenhas
de publicaes em humanidades.
Scios fundadores: Andra Loparic, Armando Mora de Oliveira, Ben-
to Prado Jr., Caetano Ernesto Plastino (conselho fiscal), Carlos Alberto Ri-
beiro de Moura, Franklin Leopoldo e Silva (conselho tcnico), Joo Paulo
Gomes Monteiro, Jos Arthur Giannotti, Jos Carlos Estvo, Jos Raimundo
Novaes Chiappin, Lon Kossovitch, Luiz Fernando Baptista Franklin de
Matos, Luiz Henrique Lopes dos Santos (conselho fiscal), Lygia Arajo
Watanabe, Mrcio Suzuki (vice-presidente), Maria das Graas de Souza do
Nascimento (conselho tcnico), Maria Lcia Cacciola, Marilena de Souza
Chau, Mario Miranda Filho, Milton Meira do Nascimento (presidente),
Newton Carneiro Affonso da Costa, Olgria Chaim Feres Matos, Oswaldo
Porchat Pereira da Silva (conselho fiscal), Otlia Fiori Arantes, Pablo Rubn
Mariconda (conselho tcnico), Paulo Eduardo Arantes, Renato Janine Ri-
beiro, Ricardo Ribeiro Terra, Roberto Bolzani Filho, Rolf Nelson Kuntz,
Rubens Rodrigues Torres Filho, Scarlett Marton, Srgio Cardoso, Vera L-
cia Gonalves Felcio e Victor Knoll. Scios colaboradores: Bento Prado
Neto, Carlos Fernando Meixner (gerente-executivo), Floriano Jonas Cesar
(secretrio), Guilherme Rodrigues Neto, Marcos Severino Nobre, Maria
Constana Peres Pissarra e Vilma Aguiar (tesoureira). Novos scios colabo-
radores podem ser admitidos no quadro social.
S-ar putea să vă placă și
- Exercícios de Análise Matemática 1Document126 paginiExercícios de Análise Matemática 1Joana Quitério89% (46)
- Lawrence - Caos em PoesiaDocument3 paginiLawrence - Caos em PoesiaToshio Takyhara100% (1)
- A Prova Dos NoveDocument4 paginiA Prova Dos NoveJefferson AguiarÎncă nu există evaluări
- Unidade2 1Document11 paginiUnidade2 1Carlos MaurícioÎncă nu există evaluări
- Serge - Daney - O TRAVELLING DE KAPÒDocument27 paginiSerge - Daney - O TRAVELLING DE KAPÒToshio TakyharaÎncă nu există evaluări
- Contos de BalzacDocument36 paginiContos de BalzacRoberta Miranda100% (1)
- Agamben Le Cinema de Guy DebordDocument5 paginiAgamben Le Cinema de Guy DebordToshio TakyharaÎncă nu există evaluări
- 5 Regras de Ouro JarmuschDocument1 pagină5 Regras de Ouro JarmuschToshio TakyharaÎncă nu există evaluări
- Bacon - o DiagramaDocument1 paginăBacon - o DiagramaToshio TakyharaÎncă nu există evaluări
- Mito e Dialetica Na RepublicaDocument3 paginiMito e Dialetica Na RepublicaLourenço BeccoÎncă nu există evaluări
- Engler Nietzsche Inspiracao PDFDocument18 paginiEngler Nietzsche Inspiracao PDFToshio TakyharaÎncă nu există evaluări
- Daniel Russo O Conceito de Imagem-Presença Na Arte Da Idade Média PDFDocument37 paginiDaniel Russo O Conceito de Imagem-Presença Na Arte Da Idade Média PDFToshio TakyharaÎncă nu există evaluări
- Agamben Le Cinema de Guy DebordDocument5 paginiAgamben Le Cinema de Guy DebordToshio TakyharaÎncă nu există evaluări
- Konrad Fiedler e A Pura Visibilidade: Fundação de Uma Teoria Moderna Da ArteDocument13 paginiKonrad Fiedler e A Pura Visibilidade: Fundação de Uma Teoria Moderna Da ArteToshio TakyharaÎncă nu există evaluări
- BASCHET, Jérôme. Introdução A Imagem-Objeto PDFDocument17 paginiBASCHET, Jérôme. Introdução A Imagem-Objeto PDFRodrigo de FreitasÎncă nu există evaluări
- 1918-Texto Do Artigo-5548-1-10-20120612 PDFDocument17 pagini1918-Texto Do Artigo-5548-1-10-20120612 PDFToshio TakyharaÎncă nu există evaluări
- O Espírito Do Tempo - Experiências Estéticas PDFDocument9 paginiO Espírito Do Tempo - Experiências Estéticas PDFIsaac Matheus Santos BatistaÎncă nu există evaluări
- Debora Barbam Mendonca - 26 - 230-237Document8 paginiDebora Barbam Mendonca - 26 - 230-237Toshio TakyharaÎncă nu există evaluări
- Debora Barbam Mendonca - 26 - 230-237Document8 paginiDebora Barbam Mendonca - 26 - 230-237Toshio TakyharaÎncă nu există evaluări
- Flávio Costa Pinto de Brito Salò - Ritos de Controle e Poder No Último Filme de Pier Paolo PasoliniDocument13 paginiFlávio Costa Pinto de Brito Salò - Ritos de Controle e Poder No Último Filme de Pier Paolo PasoliniToshio TakyharaÎncă nu există evaluări
- Macedo Estetica em Descartes PDFDocument6 paginiMacedo Estetica em Descartes PDFToshio TakyharaÎncă nu există evaluări
- Suzuki, Marcio - A Filosofia Como Arte, Ou A "Tópica Indefinida" de Gerard LebrunDocument16 paginiSuzuki, Marcio - A Filosofia Como Arte, Ou A "Tópica Indefinida" de Gerard LebrunLuê S. PradoÎncă nu există evaluări
- A PSICOLOGIA HISTÓRICA DE JEAN-PIERRE VERNANT AlfredoDocument8 paginiA PSICOLOGIA HISTÓRICA DE JEAN-PIERRE VERNANT AlfredoToshio TakyharaÎncă nu există evaluări
- Jacob o Que É A VidaDocument10 paginiJacob o Que É A VidaToshio TakyharaÎncă nu există evaluări
- A PSICOLOGIA HISTÓRICA DE JEAN-PIERRE VERNANT AlfredoDocument8 paginiA PSICOLOGIA HISTÓRICA DE JEAN-PIERRE VERNANT AlfredoToshio TakyharaÎncă nu există evaluări
- Verdade e Poder Nas Práticas Judiciárias Gregas - de Homero Aos TrágicosDocument10 paginiVerdade e Poder Nas Práticas Judiciárias Gregas - de Homero Aos TrágicosToshio TakyharaÎncă nu există evaluări
- A Filosofia Da Paisagem (Georg Simmel)Document10 paginiA Filosofia Da Paisagem (Georg Simmel)Lu MachadoÎncă nu există evaluări
- Sistemas Das EmocoesDocument4 paginiSistemas Das EmocoesToshio TakyharaÎncă nu există evaluări
- Mma11 - FP - 3 Sucessoes PDFDocument5 paginiMma11 - FP - 3 Sucessoes PDFCarina Cardoso CardosoÎncă nu există evaluări
- Alg03 - Inducao 2021 OkDocument6 paginiAlg03 - Inducao 2021 OkRonald MartinsÎncă nu există evaluări
- Stewart - Princípios Da Resolução de Problemas PDFDocument6 paginiStewart - Princípios Da Resolução de Problemas PDFmelguzellaÎncă nu există evaluări
- Avaliação 1 - Resolução de Problemas2022Document16 paginiAvaliação 1 - Resolução de Problemas2022Flávio de AguiarÎncă nu există evaluări
- INTRODUÇÃOÁ LÓGICA MATEMÁTICA-juniorDocument146 paginiINTRODUÇÃOÁ LÓGICA MATEMÁTICA-juniorLuis Comodo Dique100% (4)
- Limites de SucessõesDocument12 paginiLimites de SucessõesEugénia CarvalhoÎncă nu există evaluări
- Teoria Aritmética de NúmerosDocument318 paginiTeoria Aritmética de Númeroswitian-2Încă nu există evaluări
- QUESTIONÁRIO UNIDADE I Analise de Matematica Passei DiretoDocument10 paginiQUESTIONÁRIO UNIDADE I Analise de Matematica Passei DiretoDiego MarcoliÎncă nu există evaluări
- Dissertação - Alessandro Monteiro de MenezesDocument85 paginiDissertação - Alessandro Monteiro de MenezesMarlon SantosÎncă nu există evaluări
- Matematica Discreta Unidade 03 PROFMAT 2012Document16 paginiMatematica Discreta Unidade 03 PROFMAT 2012anderson_omsÎncă nu există evaluări
- Unidade 2Document21 paginiUnidade 2antonio neudes dantas de paivaÎncă nu există evaluări
- Princípio de Indução FinitaDocument12 paginiPrincípio de Indução FinitaEmanuele TiroliÎncă nu există evaluări
- Rafaela Cirqueira de Azevedo: 201804149543 Fundamentos de Álg. 2021.1 EAD (G)Document32 paginiRafaela Cirqueira de Azevedo: 201804149543 Fundamentos de Álg. 2021.1 EAD (G)Joyce LymaaÎncă nu există evaluări
- Gilbert Harman - Indução - Enumerativa e Hipotética.Document6 paginiGilbert Harman - Indução - Enumerativa e Hipotética.Luiz Helvécio Marques SegundoÎncă nu există evaluări
- Livro Teoria Dos NumerosDocument103 paginiLivro Teoria Dos NumerosRosemeri Dall' Agnol100% (5)
- Dissertacao REGINALDO LEONCIO SILVADocument130 paginiDissertacao REGINALDO LEONCIO SILVAFabiano NascimentoÎncă nu există evaluări
- Elon SolucoesDocument137 paginiElon Solucoeseusouomaximo100% (1)
- Modulo IDocument77 paginiModulo ILucas RodriguesÎncă nu există evaluări
- Livro Analise Osmundo PDFDocument273 paginiLivro Analise Osmundo PDFMarcus Vinicius Sousa Sousa100% (2)
- MTM246Document2 paginiMTM246Ana Carolina LemesÎncă nu există evaluări
- Caderno de Soluções Do MóduloDocument34 paginiCaderno de Soluções Do MóduloValdirene M. FerreiraÎncă nu există evaluări
- AE2 - Atividade de Estudo 2.2Document3 paginiAE2 - Atividade de Estudo 2.2Bruno AlexÎncă nu există evaluări
- Teoria de Números PDFDocument73 paginiTeoria de Números PDFmazfigÎncă nu există evaluări
- Integer Numbers List1Document3 paginiInteger Numbers List1theosoraÎncă nu există evaluări
- Re82129 Ny11 Resolucoes CA Suc11Document9 paginiRe82129 Ny11 Resolucoes CA Suc11itsbeeeaaaÎncă nu există evaluări
- INDUÇÃO MATEMÁTICA - Resenha Do Livro: "Introdução Às Técnicas de Demonstração Na Matemática" de John A. FossaDocument6 paginiINDUÇÃO MATEMÁTICA - Resenha Do Livro: "Introdução Às Técnicas de Demonstração Na Matemática" de John A. FossaMatemticaÎncă nu există evaluări
- Álgebra LinearDocument79 paginiÁlgebra LinearMessias100% (1)