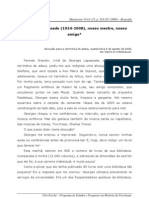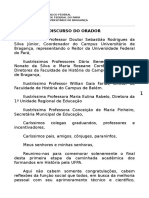Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Eduardo Prado Coelho - O Fio Da Modernidade PDF
Încărcat de
Germano Kruse JuniorTitlu original
Drepturi de autor
Formate disponibile
Partajați acest document
Partajați sau inserați document
Vi se pare util acest document?
Este necorespunzător acest conținut?
Raportați acest documentDrepturi de autor:
Formate disponibile
Eduardo Prado Coelho - O Fio Da Modernidade PDF
Încărcat de
Germano Kruse JuniorDrepturi de autor:
Formate disponibile
O fio da modernidade
notcias
editorial
ISBN 972-46-1572-3
Eduardo Prado Coelho
Direitos reservados
EDITORIAL NOTCIAS
Rua Bento de Jesus Caraa, 17
1495-686 Cruz Quebrada
E-mail: editnoticias@mail.telepac.pt
Internet: www.editorialnoticias.pt
RPENTRETENIMENTO*
Reviso: Ayala Monteiro
Capa: Cludia Hora
Foto da capa: Augusto Brzio
Edio n 1004 0063
1 edio: Novembro de 2004
Depsito legal n 218671/04
Pr-impresso: VHM-Produes Grficas, Lda.
Impresso e acabamento: Grfica Manuel Barbosa & Filhos, Lda.
MERCADO DAS IDEIAS
O FIO DA MODERNIDADE
Nesta coleco:
O NOME E A COISA - 3 edio Jos Pacheco Pereira
A RECONQUISTA DO PARASO Ramn Tamames
A EUROPA EM MOVIMENTO Maria Eduarda Azevedo
REPENSAR A CIDADANIA AAVV
A NOVA ERA EUROPEIA Jos Medeiros Ferreira
DESESPERADA ESPERANA Jos Pacheco Pereira
O ESTADO DA NAO - 2 edio aumentada Manuel Maria Carrilho
A GRANDE PARADA Jean-Franois Revel
CRNICAS DE UMA CRISE ANUNCIADA - 10 edio Anbal Cavaco Silva
O MISTRIO DO CAPITAL Hernando de Soto
PARA EVITAR O PNTANO Jos Burros Moura
ESTA (No) A MINHA POLCIA Alberto Costa
CRNICAS DO NOVO SCULO Vicente Jorge Silva
O PODER SOLVEL Carlos Encarnao
POLTICA CONVERSA Manuel Maria Carrilho
EDUARDO PRADO COELHO
O FIO DA MODERNIDADE
notcias
editorial
Orelha da capa
Renem-se neste livro alguns textos tericos sobre a modernidade, os intelectuais, a democracia e a Europa, oriundos de situaes ou
volumes diversos. Como se vai avanando no sentido de uma aproximao realidade portuguessa contempornea, esta obra prope
ao leitor uma coerncia aprecivel. Mas entre a ideia de modernidade, to difcil de fixar, e impossvel de definir em termos
rigorosamente conceptuais, e uma anlise psicanaltica de democracia, existe obviamente um elenco de temas que se situam em
planos muito diversos e nem sempre compatveis. O livro conclui com uma carta a Miguel Serras Pereira, exemplo de um anarquismo
ponderado e moderado, que tem o mrito de saber colocar verdadeiras questes e obrigar o interlocutor a interrogar-se a si mesmo
sobre as suas convices e opes.
Nota introdutria
Renem-se neste livro alguns textos tericos sobre a modernidade, os
intelectuais, a democracia e a Europa, oriundos de situaes ou volumes
diversos. Como se vai avanando no sentido de uma aproximao realidade
portuguesa contempornea, estou convicto de que o livro acaba por propor ao
leitor uma coerncia razovel. Mas entre a ideia de modernidade, to difcil de
fixar e impossvel de definir em termos rigorosamente conceptuais, e uma
anlise psicanaltica da democracia (como impossibilidade de ocupar o lugar
do centro), entre a ideia do ser como tentativa sempre em aberto de construir
as suas prprias relaes e a ideia da funo dos intelectuais no sculo xx e
xxi (onde o seu papel tende a ser escamoteado por uma srie de figuras
mediticas), existe obviamente um elenco de temas que se situam em planos
muito diversos e nem sempre compatveis. O livro conclui com uma carta a
Miguel Serras Pereira, exemplo de um anarquismo ponderado e moderado,
que tem o mrito de saber colocar verdadeiras
7
questes e obrigar o interlocutor a interrogar-se a si mesmo sobre as suas
convices e opes.
Como natural, estes textos foram escritos em pocas e conjunturas diversas.
Solicita-se ao leitor que tenha esse dado em conta, e que d o devido desconto
a certas formulaes anacrnicas.
8
1
O Fio da modernidade
Juntemos as peas calculadamente soltas. Em primeiro lugar, um espao de
oscilao entre algo que se desenha como um horizonte, um alm, uma
espcie de transcendncia pela qual ascendemos ao limite de ns prprios, ou
insinuamos que nesse limite se abriga o fundamento e a origem do que somos,
e algo que se configura no esquecimento disso, um mero jardim da imanncia
em aque nos recriamos, isto , em que somos os criadores absolutos do tempo
da nossa liberdade (quando no somos meramente recriados para efeitos de
reproduo da fora de trabalho) - oscilao entre as religies e os mitos, por
um lado, e o lazer, por outro (onde tambm se criam os mitos do quotidiano ou
da distncia: no nos acenam as publicidades tursticas com um elenco de
lugares que so o paraso?).
Em segundo lugar, a presena da morte e o seu contraponto: a sade. Mas a
morte sobretudo a experincia de um tempo que em cada tempo se desfaz,
enquanto a sade nos promete a sada do tempo,
9
os lugares do corpo onde fomos eternos porque precariamente jovens. Alguns
falam na incessante luta entre as foras da vida e as foras da morte.
Recorrendo aos materiais do mito, Freud ir contrapor Eros e Thanatos, mas
mostrando como existe um enredamento inexpugnvel entre as pulses de
vida e as pulses de morte. Mas haver sempre, mesmo no interior da
psicanlise, ou no pensamento que nela se atravessou, uma espcie de diviso
entre os que vem o desejo sob o signo da ausncia (e, de certo modo, como
no admirvel Bataille, o colocam no espao da religio e das suas
transgresses: o desejo como afirmao da vida mesmo no interior da morte) e
aqueles que, como Deleuze, pretendem uma viso produtiva do desejo,
segundo o novelo de uma metfora operria, numa interminvel proliferao
de objectos obsessivamente construdos.
Da que a questo do sexo merea ao longo do sculo xx uma ateno central,
e justifique um espao especfico que preciso percorrer sem receios nem
preconceitos: no que o sexual seja a explicao de tudo (o econmico
tambm no), mas existe em tudo uma dimenso sexual (e tambm
econmica).
por isso fcil traar a transio do sexual para o econmico (existem
metforas que so verdadeiras pontes para isso) e entrar no espao do trabalho
(mas aqui precisamos de conservar na memria a relao com o lazer, quer
porque este se desprende, e autonomiza, de uma memria pr-moderna em
que tudo era trabalho para aqueles que trabalhavam e tudo era cio para
aqueles que no trabalhavam, quer porque, ao criar uma divisria rotativa
entre trabalho e cio,
10
a modernidade vai declinar todas as perverses possveis deste esquema:
desde as laboriosas indstrias dos cios at ao cio forado e mortfero das
massas de desempregados ou marginalizados do mundo). A grande questo
saber interpretar o grfico poltico que nos prope a problemtica do trabalho:
desde a proclamao da unidade dos trabalhadores de todo o mundo, que se
deveriam unir para impor a revoluo e passar do reino da necessidade ao
reino da liberdade, at ao pnico que resulta da perspectiva traada por
aqueles que vislumbram o fim do trabalho (ou pelo menos de uma certa ideia e
modalidade do trabalho, ou das formas salariais que o trabalho assumiu nos
tempos modernos - e o uso deste emblema chaplinesco no surge aqui por
acaso).
Quando chegamos ao espao da alimentao, a palavra tem de ser entendida
no seu sentido literal (como voracidade canibalesca e predadora, em que a
cultura destri a natureza, atravs de premeditados crimes ecolgicos, ou a
absorve nas redes tecnolgicas sem limites) e no seu sentido mais subtilmente
metafrico: uns alimentam-se do trabalho dos outros (o que se pode chamar
explorao), alguns povos alimentam-se da escravatura de outros povos (o que
por vezes se designa por colonialismo ou imperialismo), algumas culturas
alimentam-se do esquecimento deliberado de outras culturas (o que
corresponde ao etnocentrismo) ou da reciclagem folclrica das culturas outras
como produo do exotismo local (o que, associado cultura de massas, se
pode chamar a americanizao do mundo), tal como, no interminvel
dilogo das conscincias
11
e dos corpos, haver sempre relaes de poder a encurvar, para o bem ou para
o mal, o tenso espao das paixes (e a psicanlise, analisando, no fio
sonmbulo das palavras, sonhos, pesadelos e quimeras, no fala de outra
coisa).
questo da alimentao (que sustenta todo o leque de interrogaes
legtimas sobre o problema do animal e o problema da natureza, e que se
bloqueia e crispa em torno de questes centrais de gesto da vida como o caso
das vacas loucas ou o caso do sangue contaminado) devemos contrapor
as grandes interrogaes sobre o papel das tecnologias enquanto extenses do
corpo - isto , prteses. No por acaso que o romance de Ballard e o filme de
Cronenberg, Crash, deram origem a uma fascinao incomodada e lvida:
neles se colocam as questes dos limites do corpo humano, do desequilbrio
eventual do humano para o ps-humano, do estranho e alucinado deslizar do
desejo para formas simultaneamente virais e metalrgicas de propagao e
epidemia dos afectos (tudo aquilo que se enuncia nas chamadas artes do
corpo, desde a nova dana s prticas proliferantes do piercing). Talvez uma
leitura possvel do sculo passe pela paciente hermenutica do desejo e das
malhas insidiosas da seduo (de Laclos a Duras, incluindo Casanova e
Vailland), do prazer nas suas formas mundanas ou brutais (de Sade a Miller ou
de Pasolini a Burroughs), passando pela intensidade (Artaud ou Mishima, sem
esquecer Bacon ou Oshima) e pela excitao (formas espasmdicas e obtusas
de uma intensidade monocrdica ou drogada).
12
Mas as tecnologias so sobretudo duas coisas. Uma progressiva
imaterializao da vida (emergncia do virtual) e uma precipitada acelerao
do viver - de tal modo que a grande questo que se coloca e desloca (mas tudo
deslocalizao...) neste espao de no-lugares, para utilizarmos o termo de
Marc Aug, e de cidades globais, para nos referirmos problemtica de
Saskia Sassen quando estuda Nova Iorque, Londres ou Tquio, ou s
geografias ps-modernas de Edward Soja, a de reformularmos um espao
onde o tempo faa sentido.
Em Cyberspace - First Steps (Massachusetts Institute of Technology, 1991),
Allucquere Rosanne Stone esboa um mito da gnese dos sistemas virtuais em
quatro etapas. A primeira situar-se-ia na segunda metade do sculo xvii,
quando Robert Boyle levou prtica um aparelho de tecnologia literria para
dramatizar as relaes sociais prprias de uma comunidade de filsofos
atravs daquilo que se poder chamar o testemunho virtual. Isto , ao tentar
que fosse reconhecido o valor cientfico das suas experincias estabeleceu um
meticuloso protocolo de descrio dessas experincias permitindo que elas
pudessem obter a consagrao por aqueles que a elas no tinham estado
presentes. Cria-se assim a comunidade virtual dos que asseguram o valor de
uma experincia sem terem estado fisicamente associados a ela. Mas este
dispositivo mais no faz do que codificar um processo de criao de
comunidades virtuais inerente existncia de textos literrios - comunidade
dos leitores de Werther ou de Manon Lescaut, comunidade dos amantes
infelizes.
13
O segundo perodo corresponderia ao incio do sculo xx e assinalaria a
importncia do telefone, do telgrafo, do fongrafo ou da rdio na criao de
novas comunidades virtuais. Estas tcnicas surgem como criadoras de
interfaces: isto , de instncias de mediao entre o corpo humano e o eu a
ele associado. assim que, pouco a pouco, o que o telefone e a rdio tinham
permitido se ir desenvolver vertiginosamente com o cinema e a televiso.
O terceiro perodo coincide com as tecnologias da informao, ligado nos anos
70 difuso de terminais de computadores. So novas formas de vnculo
social que se comeam a desenvolver. Para Allucquere Rosanne Stone, a
passagem para o quarto perodo pode ser assinalada por um dos livros do
sculo: o Neuromancer de William Gibson. a inaugurao de uma nova
noo no processo das comunidades virtuais: a noo de ciberespao.
Donde, avanou-se numa linha de progressiva desmaterializao e, pouco a
pouco, medida que a energia se converte num efeito da informao, as
indstrias do imaterial ganham predominncia - a economia cada vez mais
uma economia do invisvel. Podemos ter deste processo uma viso
euforizante, o que em parte a posio de Charles Goldfinger: A economia
industrial era baseada no progresso tcnico, visando eliminar as
condicionantes materiais que impedem a satisfao das necessidades fsicas. A
sua dinmica era fundamentalmente quantitativa e linear: mais produo e
consumo valia mais do que menos. Na economia do imaterial, a ideia de
progresso tcnico perde a sua significao.
14
A acumulao fsica j no tem sentido num universo etreo e abundando em
dados e imagens. A dinmica agora qualitativa e estruturada em torno das
noes mais subjectivas de felicidade e enriquecimento pessoal (C.
Goldfinger, LUtile et le Futile, Seuil, p. 586). Mas o prprio Goldfinger nos
adverte quanto aos riscos. Por um lado, os mecanismos tradicionais de
controlo econmico e social deixaram de ser eficazes. Assistimos a uma
afirmao annima e desregrada do econmico face a uma impotncia
crescente do poder poltico. Por outro lado, o aparecimento do numrico
generalizado faz surgir o espectro do monoplio das ideias e das imagens
(.id., p. 597).
E, se a sucesso dos perodos de que nos fala Stone se acelerou, porque a
tecnologia cada vez mais uma questo de velocidade. O que levanta dois
grandes problemas: poderemos reconstituir lugares de memria e voltar de
novo a habitar o tempo?, e ainda: estaremos em condies de recuperar a
perda de referncias (a dos calendrios e das cardinalidades) a que a tcnica,
na sua voracidade desorientadora, nos parece condenar? Ou por palavras
roubadas a Bernard Stiegler: face industrializao da memria, poderemos
ns restituir conscincia a unidade do seu fluxo e da sua capacidade de juzo,
e impedir que a sntese se converta em mera prtese?
No fundo, so estas as duas questes cruciais que se colocam nas seces
finais da exposio: a do esprito (isto , da valorizao daquilo a que Popper
chamou o terceiro mundo - nem o mundo interior, nem o mundo exterior,
mas o mundo partilhvel objectivamente
15
ntimo dos valores e das ideias) e a da velocidade (essa velocidade de que um
Paul Virilio, analisando as novas formas de percepo que ela produz, seja na
experincia quotidiana de um carro que rompe a paisagem, seja na violncia
colorida e sacudida dos jogos electrnicos, props uma nova cincia, a que
deu o nome de dromoscopia). A questo da velocidade tambm a questo
da democracia. O imprio meditico (com uma ideologia prpria no
assimilvel cartografia tradicional das ideologias) vive na obsesso da
recolha de opinies fomentando a iluso de que a expresso de uma opinio
seria equivalente ao processo de deliberao proposto pela democracia. Ora
entre a opinio suposta espontnea e o trabalho de formao das opinies
pressuposto pela ponderao, confronto e debate democrtico na praa
pblica, vai um verdadeiro abismo. Como sublinhou Lo Shrer, em La
Dmocratie Virtuelle (Flammarion, p. 105), a necessidade de se referir a um
programa, de se apoiar sobre um partido poltico, de ter orientaes, opes,
de definir critrios sobre os quais ser julgada uma determinada aco, todo
este arsenal da poltica na democracia j no funciona em regime de
instantaneidade. por isso que, neste espao aberto espontaneidade
desorientada, so mltiplas e imprevisveis as possibilidades de emergncia de
subjectividades histricas colectivas: tanto podem surgir como classes,
segundo o modelo tradicional da luta de classes, como atravs da formao
selvagem de novas identidades episdicas (a categoria dos desempregados,
que despontou recentemente na cena poltica francesa, ou dos
16
marginalizados, ou dos imigrantes e desalojados) ou do perigoso e
preocupante relanamento de novas formas de devir-sujeito das massas atravs
da ideia de nao ou de raa. A dolorosa problemtica dos fundamentalismos
contemporneos enraza aqui.
Dois livros recentes tentaram traar um balano do sculo: um deles, mais
histrico, poltico e ideolgico, o de Eric Hobsbawm e intitula-se Age of
Extremes (j traduzido em portugus na Presena); o outro, mais econmico,
The Long Twentieth Century e da autoria de Giovanni Arrighi (Verso,
Londres e Nova Iorque,
1994). Curiosamente, Arrighi como que responde a Hobsbawm, que falara no
longo sculo xix, porque na sua perspectiva este sculo comeara em 1789 e
terminaria em 1914, o que faz que o sculo xx apareceria como um sculo
curto: iria de 1914 a 1991.
Eric Hobsbawm prope uma diviso em trs perodos para o sculo xx. O
primeiro, de 1914 a 1945, seria a idade das catstrofes: guerras inmeras, a
grande crise econmica, a queda das instituies democrticas (fascismo,
estalinismo). O segundo corresponde ao grande enigma: colocando-o entre 45
e 75, em referncia aos grandes anos gloriosos de que falou Fourasti,
Hobsbawm interroga-se: Como e porqu depois da Segunda Guerra Mundial
o capitalismo se encontrou, para surpresa de todos, e para sua tambm,
lanado, entre 1947 e 1973, numa idade de ouro sem precedente e
provavelmente anormal, eis talvez a grande questo colocada aos historiadores
do sculo xx. A terceira surge como a derrocada (.Landslide) e
corresponde
17
a uma crise generalizada que encontra a sua melhor imagem na queda do
imprio sovitico, ou na crise do socialismo real, mas que se exprime
atravs de mltiplos sinais: crises cclicas, migraes, fome, desemprego em
massa, capitalismo financeiro de cariz cada vez mais especulativo, predomnio
do econmico em relao ao poltico, crise do Estado-Nao minado num
plano infranacional e ao mesmo tempo supranacional, desintegrao das
relaes sociais, fractura de geraes, descontinuidade entre o passado e o
presente.
Arrighi procura encontrar uma outra perspectiva e estabelece os quatro
grandes ciclos sistmicos de acumulao capitalista: primeiro, o ciclo
genovs, segundo, o ciclo holands, terceiro, o ciclo britnico, por fim, o ciclo
americano, que estaria no seu declnio, e se prepararia para dar lugar ao ciclo
japons (os desenvolvimentos da crise asitica no vo aparentemente no
sentido desta anlise). O ponto de crise de cada ciclo seria o da passagem de
uma fase de expanso material, baseada em investimentos produtivos, para
uma fase de expanso financeira, baseada na mera especulao. Nesta
perspectiva, no haveria nada de novo no perodo da derrocada que estamos
vivendo, na medida em que estaramos a assistir mais uma vez ao termo de um
ciclo. legtimo pensar que esta anlise demasiado economicista, e que
mesmo no plano econmico subestima aspectos essenciais do actual processo
de globalizao.
Ser legtimo supor que uma perspectiva mais sociolgica dificilmente
acompanharia as teses de Giovanni
18
Arrighi. o que podemos deduzir da obra recente de Martin Albrow,
intitulada The Global Age - State and Society Beyond Modernity (Polity Press,
Cambridge,
1997), cuja perspectiva poder ser resumida pelo seguinte extracto: O mais
decisivo acontecimento no incio da Idade Moderna foi a descoberta da
Amrica, em 1492. Outro acontecimento ir de igual modo assinalar o seu
termo iminente: o lanamento das bombas atmicas no Japo, em 1945. Entre
estas duas datas, a histria da humanidade foi o projecto de alargar o controlo
humano sobre o espao, o tempo, a natureza e a sociedade. O agente central
deste projecto foi o Estado-Nao trabalhando com e atravs da organizao
capitalista e militar. Isto deu uma forma caracterstica vida dos povos e
passagem das geraes. Mas o culminar deste projecto na unificao do
mundo foi tambm a sua dissoluo. Com o chegar ao fim da poca,
desenvolveram-se os indcios de que estvamos passando para uma nova
idade. Comeou por no se reconhecer aquilo de que tratava. A Guerra Fria, os
Trs Mundos, o homem a desembarcar na Lua, em
1969, a aldeia global electrnica, o triunfo dos Estados Unidos e o colapso da
Unio Sovitica, em 1991, e por fim o aquecimento generalizado da Terra, j
no eram sinais de uma modernidade triunfante, mas de uma nova
globalidade. Em 1980, globalizao tornou-se a palavra-chave. Em 1990
reconheceu-se amplamente que a Idade Moderna tinha chegado ao fim e que a
Idade Global estava a comear (p. 7).
A questo essencial consiste em saber que destino dar ao projecto da
modernidade. E para isso preciso
19
identific-lo cuidadosamente. Talvez o problema da ps-modernidade (palavra
que Albrow recusa por considerar que ela no permite deixar de pensar no
mbito das categorias da modernidade) se torne mais claro se distinguirmos o
arco amplo da modernidade a partir do projecto das Luzes e o arco mais
restrito em termos de tempo e de contedos dos modernismos estticos (que
surge genericamente com as vanguardas do final do sculo xix e que se
sucedem ao longo do sculo xx).
A modernidade poder alicerar-se nas propostas enunciadas em dois textos
fundamentais: o Was ist Aufklrung?, de Kant, publicado nas pginas de
Berlinische Monatsschrift, em 1784, e Le Peintre de la Vie Moderne,
publicado em trs partes por Baudelaire nas pginas de Le Figaro, em 1863.
Em Kant encontramos a definio essencial: As Luzes so a sada do homem
do estado de tutela de que ele prprio responsvel. Donde, a directiva s
pode ser a seguinte: ousa saber, ousa utilizar o teu prprio entendimento,
liberta-te dos tutores e dos estados de tutela, emancipa-te. verdade que o
estado de tutela se torna por vezes numa espcie de segunda natureza a que
confortvel e preguiosamente nos encostamos. Por isso mesmo preciso
deciso e coragem para aprendermos a caminhar pelos nossos prprios meios.
Esta noo de emancipao mantm vivas todas as suas virtualidades. neste
sentido que um pensador poltico como Ernesto Laclau pode falar nas seis
dimenses nucleares da emancipao: a dimenso dicotmica (h uma ruptura
absoluta entre o momento
20
anterior e o momento posterior emancipao); a dimenso holstica (a
emancipao afecta todas as reas da vida social); a dimenso de transparncia
(se a alienao desaparece, verifica-se uma absoluta coincidncia de cada ser
consigo mesmo e no h lugar para relaes de poder ou de representao); a
dimenso de preexistncia daquilo que deve emancipar-se em relao ao acto
de emancipao, porque no h emancipao sem opresso; a dimenso de
fundo, na medida em que a emancipao deve tocar a nvel dos fundamentos
da vida social; a dimenso de racionalidade: porque a emancipao coincide
com o momento em que o real deixa de ser opaco e se ajusta a um princpio de
racionalidade absoluta (Ernesto Laclau, Emancipation(s), Verso, Londres,
1996, pp. 1 e 2).
Um segundo tema kantiano essencial para a caracterizao do esprito da
modernidade pode ser encontrado no texto sobre o conflito das faculdades,
precisamente na Segunda Seco, em que se pergunta se o gnero humano se
encontra em constante progresso em relao ao melhor. Se necessrio
identificar um acontecimento que funcione como sinal de que uma causa
permanente guia a humanidade na direco do progresso, esse acontecimento
tem de ser tal que se possa demonstar que ele j agiu no passado, que ele age
no presente e que continuar agir no futuro. Para Kant, um tal acontecimento
desse tipo s pode ser a Revoluo Francesa.
O que interessante que no a Revoluo Francesa em si mesma que
constitui o acontecimento procurado, mas, sim, o entusiasmo que ela provocou
21
naqueles que, de longe e desinteressadamente, tiveram notcia dela. Essa
reaco, pela sua universalidade, revela um trao da espcie humana em geral,
e, pelo desinteresse, manifesta uma dimenso moral inequvoca. O
acontecimento efectivo o entusiasmo partilhado.
Donde, a modernidade feita de um movimento de emancipao e de uma
ideia de revoluo.
Em Baudelaire encontramos outro trao decisivo da modernidade: a relao
com o presente. Como ele escreve em Le Peintre de la Vie Moderne, o
passado interessante no apenas pela beleza que dele souberam extrair os
artistas para quem ele era o presente, mas tambm como passado, pelo seu
valor prprio. O mesmo se passa com o presente. O prazer que retiramos da
representao do presente advm no apenas da beleza de que pode estar
revestido, mas tambm da sua qualidade essencial de presente. essa
valorizao do presente como categoria filosfica que faz que a poca, a
moda, a moral e a paixo se incorporem na face dupla da beleza, e que a
modernidade se torne a procura do que h de potico no histrico e do que
h de eterno no transitrio.
Um ltimo elemento: o corpo. Quando se pensou este inventrio do sculo xx,
ao procurarmos um fio condutor, pensmos que o mais bvio, e expansivo,
seria o do corpo. E, na realidade, o corpo suporta e articula todas as seces
que a constituem.
Porqu o corpo? Porque a emergncia de uma conscincia do corpo uma das
marcas mais profundas da modernidade? Sem dvida. Mas, seguindo o que
nos ficou da leitura de Nietzsche, poderemos dizer que
22
no a conscincia do corpo o mais importante. Passar pela ideia de corpo,
para Nietzsche, passar por algo que funciona como instncia intermediria
entre o caos das pulses e a simplificao do mundo operada pela conscincia,
pela linguagem e pelos conceitos. Neste plano, Nietzsche prolonga Leibnitz,
ao mostrar-nos que o corpo pensamento em si mesmo e que a conscincia
apenas uma parte nfima e precria do corpo-que-pensa, e ao afirmar que o
pensamento-em-estado-de-corpo feito de movimentos cegos, impulsos,
afectos, energia e relao de foras. Todo o sculo xx viveu escuta desse
caos rumoroso e ofegante que vem da noite do mundo e que se transmite
sobretudo nos momentos em que encostamos o ouvido parede nocturna de
um corpo desejado ou odiado. A exiguidade do esprito perante a exuberncia
dos corpos algo que atravessou este sculo em todas as suas lutas e
decepes, em todos os seus confrontos e gestos radicais de emancipao. Da
que se possa dizer que esse arco tenso que a modernidade, suspenso da
emancipao e da revoluo, tambm o arco que sustenta a relao
incendiada do corpo com a ideia de presente em que ele inevitavelmente se
desequilibra em memria obscura e desejo cintilante.
Julgo que a melhor atitude para afrontarmos o drama periodolgico do sculo
xx aquela que nos prope Michel Foucault (que repetidas vezes retomou os
textos de Kant, em ensaios ou conferncias de 78, de
83 e de 84). isto o que ele nos sugere: Sei que se fala muitas vezes da
modernidade como de uma poca ou em todo o caso como de um conjunto de
traos
23
caractersticos de uma poca; situam-na num calendrio onde ela seria
precedida por uma pr-modernidade mais ou menos ingnua ou arcaica e
seguida por uma enigmtica e inquietante ps-modernidade. E interrogamo-
nos se a modernidade constitui a sequncia da Aufklarung e o seu
desenvolvimento ou se preciso ver nela uma ruptura em relao aos
princpios fundamentais do sculo XVIII. Referindo-me ao texto de Kant,
pergunto-me se no se pode encarar a modernidade mais como uma atitude do
que como um perodo da histria. Por atitude, quero dizer um modo de relao
perante a actualidade; uma escolha voluntria feita por alguns; por fim, uma
maneira de pensar e sentir, uma maneira tambm de agirmos e de nos
comportarmos, que marca ao mesmo tempo uma pertena e se prope como
uma tarefa. Um pouco, sem dvida, como o que os Gregos chamavam um
ethos. Por conseguinte, mais do que querer distinguir o perodo moderno
das pocas pr ou ps-moderna, creio que melhor procurar compreender
como a atitude de modernidade, depois que se formou, se encontra em luta
com atitudes de contramodernidade (Michel Foucault, Dits et Ecrits, vol.
4, Gallimard,
1994, p. 568).
No creio que seja possvel abandonar por completo a noo de perodo
histrico: quer se fale em sociedade ps-industrial, em sociedade
informacional ou em poca da ps-modernidade ou da mundializao,
no podemos omitir ou recalcar, em nome de promessas insuficientemente
cumpridas, as transformaes efectivas, e incontornveis, do mundo
24
em que vivemos. Doutro modo, estaremos a fabricar universos fictcios ao
sabor de caprichos e desejos que j nada tm a ver com o mundo real. Mesmo
que se diga que o facto de sentirmos um momento de viragem que provoca
no real essa mesma viragem, a verdade que a evidncia do sentimento
domina o mundo em que vivemos, e a circularidade do processo deixa-nos
desarmados.
Podemos enveredar pelo paradigma da nostalgia, como nos sugeriram Georg
Stauth e Bryan S. Turner em Nietzsches Dance: Resentment, Reciprocity and
Resistance in Social Life (Blackwell, Oxford, 1988)
- veja-se tambm Roland Robertson, After Nostalgia? Wilful Nostalgia and
the Phases of Globalization, in Bryan S. Turner (ed.), Theories of Modernity
and Postmodernity (Sage, Londres, 1990), onde se distinguem alguns traos
fulcrais dessa nostalgia: a ideia da histria como declnio, o sentimento da
perda de um todo, o apagamento da expressividade e da espontaneidade, o
sentimento da perda de autonomia individual, ou tentar mostrar que a direita
ps-moderna e a esquerda moderna. Podemos propor com algum cinismo e
desenvoltura uma travessia desencantada e irnica das fraquezas e grandezas
da modernidade (com mais ou menos valorizao da componente liberal das
sociedades modernas em detrimento de todas marcas transgressivas e
emancipadoras da modernidade esttica). Mas creio que a posio mais til e
rica de potencialidades aquela que deriva da constituio de um ethos da
modernidade independente de perodos histricos, que se dever afirmar, e
mesmo reforar, face aos efeitos
25
amplamente nefastos de uma galopante globalizao ps-moderna. Porque h,
como Baudelaire pretendia, um herosmo da modernidade que no deve ser
abandonado - sobretudo quando a prosa do quotidiano nos entrega a uma
proliferao medocre de anti-heris. Atravessar este sculo, com tudo aquilo
que nele se escreveu e aparentemente se desescreveu, fazer um balano.
Neste balano no h uma posio neutra, um olhar equidistante, uma
erudio ftil e desinvestida, que poderia glosar desenfastiadamente sobre
iluses e ingenuidades dos movimentos modernos (crimes de Burroughs,
necrofilias de Bataille, masoquismos de Pasolini). Para alm de todos os erros,
de todas as desiluses, do equvoco e dos crimes, das ideologias, da
voracidade oca das esperanas perdidas e das bandeiras pisadas, devemos
continuar a dizer baixinho, modestamente, obstinadamente, com Rimbaud e a
poesia do nosso lado: Il faut tre absolument moderne. Donde, modernidade
em luta com a contramodernidade, seja esta pr-moderna, moderna ou ps-
moderna. Em plena ps-modernidade, reconhecida e identificada, assumida e
mesmo fruda nos seus jogos, espaldares e acrobacias, aqui e agora, mais do
que nunca, hoje, modernos porque apaixonados pelo corpo como pensamento,
pelo pensamento como revoluo e pela revoluo como emancipao de
todas as tutelas e opresses.
26
2
Novas configuraes da funo intelectual
De tempos a tempos uma situao mais polmica leva a pr em causa essa
casta arrogante que ousa pensar e que aceita ser pensada sob a designao de
intelectuais. Raramente, no entanto, se acusa algum de ser intelectual. Na
melhor das hipteses, isto , na pior, qualifica-se o interlocutor de ser um
pseudo-intelectual. Para aqueles que odeiam os intelectuais, qualquer
intelectual um pseudo: no fundo, algum que comete a fraude de afirmar
que pensa mais do que os outros; no fundo, algum que v tudo em termos
abstractos e ignora a complexidade do concreto; no fundo, algum que
sobrepe as ideias ao saber que no tem; no fundo ainda, algum que faz
profisso de pensar quando todos pensam naturalmente sem fazer disso ofcio
e acrescentam a esse hbito saudvel o exerccio honesto de uma profisso.
Acrescente-se a isso o facto de, durante muito tempo, os intelectuais serem
predominantemente de esquerda (h hoje uma verdadeira afirmao de
intelectuais de direita), ligados a esse movimento que, no interior da
modernidade
27
civilizacional, punha em causa a evoluo da sociedade em nome dos valores
revolucionrios da modernidade cultural. Podemos dizer talvez que os
intelectuais partiam da ideia de que existia uma autonomia do pensamento, e
que essa autonomia do pensamento fazia que cada prtica artstica fosse ainda
uma forma de pensamento (o msico pensa atravs dos sons, o cineasta pensa
atravs das imagens, o poeta pensa atravs do ritmo e das palavras), e que o
pensamento tinha uma vinculao primordial ideia de revoluo: por outras
palavras, pensar regia-se por uma tica do mximo coincidente com a tica do
mximo que suportava a ideia de revoluo. Foi por isso que, com alguma
ironia, Paul Valry afirmou que o intelectual era aquele que pensava que
aquilo que j tinha sido pensado no tinha sido ainda suficientemente pensado.
Mas Valry que no v sem resposta: conta-se que, quando encontrou Einstein,
lhe perguntou como que ele fazia para no deixar que se escapassem as
ideias que tinha. E recomendou o seu prprio mtodo: anoto-as no punho das
camisas. Einstein mostrou-se mais poupado em camisas e ter retorquido: Eu
no preciso, at hoje s tive duas ou trs ideias.
Como sabido, certos pases cultivam os seus intelectuais, outros remetem-
nos para domnios circunscritos. Se existe um esprito francs, ele distingue-se
por ser o de um pas de intelectuais, que teve na figura de Sartre (combatida
por Aron na sua luta contra o marxismo como pio dos intelectuais) o seu
paradigma privilegiado. Nesse plano, o plo oposto o do esprito, para quem
o intelectual francs algum
28
profundamente convicto da sua superioridade intelectual, que escreve numa
linguagem nebulosa e esotrica, e gosta de se associar a posies extremistas
que pem em causa os valores da democracia. Podem ser referidos os
alinhamentos contrafeitos de Sartre com as posies estalinistas ou a defesa de
Khomeini no Iro por Michel Foucault.
Por seu turno, o esprito ingls vai no sentido oposto: marcado por um
robusto empirismo, rejeita a dimenso proftica e sempre intrometida dos
intelectuais franceses. E acusa-os dos grandes males da sociedade. Quando,
em 1989, se comemorou o bicentenrio da Revoluo Francesa, a primeira-
ministra inglesa, Margaret Thatcher, ainda inspirada pelas teses de Edmund
Burke, afirmou que a Revoluo Francesa era uma tentativa utpica para
alterar a ordem tradicional... em nome de ideias abstractas, formuladas por
intelectuais vazios, e que acabou por desembocar, no por acaso mas por
fraqueza e perversidade, em depurao, massacres colectivos e guerra.
Franois Dosse, no seu recente livro La Marche des Ides, cita Bertrand
Russell, que afirma: Nunca me considerei como um intelectual e nunca
ningum me ousou tratar nesses termos na minha presena. E lembra que
Orwell pretendia que os Ingleses no so intelectuais. Mas, se
considerarmos que os intelectuais so aqueles que se autorizam a si prprios a
sarem do seu campo de especialidade e a terem opinio noutros domnios,
possvel considerar que o prprio Bertrand Russell, Bernard Shaw, ou Keynes,
ou Eliot, Laski, ou Karl Popper, ou George Steiner, ou Harold Pinter, ou Isaiah
29
Berlin, ou Raymond Williams, ou Perry Anderson so exemplos de
intelectuais.
So exemplos de intelectuais se considerarmos a grande distino entre
trabalhadores manuais e trabalhadores intelectuais, mas neste caso o crculo
dos intelectuais na realidade extremamente amplo. So exemplos de
intelectuais se considerarmos que os intelectuais so aqueles que numa
sociedade gerem e tm responsabilidades em relao matria simblica - isto
, em relao ao uso e manipulao dos smbolos. Nesse caso, o crculo mais
apertado, embora tenha ainda dimenses considerveis. Mas, se formos para
outros critrios (como aqueles que resultam da definio mais especificamente
francesa, e apoiada no exemplo do caso Dreyfus), como a que avana com a
ideia do intelectual que assina peties e manifestos, nesse caso as
divergncias podero emergir. A questo essencial esta: que autoridade tem
um escritor para se pronunciar sobre a guerra no Iraque ou a proibio da
interrupo voluntria da gravidez? Que autoridade tem um pintor para
contrariar a instalao de um casino no centro da cidade de Lisboa?
A verdade que a distino entre trabalhadores intelectuais e trabalhadores
manuais hoje bastante obsoleta. O aparecimento de uma rea da classe
mdia que se ocupa dos chamados servios e que lida com aspectos
imateriais sem se situar no campo especfico dos intelectuais acabou por
baralhar os dados. H um capitalismo cognitivo que se instala e que tem a ver
com as novas tecnologias e a informatizao da sociedade. possvel que se
venha a comprovar a
30
tese de alguns pensadores contemporneos (como Toni Negri e Michael
Hardt) que consideram que h todo um potencial de contestao da sociedade
que resulta dessas novas tecnologias (inicialmente encaradas na sua dimenso
libertria de uma imensa socializao do saber, e hoje muito mais limitadas,
dadas as barreiras e as fronteiras crpticas que se vo estabelecendo). Mas para
j verificamos que no nesse plano que surgem os que fazem profisso de
intelectuais.
Temos os intelectuais da Idade Mdia de que falava Jacques Le Goff. Temos
os grandes grandes nomes dos humanistas do Renascimento. Temos os
filsofos das Luzes e o peso que tiveram nas grandes transformaes da
Europa. Temos os intelectuais designados como jovens hegelianos (e os
grandes confrontos entre Feuerbach e Marx, ou entre Marx e Stirner). Temos o
modelo da intelligentsia russa. Temos Voltaire, Hegel ou Karl Kraus. Mas, se
muitos destes autores se distinguiram no plano da actividade jornalstica,
fundamentalmente como universitrios que eles se definem profissionalmente.
E nesse ponto h uma viragem que fundamental sublinhar: eles no so
intelectuais da Igreja, mas intelectuais da Universidade. a Universidade que
lhes d aquela plataforma de autoridade na qual um intelectual se apoia. Mas
isto tambm se comprova no decurso do caso Dreyfus, que , como se sabe, a
cena matricial da figura contempornea do intelectual. Dreyfus tinha sido
condenado, em 1894, acusado de espionagem ao servio da Alemanha. Essa
condenao foi acompanhada por gritos de morte aos judeus!. Descobre-se
mais tarde que ele est inocente,
31
mas o Exrcito quer ocultar estas revelaes e pretende opor-se reviso do
processo. ento que se extremam dois campos: por um lado, o daqueles que
defendem a reviso do processo em nome da defesa dos direitos do homem.
Por outro lado, aqueles que pem a Ptria acima de tudo mais, e que
pretendem asfixiar o caso. O texto que, em 1898, publicado no jornal
LAuror epor Zola o grande exemplo da interveno intelectual, aquele a que
sempre nos referimos quando imaginamos a interveno de um escritor num
caso notoriamente cvico e poltico. Trata-se do famoso JAccuse.
Clemenceau, responsvel pelo jornal LAurore, vai qualificar este texto como
manifesto dos intelectuais. Mas os adversrios vo utilizar esta designao
com um valor negativo, uma conotao pejorativa. Para Barres, que a figura
mais conhecida dos que se opem reviso do processo, a palavra
intelectual funciona como um verdadeiro insulto.
Que define desde o princpio um intelectual? A coragem de dizer no. Isto
, tornou-se uma marca do intelectual essa capacidade de negar o existente. Os
intelectuais que aceitam o existente tal como ele est podem, como bvio,
colocar-se na categoria de intelectuais. Mas a tradio - precisamente aquilo
que faz que os intelectuais tradicionais sejam associados habitualmente
esquerda - a de que um intelectual se inscreve nesse processo da histria que
tem a ver com a capacidade da negao. O problema que se coloca que, em
determinadas circunstncias, a esquerda toma o poder e comea a exercer as
responsabilidades da governao. Ora mais fcil para um intelectual
32
ser oposio do que estar a defender a situao existente. Isso exige partida
uma espcie de toro interior perante a sua efectiva vocao. Ou o intelectual
trai a sua misso de intelectual e passa a ser um defensor do regime, na
coerncia prpria de quem sempre defendeu que este regime existisse e no
quer contribuir para a sua queda; ou o intelectual trai aqueles que eram seus
companheiros na mesma luta e passa a ser crtico dos aspectos mais negativos
do governo que exerce o poder. Como todas as questes de ordem tica, o
melhor tentar resolver caso a caso, tendo em conta as circunstncias
concretas ou a gravidade dos problemas. Mas esta situao inevitvel e passa
inevitavelmente pela eventualidade de ser acusado de estar a fazer o jogo dos
adversrios. evidente que a questo se coloca mais quando esses
intelectuais so chamados a comentar a actualidade e exercem uma forma de
poder meditico atravs das colunas que escrevem para os jornais e sobretudo
dos comentrios que fazem na televiso.
Em Portugal, a revista Viso designou Marcelo Rebelo de Sousa como o
portugus mais influente no seu pas. O professor Marcelo (e a qualificao
de professor, incua s por si, tem neste caso um valor de aura considervel)
surgia todos os domingos (falando s vezes de cidades de provncia onde se
desloca) a comentar a actualidade da semana. O seu estatuto relativamente
ambguo, uma vez que foi um protagonista poltico e h muitos que pensam
que utiliza o seu lugar de comentador para relanar a sua carreira de uma
forma extremamente ambiciosa. De qualquer
33
forma, o teor da sua interveno extremamente calculada. Tem um pequeno
perodo em que fala dos livros que foram saindo durante a semana, simulando
por vezes que os leu (e alguns ter lido, claro), mas procurando sempre no se
comprometer excessivamente com juzos de valor. Trata-se de ir procurar
literatura (e de certa foma, de um modo mais amplo, vida editorial) para
obter uma espcie de legitimidade cultural. O seu tom extramente coloquial
e embora esteja vinculado ao partido do Governo consegue dar uma sensao
de independncia. De qualquer forma, estando a meio caminho entre o
professor, o homem poltico e o jornalista, Marcelo Rebelo de Sousa um
verdadeiro exemplo de intelectual que soube encontrar o registo meditico
adequado. E, como sublinhei de entrada, embora ser professor isoladamente
nada signifique hoje (so inmeros e em grande parte desconhecidos os
professores da Universidade portuguesa), quando este atributo acrescentado
a uma lista de outros ttulos tem um valor de reforo muito considervel.
No podemos esquecer at que ponto a ideia de Universidade em que fomos
formados est hoje em profunda alterao. Se no reflectirmos sobre o que
muda e sobre os desafios que essas mudanas colocam, arriscamo-nos um dia
a reunirmo-nos para celebrar o que j no est l - e termos ento passado da
festa revitalizadora para o culto das relquias. Recordo-me ainda do tempo em
que alguns professores (felizmente, raros) escolhiam como temas das suas
aulas investigaes de escopo muito circunscrito, porque
34
achavam que no tinham de se preocupar com os interesses dos alunos, uma
vez que estava ali a instituio a for-los a uma presena mesmo relutante.
Hoje passmos para o plo oposto, e a cada passo nos recomendam que
asseguremos o marketing e a rendibilidade de tudo o que nos propomos fazer.
No fundo, muitos de ns supem que se trata ainda do mesmo modelo, mas
que temos de nos resignar a que a misria dos tempos dele nos d uma viso
degradada. No creio que isto sirva para apreendermos e anunciarmos uns aos
outros at que ponto o modelo j outro, e em que medida analis-lo nas suas
especificidades nos pode ajudar a concretiz-lo e a interpret-lo de uma forma
mais eufrica e empolgante. Porque a democratizao do ensino levou a uma
Universidade de massas cujos mecanismos e ideais se modificaram em todos
os patamares e agentes. Porque a legitimao do saber se desligou de uma
perspectiva epistemolgica e humanista para passar a encontrar a sua
legitimidade ltima em valores de performatividade que engrenam nas
expectativas confusamente entrevistas daquilo que mitificamos como o
mercado. Porque as transformaes do conhecimento e da tecnologia
criaram fracturas no plano da cincia e da cultura que no so necessariamente
as de uma clivagem entre as cincias puras e duras e as humanidades, mas,
sim, entre um modo tradicional de viver a relao com o conhecimento e um
modo mais jovem, menos sacralizado e mais desinibido de estabelecer essa
relao (e o dilogo entre estas duas perspectivas tem muita dificuldade em
encontrar referncias comuns mobilizadoras, o que faz
35
que uns se distraiam do que no lhes interessa e outros se esfalfem em
encontrar motivos para despertar interesses mais ou menos entorpecidos ou
desviados por outros apelos). Porque nas condies actuais em que se processa
a vida universitria s pela atitude crtica e problematizante conseguiremos
evitar que os nossos lugares, rituais, instituies e procedimentos escapem a
uma condio espectral. disso que fala um Jacques Derrida quando apela
para uma Universidade sem condio: Esta Universidade sem condio
(diz) no existe de facto, e todos o sabemos demasiado bem. Mas em princpio
e em conformidade com a sua vocao declarada, em virtude da essncia que
nela se professa, ela deveria permanecer um lugar ltimo de resistncia crtica
- e mais do que crtica - a todos os poderes de apropriao dogmticos e
injustos. Quando digo mais do que crtica subentendo desconstrutiva.
Chamo direito desconstruo ao direito incondicional de colocar questes
crticas no apenas histria do conceito de homem, mas prpria histria da
noo de crtica, forma e autoridade da questo, e ainda forma
interrogativa do pensamento. Porque isto implica o direito de o fazer
afirmativa e performativamente, isto , produzindo acontecimentos, por
exemplo, escrevendo, e dando lugar (o que no pertencia at aqui s
Humanidades clssicas ou modernas) a obras singulares. Tratar-se-ia de,
atravs de acontecimentos de pensamento, fazer acontecer, sem
necessariamente o trair, alguma coisa a esse conceito de verdade e de
humanidade que forma a carta e a profisso de f de toda e qualquer
universidade.
36
Se, como explicam as histrias da ideia de Universidade, esta surge na Idade
Mdia com a misso tripla de formar para o saber da cultura mais alta e
exigente, de formar o prprio saber que emerge dessa cultura e de
desempenhar um papel fundamental no aparecimento e na formao de elites,
no incio do sculo xix os novos desafios da modernidade levaram a que
Humboldt propusesse o modelo de uma nova Universidade, conhecido como o
modelo berlinense, que ainda hoje prevalece. Sabemos muito bem -
poderamos dizer mesmo que demasiado bem - que esse modelo est em crise.
A ideia de Humboldt foi simples mas fundamental: no se trata apenas de
formar as pessoas para o saber, mas de as formar na sua humanidade atravs
do prprio saber. E isto implicava a conscincia, sublinhada explicitamente
por Derrida, de que esse saber teria de ser um saber sem condies, isto ,
ferozmente autnomo e acima de quaisquer presses conjunturais, o que
implica que a formao pelo saber , num mesmo gesto, uma formao para a
liberdade do homem e uma formao em que o homem deveria ser pensado,
para alm de todas as profissionalizaes, na sua globalidade. Donde, o
modelo berlinense a que estamos legitimamente afeioados defende a
Universidade como espao de liberdade e razo crtica. Ora verificamos hoje
que as diversas manifestaes de racionalidade dificilmente se reconhecem,
respeitam e articulam. Devemos por isso sobrepor a uma oposio brutal da
racionalidade e da irracionalidade a ideia de uma pluralidade convergente de
formas de racionalidade, desde a racionalidade esttica racionalidade
religiosa ou poltica.
37
Mesmo que no queiramos aceitar o conceito de condio ps-moderna,
dificilmente podemos recusar a proposta que, num relatrio elaborado em
1979, a pedido do Conselho das Universidades do Governo do Quebec, Jean-
Franois Lyotard nos fez: ele fala num esprito de performatividade
generalizada, ligado ao desenvolvimento ps-moderno das tcnicas: mais
o desejo de enriquecimento que o de saber que impe inicialmente s tcnicas
o imperativo de aperfeioar as performances e realizar produtos. A conjugao
orgnica da tcnica com o lucro precede a sua juno com a cincia. As
tcnicas s tomam importncia no saber contemporneo atravs da mediao
do esprito de performatividade generalizada. E da as consequncias que o
prprio Lyotard regista no que diz respeito ao ensino. No contexto da
deslegitimao, as universidades e as instituies de ensino superior so a
partir de agora solicitadas a formar competncias, e no ideais: tantos
mdicos, tantos professores desta ou daquela disciplina, tantos engenheiros,
tantos administradores, etc. A transmisso dos saberes j no parece destinada
a formar uma elite capaz de guiar a nao na sua emancipao, fornece apenas
ao sistema os jogadores capazes de assegurar convenientemente o seu papel
nos postos pragmticos de que as instituies tm necessidade.
Verifica-se assim que as universidades esto cada vez mais determinadas nas
suas funes, conformadas exteriormente a um modelo nico, mesmo que uma
imensidade de tarefas administrativas, para os quais os corpos docentes no
tm nem preparao nem
38
vocao, e uma permanente ritualizao de interminveis reunies simulem
uma imagem eufrica e transbordante de democracia em que os agentes
poderiam decidir livremente objectivos, procedimentos e mtodos. Trata-se de
uma iluso cujo preo se paga em bloqueamentos e desmotivaes. Contudo, a
grande transformao a que assistimos tem a ver com diversos factores que
levaram alguns a falar no fim dos intelectuais. No creio que o problema se
ponha nos mesmos termos na Europa e na Amrica Latina. Mas, assumindo
deliberadamente o ponto de vista europocntrico, gostaria de sublinhar trs
aspectos. Em primeiro lugar, e tendo em conta um declnio das grandes
narrativas, tal como evidenciou Jean-Franois Lyotard, o intelectual tem hoje
dificuldade em apresentar-se como testemunha do universal, responsvel pelos
valores fundamentais da humanidade. Essa postura, que os intelectuais
precisavam de assumir para cumprirem a sua misso, confronta-se hoje com
um clima de relativismo, com a ausncia de sujeitos histricos com dimenso
universal e com a proliferao das culturas em confronto que resulta
paradoxalmente da globalizao. Foi por isso que o j referido Lyotard falou,
num texto conhecido, de tmulo do intelectual. Aquilo que podemos
defender como um novo papel para os intelectuais precisamente o de
tradutor, no sentido amplo do termo: isto , aquele que procura manter espaos
em comum atravs de uma interveno que estabelea pontes entre os diversos
cdigos por vezes extremamente diferenciados. Essa actividade que, com
alguma ironia etimolgica,
39
podemos classificar de pontifcia, visa traduzir as linguagens entre as
culturas, entre a filosofia, a arte e a cincia, entre o saber comum e o
pensamento especializado, entre a poltica e o pensamento, entre as geraes
mais novas e as geraes mais antigas, entre a religio e as posies
agnsticas, etc.
O segundo ponto foi devidamente assinalado por um grande nome de
intelectual europeu: Umberto Eco. Ele desde h muito que insiste no facto de
que os intelectuais precisam de desenvolver uma estratgia meditica que, sem
compromissos nem demagogias, mas com sentido de eficcia, lhes permita
intervir na vida pblica. O capital simblico que resulta hoje do uso dos meios
de comunicao de massas faz que muitos dos intelectuais mais
performantes venham da televiso e dos meios jornalsticos. A transferncia
de valor que autorizava os universitrios a falarem para fora dos limites da sua
competncia opera hoje sobretudo na passagem do domnio meditico (onde a
competncia mais de comunicao do que de um saber substancial) para o
domnio da interveno intelectual - embora os profissionais dos mass media
considerem importante uma cauo de tipo cultural, e da a forma como se
legitimam atravs da publicao de livros (de reflexo, de crnicas, ou de
reportagens ou muitas vezes at de fico).
O terceiro ponto tem a ver com o uso das novas tecnologias, em particular na
criao de sites e no desenvolvimento desse fenmeno novo, porventura
efmero, que so os blogues. H aqui novas formas de legitimao intelectual
que permitem um outro uso
40
da fala, mais desimpedida e menos responsvel. Mas ao mesmo tempo tais
fenmenos exigem de ns uma ateno crtica face ao que possam ter de moda
e de demagogia. O modo como certas cronistas de jornais duplicam a sua
interveno atravs de blogues, e a forma como os jornais tratam o tema e
reproduzem textos, que depois aparecem em livro, mostram que h um novo
espao de circulao do discurso que nos d matria para reflectir.
No creio que os intelectuais tenham perdido a sua razo de existir. Mas penso
que essa razo se flexibiliza hoje atravs de configuraes inditas que podem
parecer inaceitveis para os intelectuais de formao tradicional. Eu j no
sou deste mundo - ouve-se dizer com frequncia. Mas devemos contrapor-
lhes a alegria sempre renovada de inventarmos um mundo e o desafio que
consiste em continuarmos a pensar que temos um lugar e uma funo nesse
difcil e apaixonante trabalho de inveno.
41
3
Trs palavras
Temos nossa frente trs palavras: contemporaneidade, ps-modernidade,
ps-histria. Sou levado a suspeitar de que no so sinnimas, porque nesse
caso teria sido intil reuni-las para o ttulo de uma mesa-redonda. Avano
outra hiptese: que sejam maneiras de ver o mesmo a partir de diferentes
perspectivas. S que as perspectivas nunca produzem o mesmo desse mesmo.
Sei que contemporaneidade pode parecer demasiado bvia na sua relao
domstica com os dias que vivemos. Que ps-modernidade nos surge com
cores excessivamente berrantes e que nela se enredou indissoluvelmente uma
atitude classificatria com uma posio valorativa. E que o silncio do que se
designa como ps-histria parece enigmaticamente mais opaco. Embora
tambm reconhea que bastava torcer um pouco a palavra para o seu lado
direito e, falando em fim da histria, desencadear a ira de todos aqueles que
vem na expresso uma armadilha do Departamento de Estado norte-
americano para consolidar como nica e incontornvel a ordem sociopoltica
resultante do predomnio das polticas neoliberais.
43
Apesar de tudo, pego na ponta da ps-histria. E para esclarecer um ponto.
frequente que, perante mais um massacre, uma guerra, um conflito, uma
revolta, uma catstrofe, uma mudana civilizacional, cada um de ns venha
exclamar: Ainda dizem que a histria acabou! Ora bem, na formulao de
Francis Fukuyama (que, como evidente, no pretendo defender, mas tambm
no pretendo executar logo s primeiras horas da manh), explicitamente
baseada em Alexandre KojHonne
ve, no se trata de dizer que tudo parou e j nada acontece. Nada disso. O que
se poderia designar como ps-histria o fim de um certo uso da
negatividade capaz de negar aquilo que existe e desejar aquilo que no existe.
A tese fundamental que esse uso da negatividade se desacelerou - mas disso
j muitos outros haviam falado, desde Henri de Man a Arnold Gehlen, desde
Junger a Henri Lefebvre, desde Benjamin at talvez Bataille (que entreviu, no
seu conceito de soberania, o aparecimento de uma negatividade sem uso) ou
Blanchot (que interminavelmente oscilou no seu pas au-del, passo para
alm de na conscincia de que esse alm de no permite nenhum passo
que o ultrapasse). Donde, na ps-histria viveramos com o mesmo
desprendimento empenhado com que vivem os ces que brincam, os gatos que
desenrolam novelos ou os pssaros que cruzam os cus. Donde, a ps-histria
seria sobretudo um esgotamento de possibilidades alternativas que iria
desembocar na serenidade inslita dos ltimos homens. E dos ltimos
homens que Fukuyama falou num dos seus livros mais recentes para explicar
que os conflitos poderiam continuar
44
a ocorrer pelo simples facto de se no haver extinguido o desejo de
reconhecimento. De que se trata? De algo que se enraizaria no thumos
platnico, instncia terceira entre razes e paixes, e que estaria na base dessa
noo fundamental em Fichte e Hegel: a de que cada um de ns se empolga e
arrebata em funo de um insacivel desejo de reconhecimento que no pode
deixar de fazer da cena social um espao de sucessivos conflitos e frustraes
(na sequncia do que o filsofo Axel Honneth tem vindo a analisar).
Como escreveu Perry Anderson, num magnfico estudo consagrado a estes
problemas, a questo do fim da histria no chega a propor-se num sistema
terico, mas funciona sobretudo como uma estrutura de sentimento que
envolve e impregna a nossa contemporaneidade. E, como quem no quer a
coisa, chegamos segunda palavra: contemporaneidade. Suspeito de que o
termo ter sido convocado por Jos Bragana de Miranda, que , sem dvida,
entre ns, um daqueles que de um modo mais intenso, apaixonado e original
pensou estes temas.
Se pegarmos no seu livro Traos, verificamos que Bragana de Miranda no
morre de amores pelo termo ps-modernidade. Tem para isso mltiplas
razes, algumas do melhor quilate. Para ele, a nica vantagem do discurso
sobre a ps-modernidade o facto de poder conduzir-nos a um repensar da
modernidade - repensar que ao mesmo tempo um gesto premente de
revitalizao (uma vez que a ps-modernidade, se existisse, e neste argumento
deseja-se que no, s poderia ser desossificao e desvitalizao).
45
No foi a modernidade que chegou ao fim, proclama Bragana de Miranda,
mas, sim, o predomnio de certos discursos da modernidade (o do iluminismo,
de tipo epistmico, e o do romantismo, de tipo esttico).
Bragana de Miranda pode dizer isto porque para ele a modernidade no
uma poca, no so os Tempos Modernos da nossa histria contada em filmes
e revistas. Para ele, a modernidade mais do que o prprio ethos da
modernidade de que falava Foucault no seu texto de 83 sobre Kant - a pura
irupo do tempo. Assim a modernidade como poca das pocas abole-se
como poca e liberta-se como tempo: tempo liberto como mxima violncia
da liberdade. E na apoteose desta liberdade livre encontramos a ideia de
actualidade, claro, com aquele brilho nos olhos que Bragana de Miranda
sempre lhe confere, e tambm a incrustao da palavra vida no corpo da
palavra criatividade.
Neste ponto creio que Bragana de Miranda est do lado do mais afirmativo
dos filsofos dos nossos dias, Gilles Deleuze, quando escreveu no prefcio ao
livro de Eric Alliez: A pura linha do tempo tornada autnoma... O tempo
sacudiu a sua dependncia em relao a qualquer movimento extensivo, que j
no determinao de objecto, mas descrio de espao, espao de que
devemos precisamente abstrair para descobrir o tempo como condio do acto.
O tempo tambm j no depende do movimento intensivo da alma, e , pelo
contrrio, a produo intensiva de um grau de conscincia no instante que
depende do tempo. com Kant que o tempo deixa de ser originrio
46
ou derivado, para se tornar a pura forma da interioridade, que nos ri a ns
prprios, que nos separa de ns prprios, custa de uma vertigem, de uma
oscilao, que constitui o tempo: a sntese do tempo muda de sentido ao
constitu-lo como insupervel aberrao. O tempo sai dos seus gonzos -
deveremos ver aqui a ascenso de um tempo linear urbano que apenas se
relaciona com o instante qualquer?
Devo dizer que esta atitude me suscita dois tipos de reservas. Por um lado, a
promoo eufrica da modernidade em Bragana de Miranda mais um
voluntarismo da razo do que uma anlise da situao. Esse voluntarismo tem,
certo, razes que partilho sem reservas. Em primeiro lugar, a ideia de que a
actualidade foi sempre o que os discursos predominantes da modernidade
procuraram recalcar, na medida em que esses discursos tentaram impor
descries totalizantes da experincia e a actualidade se define como o
intotalizvel dessa mesma experincia. Em segundo lugar, porque a
modernidade o que excede todas as interpretaes dessa modernidade. E por
isso, envolvido na velocidade desse excesso, qualquer pensador comea por
suspender a modernidade que ele . Estamos assim na exaltao de dois
excessos: o da experincia e o do pensamento (podemos dizer, alis, que so
apenas um). Mas esta noo de modernidade em Bragana de Miranda no
ser a dimenso sagital da utopia no interior do seu prprio pensamento?
Talvez
- mas o interessante que aqui a utopia se precipita brutalmente sobre a
instncia do presente.
E se, mais modestamente, aceitarmos que a noo de ps-modernidade
sintetiza um certo nmero de
47
mutaes, no ser til, para que o voo da utopia no seja apenas um
desastrado bater de asas, que se utilize algum termo que permita fazer o
diagnstico do que mudou? Creio que, como sugere um pensador italiano,
Giacomo Marramao, no podemos fazer a economia de uma anlise das
configuraes temporais em que se declina historicamente o fio do tempo que
ontologicamente se expande como tempo puro (e que aparece como um
exterior histria que vem, por isso mesmo, interditar qualquer ideia de fim
da histria). Chegados a este ponto, poderemos talvez ensaiar algumas teses
provisrias:
1. A noo de ps-histria no uma teoria sistematizvel, mas uma estrutura
de sentimento (que emerge, por exemplo, em Carlos de Oliveira ou em
Verglio Ferreira). Nela se confundem ou indecidem a ideia de um fim da
histria e a ideia de um exterior da histria (o shakespeariano tempo fora dos
seus gonzos).
2. A poca moderna aquela em que surge a conscincia de uma estrutura
trans-histrica de oposio entre modernidade e contramodernidade (ou, se
preferirem, de foras activas contra foras reactivas, de criao contra
represso, ou de vida contra morte).
3. Esta estrutura trans-histrica toma configuraes diversas conforme se situa
na pr-modernidade, na modernidade ou na ps-modernidade. Donde, tambm
no que se designa como ps-modernidade, podemos encontrar a oposio
entre foras da modernidade e foras da contramodernidade.
48
4. A ps-modernidade uma mistura incolor do prefixo ps (sentimento de
uma dobra, de uma quebra, de uma toro, de uma sncope) e do prefixo des
(sentimento de uma indiferenciao, de uma perda de relevo, de um
esbatimento de nveis, de uma horizontalizao radical). O enlace destes dois
prefixos deixa-nos no limiar de um enigma: a ps-modernidade espera um
rosto que a desminta. O resultado por enquanto a experincia de uma certa
monotonia da histria acompanhada por um toque de leveza. Maurice
Blanchot escreveu h muito uma narrativa a que deu o ttulo de Le Dernier
Homme. O extenso corredor que o ltimo homem (mas ser mesmo o ltimo?)
repetidamente percorre descreve melhor do que qualquer conceito a estranha
sensao que se apossa hoje de ns: Corredor para o qual se abriam portas e
portas, corredor estreito, brilhando dia e noite na mesma luz branca, sem
sombra, sem perspectiva, onde, como nos corredores de hospital, se
acumulavam rumores ininterruptos. Todas as portas se assemelhavam, todas
brancas, da mesma cor branca que a parede, no se distinguindo, apenas se
distinguindo umas das outras por um nmero, e, quando passvamos, tudo ali
parecia, como num tnel, igualmente sonoro, igualmente silencioso, os passos,
as vozes, os murmrios atrs das portas, os suspiros, os sonos felizes, os
infelizes, os acessos de tosse, os rudos agudos daqueles que tinham
dificuldade em respirar,
49
e por vezes o silncio daqueles que parecia que j no respiravam. Gostava
daquele corredor. Passava nele com o sentimento de uma vida calma,
profunda, indiferente, sabendo que ali para mim estava o futuro, e que no
haveria nunca outra paisagem que no fosse aquela solido limpa e branca,
que ali cresceriam as minhas rvores, que ali se expandiria o imenso crepitar
dos campos, o mar, o cu alterado nas suas nuvens, ali, naquele tnel, a
eternidade dos meus encontros e dos meus desejos.
50
4
Comunicao e democracia
Quando o tema que nos proposto se articula em torno de duas palavras to
conhecidas e vulgarizadas como comunicao e democracia, o primeiro
movimento - diria mesmo: tentao - o de nos apressarmos a dizer tudo o
que tais palavras hoje suscitam no nosso esprito inquieto. O apelo que delas
vem um excesso - e, ao mesmo tempo, o consenso tendencial em relao a
perturbaes e pavores fica desde logo assegurado. Da a compreensvel
reaco oposta (que ser insuficiente se se transformar num simples virar do
avesso do enunciado) para travarmos a precipitao de dizer, refrearmos a
impacincia do consenso e tentarmos multiplicar atrasos e reticncias.
fcil ver que toda a ideia de comunicao sempre a ideia de comunicar
mais; desejamos sempre comunicar mais, e comunicamos sempre (porque
tambm aqui seguimos a lei do desejo) menos. E isto no ocorre apenas
porque a comunicao improvvel (como diz Niklas Luhmann), mas, sim, e
sobretudo, porque essa improbabilidade persistente se tornou
51
imperceptvel. Se se pretende sempre comunicar mais, porque aquilo que se
comunica acima de tudo algo prvio prpria comunicao, isto ,
comunica-se o desejo de comunicar mais do que se comunica algo que seja o
prprio processo de comunicao a pr em comum. Estamos um pouco no que
se chamava o voluntarismo da linguagem dos anjos. No que diz respeito aos
homens, diziam os telogos tomistas medievais, no h correspondncia entre
o querer-dizer e o dizer. Ao querer-dizer deve corresponder um trabalho de
manifestao e de expresso. E neste intervalo que se introduzem todas as
inadequaes e derrapagens. Como se insinua numa cano de Marisa Monte,
eu no sei dizer / o que quer dizer / o que vou dizer. Da a necessidade de
multiplicar frmulas deste tipo: O que quis dizer ao dizer o que disse era o
seguinte... No caso da linguagem anglica, as coisas so diferentes: s existe
o momento de querer-dizer. E o que se comunica esse querer-dizer. Todo o
dizer no mais do que esse querer-dizer.
Mas, entre os humanos, comunicar o desejo de comunicar abre um espao
vazio que intensifica o desejo de comunicar sempre mais - um mais que
apenas a repetio de um menos. Mesmo no plano da prtica poltica, os
governos recompensam-se e gratificam-se na iluso de que as polticas teriam
xito se acaso os seus autores e promotores conseguissem comunicar mais e
melhor. Se falharam, isso no tem a ver com as polticas, mas apenas porque
falharam as tcnicas de comunicao.
52
Donde, o grande princpio consensual para que se precipita toda a teoria da
comunicao o de que necessrio criar as condies para que a
comunicao seja cada vez maior - se possvel, perfeita. E esta perfeio
pressupe dois sujeitos plenamente constitudos e identificados que se
colocam simetricamente num espao liso. Da que as duas normas
fundamentais neste plano sejam a da racionalidade universal e a da
transparncia absoluta. O que tem por consequncia algo de paradoxal: a
comunicao que se faz atravs da linguagem exige, no seu ideal de perfeio,
que a linguagem se torne invisvel. Como escreve Foucault, a linguagem
como quadro espontneo e enquadramento primeiro das coisas, como
intermedirio indispensvel entre a representao e os seres, apaga-se. Mas
este apenas o primeiro degrau de uma tentativa de eliminao de todas as
mediaes. A grande utopia da comunicao perfeita - articulada com a ideia
da perfectibilidade humana de Condorcet - aquela que pretende suprimir os
obstculos e banir ou reduzir todas as distncias. Se a democracia comea por
ser possvel no crculo de cidados que podem ser afectados por uma voz
humana, isso levar Rousseau a duvidar de que ela seja possvel nos
agregados humanos de maior dimenso. Da que cada inveno tecnolgica
que permita as extenses da voz humana (e temos o telgrafo ptico, o cabo
submarino, o telefone, a radioteleviso ou a internet) tenda a aparecer como
um progresso da democracia - no da qualidade da democracia, mas da
extenso e viabilidade da prpria democracia. Da tambm que, nos anos 60,
53
o Departamento de Estado norte-americano desenvolva a doutrina do freeflow
of Information, e que o debate essencial, sobretudo no seio da UNESCO, seja
predominantemente em torno de uma Nova Ordem da Informao e da
Comunicao, em que se tratava, acima de tudo, de reeequilibrar os fluxos de
informao no eixo Norte/Sul.
E - como observa Armand Mattelart na sua Histoire de la Socit de
lInformation (La Dcouverte,
2001) - os dois axiomas da sociedade da informao so: a) que entrmos na
era das mediaes infinitas; b) que samos da era das mediaes. Mas,
sublinha Mattelart, estes dois axiomas s aparentemente so contraditrios: se
as mediaes so infinitas, porque elas se tornaram diferenas que no
fazem diferena, e por isso estamos num espao sem fronteiras nem lugares de
liderana ou regulao. E se, no lado oposto, samos da era das mediaes,
porque a grande mediao que era o Estado-Nao deixou de ter importncia
( a tese de Nicholas Negroponte), ou porque entrmos num capitalismo sem
frices ( a tese de Bill Gates). Espao liso, ausncia de frices, fluxos
livres, des-hierarquizao - eis a comunicao perfeita.
No que diz respeito democracia, a verdade que partimos hoje da
convico de que ela um dado adquirido, quer pela evidncia com que
praticada, quer pelo facto de numerosas ditaduras se terem felizmente
desmoronado e entrado no campo cada vez mais amplo da democracia. E da
que a crtica que alguma esquerda, sobretudo de perfil totalitrio, faz da
democracia classificada de formal, em nome de uma
54
democracia dita real, que era na realidade um pseudnimo de regimes de
opresso, violncia e censura, esteja hoje totalmente desacreditada.
Contudo, se a esquerda perdeu porque no conseguiu dar rosto e contedo a
um socialismo de rosto humano, e se perdeu tambm porque queda do
comunismo no correspondeu o triunfo da social-democracia ou do socialismo
democrtico, mas, sim, o seu declnio, a esquerda no parece ainda ter tomado
conscincia de que a democracia que hoje defende se vai reduzindo todos os
dias: defende-se cada vez mais uma democracia que cada vez mais menos
democracia.
Para que neste domnio a esquerda no tivesse apenas uma postura defensiva e
desarmada, seria necessrio que ela deixasse de acreditar que mais
comunicao mais democracia (e que o nico problema poltico o da
infoexcluso), e tivesse em conta pelo menos dois pontos:
a) que as mquinas tecnolgicas que hoje produzem sempre mais
comunicao so poderosssimas mquinas de produo de novas
subjectividades em que a noo de sujeito se dissolve ou evapora na iluso de
uma comunicabilidade generalizada;
b) que, como Luhmann acentua, a verdade-informao no se confunde com a
verdade-conhecimento. Ou, como nos diz Bernard Stiegler, a informao o
que no tem mais valor do que aquele que ela perde, na medida em que s
tem valor se for difundida e perde todo o valor no processo de difuso.
55
Que resulta daqui?:
a) que a esquerda perder totalmente o seu tempo se criticar as actuais formas
de comunicao em nome das virtudes de um modelo anterior de comunicao
suposta perfeita. Isto , tem de ser ofensiva e no defensiva;
b) E ser ofensiva significa que tem de avanar com um modelo de democracia
que j no pode ser apenas o da democracia formal anteriormente
consensualizado, mas tem de ser o de uma democracia altura dos desafios
que as mquinas de produo de subjectividades produzem nos nossos dias.
Que queremos dizer com produzir subjectividades? As novas formas de
montagem propiciadas por cada nova descoberta tecnolgica implicam uma
remodelao e redistribuio das funes intelectuais, um novo padro
antropolgico e cognitivo.
Neste plano, so extremamente importantes trabalhos como os de Jonathan
Crary em Suspensions of Perception. Attention, Spectacle and Modern Culture
(The MIT Press, 1999). Ele mostra-nos a genealogia das grandes
transformaes que hoje observamos numa economia da ateno: como a
recepo nos nossos dias se faz em estado de distraco, e no em estado de
concentrao; como as presenas se propem sempre sobre um fundo de
ausncia; e como, nos nossos dias, esta relao presena/fundo de ausncia
pode conduzir quer a formas extremas de absoro (como nas situaes de
fuso num espectculo musical), quer
56
a formas reiteradas de desligamento (como no zaping televisivo). Da que se
possa dizer que o regime de ateno capitalista (mas ser necessrio
explicar hoje em que capitalismo estamos) se fundamenta numa alternncia de
concentrao e distraco recprocas, que desemboca, por um lado, em
processos de intensificao da percepo e, por outro, em zonas de anestesia e
passividade hipntica.
A questo : que tipo de modelo democrtico quando nos confrontamos com
este regime de ateno crispada ou exttica sobre um fundo de desateno
permanente, desagregador ou ameaador, ou quando nos confrontamos com
um tempo do valor-informao que no o tempo da elaborao do saber, do
confronto dos argumentos ou da deliberao comunitria?
Talvez nestas circunstncias faa sentido (mesmo que se desconte alguma
dimenso claramente provocatria) que num colquio sobre comunicao se
proceda a um elogio da incomunicao. Mas tenho j precursores neste
domnio, uma vez que o tema faz parte das preocupaes de Maria Luclia
Marcos, e que Tito Cardoso e Cunha nos tenha vindo falar sobre o silncio.
verdade que o silncio um objecto de mltiplas acepes e que nos conduz a
discursos de aporia - nos enredos de uma paradoxalidade irredutvel.
Evocmos as teorias de Palo Alto, para as quais a palavra comportamento
no tem reverso. Impossvel no ter comportamento: a minha ausncia de
comportamento (o meu esconder-me, enovelado e cabisbaixo, num canto da
sala) uma forma de comportamento. mesmo uma forma espectacular de
comportamento.
57
Como os escritores que escolheram a estratgia do desaparecimento - do
americano Thomas Pynchon ao portugus Herberto Helder -, nenhuma
fotografia, nenhuma entrevista, nenhuma presena pblica.
Mas podemos falar em silncios eloquentes - que querem comunicar, que se
mostram portadores de sentido - e devemos distingui-los dos silncios que no
querem comunicar e apenas significam a eroso do sentido e o desejo de
incomunicao. E nesse ponto esto prximos de alguns escritores
contemporneos que levaram a radicalidade da sua experincia esttica a
tentarem obter pela escrita a ausncia de qualquer positividade. Estou-me a
lembrar de Samuel Beckett ou de Thomas Bernhard, mas - como se tratava de
um projecto paradoxal, baseado na permanente rasura de tudo o que era dito
sem nunca deixar de se afirmar como a positividade de uma rasura - eles
foram obrigados a escrever sempre mais, a mobilizar todas as palavras para
atingir o silncio que provavelmente nelas existe (existir talvez como
comunicao improvvel).
Proponho, assim, no apenas um inventrio e uma reflexo sobre as figuras da
incomunicao, mas, ao mesmo tempo, uma prtica que suspenda a
comunicao precipitada pelo pressentimento insistente de uma
incomunicao inevitvel.
Figuras da incomunicao? O silncio, claro, mas tambm todas as formas
que delimitam e demarcam os fluxos da produo de contedos (que, atravs
da convergncia numrica, passaram a ser vistos como foras inimigas), assim
como tudo o que esquecimento, recalcamento, perda, delapidao de sentido,
58
obstculo, pausa, distncia intransponvel, viscosidade, atrito, frico,
encurvamento do espao-tempo, efeitos pulsionais, tenso entre atractores,
barreiras, buracos, opacidades, sombras, corpos, sujidade, rudo, inconsciente,
noite, comportas, diques, portas, vazios, fronteiras, limites, mutaes,
mudanas de discurso, mecanismos de embraiagem, textualidades
concentradas, ilhas, sistemas de fortificaes, manchas, sufocao, xtases,
respiraes ofegantes, gritos, segredos. Todo um programa - de vida, de morte.
Gostaria de sublinhar um ponto: todas estas figuras s so figuras de
incomunicao na medida em que so formas de interrupo - e nesse aspecto
acontecimentos, no sentido forte do termo (como se pode dizer que o amor
uma forma de interrupo).
E, portanto, a incomunicao sempre o que interrompe uma comunicao
em nome de um outro da comunicao - limiar oscilante de alteridade,
mudana de nvel, mutao ontolgica. Demos um exemplo. Abro um livro ao
acaso e leio: A msica a interrupo do silncio. Esta frase suscita pelo
menos duas observaes:
a) que o silncio apenas silncio porque existe a msica depois: a msica
que o interrompe que o institui como silncio necessrio para que a msica
exista;
b) que a msica, enquanto negao do silncio, transporta consigo o silncio
que nega - no em termos dialcticos, visando uma superao, mas como
sombra, dobra, duplo, repetio do outro.
59
No termo desta comunicao (porque este o nome adequado quilo que
acabo de fazer), h uma pergunta inevitvel: far sentido uma comunicao
sobre a incomunicao? Ou ser no momento em que ela se interrompe - de
preferncia, abruptamente, numa linha de catstrofe - que o sentido se comea
a nomear? Ou ainda, ser aceitvel querermos comunicar mais algo que diz
respeito suspenso da comunicao? Toda a clareza no ser aqui traio,
distraco, incoerncia?
Sabemos que o silncio e o segredo tm relaes de cumplicidade. No creio
que o reverso do visvel (a dobra in do que chamamos incomunicao) seja
o invisvel e o reverso da clareza seja a obscuridade. H um outro reverso que
ocorre quando o excesso do visvel interrompe o visvel, ou o segredo
acompanha silenciosamente a clareza das palavras. Espero no ter sido
inteiramente claro, e s isso garante que alguma coisa possa acontecer: a
escrita, o corpo da linguagem, a fala viva, o encontro (e neste ponto seria
necessrio comear a distinguir entre comunicao e encontro, mas isso ficar
para outro dia, mais propcio ao jogo dos acasos).
60
5
Lngua, vazio e democracia
1. Suponho que o melhor ser comear por propor duas histrias, que, cada
uma sua maneira, se me afiguram exemplares.
A primeira aparece integrada num livro de Pascal Quignard intitulado Le Nom
au Bout de la Langue (POL, Paris, 1993). O texto consiste nessa narrativa, no
modo como o autor subjectiva o que nela se conta (esta histria o meu
segredo: mas o prprio Quignard publicou h uns anos um extenso volume, de
difcil classificao em termos de gneros literrios, intitulado Vida Secreta,
Ed. Notcias, 1999), e ainda numa espcie de reflexo terica (mas a teoria
tem aqui um estatuto ambguo que deriva da prpria concepo da linguagem
que ela pressupe).
Em tempos medievais, Colbrune amava Jene, o Alfaiate. Este aceitou casar
com ela, mas colocou-lhe uma prova: Se tu s a melhor bordadora da aldeia
de Dives, borda um cinturo igual a este que eu tenho. Movida pelo amor, ela
tentou, mas no foi capaz. J estava a desesperar quando, uma noite, apareceu
61
um Senhor vestido de negro. Quando ela lhe falou da tristeza que a possua, o
Senhor disse que tinha consigo um cinturo exactamente igual quele que ela
devia imitar, e que lho daria apenas com uma condio: que ela fixasse o seu
nome; se o esquecesse, teria de lhe pertencer. O nome era estranho: Heidebic
de Hel. Mas Colbrune, no seu entusiasmo, disse: Claro, nada mais fcil do
que fixar um nome.
Obteve assim o cinturo, casou, comeou a ser feliz. Mas um dia, quando
estava a bordar, quis lembrar-se do nome e no conseguiu. O nome estava
debaixo da lngua, mas ela no conseguia encontr-lo. O nome flutuava volta
dos seus lbios, estava pertssimo dela, sentia-o junto a si, mas no conseguia
capt-lo, voltar a traz-lo boca, pronunci-lo.
Comeou a entrar em pnico. A tristeza invadiu-a dia e noite. E o marido
percebeu que alguma coisa acontecia. Ela deixara de comer. O marido no
entendia: chegou a bater-lhe. At que ela contou tudo e terminou a confisso
com estas palavras: Que h de mais fcil de reter do que um nome? A palavra
cinturo, quem que se esquece? A palavra amor como se pode no a
fixar? O teu nome, hei-de morrer com ele nos lbios. E, no entanto, o nome
dele escapa-me.
Mas June amava-a. E partiu em busca do Senhor de negro. Chegou a um
outro mundo onde um castelo branco brilhava na noite. Viu homens
preparando uma carruagem e perguntou: Que fazem? Eles responderam: O
nosso Senhor vai partir procura de uma bordadora com quem vai casar. Ele
perguntou: Como se chama o vosso senhor? Eles responderam: Heidebic
62
de Hei. Ele fixou e regressou - eufrico, feliz. Mas, quando chegou junto da
mulher, o nome desaparecera da sua mente. Havia apenas um vazio.
Descansou dois dias e voltou. Soube de novo o nome, fixou-o mais uma vez, e
junto da mulher mais uma vez o esqueceu. Partiu terceira vez. Colburne
esperava-o, ansiosa, com uma espada ao lado, pronta a morrer. Quando faltava
apenas uma hora para a meia-noite do dia fatdico, o marido irrompeu pela
casa e disse o nome. Assim, quando o Senhor de negro apareceu, ela pde
dizer o nome. Ele soltou um grito, a terra ficou coberta de noite, ouviu-se
apenas um galope na floresta. Colburne e o marido estremeceram de felicidade
e a partir da viveram sem problemas.
O prolongamento subjectivo de Quignard vai no sentido de acentuar:
1. A experincia do vazio na linguagem a experincia da nossa finitude: os
limites da condio humana, a sua misria.
2. A questo do esquecimento no uma questo neutra: esquece-se no seja o
que for, mas algo que escolhemos lembrar, e que por isso se deixa escolher no
esquecimento.
3. H pelo menos trs memrias: a memria do que nunca existiu (isto , a
fantasia, ou, se preferirem, o fantasma); a memria do que foi (a verdade); a
memria do que se recusou (a realidade).
4. Toda a palavra falha o contacto com a realidade. O nome debaixo da lngua
a nostalgia do que a linguagem no apreende.
63
5. Mas esta nostalgia que move o desejo: sobretudo, o desejo de contacto, o
tacto do desejo, o desejo dos corpos.
6. Que a fico? a tentativa de negar aquilo que escapa linguagem.
7. Que o poema? O poema o oposto exacto do nome debaixo da lngua.
o fazer-corpo com a linguagem.
8. quando o todo da linguagem no vai longe, na proporo daquilo que lhe
escapa, que a palavra verdadeira pode surgir. Esta palavra diz mais do que
significa, mostra mais do que exprime.
9. Que escrever? Escrever dar tempo ao que foi perdido, assumir o tempo
do retorno, associar-se ao retorno do perdido. Ento a emoo tem tempo de
reanimar a recordao; a palavra tem tempo de ser reencontrada; a origem tem
tempo para de novo siderar; e a face recupera um rosto.
2. A narrativa de Bernard Noel, a que ele chama romance, foi inicialmente
publicada em 93, e depois reeditada isoladamente em volume em 94 (tambm
nas edies POL). O que nela se passa - e tudo se passa nos nossos dias -
ainda mais tnue. O autor - digamos, para simplificar, que o narrador
Bernard Noel - apresenta-se como algum que militou longamente na
esquerda e para quem a referncia ao pensamento e ao exemplo de Gramsci
fundamental. Um dia, ao discutir sobre a situao do mundo contemporneo,
pretende citar mais uma vez, como tantas
64
vezes fizera, Gramsci. Mas algo de extremamente perturbante lhe acontece:
no consegue lembrar-se deste nome. Que algumas horas mais tarde o nome
lhe regresse mente e ele se sinta aparentemente curado algo que no o
tranquiliza: ele sabe que este o princpio de uma espcie de doena da
linguagem que inevitavelmente assinala uma doena do mundo. Porque um
vazio de memria persistente, se diz respeito a uma presena capital, uma
ferida mortal.
isto a que Noel chama o sndroma de Gramsci: Chamo sndroma de
Gramsci primeira manifestao de um cancro da lngua geralmente
dissimulado sob a designao de vazio de linguagem. Um cancro, como
sabem, uma proliferao destrutiva, uma luxria, uma loucura celular; um
cancro da lngua uma loucura inversa. Falei de uma cratera implosiva: uma
chaga devorante, uma chaga na qual toda a linguagem se precipita pouco a
pouco, uma chaga branca, que absorve toda a substncia que habitualmente a
lngua transforma e reabilita sem cessar. Em suma, uma doena cuja evoluo
consiste em absorver-se a si mesma...
Como evidente, esta doena social atinge cada indivduo naquilo que nele ,
como mostrou Quignard, mais ntimo: O que acabava de me escapar no era
nem uma palavra nem um nome, era a capacidade de espontaneamente
enunciar quem eu sou, no declinando uma identidade ou o que a qualifica,
trata-se de outra coisa... Trata-se desse impulso da fala sem o qual eu rodo no
interior de mim mesmo como um fantasma.
65
Bernard Noel reconhece que uma palavra que falta no tem importncia,
quando h milhares de palavras. S que nem todas as palavras se equivalem.
H palavras escolhidas para serem lembradas e que continuam a ser escolhidas
ao retrarem-se dentro de ns. E nesse retraimento apontam para uma zona em
ns que se situa no limite do informulvel: Procuro em vo a palavra que
poderia designar a terra gasta, a zona morta, a parte esponjosa, a regio
tona. Ou, como ele dir tambm, talvez esteja a fazer um inqurito sobre a
minha prpria morte.
3. Chegados a este ponto, poderamos talvez sublinhar que o objectivo de
Pascal Quignard sobretudo confrontar-nos com uma certa finitude da
natureza dos homens, inexoravelmente destinados a uma linguagem em que a
realidade se esquiva, e reconduzidos misria da sua condio atravs de
momentos em que so as prprias palavras que se retiram para designar o
vazio ntimo que nos constitui.
Mas Quignard no deixa de lhe contrapor as linguagens quimricas, isto ,
aquelas que se aliceram nos poderes da escrita, e que ou vm para negar o
vazio (o que o caso dos discursos de fico) ou vm para substituir esse
vazio em instantes de milagre e maravilha em que o tempo humano se
suspende (e temos o fascnio da poesia). O que fundamental entendermos
que as linguagens quimricas compensam o vazio das linguagens quotidianas,
mas nenhum quotidiano dignamente habitvel caso as consideremos como se
fossem linguagens reais. nessa confuso
66
que se enrazam as formas mgicas ou autoritrias do poder - ou, se quiserem,
o teolgico-poltico.
J Bernard Noel nos fala de outra coisa. Como facilmente percebemos, no
por acaso que o nome escolhido Gramsci. Para alm duma fenomenologia
do esquecimento que se traa nestas pginas, h tambm um diagnstico dos
tempos contemporneos, isto , dum certo desencantamento da democracia em
que vivemos, e onde o vazio de um nome, identificando-se com o vazio de ns
prprios, nomeia fundamentalmente uma epidemia da linguagem, em que a
morte de que somos feitos alastra ao mundo que desejamos outro, mina-o por
dentro, faz que o deserto cresa e que a dimenso tona se torne dominante.
4. O que est aqui em causa tem a ver com a qualidade da nossa democracia.
Mas para percebermos melhor de que se trata precisamos de entender o que
torna a democracia democrtica. Se cada sociedade se organiza em termos que
sempre configuram uma dramatizao das relaes que os homens
estabelecem com o que excede o tempo emprico, ento podemos supor que
mesmo nas sociedades democrticas se no apaga por completo o princpio
religioso. A expresso que utilizei de Claude Lefort, num texto intitulado
Permanence du Thologique-Politique? (e publicado, em 1981, na revista
Le Temps de la Rflexion, n II, na Gallimard). A se pretende demonstrar que
existe na sociedade um trabalho de imaginao que remete para um outro
tempo ou para um outro espao, ou, se quiserem, para as linguagens
quimricas, e que isso persiste
67
mesmo quando o mito que move uma sociedade - e aqui entramos nas
evidncias da poltica dos nossos dias - o de uma sociedade de pura
imanncia em que tudo se passa no plano emprico das actividades entre os
homens.
Contudo, apesar desta persistncia de um fundo religioso, a democracia
moderna estabelece de facto uma ruptura. Nela se institui pela primeira vez
um lugar de poder que ningum ocupa. No devemos pensar que este lugar
est vazio porque o equilbrio entre os actores polticos impediria que estes o
ocupassem definitivamente. algo de mais profundo e mais vertiginoso: a
democracia prope uma concepo da sociedade em que o lugar do poder
um lugar estruturalmente vazio e em que se estabelece uma separao
definitiva entre o simblico (ou o quimrico) e o real.
Como sublinha Claude Lefort, a indicao de um lugar vazio vai a par com a
ideia de uma sociedade sem determinao positiva, irrepresentvel na figura
de uma comunidade. A mesma razo que faz com que a diviso do poder e da
sociedade no remeta, na democracia moderna, a um Exterior atribuvel aos
Deuses, Cidade ou Terra sagrada, faz que ela no remeta a nenhum Interior
atribuvel a uma Comunidade. Ou noutros termos, uma mesma razo faz que
no haja nem uma materializao do Outro - a favor da qual o poder tem
funo de mediador, seja qual for a sua definio -, nem materializao do Um
- onde o poder teria ento a funo de encarnador.
68
Daqui resulta que a sociedade est condenada a uma irredutvel diviso no
interior de si mesma. verdade que o modo de funcionamento da democracia
no rasura por completo todas as ambiguidades. Todos os partidos se
apresentam como partes da sociedade que pretendem sempre representar a
sociedade como um todo ao defenderem aquilo que afirmam ser o interesse
geral. E se os partidos ditos revolucionrios acentuam a dimenso da ruptura
(ou, se quiserem, para utilizarmos uma palavra em moda, a dimenso
fracturante), isso, no entanto, no exclui neles a utopia de uma sociedade
plenamente reconciliada consigo mesma e capaz de ultrapassar a sua diviso
interior. Mas a verdade que, para citarmos de novo Lefort, o poder deixa de
fazer sinal para um exterior, deixa de se articular com qualquer potncia outra,
que seja figurvel, e neste sentido h desenredamento do religioso, verdade
que o poder deixa de remeter para uma origem que reenviaria para uma Lei e
um Saber, e por isso que emergem campos autnomos, como assinalou
Max Weber, isto , o campo do jurdico, o campo do econmico, o campo do
cultural, o campo do religioso, e, por isso mesmo, o campo autnomo da
poltica. Donde: impossibilidade de ocupar o lugar do poder, e ainda separao
irremedivel entre o simblico e o real.
Contudo, a democracia continua a ser acompanhada por novas reelaboraes
simblicas: o Estado, o Povo, a Nao, a Humanidade, etc. Mas a lgica
interna destas figuraes profundamente ambgua: se o Povo um Sujeito
que exerce a soberania, ao mesmo
69
tempo algo que misteriosamente se dissolve hoje no elemento do grande
nmero.
5. Aquilo que se poder entrever no texto de Bernard Noel qualquer coisa
que estaria em relao com um certo fim da modernidade. De facto, a
modernidade, segundo Weber, passa por este desenredamento dos diversos
campos que constituem a vida social, e que vo progressivamente emergindo
com as suas regras, os seus agentes e a sua autonomia especfica. Se o
socilogo ingls Scott Lash nos fala tambm no fim da modernidade, porque
ele considera que nos nossos dias assistimos a um processo inverso daquele
que descreve Max Weber: depois da diferenciao vem a desdiferenciao
(seria esta a definio da ps-modernidade). E a doena da linguagem de que
fala Noel seria o sinal explcito dessa desdiferenciao galopante: contudo,
onde a diferenciao dissolvia o religioso, atribuindo-lhe a gesto circunscrita
de um campo social, a desdiferenciao no restabelece o religioso: nenhum
Outro, nenhum Um, apenas o nmero na sua proliferao gangrenante.
E isto porque anteriormente o sujeito se definia sempre numa relao de
alteridade, como emergncia no campo do Outro. E, na democracia de massas
em que nos instalamos, o sujeito define-se apenas numa relao de auto-
referencialidade: eu aquele que diz eu. O que o coloca no limiar da a-
referencialidade, isto , da loucura.
Daqui resulta aquilo o que o psicanalista Jean-Pierre Lebrun, em Un Monde
sans Limite - Essai pour Une
70
Clinique Psychanalytique du Social (rs, Paris, 1997), chama uma
desinscrio da diferena, com todo um cortejo de consequncias que
desenham um quadro profundamente inquietante: anulao da diferena entre
o Pai e os pais, confuso do paternal com o parental; criao de uma sociedade
em que nada anterior ao sujeito e, portanto, no h relaes constritivas que
imponham limites, porque todas as relaes so relaes escolhidas; espao de
pura reversibilidade, onde a dissimetria no tem lugar, e por isso espao
desestruturante e incapaz de instituir qualquer figura da autoridade; e por fim
apagamento de qualquer forma de conflitualidade em nome de uma procura
obsessiva do consenso, que tem como reverso a erupo selvagem da
violncia.
Como escreve Jean-Pierre Lebrun, a nossa organizao social, ao colocar no
mesmo p todos os enunciados, com esta tendncia para evitar a disparidade
entre enunciao e enunciado, induz a rasura da dissimetria dos lugares, e quer
apagar as diferenas, na ocorrncia, as diferenas dos sexos assim como as
diferenas das geraes. Passar do reino dos pais para o reino dos tcnicos
implica uma nova verso do sonho da servido voluntria: o dito passa bem
sem o dizer. A este preo, poderamos esperar a comunicao clean, o mal-
entendido suprimido, a disparidade abolida, a diferena iludida... numa
palavra, a soluo final da alteridade.
6. Curiosamente, ser significativo fazermos o confronto com a Novlngua
com que George Orwell pretendia
71
controlar o seu universo totalitrio previsto para 1984. Os objectivos so
claros: por um lado, tornar o olhar ditador absolutamente soberano em relao
aos corpos dos homens. Para isso, eles devero ser integralmente legveis, isto
, reduzidos ao estatuto de signos sem corpo, expostos sem reserva ao olhar
vigilante do Big Brother. E para que sejam signos sem corpo preciso que a
linguagem que falam seja objecto de uma reformulao radical. Nestes
homens e nesta linguagem, tudo dever ser apagado; no h memria. E
precisamente porque no h memria que no h lugar para o esquecimento.
O esquecimento selectivo; a amnsia no.
Para que tal se concretize, preciso que a linguagem seja completamente
expurgada de tudo o que nela se prende com a obscuridade, com o corpo, com
o desejo. A Novlngua uma lngua da inteligibilidade total: por isso nada
inventa ou perturba. Todas as zonas de indeterminao sero eliminadas:
excluem-se as ambiguidades, os equvocos, as polissemias; exclui-se o
fingimento. Tudo o que possa ser suprfluo fica proibido: acaba a
redundncia, a insistncia, a repetio, o gaguejar da lngua, a sua queda no
corpo, o seu prazer da metfora. Triunfam a visibilidade e a transparncia:
nenhum lugar para o vazio.
7. Temos assim, por um lado, as linguagens do Poder, onde o lugar vazio
preenchido por figuras da autoridade. E temos, por outro lado, as linguagens
que esvaziam o prprio vazio: Gramsci apenas a primeira palavra dum
processo expansivo em que toda a linguagem
72
se torna um processo implosivo e se absorve a si mesma, e o lugar vazio onde
o nome falta acaba por ser envolvido num processo em que o vazio devora o
vazio at que a memria se esgota numa linguagem oca e sem esquecimento
possvel.
Entre as linguagens em que o Poder ganha corpo e as linguagens em que o
corpo suprimido ou desgastado pela proliferao annima do Poder, fica-nos
o espao indeciso e oscilante entre a quase-imanncia, e a quase-
transcendncia, de uma democracia que se obstina em manter a relao com a
alteridade, a dissimetria e o exterior, e por isso mesmo com a profecia, o
desejo e a utopia: o espao em que as linguagens quimricas no so
esmagadas pelo peso performante da comunicabilidade sem rosto e se mantm
suspensas numa relao precria com a finitude das palavras e dos corpos. o
espao em que o sentido das palavras vulgares se ilumina na memria do
aparente no-sentido das palavras que fazem corpo com a espessura nocturna
da linguagem.
Ser possvel pensar que a democracia poder
- e dever - funcionar neste equilbrio. Nem totalizao no plo do poder, nem
destotalizao na reversibilidade absoluta dos lugares, mas incompletude
estrutural: o sujeito sempre incompleto e isso permite-lhe sempre ser outro
no interior de si mesmo. Ou por outras palavras: a incompletude da identidade
d-nos a riqueza das identificaes mltiplas. Ou ainda: o sujeito decide como
se a linguagem pudesse saber tudo (e no momento de decidir o sujeito entra na
fico de ser Deus) e ao mesmo tempo o sujeito age no interior
73
do no-saber da linguagem, da sua indeterminao estrutural, e a se
descompleta e desconstri. Mas o momento da fico e o momento da
desconstruo apenas so possveis porque na linguagem existe uma instncia
do vazio, uma varanda suspensa sobre o mar, uma palavra debaixo da lngua.
Como escreve Pascal Quignard, gosto que os homens criem a sua vida como
se eles fossem em direco a esse dia de nudez, de medo, de verdade - que o
medo visto de frente -, de estremecimento na luz. Nem o eu senhor da
humanidade nem se pode elevar acima de si prprio para tomar a medida da
identidade com que se ilude - porque esta o sempiterno Erzatz de uma noite
que ele no pode contemplar. Nem o homem senhor da linguagem, nem a
terra est no centro das galxias e governa os planetas, os buracos e a
luminosidade dos astros. A linguagem um ecr. A vontade uma mancha na
viso. A conscincia um demnio satlite. Todos servem o crime e a morte. A
lucidez, a razo, a linguagem viva, so arbustos que requerem infinitos
cuidados, que se partem incessantemente, porque no encontram terra em ns.
Incessantemente nos agarramos no vento. Incessantemente tacteamos as razes
no deserto. Incessantemente falhamos. E incessantemente voltamos noite e
ao silncio como a gua aos fossos.
74
6
Europa-espao ou Europa-potncia?
Sentimos que se est num momento de viragem em que preciso ultrapassar o
ronronar comodista dos discursos do costume e afrontar uma srie de
problemas que no podem ser adiados. A interveno de Joschka Fischer teve
o enorme mrito de lanar pistas para um debate fundamental e fez (como se
pde ver em Portugal) sair os coelhos da toca: as posies extremaram-se.
Antnio Guterres (que tem o enorme mrito de se ter colocado na primeira
linha da nova gerao de dirigentes europeus, entre os quais se contam
certamente Gerhard Schrder e Lionel Jospin, mas tambm o mais europeu
dos responsveis polticos que a Inglaterra tem tido, Tony Blair) declarou, em
2000, em entrevista ao jornal Pblico, que a questo federal tem de ser
encarada sem hesitaes: Estou totalmente disponvel - e acho que Portugal
deve estar disponvel - para discutir o modelo federal na Europa. Mas no um
modelo federal num plano estritamente poltico e sem tirar as consequncias
no plano econmico, o que seria inevitavelmente um modelo
75
de esmagamento dos pases mais fracos por pases mais poderosos e ricos. E
estas reticncias bem acentuadas tm certamente a ver com as propostas de
Fischer: um verdadeiro parlamento e um verdadeiro governo europeu, mas, ao
mesmo tempo, a criao de um centro de gravidade com os pases mais
disponveis para avanarem no sentido poltico determinado por um
mecanismo da vanguarda europeia.
Por outro lado, sente-se que a opo entre o aprofundamento e o alargamento
um problema verdadeiramente crucial para o qual so insuficientes as
solues mais ou menos verbais ou mgicas (porque sempre possvel
encontrar um ponto ideal que corresponderia ideia mtica de uma sntese). E
estas dificuldades associam-se a um clima de deslegitimao intelectual da
ideia europeia, na medida em que at agora tudo parece centrar-se em questes
econmicas, e em que, sobretudo em nome da necessidade de no ficar atrs
dos Estados Unidos da Amrica, parece avanar-se no sentido da adopo de
um modelo econmico em que predominam as concepes mais badaladas do
neoliberalismo.
Entretanto, os problemas acumulam-se, e os cidados, pouco mobilizados pela
democraticidade e transparncia dos processos de deciso, tendem a cair numa
certa melancolia distanciada. Para citar Jacques Delors (num texto
significativamente intitulado Ma Vision dune Fdration des tats-Nations,
publicado em Le Monde ds Dbats), qualquer de ns espera rapidamente
resultados concretos no plano do estabelecimento de uma verdadeira Unio
Econmica, mas
76
espera tambm medidas visveis em relao preservao da paz na Europa,
ou em matrias de poltica externa, ou no domnio to sensvel do combate
coordenado criminalidade (que tende cada vez mais a ser uma realidade
globalizada). pelo concreto que se far a prova dos nove (que neste caso at
so muitos mais).
por isso que a leitura do Rapport sur ltat de lUnion Europenne 2000,
organizado por Jean-Paul Fitoussi, com o apoio de uma equipa de
colaboradores do Observatoire Franais des Conjonctures conomiques, e
publicado pela Fayard/Presses de Sciences Politiques em Junho de 2000, no
apenas uma actividade de maior ou menor inventrio administrativo, mas
permite-nos conhecer, por vezes em pormenor bastante colorido, o estado de
questes que tendemos frequentemente a formular ao sabor do vento mais ou
menos ideolgico de alguns confrontos politicamente espectaculares.
Como acentuam os autores, no se trata aqui de analisar todas as questes em
termos de exaustividade, mas de avanar com alguma ateno e pormenor no
conhecimento de certas reas particularmente significativas. claro que este
texto certamente anterior tomada de posio de Fischer, e por isso comea
logo de entrada por apelar para aquilo que a interveno do ministro verde
alemo desencadeou: precisamos de entrar num debate verdadeiramente
poltico, porque de um projecto poltico para a Europa que importa falar. Ou,
postas as coisas noutros termos, precisamos de saber se queremos apenas uma
Europa-espao ou
77
se pretendemos construir uma Europa-potncia dos valores e da cultura. E
Fitoussi adverte que os governos podem tentar subtrair-se discusso porque a
tendncia em perodo de crescimento para fazer exactamente o contrrio do
que se fazia em perodo de depresso: antigamente, tudo o que acontecia de
mal era culpa da Europa, agora tudo o que acontece de bem mrito dos
governos. Por outras palavras, depois de se ter europeizado a estagnao,
nacionaliza-se o crescimento. Os autores consideraram, na edio anterior
deste relatrio que se pretende anual, que existiam quatro modelos em jogo:
um de separao entre o econmico e o social, outro que se pode definir como
um modelo liberal, outro que passaria pelo retorno s soberanias nacionais e
por fim um modelo federal. O que se passa neste momento que tanto o
terceiro modelo (retorno s soberanias nacionais) como o quarto (federal)
parecem por agora pouco adequados, uma vez que estamos ainda no perodo
oscilatrio de indeciso entre o meio-nacional e o meio-europeu. Nesta ordem
de ideias, encontrar-nos-amos, portanto, perante uma soluo mais ou menos
vacilante entre os dois primeiros modelos. E, apesar dos esforos para
coordenar o econmico e o social, devemos reconhecer que na Constituio
implcita do actual projecto europeu se verifica uma clara subordinao das
polticas sociais s polticas econmicas. O livro constri-se ao longo de sete
captulos que procuram tratar de temas considerados essenciais: um balano
de um ano de unio monetria (que deve ter em conta que o euro no faz parte
ainda do imaginrio
78
do cidado europeu, que assiste algo atnito boa surpresa que
aparecimento de uma situao de crescimento e ao mesmo tempo aos efeitos
psicologicamente perturbantes de uma depreciao do euro enquanto moeda
que tem inevitavelmente um valor simblico), a questo da estruturao do
grande mercado europeu (e sobretudo do significado das impressionantes
manobras que se operam no espao das empresas), a ideia de servio pblico,
o problema do desemprego e do mercado de trabalho (que alguns consideram
que se resolveria num pice se se seguisse a lio do amigo americano), a
poltica de convergncia face s grandes assimetrias regionais e, por fim,
como tema inevitvel mas de certo modo lateral no projecto deste livro, a
questo do alargamento depois dos efeitos polticos da Guerra do Golfo e a
necessria e controversa reforma das instituies.
Na impossibilidade de entrarmos no pormenor de todas estas matrias,
tentemos ir ao cerne das questes essenciais. Para Fitoussi e os seus
colaboradores, a presente conjuntura na Europa permite, alis, um teste em
relao s teses em presena: no foram as reformas do mercado de trabalho
que presidiram ao retorno do crescimento, uma vez que na grande maioria dos
pases europeus elas ainda no comearam a ser empreendidas, mas, sim, a
suspenso das polticas restritivas tanto monetrias como oramentais (o que
era, como se sabe, a tecla preferida de Fitoussi).
De qualquer forma, talvez no devamos ter grandes iluses neste captulo. Em
nome do grande desafio colocado pelos americanos (Guterres na referida
entrevista:
79
Num mundo que se globaliza e num novo paradigma econmico em que o
conhecimento se transformou no principal factor de riqueza, em que o ritmo
de acumulao de conhecimento e da sua integrao nos processos
econmicos e sociais no tem paralelo na Histria, a Europa parecia estar
irreversivelmente a perder em relao aos EUA), a tendncia ser para
utilizar a concorrncia fiscal e social para, juntamente com os grandes temas
da sociedade da informao, fazer face aos americanos. Isto passar pela
persistncia da moderao salarial, pela grande obsesso da flexibilidade no
mercado de trabalho e pelo abaixamento dos custos salariais. Por isso, se
verificou no Encontro de Lisboa a adopo das grandes teses de Tony Blair em
matria de trabalho e proteco social. E talvez a questo perpasse por alguma
ambiguidade nas formulaes de Antnio Guterres na referida entrevista: O
que estamos a fazer vencer alguns tabus de uma falsa concepo ideolgica
do que o modelo social europeu para o podermos concretizar nas condies
de exigncia e de competitividade do nosso tempo.
Ser assim to ideolgica e to falsa? E ser que adopo da concorrncia
fiscal e social permitir a concretizao de uma verso no ideolgica de um
modelo social europeu? Este relatrio do Observatoire des Conjonctures
conomiques no permite avanar aqui com demasiadas certezas. Por
exemplo, segundo Fitoussi, sempre que a concorrncia fiscal se desenvolveu
- entre cidades, entre regies, entre Estados em sistemas federais -, assistiu-se
geralmente a uma degradao
80
da qualidade dos servios pblicos. A razo evidente: a pobreza do sector
pblico nunca foi, nem poder ser, sinnimo de qualidade.
Guterres declara na entrevista concedida a Teresa de Sousa: Os mercados em
que se deram grandes passos no sentido da liberalizao foram aqueles em que
predominavam formas de monoplio pblico. O que inteiramente
incompatvel com a viso moderna da defesa dos interesses dos
consumidores. O que o Rapport demonstra, com ampla soma de
informaes, que uma coisa so o que se declara ser o interesse dos
consumidores visto numa perspectiva de curto prazo, outra o que so esses
interesses numa perspectiva a longo prazo. Ora o longo prazo est pouco
presente na actual poltica europeia neste domnio. Como se conclui pela
leitura deste livro, e a partir de uma impressionante sntese de mltiplos dados
econmicos e sociais, a lgica que preside poltica europeia da
concorrncia apresenta, se levada s ltimas consequncias, perigos evidentes.
Em nome do respeito dos princpios de liberdade de escolha do consumidor e
da igualdade das condies de concorrncia com que se confrontam as
empresas no seio do mercado interior europeu, a interveno pblica poderia
ser posta em causa em numerosos domnios que hoje pertencem, em certos
Estados membros, ao sector pblico. Poder isso acontecer para sectores em
que hoje o pblico e o privado partilham responsabilidades, como na
educao, na sade mas tambm na banca ou nos seguros, como ainda em
numerosos aspectos da proteco social; e igualmente em relao s
produes culturais,
81
agrcolas, etc., sectores que hoje aparecem como excepes admissveis - tanto em
relao poltica da concorrncia como em relao poltica da liberalizao
comercial, que de certo modo constitui a sua vertente externa. Conseguir-se-
conciliar os objectivos de solidariedade, de ordenamento do territrio, de identidade
e de diversidade culturais ou outras, que hoje suposto inspirarem as modalidades
de interveno j referidas, e por conseguinte os numerosos entorses ao direito
comum da concorrncia, com os imperativos da rentabilidade de actividades
comerciais?.
por tudo isto que a leitura deste Relatrio me parece sobretudo indispensvel para
aqueles que pensam que uma Europa poltica dos valores e da cultura implica a
persistncia de mecanismos de interveno estatais que doutro modo sero
rapidamente destrudos pela lgica da concorrncia econmica, da suposta defesa
dos consumidores (que neste caso tm as costas largas) e da necessidade de no
perdermos o grande desafio que nos lanado pelo inexorvel e mundializado
modelo americano.
82
7
ligaes perigosas
primeira vista o ttulo poder ser rebarbativo, e suscitar no leitor alguma
perplexidade. Que significa isto de Crtica das Ligaes na Era da Tcnica? Diga-
se desde j qual a origem deste livro. Trata-se dos textos de um encontro promovido
pela rea de Pensamento da Programao da Porto 2001 (mais uma vez, Paulo
Cunha e Silva), que teve lugar em Serralves, no ms de Outubro do ano referido. A
ideia aparece sintetizada logo de entrada por Paulo Cunha e Silva: Este projecto,
desenvolvido em torno da ideia de ligao, procura colocar a cultura digital e as suas
mltiplas extenses na agenda de uma capital europeia da cultura. Com efeito, estar
ligado, estar on-line, passou a ser um dos atributos mais recorrentes da condio
contempornea. A discusso da identidade do novo info-ser surge, assim, como
uma questo central perante o conjunto de perplexidades que se colocam a quem se
confronta com a condio digital. Convidmos Jos Bragana de Miranda e Teresa
Cruz, reconhecidos pensadores e actores deste novo sujeito, a fazerem o estado da
arte.
83
Em termos de colquio, com uma extenso para um convite dirigido a alguns artistas
para participarem com obras de criao digital, a ideia teve os melhores resultados,
como pude pessoalmente verificar, uma vez que tambm participei com uma
comunicao no colquio. Mas o grande interesse da iniciativa reside sobretudo no
facto de terem estado presentes alguns nomes essenciais da cultura contempornea
(em parte, desconhecidos dos nossos jornais, revistas ou mesmo universidades),
como Laura Mulvey (particularmente importante na rea dos estudos de cinema),
Brian Massumi (nome essencial nos trabalhos norte-americanos de inspirao
deleuziana), Katherine Hayles (que tem contribuies extremamente sugestivas na
articulao entre literatura e cincia, e em particular em aspectos ligados teoria dos
sistemas, fico cientfica e ao ps-humano), Steven Shaviro (especialista na rea
da cibercultura e do cinema, autor de The Cinematic Body e Doom Patrols. A
Theoretical Ficion about Postmodernism), Friedrich Kittler, professor alemo de
Esttica e Histria dos Media, e um dos mais interessantes estudiosos da influncia
dos suportes materiais nas formas do pensamento, em livros parcialmente acessveis
em ingls como Discourse Networks
1800/1900 e a antologia Gramophone Film Typewriter), e ainda Bojana Kunst e Roc
Pars (cujas obras me eram at agora totalmente desconhecidas).
Do lado portugus, tnhamos Delfim Sardo e Miguel Leal, Bragana de Miranda e
Teresa Cruz, Hlder Coelho (a quem se deve um notvel trabalho de
aprofundamento e divulgao da ciberntica) e Manuel Jos
84
Damsio, Hermnio Martins (que deve estar a decepcionar os seus antigos
admiradores da sociologia clssica pelo crescente interesse por temas extremamente
perigosos, para os quais traz sempre uma prodigiosa erudio e uma
impressionante imaginao terica) e Jos Augusto Mouro (em vertiginosas
aproximaes entre a semitica, o hipertexto e o hbrido, conceito sobre o qual
aguardamos a publicao de um magnfico estudo recente de Margarida Carvalho),
Fernando Jos Pereira e Antnio Machuco Rosa (que publica um texto que antecipa
a sua obra mais recente, fundamental pelo rigor e pela multiplicidade de frentes
tericas: Dos Sistemas Centrados aos Sistemas Acentrados - Modelos em Cincias
Cognitivas, Teoria Social e Novas Tecnologias da Informao, na Vega), e ainda os
resistentes, que introduzem de algum modo a dimenso mais crtica, como Jos
Gil ou Maria Filomena Molder (isto , dois nomes de primeiro plano do ensasmo
portugus). O livro tem como ttulo Crtica das Ligaes na Era da Tcnica,
coordenado pelos organizadores do colquio, Teresa Cruz e Bragana de Miranda, e
inaugura um novo projecto editorial que tem por nome Tropismos.
A intuio de base simples: se desde sempre os seres se caracterizam pela
multiplicidade de ligaes que estabelecem com outros seres (podendo essas
ligaes serem vistas como um enriquecimento ou como um risco de derrame, e
podendo at considerar-se que a beleza no mais do que as ligaes potenciais
de que um ser nos d notcia e promessa), h na era da tcnica (isto , quando a
tcnica investe todos os
85
domnios da experincia, transformando-a nos seus fundamentos, ou
arrancando-a a eles) uma alterao radical que teve nos ltimos vinte anos
mltiplos efeitos em catadupa. Por um lado, atravs do computador, surge a
ideia algo mtica de uma mquina de todas as mquinas, ou mquina
universal, o que implica um processo de convergncia, isto , de
digitalizao generalizada (e a questo essencial : que se perde quando se
passa do analgico para o digital?). Em segundo lugar, pela criao do indito,
isto , de algo que ultrapassa o plano da representao para ser uma
apresentao sinttica de uma outra natureza artificialmente produzida
(mas so as prprias dicotomias que explodem). E, por fim, pelo facto de a
experincia se fazer cada vez mais por intermdio da rede, isto , de uma
matriz de ligaes tcnicas para a qual a alternativa estar ligado/estar
desligado ganha uma dimenso tica (marginaliza-se aquele que no est
ligado, ou providencia-se no sentido de incluir no movimento expansivo da
rede os chamados info-excludos).
O que Teresa Cruz e Bragana de Miranda nos propem , em primeiro lugar,
um percurso apaixonante pela histria ocidental das ligaes (que no fundo
toda a histria do pensamento e da experincia ocidentais vista por um ngulo
particularmente produtivo), num projecto a que se pode dar o nome sedutor,
mas mais tcnico do que poderia parecer, de uma ertica generalizada
(contudo, Fourier faz parte do programa, como no podia deixar de ser).
Passa-se assim da expulso para a imanncia das ligaes em nome do Um da
Verdade, no caso de Plato, at matriz unificadora
86
da teologia, para depois assistirmos a um processo em que as ligaes deixam
de ser asseguradas por uma instncia superior ou anterior para passarem a ser
produzidas por elos de tipo jurdico (a ligao como contrato, os mecanismos
da poltica democrtica) ou tcnico. Mas neste itinerrio da modernidade
existe uma dobra nocturna que nos conduz silenciosa e alucinadamente para o
campo das ligaes fatais: a passionalidade cega da magia ou do desejo, das
atraces funestas ou das conjunes incendirias ou mortferas. E neste passo
h pelo menos uma reserva em relao psicanlise, que teria sido uma
tentativa para codificar toda esta pluralidade de relaes estranhas e
inquietantes.
O que se passa na ps-modernidade (conceito que Bragana de Miranda ou
Teresa Cruz utilizam com pinas fortemente dubitativas) tem a ver com uma
situao em que a tcnica produz uma ertica espectral que nos liga s
mquinas atravs de fantasmas que mobilizam desejo, dinheiro, etc., e, atravs
destas, ao mundo. Da o elenco de sectores com que se pretende abrir
numa pluralidade no totalizvel o espao das ligaes contemporneas:
ligaes livres, ligaes estranhas, ligaes perigosas, ligaes enredadas, etc.
Mas porqu falar em crtica? Trata-se de uma acepo kantiana? Trata-se de
relanar o projecto da teoria crtica da Escola de Frankfurt? Jos Gil interroga-
se com extrema pertinncia sobre o facto de no sabermos bem se os conceitos
que hoje utilizamos so, como eram os conceitos prprios do pensamento
moderno, simultaneamente descritivos e crticos? A dimenso crtica
87
colocada por Teresa Cruz e Bragana de Miranda nestes termos: A actual
euforia com a multiplicidade, o nomdico ou o rizomtico parece no nos
deixar outra hiptese que no seja a de estar on ou off, ligado ou desligado.
Sem nunca questionar se possvel desligar, quais as ligaes aceitveis,
etc. Mas por isso mesmo que as ligaes constituem o campo de batalha
principal da cultura e da poltica contemporneas. Muito depende da
possibilidade de uma crtica pertinente do tipo de ertica generalizada que
propulsado pelo Eros tecnolgico. Tudo se joga, ao que parece, na qualidade
humana das ligaes.
Pela minha parte, nunca exclu a hiptese de uma linha de resistncia, mas
confesso que no sei se a simples meno de uma qualidade humana das
relaes, sem qualquer conceptualizao e operacionalizao complementar,
faz algum sentido. Suponho que no. Mas o leitor poder avaliar melhor a
pertinncia desta dvida lendo o resto do livro - um dos mais importantes
livros de que hoje podemos dispor na edio portuguesa para compreendermos
o mundo em que vivemos.
88
8
Imprio (1)
Compremos militantemente o Avante! para lermos mais umas contribuies
para a discusso das teses para o Congresso. Tentemos ler as catorze pginas
de intervenes. O resultado s pode ser a consternao mais absoluta. Para
avaliarmos o nvel de argumentao, tome-se um exemplo entre mil: As
coisas devem ser chamadas pelos nomes. Trata-se de oportunismo, esse vrus
altamente mortfero para os partidos comunistas que o no combatem a tempo.
nesse vrus que os inimigos de classe sempre depositaram as esperanas de
desagregao dos partidos revolucionrios, esperanas que se fundam na base
objectiva que constituda pelos elementos pequeno-burgueses, vacilantes
poltica e ideologicamente. Faa-se o quadro social dos proponentes de certas
teses desagregadoras dos princpios orgnicos e ideolgicos do Partido.
Comparem-se as posies de Carlos Brito com a interveno do Sr. Pina
Moura no XIII Congresso e digam-me se descobrem alguma diferena, se a
clonagem ideolgica no uma realidade. Ou veja-se ainda
89
a tentativa mais sofisticada (que provavelmente um sinal de humor
involuntrio) de Joo Arsnio Nunes ao mostrar que sendo a expresso
marxismo-leninismo uma criao de Zinoviev, que foi uma das primeiras
vtimas dos processos de Moscovo, ela de origem antiestalinista...
Que nos fica da leitura destas pginas? Em primeiro lugar, a penosa
verificao de que em termos de esquerda no h aqui uma ideia que valha
dois minutos de reflexo. So tudo opinies primrias, mais ou menos
radicalizadas, que por vezes se aproximam perigosamente daquilo que seria a
sua prpria caricatura. Por um lado, h a velhssima convico de que, se esto
a ser criticados, porque os outros tm medo do Partido Comunista. Sejamos
claros, camaradas: o Partido Comunista no mete hoje medo a uma mosca.
Primeiro, porque um partido dito revolucionrio que no pensa fazer qualquer
revoluo um objecto de museu. Mas podamos ainda pensar que teria um
pensamento radical, revolucionrio na esfera do pensamento, e por isso capaz
de intervir na realidade. Ora a verdade que no tem pensamento algum.
Lendo estas catorze pginas oscilamos permanentemente entre o nada e coisa
nenhuma.
Reencontramos aqui os esquemas habituais: h uns traidores que pretendem
destruir o Partido, e h depois aqueles que dizem que jamais isso ir acontecer.
verdade que do lado dos supostos traidores no encontramos at agora
mais do que reivindicaes de tipo formal: necessidade de pensar livremente,
resistncia aos processos persecutrios e s prticas antidemocrticas,
90
vontade de dilogo com outras organizaes (sectores do PS, Bloco de
Esquerda, Os Verdes). pouco, mesmo muito pouco, mas devemos admitir
que talvez estrategicamente isso seja necessrio.
Do outro lado, nos chamados ortodoxos, a situao verdadeiramente
pattica. Ainda no perceberam que dizer que querem continuar a ser um
partido revolucionrio s tem sentido se conseguissem ser revolucionrios
nalguma coisa. Ainda no se deram conta de que no podem acusar os outros
de pretenderem destruir o Partido quando so eles prprios que o destroem
quotidianamente. Qualquer das intervenes ortodoxas do Avante! um
verdadeiro motivo de gudio para o pensamento de direita: uma esquerda que
pensa assim (mas, felizmente, h mais esquerda!) s pode ser uma inveno
dos partidos reaccionrios.
Alguns apercebem-se disto. o caso de Rogrio Miranda quando escreve: O
desafio determinante que se deve colocar aos comunistas no limiar do novo
milnio saber se seremos capazes de aplicar os nossos princpios
programticos e ideolgicos, sem tibiezas e com determinao, s mutaes
que vertiginosamente se operam na sociedade. A anlise de aprofundamento
da anlise das classes sociais, a sua composio qualitativa e quantitativa,
devem ser uma preocupao premente de todos ns. Mas para dizer isto, que
parece ser o b--b da questo, este militante de Queluz tem de apresentar
gales e credenciais: Na verdade, tenho para mim que um Partido Comunista
esvaziado dos seus princpios ideolgicos e programticos de Marx, Engels e
Lenine, perde a razo de ser da sua existncia.
91
Da que este debate se deixe exaurir entre saber se se deve ou no manter o
marxismo-leninismo - coisa que em Dezembro de 2000 to importante
como saber se estamos do lado do alecrim ou da manjerona - ou se os
camaradas fraccionistas no pretendem os tachos do PS.
por isso que se torna cada vez mais urgente a reflexo empenhada e lcida
sobre o que so de facto as grandes transformaes a que assistimos nos
ltimos trinta anos. Precisamos de saber se a forma partido (com
centralismo democrtico ou sem, com brao no ar ou de braos cruzados) tem
algum sentido, ou se no se est tambm a transformar; precisamos de saber se
as formas tradicionais de militncia tm algum impacte na realidade;
precisamos de saber se a poltica no interior do Estado-Nao no se alimenta
de determinadas miragens persistentes; precisamos de analisar as
transformaes efectivas do capitalismo sem pensarmos que basta falar de
globalizao para termos tudo explicado: a globalizao seria o
capitalismo alargado ao globo... Precisamos de perceber que sentido tem
falar hoje em proletariado e classe operria, tal como precisamos de saber se a
alternativa social-democrtica do Estado-Providncia ainda plenamente
adequada.
nesse sentido que certas obras nos podem trazer uma reflexo fundamental.
Refiro-me por hoje impressionante sntese de mltiplas anlises e
problematizaes dispersas, realizada por Michael Hardt e Antonio Negri:
Empire (publicada em 2000 pela Harvard University Press, Cambridge e
Londres). Trata-se
92
de um dos livros polticos fundamentais da segunda metade do sculo xx.
O livro estrutura-se em quatro partes: na primeira analisa-se a constituio
poltica do presente em termos da ordem mundial, da produo
biopoltica (noo encontrada em Foucault e Agamben, e que aqui se
operacionaliza brilhantemente) e as alternativas no quadro do Imprio (e
aviso desde j alguns PS mais friorentos de que esta referncia ao
Imprio no retoma, mas claramente se demarca, das teses tradicionais
sobre imperialismo). Na segunda parte, analisam-se as adaptaes do tipo
de soberania, em particular da soberania do Estado-Nao, nova soberania
do Imprio. Na terceira parte, avana-se para as mudanas em termos de modo
de produo, e aqui surgem as anlises sobre a informatizao da produo e o
capitalismo cognitivo, bem assim como a passagem da disciplina ao controlo.
A quarta parte mostra como as novas formas de produo e a imaterializao
crescente do trabalho produzem a noo de multitude (conceito-chave neste
livro, designando uma nova relao entre o um e o mltiplo, a possibilidade de
uma universalidade singularizada, ou, se preferirem, a passagem da ideia de
uma sociedade para todos para uma sociedade para cada um) como lugar
de afirmao (mais at do que de resistncia) de um exterior ao Imprio (que o
prprio Imprio vai produzindo no desenvolvimento da sua lgica).
93
9
Imprio (2)
Partamos precisamente desta palavra: Imprio. Como convm a uma filosofia
construtivista, trata-se de um conceito inteiramente novo, que seria um erro
reduzir a conceitos anteriores. No, o Imprio no a generalizao dos
imprios, mesmo o fim dos imprios tal como ns os havamos
anteriormente definido. No se trata sequer de imaginarmos um Superestado
escala mundial, que teria a sua capital, os seus rgos governativos, as suas
foras da ordem. E no convm dizer-se (por motivos que analisaremos mais
tarde) que os imprios so os Estados Unidos da Amrica, embora a potncia
americana seja essencial para a constituio do Imprio.
Os imprios eram Estados-Nao que em dado momento alargavam a sua
esfera de poder. Mas permanecia o centro do Imprio, e havia sempre um
exterior desse poder. Eis as duas palavras fundamentais: centro e exterior.
O que caracteriza o Imprio, no seu novo conceito, precisamente o facto de
no possuir um centro nem
95
um exterior. O Imprio parte de um processo de desterritorializao da
soberania, para se retomar uma noo que vem de Deleuze e Guattari, a
grande referncia terica deste livro. O Imprio simultaneamente universal
(isto , no tem exterior) e local (isto , manifesta-se em qualquer lugar).
Havia anteriormente a soberania dos Estados modernos. Confrontamo-nos
hoje com a soberania dos Estados ps-modernos. Os Estados modernos
tinham fronteiras, um dentro e um fora. Os Estados modernos levaram ao seu
extremo esta dialctica entre o dentro e o fora atravs do colonialismo: O
colonialismo uma mquina abstracta que produz identidade e alteridade. O
paradigma imperial diferente: ele responde a dois tipos de sentimentos
que dominam a experincia poltica contempornea.
Por um lado, sentimos que o poder se pluralizou: os Estados ps-modernos
no deixam de participar no processo do poder, embora intervenham
sobretudo como instncias de regulao. O que ns hoje vemos que se fala
cada vez mais em governncia para designar precisamente essa desfocagem
do exerccio do poder, que se dissemina em diversas instncias e patamares.
H hoje uma espcie de constituio global em que o poder se constri
segundo uma pirmide com trs nveis: num primeiro nvel, encontram-se os
Estados Unidos, certo, em articulao com as estruturas da ONU, mas
tambm o G-7 e as grandes potncias financeiras. Num segundo nvel, vemos
sobretudo as multinacionais, mas outras instncias econmicas de dimenso
internacional. Num terceiro nvel, encontramos
96
alguns outros estados e alguns organismos no-governamentais.
Uma das originalidades de Hardt e Negri partirem de uma anlise
francamente positiva da Constituio americana. Assim, e nestes precisos
termos: A Revoluo americana representa um momento de grande inovao
e de ruptura na genealogia da soberania moderna. E porqu? Porque foi
elaborada como um poder constituinte que age atravs de redes e de
procedimentos que visam compensar os conflitos. Ora a ideia do Imprio
parece ser uma extenso do projecto contido na constituio americana.
A grande questo (e sentimos de novo aqui a presena macia de Mille
plateaux de Deleuze e Guttari) que, enquanto o paradigma estatal e
moderno implicava uma dialctica exterior/interior, o paradigma imperial
implica o fim da dialctica. Com afirma Negri em entrevista revista
Vacarme: Devemos assinalar o fim da dialctica. O fim da dialctica
significa conceber o Imprio. No interior do Imprio, h apenas diferenas de
grau, gradientes, intensidades, movimentos de hibridao, artificialidades.
Enquanto a soberania moderna se institua atravs de lugares de poder, agora
tudo lugar e tudo poder, porque estamos no movimento de um espao liso,
que um no-lugar, onde o conceito fundamental o da diferenciao
permanente seguido por tentativas de identificao identitria. Da o segundo
sentimento a que me queria referir: a sensao de que estamos envolvidos
por um poder que no podemos localizar.
97
A outra ideia essencial de Negri e Hardt vem sobretudo de Michel Foucault, e
tem a ver com o conceito de biopoltica. As formas de poder so tambm trs:
as armas, em particular o armamento atmico; a globalizao dos mercados; a
comunicao e a cultura. Mas, se podemos falar em biopoltica, por um
motivo simples: o poder produz subjectividades, isto , corpos que pensam,
agem, sentem, sexualizam, afectam.
Mas este exerccio cultural do poder no aquilo a que ns costumvamos
chamar inculcao ideolgica. Se h uma biopoltica imperial, porque ela
corresponde ao desenvolvimento tecnolgico que permite que se fale numa
transformao psicotecnolgica (para utilizarmos o termo de Derrick de
Kerkhoeve em A Pele da Cultura, na Relgio dgua) que constitui uma
verdadeira mutao antropolgica. Estamos hoje perante as primeiras formas
(mas uma gota de azul num copo de gua torna a gua azul) de uma realidade
nova que a do capitalismo cognitivo, que corresponde a novas formas
abstractas de valor e a um processo produtivo dominado pelo trabalho
imaterial. Da a ideia fundamental: Sabemos hoje muito poucas coisas sobre
aquilo em que se tornou o homem, o trabalhador mdio, no interior destes
processos, nos quais triunfa o trabalho imaterial, nos quais as trocas entre as
pessoas, os modos de vida, os modos de produo, se transformaram to
completamente que at s vezes coincidem. A transformao do trabalho no
pode deixar de implicar a transformao dos seus fundamentos
antropolgicos. A nossa preocupao, para alm da identificao dos grandes
ciclos de luta,
98
recolher os discursos, assim com as anlises do trabalho at chegar
definio de uma nova base das necessidades. O que paradoxal que, no dia
em que tivermos definido esta nova base das necessidades, no certo que
elas sejam contra o Imprio. Sero contra o capitalismo, mas sero sobretudo a
definio de um novo exterior.
Donde, o primeiro objectivo fazer uma cartografia da nova situao. O
segundo tentar produzir o exterior no interior dela. Contra as filosofias da
transcendncia que estiveram na base do paradigma moderno do poder,
precisamos de pensar um plano de imanncia em que a lgica de produo dos
sujeitos ao mesmo tempo a lgica de produo da sua eventual capacidade
de autonomia e emancipao.
99
10
Cpticos e globalistas (1)
Recomendo vivamente o artigo bem sugestivo de Joaquim Aguiar publicado
no Expresso de 18 de Agosto de 2000. Intitula-se De Paris a Gnova e a sua
tese, inspirada, suponho que conscientemente, no estudo de Luc Boltanski e
Eve Chiapello sobre O Novo Esprito do Capitalismo, a de que os jovens
de Maio de 68 tinham um conjunto de ideias progressistas, voltadas para a
modernizao da sociedade, e que os manifestantes de Gnova so, pelo
contrrio, representantes de uma verdadeira resistncia a essa mesma
modernizao que nas ruas de Paris se promoveu.
Escreve Joaquim Aguiar que as manifestaes de 1968 no foram feitas na
perspectiva de uma crise de desenvolvimento ou na perspectiva da decadncia
das sociedades desenvolvidas. Os projectos dos movimentos de juventude do
fim da dcada de 60 estavam centrados na defesa, optimista e voluntarista, de
um modo de crescimento baseado no conhecimento, nas tecnologias de
tratamento e de difuso de informao, na generalizao da educao
cientfica e da
101
formao polivalente, recusando as rotinas do industrialismo hierarquizado e
dominado por grandes empresas protegidas pelos poderes polticos nacionais.
Em seu lugar, defendia-se a formao de unidades empresariais flexveis, com
autonomia de deciso dos seus trabalhadores, dotadas de mobilidade para no
ficarem presos das foras conservadoras que dominavam o poder poltico,
assim perpetuando os privilgios dos que se opunham inovao atravs da
proteco do Estado. Os valores da competncia e a competitividade eram
valores positivos - justamente porque os valores alternativos, o corporativismo
e o proteccionismo, eram rejeitados pelos elementos mais activos dessa
gerao.
Joaquim Aguiar tem certamente a conscincia de que est a fazer fico
cientfica ao contrrio, mas no deixa por isso de ter razo: a crtica artstica
da sociedade efectuada pelos jovens de h trinta anos continha implicitamente
valores de modernidade, fluidez, flexibilidade, inovao e paixo libertria,
que, devidamente incorporados pelo discurso capitalista, esto na origem
daquilo que de mais dinmico e impulsionador surge hoje nesse capitalismo.
Embora se deva dizer que os manifestantes de Paris no defendiam apenas
isto, mas muitas outras coisas que Joaquim Aguiar no diz, e jamais o
defenderiam nos termos em que Joaquim Aguiar o faz. Esses termos so os de
uma leitura de 2000 projectada em 1968.
O alvo polmico de Joaquim Aguiar a mudana radical de tnica entre os
actores de 68 e os actores de 2000: teramos passado da modernizao
contramodernizao.
102
Mas, na lgica do que escreve, se os manifestantes de Paris no tinham plena
conscincia daquilo que de facto estavam a ser no processo histrico, nada nos
garante que os de Gnova (ou de Porto Alegre) no tenham tambm plena
conscincia daquilo que representam, e perfeitamente possvel que, daqui a
trinta anos, Joaquim Aguiar e eu prprio (esperemos que bem vivos e bem
lcidos...) estejamos a dizer que eles representavam afinal as foras que
permitiram a dimenso libertadora da globalizao.
No debate sobre a globalizao, as verdadeiras questes so: esta globalizao
uma realidade qualitativamente nova, ou no? Encontramos, tanto direita
como esquerda, aqueles que so cpticos, e dizem que no, e aqueles que
so, digamos, os globalistas, e que acham que sim.
Segundo problema: estando todos mais ou menos de acordo em que h
necessidade de estabelecer algumas formas de regulao nesta globalizao,
tais transformaes operam-se por uma evoluo interna ao sistema, ou por
choques energticos de contestao exteriores ao sistema? Joaquim Aguiar
reconhece certamente que o modelo de Maio 68 vai no segundo sentido: a
violncia (terica ou fsica...) de certos choques exteriores ao sistema que
fora o sistema mudana.
A terceira questo de outro tipo: face desordem que as manifestaes
sempre corporizam, e a uma desordem que aparece ameaadora na medida em
que o movimento das massas nunca tem um objectivo muito ntido, h os que
se empolgam, mesmo que criticamente,
103
com esse movimento das massas, e os que recuam horrorizados. Ser abusivo
pensar que os primeiros esto mais esquerda e os segundos mais direita?
Sobre todas estas matrias h hoje uma ampla, praticamente incontrolvel,
bibliografia. Por muito que a gente goste de pensar pela nossa prpria cabea,
seria talvez presunoso pretender ignor-la por inteiro. Embora haja etapas na
abordagem dos problemas. Pela minha parte, daria algumas pistas. Em
primeiro lugar, uma excelente antologia, dessas que fazem as delcias dos
investigadores: David Held e Anthony McGrew (org.), The Global
Transformations Reader - An Introduction to the Globalization Debate (Polity,
Cambridge, 2000). Em complemento, um livro de abordagem sinttica dos
problemas: Jan Aart Scholte, Globalization - A Critical Introduction
(MacMillan Press, 2000). Numa perspectiva mais especificamente econmica,
mas com grandes aberturas reflexivas, e partindo de uma atitude
assumidamente de esquerda, temos Ronen Palan (org.), Global Political
Economy - Contemporary Theories(Routledge, Londres e Nova Iorque, 2000).
Para um panorama extremamente atento e actualizado dos possveis
mecanismos de regulao, veja-se Elie Cohen, LOrdre conomique Mondial
Essai sur les Autorits de Rgulation (Fayard, Paris,
2001).
A antologia de Held e McGrew (de que me irei ocupar mais detidamente) tem
alguns dos autores que me so caros nestas matrias: David Harvey ou Manuel
Castells, Ulrich Beck ou Michael Mann, Susan Strange
104
(a quem o livro de Ronen Palan dedicado) ou Arjun Appadurai. Mas exclui
gente que me parece hoje essencial: o caso de Toni Negri e Michael Hardt,
com o Empire (que a minha lista de recomendaes na Amazon diz que o
livro mais discutido do ano), o de Boltanski e Chiapello, o de Frederic
Jameson ou Saskia Sassen (que promoveu a noo de cidade global), o de
Martin Albrow ou de Zygmunt Bauman. Em contrapartida, lana os problemas
da governana com um texto fundamental de James N. Rosenau. E, como
lgico, ignora toda a reflexo francesa ou italiana sobre o ps-fordismo e o
capitalismo cognitivo.
Pese embora a posio de Joaquim Aguiar, estou plenamente convencido de
que estamos hoje entre, por um lado, um conservadorismo cultural e um
economicismo cego, em relao ao qual o reformismo social-democrata se
tem mostrado demissionrio, anquilosado e impotente. Sejam quais forem os
fundamentalismos localistas ou retrgrados que possam emergir nessa mancha
pulsional indecisa que move os que se renem em Porto Alegre ou Gnova,
atravs deles, creio, que a modernizao se far com uma vertente
emancipadora, porque so eles os nicos sinalizadores eficazes das
disfuncionalidades desta globalizao.
105
11
Cpticos e globalistas (2)
J vimos anteriormente o ponto de partida: a distino entre os que
consideram que existe algo de novo a que se pode chamar globalizao -
posio dos que designaremos como globalistas -, e os que pensam que se
trata de uma construo mtica com escasso valor explicativo - sero, no
vocabulrio aqui adoptado, os cpticos.
Ora bem, h cpticos direita e esquerda, h globalistas direita e
esquerda. mesmo curioso que entre os marxistas encontramos os que so
cpticos (como Alex Callinicos) e os que so globalistas, marxistas que alguns
designam como ps-modernos (como Toni Negri ou Ernesto Laclau).
Como se poder definir a globalizao? Alinhemos diversos traos
fundamentais: o mundo hoje percorrido por fluxos (fluxos uma palavra-
chave, porque a modernidade contempornea, ou ps-moderna, lquida:
Liquid Modernity, segundo o ttulo do livro de Zygmunt Bauman) de
mercadorias, capitais e pessoas. Como viajam esses fluxos? Atravs de
infra-estruturas
107
fsicas (sistemas de transporte), normativas (quadros de valores adoptados em
comum, ou impostos...), simblicas (atravs da evoluo das tecnologias de
comunicao e informao, que Armand Mattelart tem estudado: a sociedade-
mundo como sociedade da informao). Mas no se trata apenas de um
aumento da circulao dos fluxos. Temos mais: estados e sociedades (haver
ainda sociedades? John Urry estuda as mobilidades para alm das sociedades)
esto cada vez mais enredados nestes sistemas de conexidade generalizada.
Daqui resulta o famoso princpio: um bater de asas de uma borboleta em
Pequim pode provocar um crash em Nova Iorque, isto , pequenas causas
podem provocar grandes efeitos, segundo as leis do caos (que tem leis,
como se v). Isto no significa que tudo se tenha tornado global, longe
disso. No s o sistema global produz localidade (e a McDonalds cria
produtos especficos para o Mxico, a Grcia ou a ndia, segundo uma ideia de
mexicanidade, grecidade ou indianidade globalizada, que faz as
delcias dos mecanismos tursticos), como o enredamento entre o local, o
regional, o nacional e o transnacional permanente.
Entretanto, verifica-se que existe uma compresso espao-tempo, assinalada
tanto pelo marxista David Harvey como pelo mais liberal, embora terceira via,
Anthony Giddens. Da resulta uma informao em tempo real, que faz que
os efeitos econmicos se propaguem como epidemias (a palavra viral tem
uma
108
pertinncia considervel neste vocabulrio). Donde, como dizem Held e
McGrew, no seu The Global Transformation Reader (Polity, 2000), estamos
perante uma mudana na transformao na escala da organizao social dos
humanos. aqui que emerge uma nova problemtica: ateno, portanto,
palavra governana, que designa a pluralidade de fontes de poder (e de
contrapoder) com que hoje os governos dos Estados-Nao se tm de
confrontar e concertar.
Aqui poderamos ver surgir a hiptese com altos pergaminhos, como Kant, de
uma paz universal resultante de um governo mundial (tema que Manuel
Villaverde Cabral privilegia, servindo-se dos importantes trabalhos de Danilo
Zolo). Mas o problema extremamente complexo, e talvez Elie Cohen o
formule em termos de grande conciso e argcia: Pode-se imaginar uma
economia internacional cada vez mais integrada e regulada por instncias sem
legitimidade democrtica, enquanto os Estados-Nao, privados do controlo
do desenvolvimento econmico, permaneceriam no quadro da poltica
democrtica? Durante muito tempo a ordem econmica foi construda sobre
relaes entre Estados-Nao gerindo o seu desenvolvimento e organizando a
sua integrao na economia-mundo num sistema intergovernamental. O
governo dos Estados-Nao baseava-se na democracia representativa: os
governantes podiam fazer escolhas de poltica macroeconmica e justific-las
junto da opinio pblica. O compromisso de Bretton Woods encarnava este
equilbrio entre integrao econmica mundial e domnio
109
dos comandos do desenvolvimento, e a poltica democrtica pelos Estados-
Nao. As actuais tenses crescentes devido acelerao da integrao
econmica, globalizao financeira e contestao s organizaes
internacionais, conduzem a encarar trs tipos de ordem estvel: ou a primazia
dos Estados-Nao conduz a renunciar integrao econmica global; ou a
poltica democrtica se ergue at ao plano dos espaos regionais
economicamente integrados; ou ento as novas instncias de governo mundial
fazem pontes para instncias nacionais renovadas (LOrdre conomique
Mondial - Essai sur les Autorits de Rgulation, Fayard,
2001, p. 67).
Que dizem os cpticos? Em primeiro lugar, um argumento histrico: nada de
novo face da Terra, a globalizao no traz novidade nenhuma, entre 1890 e
1914 havia muito mais globalizao do que hoje. Alm disso, no plano
conceptual, o conceito de globalizao acaba por ser mais incmodo do que
til: permitir distinguir entre processos de regionalizao e processos de
internacionalizao? Donde, a literatura sobre a globalizao no atina com os
referentes espaciais e mergulha tudo numa noite em que todos os gatos so
globais (enquanto os movimentos antiglobalizao, maneira de Bov,
querem que todos os gatos sejam locais).
A principal tese dos cpticos (defendida com ampla soma de argumentos por
Paul Hirst e Grahame Thompson, em Globalization in Question, Polity Press,
1999) que prefervel manter a vigncia de conceitos
110
como territrios, governos nacionais, fronteiras, etc., e falar num processo de
internacionalizao (a globalizao excede os Estados-Nao, a
internacionalizao faz-se com os Estados-Nao) e de regionalizao. E
entramos aqui na vertente dura de um marxismo no-ps-moderno: a
globalizao seria um mito necessrio para os governos convencerem os
cidados da inevitabilidade de um mercado global modelado segundo
princpios neoliberais e comandado pelo capitalismo americano. Estaramos
perante um novo imperialismo em que instituies como o G7/G8 ou o Banco
Mundial se mostravam ao servio da ordem mundial, militar, poltica e
cultural, criada pela americanizao do mundo.
A isto respondero os globalistas que os cpticos no esto a ver que estamos
perante uma verdadeira reformulao dos princpios reguladores da vida social
e da ordem do mundo. Como escreve Manuel Castells (em texto reproduzido
na p. 259 da antologia j citada), a economia informacional global. Uma
economia global historicamente uma nova realidade, distinta de uma
economia-mundo. Uma economia-mundo, que uma economia em que a
acumulao de capital se processa atravs do mundo, existiu no Ocidente pelo
menos desde o sculo xvi, tal como Fernand Braudel e Immanuel Wallerstein
nos ensinaram. Uma economia global algo de diferente: uma economia
com capacidade para trabalhar tendo como unidade o tempo real numa escala
planetria. Enquanto o modo de produo capitalista se caracteriza pela sua
expanso
111
incansvel, procurando sempre ultrapassar limites do tempo e do espao, s na
fase mais tardia do sculo xx que a economia-mundo se conseguiu tornar
global com base na nova infra-estrutura proporcionada pelas tecnologias de
informao e comunicao. Esta globalidade est no cerne do processo e dos
elementos do sistema econmico.
Venha o Diabo e escolha.
112
12
A planetarizao do homem da rua
Um dos investigadores mais interessantes do nosso tempo , sem dvida, o
homem que, no fio da tradio de McLuhan, um McLuhan no apenas
actualizado, mas criticado e renovado, prosseguiu na Universidade de Toronto
as suas pesquisas sobre as grandes transformaes do mundo contemporneo:
refiro-me a Derrick de Kerckhove, de que saiu j em portugus o livro A Pele
da Cultura. As perspectivas mais recentes do seu trabalho podem ser
conhecidas nas pginas da sua obra Connected Intelligence (Sommerville
House Publishing, 1997), recentemente traduzida em francs, com um
prefcio de Daniel Bougnoux, nas edies Odile jacob, 2000.
Derrick de Kerckhove tem um verdadeiro entusiasmo por aquilo que estuda, e
essa sua maneira de falar das coisas manifestamente contagiante. Um livro
como este l-se com admirao dada a pertinncia e agudeza das suas anlises,
mas l-se numa espcie de arrebatamento, s vezes perigoso, de tal modo
somos arrastados pela energia vertiginosa do pensamento.
113
Quando paramos para pensar (e Derrick de Kerckhove define precisamente as
bibliotecas como reas de repouso), temos algumas dvidas e perplexidades,
mas por pouco tempo. Nova cavalgada nos aguarda, e s no final
recuperamos a respirao para exercermos um pouco do nosso esprito crtico.
A ideia de uma inteligncia conectiva (que uma arte das ligaes e
desligaes) anda prxima da ideia de uma inteligncia colectiva, assumida
por Pierre Lvy, mas Kerckhove hoje, por conselho de um amigo, rejeita uma
palavra que lhe parece demasiado prxima do totalitarismo fascizante. Alis,
no prprio livro estabelece uma distino entre os media de tipo difuso de
massas (como a rdio ou a televiso), que so unidireccionais, e instituem
colectividades de receptores, dos media efectivamente interactivos, nos quais
teria lugar a referida inteligncia conectiva.
Derrick de Kerckhove fala numa planetarizao do homem da rua, que teria
como ponto de partida quatro motores tecnolgicos: a numerizao de todos
os contedos, a interconexo de todas as redes, a humanizao do interface
entre o material e o logicial e os efeitos mundializantes dos satlites. Daqui
resultam trs grandes linhas de transformao, que constituem, alis, as
divises centrais do livro: a interactividade, baseada no corpo e
desenvolvendo a dimenso comunicativa; a hipertextualidade, baseada na
memria e ligada aos processos de armazenamento de saber; e a
conectividade, que se apoia no sistema das redes e traa os contornos de uma
indstria da inteligncia
114
(no sentido de uma arte das ligaes, ou, como diz Bragana de Miranda, de
uma ertica generalizada). A conectividade incorpora e envolve todas as
outras dimenses anteriores, regulando-as e potencializando-as. As ideias
fulcrais de Derrick de Kerckhove so duas. Em primeiro lugar, num sujeito
concebido como um eixo corpo-memria-inteligncia, desaparece a noo de
exterior/interior: os fluxos energticos so simultaneamente externos, atravs
da electricidade, e internos, atravs da articulao da electricidade com o
sistema nervoso dos indivduos. Em segundo lugar, o campo da
interconectividade (a rede, a webitude) um campo sem horizonte; tem
avanos e recuos, incurses e retiradas, mas no um limite definido e um alm
desse limite - pura plasticidade ilimitada.
Nos nossos dias, assistimos a um processo que passa do ponto de vista dos
indivduos (que estaria associado ao uso dos livros) e da colectividade (atravs
do modo de difuso de massas da rdio e da televiso) para um processo
dominado pela conectividade (com os computadores), que se apoia na
interactividade. Por outro lado, enquanto livros, discos, fitas magnticas, se
baseiam numa produo dominada pela memria, o uso dos computadores
faz-nos passar para uma produo dominada pela inteligncia.
A interactividade real s est disponvel por meio da numerizao. Trata-se de
uma etapa fundamental, que constitui uma reduo de todos os fluxos a um
denominador comum, que uma espcie de equivalente geral, tal como o
dinheiro: esse denominador
115
comum so as unidades binrias (a relao zero/um). Ele permite a
convergncia das diversas indstrias: o telefone, a rdio, os computadores e a
edio. Esta convergncia realiza-se em trs patamares: primeiro, temos a
convergncia numrica, ou convergncia dos contedos; depois, temos a
convergncia dos suportes, reunindo os diferentes media sob o mesmo regime
operacional; por fim, a convergncia dos utilizadores, que um dos aspectos
da famosa globalizao. esta arquitectura que permite a planetarizao do
saber e das conscincias.
A evoluo que conduziu conectividade generalizada comeou h cerca de
cento e cinquenta anos com a inveno do telgrafo: a primeira infra-
estrutura global de redes permitindo o aumento das comunicaes. Cem anos
depois, assiste-se, com os computadores, a uma numerizao dos contedos
que tende a homogeneiz-los de uma forma paradoxal: os elementos que
entram ficam todos reduzidos ao mesmo denominador comum, o digital,
mas este permite a jusante a particularizao infinita das combinaes entre
esses elementos. De qualquer modo, nem a primeira operao respeita a
forma, porque a tritura em dgitos, nem a segunda a fixa e celebra, porque a
torna interminavelmente multiplicvel. Por fim, nos ltimos dez anos, a
produo de uma realidade virtual d origem produo de elementos que
podemos designar como psicologiciais.
Que resulta daqui? Um aumento extraordinrio das comunicaes. Mas
podemos dizer que a um acrscimo
116
da quantidade das comunicaes corresponde um acrscimo da intensidade
existencial dessas mesmas comunicaes? O optimismo de Derrick de
Kerckhove tem alguns notveis momentos de pausa que permitem colocar a
interrogao sobre se mesmo isto que queremos. Ou, postas as coisas doutro
modo: se existem modelos alternativos que produzam formas mais altas e
empolgantes de experincia partilhada?
117
13
A informacionalizao
O termo aparece em Manuel Castells e designa a forma como a questo da
informao tem vindo a investir toda a sociedade contempornea. Donde, o
que se chamou sociedade da informao, dado o papel que a informao e o
conhecimento desempenhavam como elementos de um processo produtivo,
mais do que isso: uma sociedade informacionalizada, isto , transformada
nas suas estruturas, nos seus modos de percepo, de reflexo e de
transmisso. E por isso invade tambm o espao da arquitectura, na medida
em que produo de novos espaos digitais que se sobrepem aos espaos
fsicos e energticos tradicionais. Mas, ao invadir o espao da arquitectura,
est no apenas a corroer e deslocar fronteiras, mas tambm a colocar novos
desafios aos arquitectos. nessa rea que um breve, mas bem estruturado,
ensaio de Gonalo Furtado coloca alguns problemas fundamentais, depois de
fazer o inventrio de diversos percursos que conduziram situao
contempornea.
119
O livro de Gonalo Furtado, editado simultaneamente em portugus e ingls,
tem por ttulo Notas sobre o Espao da Tcnica Digital, e foi publicado na
Editora Mimesis, onde tm vindo a surgir textos de novos ensastas de grande
interesse e qualidade.
Primeira distino fundamental: habitumo-nos a considerar as novas
tecnologias como extenses dos sentidos humanos, isto , no estatuto de
prteses. Ora esta concepo revela-se insuficiente. No, as novas tecnologias
so mais do que prteses que permitem que um sujeito conhea melhor o
mundo que o rodeia. E so mais do que prteses porque modelam
simultaneamente sujeito e objecto, mente e mundo. So tcnicas de mediao
que transformam os meios em comunicao at dissolverem as categorias de
tipo epistemolgico com que costumvamos pensar este processo.
Segundo ponto no itinerrio de Gonalo Furtado: trata-se de um novo
paradigma? Como sempre que se trata desta questo dos paradigmas, ningum
pode dizer que tudo inteiramente o mesmo, nem que tudo inteiramente
outro. Se uma pessoa mais inclinada a ver continuidades, achar que muitas
das coisas que se apresentam como novidades j estavam esboadas em
pocas anteriores. Se existe uma preferncia por rupturas, ento fcil
sublinhar diferenas. Mais difcil ver como certos fios que vm de tradies
da vanguarda do incio do sculo so retomados no quadro de uma revoluo
dos media que afecta todos os domnios da comunicao, incluindo
aquisio, manipulao,
120
armazenamento e distribuio; e tambm afecta todos os tipos de media:
textos, imagens imveis, imagens em movimento, som, construes espaciais
(Lev Manovich, The Language of New Media, The MIT Press, 2001,
Massachusetts, p. 19).
O livro de Gonalo Furtado uma espcie de narrativa problematizada do
avano tecnolgico. No sculo xvIIi, importncia do relgio. No sculo xix,
importncia da mquina a vapor. No sculo xx, importncia do computador.
Nos anos 50, desenvolvimento da informtica. Entre os anos 70 e os anos 90,
espalham-se os computadores pessoais. Os anos 90 so marcados pelas redes
globais dos computadores. O incio do sculo xxi assinala-se pela
digitalizao multimdia. Entramos assim na mquina universo. Riscos?
Todos sabemos que existem. H uma nova ordem social que resulta da
convergncia da informtica e das telecomunicaes. Certas reas
transformam-se de repente aos nossos olhos: fotografar hoje uma prtica
diferente. O uso do telemvel desenvolve-se ms aps ms. Esbatem-se as
fronteiras entre os sistemas vivos e as mquinas. A resposta s poder ser,
como diz Lvy: Converter a necessidade tecnolgica em projecto cultural.
Mas isso implica encontrar os intervalos, os interstcios, que permitam um uso
criativo, ou, para utilizar uma expresso de Bragana de Miranda, um
programa de hibridao.
Em relao questo do novo paradigma ou no (que, alis, implica sempre
um uso muito vago da noo de paradigma, e no o conceito de Kuhn),
Gonalo Furtado est no campo dos que vem a radicalidade
121
de uma ruptura. Sei que todos somos sujeitos a distores e iluses, mas a
verdade que tambm creio que assistimos, nos ltimos trinta anos, a uma das
mais aceleradas transformaes que poderamos imaginar. O que Gonalo
Furtado confirma com estas palavras: Vivemos num contexto radicalmente
diferente, que incorpora algumas caractersticas do anterior paradigma e
simultaneamente reconfigura e substitui outras.
Uma das caractersticas essenciais deste processo a acelerao: a compresso
espao-tempo provavelmente uma marca da ps-modernidade, e no deixa
de produzir um efeito perverso: o elogio da lentido, a redescoberta da
contemplao, o retorno aos valores da placidez e o xtase que marca certas
manifestaes culturais contemporneas. Ser que estamos condenados ao
simulacro? Ser que o toque da realidade nua apenas uma outra volta da
simulao da realidade? Aquele que sente sente a plenitude, o vazio, ou uma
realidade intermediria, oscilante, incerta, para que nos escasseiam ainda os
conceitos? Quais as relaes entre o virtual e o possvel?
Gonalo Furtado atravessa algumas destas interrogaes, mas no se detm
nelas. Afirma que a cultura digital - baseada na comunicao-simulao e na
digitalizao-desmaterializao, em que a operacionalidade das actividades
independente da localizao e da condio fsico-material, e as formas de
vida-relacionamentos so mediatizadas com base nas novas tecnologias
instauradoras de um novo conceito espao-temporal traz interferncias para as
disciplinas organizadoras do espao. Mas acentua um ponto importante: o
controlo.
122
Quando, h uma dezena de anos, Gilles Deleuze comeou a falar em
sociedades de controlo para o que se vivia nos nossos dias (num texto
publicado no saudoso LAutre Journal e includo em Pourparlers), pensei
que se tratava de um resqucio de esquerdismo anacrnico. Anacrnico era eu
(esta frase pode ser lida de outra maneira, mas isso um segredo entre ns).
Gilles Deleuze avanava para uma tese fundamental cuja pertinncia s agora
se torna manifesta.
Escrevia Deleuze: No temos necessidade de fico cientfica para conceber
um mecanismo de controlo que d em cada instante a posio de um elemento
em meio aberto, animal numa reserva, homem numa empresa (pulseira
electrnica). Fliz Guattari imaginava uma cidade em que cada um podia sair
do seu apartamento, da sua rua, do seu bairro, graas ao seu carto electrnico
que fazia passar esta ou aquela barreira; mas esse carto podia ser recusado
em determinado dia, ou em determinadas horas; o que conta no a barreira,
mas o computador, que assinala a posio de cada um, lcita ou ilcita, e opera
uma modulao universal.
Mais uma vez uma questo de projecto cultural
- e o projecto cultural provm de uma atitude poltica. Aquilo que Gonalo
Furtado chama a televida pode ser um pesadelo ou uma utopia. No sei bem o
que cada um de ns pode fazer para reforar a segunda hiptese. Mas sei que
livros como este, que nos explicam, de uma forma clara e comunicativa, o que
se est a passar, contribuem certamente para que as decises sejam tomadas
com melhor conhecimento das coisas e mais apurada lucidez poltica.
123
14
Zonas negras
A obra de Niklas Luhmann, socilogo alemo falecido em 1998, deixa-nos a
sensao impressionante de ser um dos grandes monumentos do pensamento
social do sculo xx. Porque, na esteira de Talcott Parsons, procurou primeiro
construir uma teoria unitria a partir da ideia de diferenciao da sociedade e
da reduo da complexidade. Pouco a pouco, foi-se deixando seduzir pela
teoria dos sistemas autopoiticos, em particular por Maturana e Varela, que se
tornaram referncias nucleares no seu trabalho. E a partir da, numa
permanente reflexo sobre a modernidade, sobre a qual escreveu um notvel
conjunto de ensaios, e em incessante confronto com outra grande figura da
intelectualidade alem, o famoso Jurgen Habermas, Luhmann procurou
varrer todos os domnios da vida social: do direito ecologia, da
problemtica do risco ao tema da confiana, dos meios de comunicao social
at ao sistema das artes. Ainda h pouco tempo, em Mlaga, Jos Manuel
Santos apresentou, no I Congresso Ibrico de Comunicao, um estudo
notvel
125
sobre a viso extremamente inovadora e perturbantemente certeira de Niklas
Luhmann em relao comunicao de massas.
Leitura fcil? Longe disso. Talvez o mais adequado percurso introdutrio seja
o que nos propem Josetxo Beriain e Jos Maria Garca Blanco, numa
utilssima antologia organizada para a Editorial Trotta, intitulada Complejidad
y Modernidad - de la Unidad a la Diferencia (Valladolid, 1998). Mas mesmo
assim no julgue o leitor que no passar por momentos difceis em que
parece ter perdido o fio meada. Como me dizia Jos Manuel Santos em
Mlaga, bvio que se trata de uma situao que ocorre com todos os grandes
pensadores: s lentamente vamos conquistando terreno, e a partir do que
somos capazes de adquirir como inteligibilidade que vamos tambm poder
recuperar textos anteriores em que certas passagens nos pareciam
incompreensveis. Ao contrrio de determinados autores, que nos do uma
falsa iluso de clareza, Luhmann provoca-nos uma falsa iluso de
complexidade, que resulta talvez dos abruptos curto-circuitos entre
exemplificaes muito concretas e generalizaes impiedosamente abstractas.
Mas o leitor ver que compensa. Por um motivo fcil de enunciar: sempre que
a gente entende, percebe que a dificuldade que sentiu em entender resulta de
ter entrado num conceito inteiramente novo, numa anlise absolutamente
inesperada, numa viso das coisas profundamente enriquecedora. Conseguir -
finalmente! - entender Luhmann sempre ficar a ganhar qualquer coisa que
nos vai acompanhar para a vida.
126
Quantos autores nos provocam uma experincia semelhante?
Resta ainda dizer que, sem conhecer as opinies polticas concretas de
Luhmann, seria levado a supor que se trata de um verdadeiro conservador, que
as simplificaes permitem que se oponha regularmente ao progressista
Habermas. Sem entrar agora numa polmica que daria pano para mangas,
penso que muitas vezes no s possvel uma leitura de esquerda de Luhmann
(como possvel uma leitura de esquerda de Tocqueville, neste momento
transformado em bandeira pelas reas mais reaccionrias do pensamento
portugus), como em matrias muito concretas o pensamento luhmanniano me
parece efectivamente mais esquerda (mas teramos de nos entender sobre
esta reinscrio ideolgica, e mesmo sobre a sua actual, ou no, pertinncia)
do que o pensamento habermasiano.
Neste contexto, gostaria hoje de chamar ateno para um excelente nmero da
excelente revista Theory, Culture and Society, dirigida por Mike Featherstone
e editada pela Sage Publications. O seu nmero um, volume dezoito, com data
de Fevereiro de 2001, em grande parte dedicado a Niklas Luhmann, com
textos de Jakob Arnoldi, Gunther Teubner, Hans Ulrich Gumbrecht, Dirk
Baecker e Erkki Sevanen, que se ocupam de temas to variados como: A
Economia da Ddiva - Positividade da Justia: a Parania Mtua de Jacques
Derrida e Niklas Luhmann ( o texto de Teubner); o Nosso Futuro
Contingente? Lendo Luhmann contra Luhmann ( o artigo de Gumbrecht);
Porqu Sistemas?
127
( a pergunta de Baecker); e A Arte como Sistema Autopoitico da Sociedade
Moderna (na proposta de Sevanen).
Mas o grande acontecimento para os sempre fervorosos leitores de Luhmann
a publicao em ingls (o alemo -me inacessvel, apesar de dois anos de
obstinada escolaridade) de um conjunto de notas que Luhmann reuniu para um
livro que preparava, e que aparecem, em manifesta desordem e sem
acabamento final, sob o ttulo de Poetry and Social Theory.
A grande questo que move Luhmann uma vez mais a da
incomunicabilidade. Como lhe habitual, ele parte da ideia de que o sistema
social no pode ser confundido com o sistema psquico. E que nenhum destes
sistemas autopoiticos pode guiar-se pelas orientaes do outro ou seguir as
suas estruturas ou operaes. O mais que sucede verificar-se uma relao de
irritabilidade: medida que a complexidade das possibilidades de
comunicao aumenta, aumenta tambm a irritabilidade psquica da
sociedade, o que se manifesta em revoltas juvenis e movimentos sociais.
O que comea por interessar Luhmann o modo como a poesia se introduz
nesta conjuntura: se o sistema social perde a capacidade de persuadir (e da a
pergunta: No poder a incomunicabilidade simplesmente significar que uma
pessoa j no consegue encontrar quaisquer perspectivas de comunicao no
que diz respeito situao em que a sociedade moderna se encontra e
reconhece?), a poesia surge como o domnio de uma impersuaso
persuasiva. E aqui reencontramos uma das estruturas paradoxais que
Luhmann
128
atribui a qualquer processo de comunicao: a poesia situa-se no estranho
paradoxo de uma partilha daquilo que nico. Da que, ao contrrio de todos
os nossos modelos festivos de comunicao, a poesia seja um sistema de
comunicao em que se pressupe que a comunicao tanto mais intensa
quanto o interlocutor se coloca em silncio (como estamos longe das
baboseiras sobre a interactividade!...). O que significa ainda que uma
conscincia sente o sucesso da comunicao quanto mais essa comunicao
faz que essa pessoa se volte para si mesma.
Ao contrrio do pressuposto ontolgico de que a comunicao depende de
objectos pr-dados que devem ser descritos segundo o critrio do verdadeiro/
/falso, a poesia (leia-se, por exemplo, o maravilhoso ltimo livro de Herberto
Helder) no precisa de objectos pr-dados, porque os d a si mesma, e assim
demonstra que a linguagem no serve para descrever uma coisa, ou pelo
menos no serve apenas para isso.
Este seria o paradoxo extremo do tipo de comunicao potico. Mas todas as
outras formas de comunicao tm os seus paradoxos, que Luhmann pretendia
analisar em profundidade. Em todos eles a regra a mesma: s tornando
invisvel o seu prprio paradoxo que a comunicao pode prosseguir. Da
que haja sempre necessidade de tornar invisvel a prpria estrutura sobre a
qual se apoia de modo a que essa estrutura continue a ser funcional.
Caracterizar um sistema de comunicao sempre caracterizar tambm o
modo que ele tem de tornar invisvel a sua condio paradoxal: a sua tcnica
especfica de desparadoxalizao.
129
H sempre neste processo um jogo com a ideia de limite: o sistema s actua na
medida em que sempre se aproxima mais do limite em que deixaria de poder
actuar. aqui que h uma zona de convergncia (mas tambm uma
demarcao irredutvel) entre poesia e religio. A religio transpe o limite em
direco a um alm que designa como transcendncia, e a transcendncia
funciona como a estabilizao securizante desse limite. Em contrapartida, a
poesia desenvolve-se na infinitude produzida pelo risco permanente, pela
interminvel indeciso, que resulta da imanentizao da transcendncia, isto ,
da reinscrio (processo em segundo grau, tpico da teoria dos sistemas) da
diferena imanncia/transcendncia no interior da prpria imanncia. A
religio embala, a poesia desinstala.
Ser que podemos passar dos socilogos quando falamos de poesia? De
alguns, pelo menos, no.
130
15
O comum dos homens
O socilogo Luc Boltanski, que h pouco tempo visitou Portugal a convite da
revista Frum Sociolgico, e com o apoio do Instituto Franco-Portugus,
procurou estabelecer no livro De la Justification (que escreveu com o
economista Laurent Thvenot) o que ele designa como um fundo de
humanidade comum, mas reconheceu, no debate que entre ns travou, que os
acontecimentos recentes o obrigam a repensar a questo. Creio que est certo.
Na verdade, o que se verificou no foi um choque de civilizaes, para
utilizar o conceito avanado pelo politlogo Samuel P. Huntington, mas de
qualquer modo emergiram problemas que obrigam a reformular as questes
relativas problemtica dos Direitos do Homem. Por mais que se diga, e com
inteira razo, que no existe de uma forma homognea uma sociedade
ocidental, tal como no existe tambm de um modo homogneo um mundo
islmico, no podemos deixar de reconhecer que, de um modo genrico, as
diferenas culturais persistem, e de certo modo se acentuam com a
repercusso
131
de certos conflitos e a reactivao de determinados traumas.
por isso extremamente oportuna a leitura de um trabalho universitrio como
aquele que nos apresenta Patrcia Jernimo no livro intitulado Os Direitos do
Homem Escala das Civilizaes - Proposta de Anlise a Partir do
Confronto dos Modelos Ocidental e Islmico (edio da Livraria Almedina,
em assinalvel fase de renovao). Trata-se de um extenso e amplo estudo
apresentado no mbito das provas de aptido pedaggica e capacidade
cientfica prestadas em Janeiro de 2000 na Escola de Direito da Universidade
do Minho. Mas o leitor desprevenido ser levado a pensar que foi o 11 de
Setembro que suscitou esta obra: raras vezes a Universidade portuguesa ter
antecipado de modo to preciso e rigoroso um debate que os acontecimentos
viriam tornar imprescindvel.
Mas seria de facto um leitor muito desprevenido aquele que pudesse supor que
uma investigao deste flego, com esta informao to impressionante e com
uma arquitectura to ponderada e amadurecida, poderia ter sido concebida em
curtos meses. Se h uma qualidade que devemos sublinhar neste volume de
Patrcia Jernimo, a capacidade de associar um estilo altamente
comunicativo e eficaz com uma erudio que no pode deixar de provocar a
admirao de quem est longe de ser especialista nestas matrias (o que o
meu caso, note-se).
Patrcia Jernimo comea por traar a gnese necessariamente concentrada
das civilizaes ocidental e islmica depois de se deter na questo
forosamente
132
prvia que de que falamos quando falamos de civilizaes?. Avalia assim,
para o campo ocidental, o contributo da Antiguidade Clssica, em particular a
democracia ateniense, a filosofia grega, o direito romano, para depois analisar
mais em pormenor o cristianismo e o impacte das Luzes. No que diz respeito
civilizao islmica, d imensa importncia, como no podia deixar de ser, a
Maom e ao edifcio teolgico sobre o qual tudo se constri. S depois tem
em conta as formas polticas e o Direito.
Numa segunda parte, interessa-se pela problemtica dos direitos ocidentais
(marcados pelo laicismo, tecnicismo, humanismo e individualismo) e depois
do direito muulmano (aqui surge o sincretismo, o imobilismo e o
transpersonalismo). O segundo captulo desta segunda parte abre o grande
dossi do confronto anunciado.
Se a noo de natureza humana tem pouco prstimo nesta perspectiva,
porque, para Patrcia Jernimo, as civilizaes so entidades culturais.
Constituem os universos significativos por referncia aos quais os indivduos
percebem a sua identidade. So os costumes, as crenas, os valores e as
normas. So a arte e a tcnica, os relevos e os caminhos... (p. 27). Donde,
no existe uma nica forma de ser homem. Mesmo por isso, no existe uma
nica forma de o proteger atravs do Direito.
Daqui resulta uma posio que a autora assume decididamente como
relativista, indo ao ponto de dizer que mesmo fortemente relativista
(utilizando uma gradao definida por Jack Donnelly). A argumentao
133
faz-se nestes termos: Os Direitos Humanos pelo seu sustento filosfico como
pelas suas tradues normativas - s tm verdadeiramente sentido para o
Ocidente. Fora dos domnios ocidentais, a dignidade nsita na natureza
humana ganha formas diferentes de expresso - no significa necessariamente
a igualdade de todos os homens, nem importa necessariamente o
reconhecimento aos indivduos de direitos subjectivos oponveis ao poder e
aos outros: passa, muitas vezes, por coisas como a honra e o sentimento de
pertena comunidade, traduz-se, muitas vezes, em gestos de generosidade e
em deveres perante o grupo. Estas formas de enquadrar a existncia humana
no mundo explicam-se culturalmente (p. 260). E Patrcia Jernimo
desenvolve esta perspectiva antropolgica nestes termos: Estamos
conscientes de que a adopo desta postura - na medida em que nos inibe de
emitir juzos crticos sobre realidades culturais que no a nossa nos impe uma
imobilidade irritante, forando-nos ao convvio com valores e prticas que
chocam frontalmente os nossos mais elementares princpios de justia (pp.
260-261). E mais adiante: Por muito que estejamos certos da bondade dos
nossos valores, nada nos autoriza a pretender estend-los aos outros.
No vou poder analisar as formas subtis como Patrcia Jernimo relativiza
sistematicamente a problemtica ocidental dos Direitos Humanos, embora
suspeite de que alguns dos seus argumentos seriam passveis da crtica que
Mrio de Carvalho sugeriu num aforismo clebre: No devemos confundir o
gnero humano com o Manuel Germano. Ou, para utilizarmos os termos
134
de Foucault, pode-se perguntar se o facto de reconhecermos uma
historicidade da questo do universal elimina por si s a questo do
universal: No so os restos da Aufklarung que se trata de preservar; a
prpria questo deste acontecimento e do seu sentido (a questo da
historicidade do pensamento do universal) que preciso manter presente e
conservar no esprito como o que deve ser pensado (Michel Foucault, Dits et
crits - IV, Gallimard, p. 687).
Creio que os Direitos do Homem foram tambm no espao da civilizao
ocidental matria de luta em nome de um trabalho crtico (que pressupunha
libertar os outros de formas alienatrias a partir de elementares princpios
de justia) prvio em relao a realidades que os ignoravam. Consider-los
apenas como pura emanao de uma cultura certamente uma reduo
poltica que tem implicaes polticas na anlise e crtica (ou no-anlise e
no-crtica) que se faz doutras culturas.
Na perspectiva sempre arguta e matizada (mas matizada no pormenor para ser
mais contundente na globalidade) de Patrcia Jernimo, que permite uma
anlise por vezes ambiguamente oscilante de questes como a liberdade
religiosa, a condio das mulheres ou a condio dos no muulmanos na
civilizao islmica, conclui-se que, no entanto, no devemos prescindir de
um corpo de referentes tico-jurdicos de dimenso transcivilizacional (p.
312, mas poderamos perguntar porqu). Para tal no devemos recorrer a
absolutos predefinidos (algo que seria anterior ideia de dilogo), mas a
referentes que se constrem no
135
processo do prprio dilogo (os universais possveis havero de ser
encontrados neste dilogo e no descobertos numa natureza misteriosa, id.).
Como um jogo que fosse jogado estabelecendo-se no jogo as prprias regras
do jogo.
Para isso, no entanto, necessrio que a ideia de dilogo seja um
predefinido em relao prtica do dilogo - e que se torne possvel um
efectivo dilogo entre os que defendem os direitos humanos e aqueles que
consideram que os homens so representantes de Deus na Terra (p. 269) e
para quem os Direitos do Homem so afinal Direitos de Deus (.id., nota
856).
136
16
O man e a limalha
Fez-se h tempos uma justssima homenagem a Mrio Dionsio, numa
iniciativa da Abril, em Maio. Pois minha memria desse espantoso
professor que vou buscar a cena inicial desta crnica. De tempos a tempos, nas
aulas de literatura, propunha-nos o seguinte exerccio: imaginem que vo na
rua e uma rabanada de vento traz at junto de vocs uma folha de papel onde
est escrito um poema. No se diz a que poca pertence, nem quem o autor.
Vocs lem, tentam compreender e interpretar, tentam descobrir o perodo
histrico, tentam dizer, no quem o autor (no se tratava de adivinhar), mas
quem poderia ser o autor.
Ora bem, imaginem que o livro de Manuel Maria Carrilho O Estado da Nao
(da Editorial Notcias) lhes vinha parar s mos, mas sem capa nem nada que
pudesse identific-lo. Apenas um texto, um conjunto de artigos curtos,
incisivos, contundentes. Que pensaramos ns do que l se diz? Como
receberamos a sua argumentao?
137
Por outras palavras, por uma questo de facilitar as coisas, posso aceitar que
Manuel Maria Carrilho ter todos os defeitos do mundo, ficou numa relao
de agressividade obsessiva em relao ao primeiro-ministro, diz agora o que
no disse na altura e o que no discute no interior das instncias partidrias.
Admitamos que sim - para no perder tempo com essa discusso.
E da? Em que medida que isso invalida o diagnstico que nos prope sobre
o estado do pas? Em que medida que isso deve neutralizar a leitura isenta
deste livro? At que ponto isso impede a discusso?
Aquilo que o ponto de partida desta pequena obra (resultante duma
sequncia de textos publicado no Dirio de Notcias) um sentimento que
hoje partilhado pela generalidade dos homens polticos e da imprensa
portuguesa: mesmo que as causas do fenmeno sejam imensamente
complexas e difceis de explicar, a verdade que, depois de um perodo de
excessiva euforia, e de uma espcie de interminvel estado de graa, os
governos socialistas de Antnio Guterres aparecem hoje associados a uma
situao profundamente depressiva, em que todos reconhecem que se assiste a
uma degradao generalizada dos padres de vida (e da vida poltica) em
Portugal. como se, na sua globalidade, o pas se tivesse afundado um pouco,
Governo e socialistas esto mais em baixo, mas tambm as oposies, mas
tambm parte da comunicao social, mas tambm as instituies, mas
tambm as pessoas e as coisas que esto nossa volta. E da essa imagem de
resignao magoada e de apelo desesperado
138
em relao ao Presidente da Repblica - nica instncia que sobrevive ilesa
catstrofe.
A anlise de Manuel Maria Carrilho clara e directa: para ele, isto resulta de
uma ausncia de estratgia poltica definida que permita antecipar os
problemas, em vez de responder a eles, e que impea a sensao de crescente
desagregao: para utilizarmos a alegoria de Musil, quando o man deixa de
funcionar, a limalha desprende-se e espalha-se por todo o lado. E isso continua
a verificar-se quando, por exemplo, um dia se vota com o Bloco de Esquerda
sobre os homossexuais, outro dia se vota com o PP sobre a poltica da famlia,
um dia se retira privilgios Igreja Catlica, outro dia se cede claramente s
exigncias de manuteno desses privilgios, como se o Partido Socialista no
devesse ter um pensamento prprio sobre estas matrias, e precisasse ora de
mostrar que no bota-de-elstico, ora de mostrar que no contra a famlia
(mas existir algo de mais ostensivamente fracturante do que os termos em
que est redigido o projecto sobre a poltica de famlia do PP?).
O segundo ponto que Carrilho sublinha que isto resulta de uma poltica em
que a gesto da imagem se sobrepe transformao da realidade, e em que a
paixo por causas (como a educao ou a sade) substituda pela paixo
pelas palavras com que se diz defender essas causas. A ideia de que isto que
fazer poltica, e a concepo da poltica como uma sucesso de guinadas
mediticas, aqui claramente posta em causa.
139
O terceiro ponto tem a ver com o facto de o princpio positivo do dilogo e
consulta das partes interessadas acabar por se transformar numa mera gesto
dos interesses corporativos sem preocupao com a definio de uma linha de
interesse nacional. Se preciso entreter as massas, escolhe-se o Europeu 2004,
se preciso calar os militares, d-se-lhes trs submarinos de utilidade
duvidosa e custo acima de quaisquer dvidas e, se preciso ter audincias,
vai-se buscar o Joo Baio.
Que resulta daqui? Resulta uma situao em que se perde em todos os
terrenos, porque os interesses respectivos nunca esto satisfeitos, e a
frustrao se sobrepe ao reconhecimento. E pouco a pouco os militares
protestam, os empresrios indignam-se, os clubes de futebol reivindicam, a
classe mdia-alta critica, os jornalistas denunciam, a Igreja alarma-se, os
estudantes vm para a rua, os professores do superior estranham por no
receberem os aumentos da lei, os agricultores desanimam, os editores vo
falncia
- e Manuel Maria Carrilho escreve este livro. Entra-se no que Manuel Maria
Carrilho designa como o torpor e agravam-se os sintomas do mal
portugus - convico irracional de que nunca samos da cepa torta, inveja
em relao aos outros, masoquismo e autoflagelao.
Digamos que Manuel Maria Carrilho defende insistentemente (neste conjunto
de crnicas que tm o indiscutvel mrito de serem bem escritas e bem
pensadas) uma ideia. Primeiro, que somos um pas de analfabetos, em que os
graus de iliteracia so elevadssimos.
140
Neste ponto, total concordncia de Guterres com Carrilho: tambm Guterres
diz agora que somos um pas muito pouco profissional, isto , somos um pas
com fracos ndices de formao profissional, com nveis muito baixos de
rentabilidade escolar, com dificuldades imensas na matemtica e no uso
interpretativo e expressivo do portugus, com marcas profundas de
provincianismo cultural, com escassa formao poltica, com ausncia de
informao e de hbitos culturais. Face a este panorama, a linha estratgica - o
man s podia ser um: defender em todos os planos uma batalha da qualidade -
do pr-primrio ao largo da vila, do caf universidade. O que passa por
diversos patamares: defender a qualidade profissional, para aumentar a
qualidade da nossa produtividade; defender a qualidade profissional, ainda,
para dar eficincia e racionalidade mquina do Estado; defender a qualidade
da cultura poltica, para evitar a degradao dos aparelhos partidrios;
defender a qualidade do audiovisual (que andam pela hora rasca dos
Acorrentados ao Big Brother e da boalidade dos Mulher no Entra),
para aumentar os nveis de elaborao com que cada um se pensa e pensa o
sentido da sua vida (isto , para reforar a memria nacional, para enriquecer
o imaginrio portugus, para fomentar o gosto da excelncia, do sonho e da
utopia).
Neste plano, Manuel Maria Carrilho tem dois adversrios privilegiados. Em
qualquer dos casos, trata-se de evitar redues da complexidade a modelos de
dimenso e sentido nico. Em primeiro lugar, o adversrio o economicismo,
isto , a perspectiva desenvolvimentista
141
que acha que o desenvolvimento do pas est numa poltica do beto, e que
o resto vir por acrscimo; em segundo lugar, o adversrio o tecnocratismo,
que pensa que existe um determinismo tecnolgico que assegura que os
mecanismos comunicacionais levam directamente ao uso democrtico e
cultural dessa comunicao (e da os grandes debates sobre a Internet e as
novas tecnologias). Ao economicismo e ao tecnocratismo meditico e
corporativo contrape Manuel Maria Carrilho duas grandes linhas na defesa
da qualidade: a reabilitao da instncia poltica (do man que mobiliza a
limalha) e a promoo da dimenso educacional e cultural (onde Carrilho viu
sinais de claro desnimo em diversos sectores nucleares da cultura
portuguesa numa altura em que eles eram apenas sinais).
142
17
A fuga e a tanga
Ao publicar trs das suas mais significativas entrevistas polticas, Manuel
Maria Carrilho faz uma espcie de regresso interveno poltica, depois de
alguns tempos em que permaneceu mais silencioso, embora nunca totalmente.
Trata-se, portanto, de um gesto, de que podemos sublinhar trs aspectos: em
primeiro lugar, procura-se mostrar como a entrevista pode no ser um mero
exerccio de inscrio de opinies mais ou menos conjunturais, mas tambm
um espao de polmica inteligente e de teorizao rapsdica. Em segundo
lugar, ao escolher a Fundao Mrio Soares para o lanamento da obra,
Carrilho deu um sinal explcito de como admira (e o difcil no admirar) a
forma como Mrio Soares tem dominado, com lucidez e inteligncia, os
grandes movimentos da esquerda portuguesa. Em terceiro lugar, ao escolher
Francisco Assis para apresentar o livro, ps em relevo o apoio difcil que lhe
deu para recentes eleies no interior do PS (e acabou por servir de palco para
uma justssima homenagem em relao ao modo claro, corajoso e
desassombrado
143
como Francisco Assis interveio no penoso caso de Felgueiras, de que tivemos
uma penosa jornada televisiva).
Mas Poltica Conversa (Editorial Notcias) tem outros motivos de interesse,
no propriamente pela mensagem expressa (o grande tema de Manuel Maria
Carrilho o da necessidade de uma convergncia de polticas que levem
qualificao dos Portugueses), mas pelos aspectos aparentemente marginais e,
no entanto, particularmente significativos ou sintomticos.
Por exemplo, tendo ido buscar uma antiqussima noo grega de que tudo na
vida implica um tempo certo para ser feito, e de que uma coisa certa ser
errada se for feita no tempo errado, Manuel Maria Carrilho afasta com alguma
sobranceria a ideia de que este livro estaria aqui para tornar claro que ele teve
razo mais cedo do que os outros. E afirma com particular justeza: Em
poltica, nunca se tem verdadeiramente razo antes de tempo - e isso ter-nos-ia
evitado muitos disssabores - ou a questo deixa de se pr. A avaliao da razo
no tempo tem a ver com a histria, no com a poltica. A poltica tem a ver
com a aco, um compromisso com o prprio tempo.
Se analisarmos estas frases, vemos que elas tecem um enredo mais complexo
do que poderia parecer - e precisamente nestas passagens, de uma densidade
quase enigmtica, que Manuel Maria Carrilho nos desafia. Em primeiro lugar,
distingue-se entre a histria e a poltica. No plano da histria, possvel ter
razo antes de tempo. Mas a histria mais do domnio do ele (digamos:
ele teve razo antes de tempo) do que
144
do domnio do eu (da o que h de politicamente insuportvel em algum que
insista em dizer: Eu tive razo antes de tempo). Muito bem. Ns
percebemos que Manuel Maria Carrilho no tinha razo antes de ter
chegado ao tempo (que at chegou mais depressa do que se esperava) em que
o Partido Socialista estaria em condies de ouvir o que ele tinha para dizer:
da que o seu discurso fosse inaudvel nas circunstncias em que foi proferido
(e que a fotografia da contracapa evoca). Donde, politicamente estava errado.
Mas um erro poltico pode ser a condio histrica para uma interveno
poltica mais eficaz e pertinente: vemos assim que a fora poltica de Manuel
Maria Carrilho (e sobretudo o peso diferencial que o distingue entre os mais
importantes dirigentes do PS) vem de ns j sabermos que a histria (a
histria, e no Manuel Maria Carrilho) dir que ele teve razo antes do tempo.
Isso permite-lhe uma posio extremamente subtil, mas deliberadamente
ambivalente, em relao a Antnio Guterres. Por um lado, Carrilho toma
demasiado letra, numa ingenuidade premeditada, o que tero sido as razes
nobres (e elas existiram) da demisso de Guterres, e vem dizer (na primeira
entrevista) que uma tal dignidade no modo de sair da poltica ficaria destruda
se se transformasse em mero truque para preparar um regresso poltica. Em
segundo lugar, e numa atitude que s aparentemente contraditria, toma
letra o discurso daqueles que dizem que se tratou de uma fuga perante as
difceis condies que se adivinhavam para o pas. Mas, por fim, Manuel
Maria Carrilho resgata o que esta afirmao poderia ter de
145
traumatizante para o PS e vem dizer que o tema da fuga em relao a
Guterres no separvel do tema da tanga em relao a Duro Barroso.
Donde, a crtica a Guterres faz ricochete e vai embater no PSD: O sofisma
barrosista teve, preciso diz-lo com clareza, um aliado de peso no modo
como A. Guterres abandonou o poder. Foi esse abandono, e a modalidade
escolhida para o fazer, que credibilizou, em crculo virtuoso, a retrica da
tanga, segundo a qual o Governo socialista deixou o Pas nesse estado, e que
foi justamente por isso que o anterior primeiro-ministro fugiu. A tanga e a
fuga, eis a miraculosa rima poltica que assim se ofereceu direita, que a
recitar sempre que lhe convier. E h quem diga que a boa rima nunca
cansa...
Encontramos neste texto alguns dos traos argumentativos de Carrilho. Um
deles tem a ver com o modo como sublinha ou pe em relevo determinadas
palavras, promovendo-as ao estatuto de quase-conceitos: temos assim, num
plano ainda metafrico, o sofisma barrosista como temos a noo de rima
poltica. Utilizando quase sempre formulaes inovadoras em termos de
vocabulrio poltico, Manuel Maria Carrilho distribui-as segundo arquitecturas
discursivas que as reforam e lhes do uma incidncia particularmente
iluminante sobre as circunstncias. Como se conseguisse que elas dissessem
mais do que aparentemente dizem.
Isto tem a ver com um aspecto que gostaria de analisar. Todo o discurso de
Manuel Maria Carrilho ganha nitidez e energia pelo facto de ir criando no
leitor a
146
ideia de que o que diz dobrado por uma espessura existencial que escapa
dimenso da poltica. Este fazer poltica no horizonte voluntariamente
silenciado de um alm da poltica revela-se em mltiplos aspectos. Por
exemplo, logo de incio, Manuel Maria Carrilho justifica estas entrevistas no
mbito de um exerccio mais vasto (e antropologicamente estudado) que o
da arte da conversa. Neste plano, vai buscar a um livro de Theodore Zeldin,
historiador das grandes estruturas em que se equilibra o viver social, um
admirvel Elogio da Conversa (Gradiva): a conversa tem o poder de modificar
no s a nossa prpria maneira de ver o mundo, mas tambm o prprio
mundo. E depois de enunciar os vrios registos em que uma conversa
funciona (a persuaso, a manipulao, a convico), Carrilho acrescenta:
Essa singular forma de conversa que a solido.
Segundo exemplo: Carrilho sabe como os seus adversrios, mais por inveja do
que por outra coisa (mas noutros mesmo por outra coisa), o criticam pela
permanente exposio na imprensa, e em particular na imprensa mundana.
Pessoalmente, isso no me incomoda nada. Todos ns criamos uma imagem
pblica, que em parte controlamos e em parte no (mas nem sempre mais
controlado o que julgamos controlar). Aqueles que recusam uma imagem
pblica (e h os obstinados trabalhadores desses retratos a negro) s por iluso
podem pensar que no constrem uma imagem de recusa de uma imagem. E
s uma imensa candura levar a supor que recusar o poder entrar num
espao de impoder sem reservas: o espao de impoder
147
uma outra forma de poder. Pela simples razo de que h palavras que no
tm reverso: no existe o no-comportamento, a no-imagem ou o no-poder.
Mas, sabendo isso tudo, Manuel Maria Carrilho escolhe a mais desafiadora
das argumentaes: vai buscar a um romance de Kundera uma formulao
fascinante: A nossa prpria imagem para ns o maior dos mistrios.
por tudo isto que Manuel Maria Carrilho tem em poltica uma posio muito
especfica: h nele um antes da poltica que parece garantir um depois da
poltica, e da se pode pensar que o agora da poltica tem uma contingncia
que o torna mais vulnervel, mais livre e mais certeiro. Este livro uma nova
pea para o entendimento sempre em aberto do processo.
148
18
A alma e o holofote
Novo ciclo? sob este lema que um conjunto de personalidades ligadas (ou
prximas) ao PS resolveu apresentar algumas reflexes que apontam para o
que, no subttulo, designam como uma poltica do futuro. O resultado um
pequeno mas estimulante livro, lanado pela Editorial Notcias (que continua a
apostar em verdadeiros tiros editoriais).
Qual o mbito desta expresso? Uns iro lig-la - inevitvel - s
circunstncias mais imediatas, e at realizao do Congresso do Partido
Socialista. neste sentido que podemos ler a afirmao (num contexto, alis,
fortemente crtico) de que o primeiro ano da segunda legislatura (...)
constituiu uma falsa partida para um novo ciclo. Outros, como Joo de
Almeida Santos ou Guilherme dOliveira Martins, preferem enveredar por
uma dimenso mais ampla e global, e mesmo apelar para a referncia
prestigiante de Vio relativamente aos corsi e recorsi de uma histria que
nunca avana linearmente e com uma cadncia regular.
149
De qualquer modo, devemos sublinhar de entrada que este livro constitui um
conjunto de textos de teor e ndole muito varivel: para alm de reflexes de
fundo, como aquela que, com a sua habitual capacidade de informao e de
reflexo, nos prope Guilherme dOliveira Martins, encontramos textos de
recorte mais ideolgico ou cultural (como os de Conde Rodrigues e Leonel
Moura), outros voltados para o desenvolvimento de uma ideia forte ( o caso
de Mariano Gago ou de Joo de Almeida Santos), outros marcados por uma
experincia governativa e/ou parlamentar (como sucede com Alberto Martins
ou Maria de Belm Roseira). Refira-se, no entanto, que todos eles tm de um
modo explcito, ou por contraste bvio entre o que dizem e a realidade, uma
dimenso fortemente crtica. E nesse plano do diagnstico crtico h quatro
traos que aparecem como recorrentes: necessidade de um reforo claro da
dimenso poltica, com tudo o que isso implica (como se nos ltimos tempos
se tivesse vivido mais em termos de administrao de crises do que de
conduo poltica da governao); valorizao da dimenso estratgica a
longo prazo em relao s piruetas e fogos-de-artifcio a curto prazo (o que,
alis, decorre da alnea anterior); valorizao da componente voluntarista
contra a iluso de agradar a todos e de satisfazer todos; crtica implacvel do
universo meditico, onde os dirigentes polticos perdem a alma por amor do
holofote (rea onde h coisas que no dependem do Governo, e outras que
dele dependem: mas impossvel no reconhecer que, naquelas que dele
150
dependem, o panorama ainda est longe de ser famoso e a desorientao
persiste em proliferar).
Demos dois exemplos. Mariano Gago (que, sendo um dos melhores ministros
dos Governos socialistas, soube ultrapassar sem pnico a fase inicial de
sondagens que o desconheciam) defende, de um modo que s frio na
aparncia, uma tica do estudo e do trabalho contra o fatalismo preguioso
de boa conscincia. verdade que em Portugal se trabalha pouco e mal, e
sem grandes competncias profissionais, e com escasso desejo de valorizao
profissional. Mas dentro desta tica far sentido o facilitismo reiterado
das pontes que reduzem a metade as semanas de trabalho? No. Mas para as
eliminar seria necessrio conversar de olhos nos olhos com os Portugueses, e
no por observaes laterais para jornalistas ou em tiradas brilhantes na
Assembleia da Repblica.
Segundo exemplo. Seria fcil explicar a realidade aos Portugueses: nas actuais
circunstncias de inflao, o aumento (em teoria, justo) dos vencimentos nas
negociaes salariais iria criar o que, em circunstncias idnticas, Michel
Rocard chamava uma moeda de macaco: tendo-se a iluso de que se ficava
a ganhar mais, ficava-se a ganhar menos. Mas para aceitar isto seria necessrio
haver confiana na equipa econmica - o que, no estou a dizer uma novidade,
manifestamente no existe.
Os textos aqui reunidos tm ambies muito diversas. Alguns parecem ter sido
redigidos apressadamente, apenas para satisfazer um compromisso. Da a
minha desiluso (confesso-o, tanto mais que se trata
151
de pessoa que muito admiro) com a contribuio de Alberto Martins, que fica
muito no plano das generalidades quando, como se pode comprovar pelas
restantes intervenes (em particular, a de Carlos Zorrinho, bastante mais
tcnica e pertinente), se trata de uma rea absolutamente decisiva (no apenas
no interface com o pblico, mas em relao a toda a prtica governativa). Joo
de Almeida Santos d-nos, pelo contrrio, pginas altamente interessantes de
um trabalho que tem vindo a desenvolver. Destacaria sobretudo um aspecto do
seu ensaio: o modo como mostra que as tecnologias da informao e
comunicao foram retirando territrio e dimenso espacial s comunicaes
entre os homens, desligando-se progressivamente da base comunitria. Que
resulta daqui? O que Joo de Almeida Santos designa como uma
descomunitarizao da comunicao, e neste ponto surge uma ideia que me
parece excelente: que uma das principais formas de contrariar esta tendncia
atravs de uma poltica da cidade, criando no interior desta espaos com valor
de uso, e reabilitando a dimenso convivial da proximidade: a cidade feita de
bairros e praas com mltiplas formas culturais e existenciais de uso. Parece-
me, contudo, que Joo de Almeida Santos, acentuando talvez em excesso o
determinismo tecnolgico, no pe em relevo os pontos de bifurcao onde
incide a dimenso poltica das novas tecnologias (o que surge, por exemplo,
com vocabulrios distintos, nos livros de Castells e de Toni Negri e Michael
Hardt, oportunamente convocados por Guilherme dOliveira Martins).
152
Em relao a um interessante contributo de Conde Rodrigues, intitulado (direi
corajosamente?) Ser de Esquerda, creio que se verifica um efeito oposto.
Conde Rodrigues lembra uma frase (infeliz) de Tony Blair: No h uma
gesto econmica de direita ou de esquerda, mas boa ou m gesto
econmica. Frase que poderamos corrigir para pode haver uma boa ou uma
m gesto econmica de direita e pode haver uma boa ou uma m gesto
econmica de esquerda - vejam-se neste ponto as duas magnficas entrevistas
dadas ao Pblico e Viso por Vasco Vieira de Almeida. Mas Conde
Rodrigues, pretendendo salvar Tony Blair, acaba por separar em excesso a
economia da dimenso social e poltica - como se a economia fosse neutra.
Ora, como lembra Guilherme dOliveira Martins, a economia poltica que
nos interessa, porque s esta permite, atravs de mecanismos econmicos de
regulao (veja-se neste plano o recente Elie Cohen, LOrdre conomique
Mondial - Essai sur les Autorits de Rgulation, Fayard, 2001), que a
economia de mercado se no transforme em sociedade de mercado, e que se
no aceite o contgio que nos conduziria a ver o conjunto dos valores sociais
como valores monetrios e o conjunto das relaes sociais como relaes
mercantis - e encontraremos hoje uma melhor definio para uma poltica
socialista?
Ora, se verdade que Conde Rodrigues pretende deixar ao mercado o lugar do
econmico, e colocar a poltica na defesa da liberdade e no retorno aos valores
que asseguram a coeso social, acentua pouco, em minha opinio, como
preciso tambm ver esta diviso
153
de tarefas em termos de luta entre uma lgica de mercado que tende a dominar
tudo e uma defesa da liberdade e dos valores contra a lgica do mercado.
aqui que se torna necessrio ver que os mercados no esto separados de uma
ordem social - eles resultam de uma construo social, porque esto embutidos
em estruturas sociais, como amplamente tem vindo a demonstrar esse
fundamental socilogo contemporneo que Mark Granovetter (veja-se Mark
Granovetter, Le March Autrement, Descle de Brouwer, 2000).
Trata-se de um livro extremamente oportuno. Mas, ao mesmo tempo,
extremamente lacunar: h inmeras dimenses (relativas economia, ao
trabalho, ecologia, cultura, sade, justia, etc.) que esto ausentes. Da
a pergunta: se o ndice foi feito em funo das pessoas, que razes polticas
reuniram estas pessoas?
154
19
A via sinuosa
1. O livro de Anthony Giddens, publicado pela Editorial Presena, uma
espcie de resumo pedaggico, para uso de polticos apressados, das principais
teses do autor, j sistematizadas de um modo mais desenvolvido em Para
alm da Esquerda e da Direita (Celta). Isto no impedir que o seu xito
esteja garantido, uma vez que o ttulo assume plenamente a frmula mgica
que aparece associada governao de Tony Blair: para uma terceira via.
Ningum ignora hoje que a expresso se tornou algo incmoda. No me refiro
ao seu contedo - que discutvel, mas no deve ser pura e simplesmente
escamoteado sem o benefcio de uma leitura atenta. Falo sobretudo de outra
coisa, que a inevitvel eroso de sentido que ocorre quando uma frmula
entra em circulao mundana (digamos: vai pelo mundo) e se torna objecto de
mltiplas apropriaes e repdios, de tal modo que o seu simples uso parece
sempre um piscar de olhos algo leviano em direco a sentidos sub-reptcios
ou dissimulados.
155
No caso portugus, a expresso at acentuadamente inoportuna, e por duas
razes principais. Por um lado, porque a via escolhida por Antnio Guterres
foi desde o incio uma clara escolha de uma terceira via. Mas - e chegamos
segunda razo - essa escolha s era estrategicamente eficaz se no utilizasse
(ou conseguisse adiar para o mais tarde possvel) uma frmula desse teor. Da
que a referncia a Blair fosse claramente enxotada, a no ser em sectores
intelectualmente significativos, mas politicamente discretos.
2. Para alguns que so mais desatentos, ou que apenas se interessam pela
polpa poltica dos textos, a questo Giddens poder ser arrumada em termos
expeditivos - qualificando-o sobranceiramente de universitrio convertido em
consultor de Tony Blair. Mas convm ter em conta pelo menos duas coisas. A
primeira que este livro contm algumas discretas advertncias em relao a
Tony Blair: A vitria esmagadora do Novo Trabalhismo resultou de uma
campanha muito activa e profissionalizada, em que foram utilizadas as novas
tecnologias de informao desenvolvidas nos EUA. O novo Partido
Trabalhista geralmente considerado como dependente de polticas orientadas
para os meios de informao e proponente de um socialismo feito por
medida. Imagem pessoal, posies simblicas, frases sonantes, truques
visuais, tudo mais importante do que os assuntos, opinies, projectos,
cumprimento das promessas eleitorais. Contudo, um dos preceitos da
publicidade bem sucedida diz-nos que s a imagem no chega. Se no houver
156
mais nada por detrs, o pblico depressa se habitua a olhar para l da fachada.
Se tudo o que o novo Partido Trabalhista tem para oferecer for a habilidade
para utilizar os meios de comunicao, ter uma permanncia curta no palco e
ver limitada a sua contribuio para a renovao da social-democracia.
A segunda coisa a ter em conta que Anthony Giddens no nasceu ontem.
um autor de uma obra impressionante, que constitui uma das contribuies
mais conhecidas da sociologia contempornea (juntamente com Bourdieu ou
Habermas). Inicialmente publicado pela prpria Presena, viu recentemente
alguns dos seus livros tornarem-se famosos a partir da publicao de As
Consequncias da Modernidade, Modernidade e Identidade Pessoal e
Transformaes da Intimidade- Sexualidade, Amor e Erotismo nas Sociedades
Modernas (todos editados entre ns pela Celta). Mas gostaria ainda de
salientar o volume colectivo intitulado Reflexive Modernization - Politics,
Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order (Polity Press, 1994),
porque esta obra, escrita em colaborao com Ulrich Beck e Scott Lash,
constitui uma excelente introduo a um elenco diversificado de perspectivas
ideolgicas e polticas sobre as sociedades contemporneas. Nela vemos que
Ulrich Beck, um dos mais famosos nomes da sociologia alem contempornea
(infelizmente ainda no descoberto entre ns), acentua certa radicalidade
poltica quer no reforo da dimenso ecolgica, quer na promoo das
polticas da vida (tudo aquilo a que em Portugal a direita mais reaccionria
chama a regulamentao do
157
sexo - veja-se o artigo de Joo Csar das Neves no Dirio de Notcias de 15
de Maro de 2001), dando uma dimenso menos tranquila noo de risco.
Mas Beck, que Giddens cita, est bastante presente, em formas mais matizadas
no discurso do socilogo ingls. Quanto a Lash, que acentua sobretudo os
aspectos estticos e culturais do mundo contemporneo, no parece marcar
muito Giddens - que neste seu livro revela um soberano desinteresse pelas
questes culturais (mesmo em sentido amplo).
De qualquer modo, o pensamento poltico de Giddens profundamente
marcado por trs ideias fortes da sua obra mais recente: a definio da
modernidade como reflexividade (num sentido diferente de Beck), o
protagonismo dado noo de risco (que no fundo marca, para o bem e
para o mal, tudo o que Giddens escreve sobre a previdncia social), a
convico de que preciso uma espcie de dialctica entre a tradio que
algum conservadorismo resguarda e a inovao (Giddens defende que
avancemos no sentido de uma sociedade ps-tradicional), e, por fim, a
concepo estrutural das sociedades modernas como marcadas por uma
radical reformulao das relaes espao-tempo (o que sustenta o discurso
algo inconclusivo de Giddens sobre a globalizao).
3. Grande parte das propostas de Giddens parecem de bom senso e podero
fazer parte sem reservas de um programa de esquerda hoje. certo que se
trata de um programa que, para sensibilidades mais continentais, um pouco
bao e desmotivador (mesmo
158
que Giddens tenha o grande mrito de acentuar a dimenso ofensiva para a
social-democracia). Talvez o manifesto desinteresse pelas questes de cultura
e comunicao contribua para o tom algo mortio do quadro traado.
Contudo, no plano da crtica ao Estado-Providncia (que Giddens procura
mostrar que no faz parte da memria inquestionvel da social-democracia),
Giddens adopta com excessiva facilidade o ponto de vista liberal para depois o
matizar em termos que no chegam a ser inteiramente claros. Ns percebemos
o que ele apresenta como o risco moral: Existe risco moral quando a
pessoa usa a proteco que o seguro lhe d para alterar o comportamento,
redefinindo desse modo o risco contra o qual est segura. Donde, desde que
sejam utilizados como defesa activa em relao ao mercado de trabalho, os
subsdios destinados a combater as consequncias da falta de trabalho podem,
na realidade, produzir desemprego. O dilema que quanto mais elevados
forem os subsdios, maiores sero as hipteses de risco moral, bem como de
fraude. E por isso se a reforma da segurana social no fcil de conseguir,
isso resulta precisamente da fora dos interesses que o sistema criou.
Na medida em que quase todos viram sua volta situaes de desemprego
com dramticos aspectos econmicos e psicolgicos, podemos ter receio de
que a ideia demasiado evidente de que o actual sistema est ao servio da
fora dos interesses que o sistema criou possa levar a um procedimento que
produza cegamente um sem-nmero de brutais situaes de injustia.
159
O que tanto mais possvel quanto se apela para uma responsabilidade dos
indivduos que pode tambm ser lida como a mobilizao de alguma esperteza
para vencer na vida, para a qual nem todos esto psicolgica e eticamente
preparados.
160
20
Muda mudando
J tanto se escreveu sobre o Big Brother que no faz grande sentido, nem
suscita movimentos empolgados, retomar a questo. Acrescenta-se a isto a
convico profunda de que qualquer coisa que se diga, mesmo de anlise ou
crtica, desde logo incorporada no processo de valorizao meditica do
produto.
Isso seria determinante se continussemos a pensar segundo o paradigma
atraco/repulsa, com todas as conotaes de ordem moral que um dispositivo
deste tipo acarreta. Mas as virtualidades desse paradigma, que correspondem
sobretudo s exigncias de uma certa higiene mental, no me parecem
evidentes em termos de interveno pblica.
Na verdade, o fenmeno Big Brother um fenmeno mundializado a que
ns dificilmente poderamos escapar. Em nome de uma excepo portuguesa?
Em nome daquela sageza do povo portugus que Emdio Rangel invocou
precipitadamente? Nestas coisas, os mecanismos esto estudados. Demos um
exemplo. Um grupo de amigos resolve organizar um jantar
161
segundo a regra de que a despesa ser dividida por todos. Se eu comear a ver
que a pessoa minha esquerda escolhe uma dispendiosa lagosta, lano-me
logo neste raciocnio: Ento eu vou pagar a lagosta dele, e ele s paga as
minhas pataniscas de bacalhau? E vai da peo tambm lagosta. Como cada
um dos membros do grupo faz isoladamente o mesmo raciocnio, o jantar
acaba por ficar carssimo - o que partida no era inteno de ningum. Mas
deveria eu ser o trouxa da histria - ou, para utilizar os termos de Rangel,
fazer de bom samaritano? Donde, estvamos desde o princpio condenados
ao Big Brother, ou, se preferirem, acorrentados aos Acorrentados (com as
estranhas conotaes destes nomes sinistros: primeiro, o totalitarismo, depois,
a escravatura).
Perante fenmenos deste tipo, habitual solicitarmos dois tipos de defesas.
Por um lado, a insinuao de que os mecanismos de sondagens esto
falseados. Nada de mais absurdo. O Big Brother foi, alis, a demonstrao
pblica de que as sondagens esto certas: bastava olhar para as capas das
revistas nas tabacarias para sabermos que o povo portugus (entidade mtica,
como se sabe, mas com expresso em termos de mdias e media) queria aquilo
que lhe estavam a dar.
O segundo mecanismo um pouco mais sofisticado: pretende-se que o povo
s quer aquilo porque no lhe so dadas alternativas. falso. O povo, sempre
que tem alternativas, quase sempre as secundariza ou marginaliza. Entre o
mtico Casablanca (mas mtico para quem?) e uma telenovela da TVI, o povo
escolher a telenovela.
162
por isso que, numa sequncia de textos altamente estimulantes, Joo Lopes
tem dito que as classes polticas (sobretudo de esquerda) mitificaram o povo, e
neste momento sentem-se desarmadas quando o povo aparece, tal qual , nos
ecrs da televiso. O que est aqui em causa simultaneamente duas coisas:
por um lado, a filosofia iluminista de base humanista que pressupe uma
progressiva educao do povo pelas luzes do conhecimento; por outro lado, a
ideologia de Maio 68, que deslocou as utopias polticas para a cena da cultura
e apostou claramente numa utopia cultural. Duas posies que hoje se
confrontam com uma evidncia chocante: o progresso em termos
educacionais, cientficos e culturais no nenhuma garantia de progresso em
termos morais; a democratizao da escola no nenhuma garantia em termos
culturais.
Bem pelo contrrio, aquilo a que assistimos hoje a um processo de
desculturalizao crescente (que alguns, mais generosos, pretendem que seja a
substituio de paradigmas de cultura literria por outros paradigmas, mas este
bl-bl no resiste a dois minutos de anlise), o que, no caso portugus, vem
sobrepor-se a uma situao de culturalizao balbuciante e pr-moderna, com
resultados finais que se aproximam de uma barbrie tecnolgica.
Em relao aos textos de Joo Lopes no Dirio de Notcias, gostaria de anotar
duas coisas: se dissermos, como ele faz, que o poder passou para os Z
Marias deste pas, devemos acrescentar que esse poder nada tem a ver com
o poder que a esquerda pretendia que
163
passasse para o povo. Os Z Marias deste pas tm o privilgio de ocupar um
poder que preenche o vazio de poder que caracteriza as sociedades
contemporneas (que so cada vez mais um processo sem sujeito). Em
segundo lugar, a utopia cultural realizou-se, mas com que preo? De facto, a
cultura domina o discurso contemporneo, s que a cultura que hoje
domina a cultura atravs da qual a economia nos domina, e domina o que
outrora era outra concepo da cultura. Nunca a economia foi to cultural (ou,
se preferirem, to imaterial) e nunca a cultura foi to transparentemente
economia. E que a cultura seja transparentemente a economia poupa-nos
ideologia. Da que Joo Lopes possa dizer que o Big Brother , na sua
violncia formal, um programa desconcertantemente transparente.
Aquilo que fundamental sublinharmos o seguinte: o Big Brother
apenas um sintoma mais ou menos agressivo de um processo
extraordinariamente amplo. Condenar ou ignorar o Big Brother no adianta
nada. O processo desenvolve-se na mesma, e ns perdemos a oportunidade de
o analisar mais de perto.
Aquilo a que estamos assistir , pois, a um processo gigantesco de mutao no
modo de produo das subjectividades, que passa por uma mudana profunda
das funes psicolgicas no seu embrechamento com a dinmica dos
processos tecnolgicos, por uma nova e devastadora economia da ateno, por
uma mecanizao acelerada dos estmulos sensoriais, por um desnvel cada
vez mais acentuado entre a produo/recepo discursiva e as outras formas
de recepo da
164
informao e por uma perda das instncias reflexivas e dos lugares para o
exerccio do esprito crtico - no que se prova que as ideias democrticas,
quando enlouquecem e entram em roda livre, se radicalizam numa perda
alargada da qualidade da democracia.
Ningum melhor do que o sucessor de McLuhan, e estou a falar do canadiano
Derrick de Kerkhove, para analisar aquilo que hoje um domnio fundamental
do conhecimento: a psicotecnologia, isto , as formas como as diversas
funes psicolgicas se alteram com a evoluo tecnolgica (na continuidade
da ideia de uma psicologia histrica que encontramos em Ignace Meyerson ou
Jean-Pierre Vernant). Um livro de Kerkhove est traduzido em portugus, A
Pele da Cultura, na Relgio dgua, em coleco dirigida pelo sempre atento
Bragana de Miranda. Mas podemos indicar os anteriores, como La
Civilisation Vido-Chrtienne ou Brainframes, e o muito mais recente
Connected Intelligence, publicado, em 97, pela Sommerville House
Publishing. Se A Pele da Cultura considerava as metamorfoses induzidas
pelos vrios media, Connected Intelligence prope uma abordagem transversal
que analisa os novos hbitos cognitivos que resultam da sua convergncia:
interactividade, hipertextualidade, conectividade.
H um segundo aspecto a ter em conta - que a vertente econmica desta
evoluo. No final do sculo xix, figuras como Thomas Edison defenderam
que as formas balbuciantes de uma cultura de massas (da fotografia ao cinema
e gravao sonora) deviam ser consideradas como um nico territrio
abstracto
165
onde circulava uma nica entidade: a energia. Justificavam-se assim modelos
econmicos de integrao vertical. Como escreve Giovanni Arrighi, em The
Long Twentieth Century, em 1880, medida que grandes e regulares fluxos
de recursos, gerados por um novo tipo de concentrao das actividades
empresariais, foram reinvestidos na criao de hierarquias de executivos de
nveis alto e mdio, especializados no monitoramento e regulao dos
mercados e dos processos de trabalho, as empresas verticalmente integradas
passaram a desfrutar de vantagens competitivas decisivas em relao s
empresas formadas por uma s unidade ou mesmo s empresas de unidades
mltiplas, menos especializadas. Estas vantagens traduziram-se num
crescimento e disseminao espantosamente rpidos da nova estrutura
organizacional. Hoje assistimos ao desenvolvimento gigantesco desses
modelos, a partir do processo tecnolgico da digitalizao, que permite
colocar no lugar da energia de Edison os contedos das novas
tecnologias. Isto autoriza que a cultura se expanda e entre na vertigem de
uma circulao sem fim, ao mesmo tempo que se transforma e se
desculturaliza aceleradamente.
166
21
A melhor promessa do sculo
Nem sempre fcil conversar com os homens polticos. Sejam eles militantes,
sejam eles responsveis inseridos no espao da chamada governabilidade.
Os militantes tm uma geometria muito especial: o mundo avalia-se no modo
como os outros esto mais ou menos prximos das suas posies. E essas
posies, quando mudam, sentem-se inteiramente autorizadas pelo prprio
lugar onde se colocam para mudarem, mas enquanto no mudam so
definitivamente imutveis. O militante mede sempre os outros em funo da
verdade que possui e essa verdade tem uma evidncia partilhada que a torna
inexpugnvel. Por seu turno, o governante parece um zombie para quem a
realidade se esvaiu e tudo se converteu num feixe de sinais que apontam para
a admirvel correco do seu trabalho. Ser ministro ou responsvel mximo de
um partido cria uma espcie de autismo em que a realidade se auto-selecciona
permanentemente de modo a confirmar do exterior o que se pretende que ela
confirme: tudo bate certo at ao momento em que tudo
167
falha, e nessa altura j tarde. Todos os sinais negativos so cuidadosamente
eliminados, porque eles exigiriam um esforo de assimilao que o esforo
imenso imposto pela cadncia do quotidiano j no suporta. Se trao
caricaturalmente estas duas figuras da nossa vida poltica (mas no creio que
nestas matrias sejamos mais originais do que os outros), porque gostaria de
tornar claro que na minha relao com Miguel Portas, quer em termos de
longas e bem-humoradas conversas, quer na qualidade de leitor atento dos
seus textos, encontrei sempre algum que se distinguia muito decididamente
da figura do militante ou do homem poltico tpico da governao. , em
primeiro lugar, uma questo de tempo - o Miguel gosta de pensar, gosta de
reflectir, de elaborar teorias, de estabelecer diagnsticos (nesse plano pertence
linhagem daqueles para quem a poltica implica sempre um diagrama de
foras e uma frmula capaz de definir oportunidades), e nunca considera que
essa espcie de pausa seja uma perda de tempo ou um devaneio de intelectual.
Em segundo lugar, existe nesse tempo disponvel uma margem de ironia (que
nos momentos mais cidos pode tornar-se cnica, mas muito raramente) que
lhe permite ver sempre o outro lado das coisas. Se a ironia se define como a
conscincia de uma pluralidade, nunca vi em Miguel Portas qualquer reserva
em relao a essa conscincia ltima da complexidade das coisas que passa
pela interpretao forosamente plural do mundo. Que isso possa por vezes ser
trgico - quem duvida? Que suscite de quando em quando um riso repassado
de dvidas metafsicas
168
- ningum melhor do que o Miguel para gostar de rir nos momentos mais
difceis.
A imagem de Miguel Portas est obviamente associada ao Bloco de Esquerda
de que ele um dos mais activos promotores e um dos rostos mais
conhecidos. Mas, no quadro do Bloco, apesar da sua relao passada com o
PCP (e o Miguel assume esse passado at ao 25 de Novembro com uma
emoo nunca desmentida e que vai para alm de uma anlise crtica), o
Miguel assume-se como uma personalidade jovem, levemente mundana,
voltada para a juventude que gosta de curtir e conviver com os intelectuais
burgueses que aderem com alguma sofisticao a ideias mais ou menos
revolucionrias. Mas este toque de irreverncia chique confundir-se-ia com os
delrios maostas e a persistncia dessa estranha corrente ideolgica que se une
e desune sob a designao de trotskismo. E seria na dependncia algo
neurtica e obsessiva desse passado que teramos de encontrar a chave do
Bloco de Esquerda. De certo modo, os bloquistas so sistematicamente
empurrados para a suposta maldio das suas origens e nunca se lhes concede
o benefcio de eles estarem neste momento em plena trajectria de
transformao. certo que nos momentos de crise internacional surgem neles
por vezes esquemas de comportamento que obedecem a mecanismos
ideolgicos pouco pertinentes e claramente marcados pela memria
comunista mais ortodoxa. Mas tambm verdade que, quando se trata de
pensar problemas concretos que se colocam em Portugal (por exemplo, as
grandes questes com que se confronta uma cidade
169
como Lisboa), muitas vezes no Bloco que a discusso mais aberta,
desinibida e inovadora. Torna-se assim negativo que do lado do PS se
considere muitas vezes, mais por medo da concorrncia do que que por
lucidez analtica, que o Bloco de Esquerda apenas um fenmeno de moda.
Se alguma coisa se pode aprender dos recentes resultados das eleies
francesas, que os partidos da rea do centro com imagem de
governabilidade (na esquerda: os partidos socialistas e sociais-democratas)
esto em plena crise de legitimidade, dada a crescente distncia entre o plano
dos governantes e o plano dos governados. Esse fenmeno, que tem vindo a
traduzir-se no aumento da absteno, tornou-se agora mais visvel atravs da
disperso de votos em partidos que partida parecem marginais em relao
rea do poder. Tudo isto so razes srias para que o PS no considere que se
trata de meros fenmenos superficiais a no merecerem considerao e debate.
Mas devo dizer que, no dilogo regular com os principais responsveis do
Bloco de Esquerda, a personalidade de Miguel Portas tem sido para mim
particularmente acolhedora e estimulante. E o conjunto de textos aqui
reunidos mostra diversas coisas que confirmam esta minha impresso: em
primeiro lugar, que o Miguel mantm todas as suas qualidades de jornalista
extremamente atento ao mundo onde vive e aos pormenores que lhe do
inteligibilidade e sentido; em segundo lugar, que, partindo daquele velho
princpio de que as viagens formam a juventude, o Miguel um viajante
eternamente jovem e obstinado, que gosta de
170
encontrar realidades diferentes, surpreendentes e contrastantes; em terceiro
lugar, que, apesar de uma lucidez feroz e muitas vezes mortfera, o Miguel
mantm uma atitude de romantismo assumido, quer na escolha dos temas (que
por vezes o conduzem a territrios dos afectos que esto habitualmente fora do
discurso pblico dos polticos), quer na defesa corajosa daquilo que ele poder
definir como as suas causas; e, por fim, que estamos perante algum que
no somente tem prazer em escrever, como revela a partir do manifesto prazer
da escrita uma sensibilidade esttica que o protege sempre de anquilosamentos
ou fossilizaes. So raros os homens polticos portugueses que se mostram
to desenvoltos e empolgados na relao com as palavras - e este trao deve
ser amplamente sublinhado, porque diz muito.
No escondo que tenho algumas divergncias em relao a posies polticas
do Miguel Portas. Pela minha parte, sinto hoje o espao do Bloco de Esquerda
como um verdadeiro laboratrio terico e prtico que faz sentido na hiptese
de vir a ser uma pea fundamental de uma esquerda plural. No sei muito bem
como se poder processar o dilogo com o PCP - embora entenda que, por
motivos at pessoais, a questo domine parte considervel da reflexo de
Miguel Portas, suscitando mesmo anlises de uma dureza impiedosa. E
suspeito ainda de que no interior do Bloco de Esquerda haja os que anseiam
por uma esquerda plural e os que sonham mais pragmaticamente por poder vir
a ocupar a mdio prazo o lugar do PS. Da as inquietaes que sempre me
suscitam os debates
171
sobre onde comea e onde acaba a verdadeira esquerda. De qualquer forma,
a minha aposta tem dois argumentos de base: o primeiro a de que o PS
atingiu neste momento o que de mais esquerda pode nele existir na presente
conjuntura; o segundo de que no haver no horizonte provvel das nossas
vidas qualquer alternativa direita no poder que no passe pelo PS. Da a
concluso de que urgente trabalhar com o PS ou no PS, tendo em conta que
as duas opes esto vinculadas.
Reconheo que no exactamente isto que Miguel Portas escreve numa
crnica escrita em Maro de 2001, mas anda l perto. Podemos a ler: A
aproximao entre aquilo que se designa como centro-esquerda e o universo
plural do que mora sua esquerda h-de ser necessria para que o rotativismo
ao centro no continue a corroer a poltica portuguesa. Mas at l no h
atalhos. A aproximao de uma esquerda programaticamente fragilizada e
eleitoralmente debilitada ao mundo poltico da governabilidade no conduz
a uma viragem esquerda, mas absoro da esquerda pelo centro. Pelo
contrrio, uma esquerda plural forte, programaticamente preparada para
assumir responsabilidades, pode provocar uma deslocao geral do pas para a
esquerda. Esta esquerda de alternativa ainda no existe e para ela que vale a
pena trabalhar. No PS, na CDU, no BE, e fora de qualquer destas formaes,
existem energias para convergir, suprir debilidades de projecto, de ausncia de
caminho em comum e dificuldades de renovao geracional e cultural.
Aproximemos estas diferenas e encontremos para elas um lugar
172
de encontro, o da oposio. Reconstruindo os laos entre a poltica e a vida,
esta alternativa pode crescer. Seduzida pelos gabinetes, ser engolida sem
honra nem glria. Ponham-se as reservas que se quiserem a certas
formulaes, penso que o essencial est aqui e que necessrio partir de
evidncias deste tipo para conseguir chegar a algo de partilhvel.
Que um homem poltico possa escrever que a festa de Iemanj, no Rio de
Janeiro, continuar a ser o mais longo dos dias brasileiros. Um beijo
apaixonado ser sempre uma eternidade. E o passado, a paisagem inventada, o
sonho materializado, integrar sempre o futuro, a no ser que sejamos
suficientemente imbecis para acabarmos com tudo. Por outras palavras, entre
o pouco que sabemos, sabemos que a condio humana ser sempre mais
complexa e mais humana do que as leituras que delas faamos. Enquanto
existirmos, a hiptese existe. Do mesmo modo, a globalizao no uma
auto-estrada, mas uma pluralidade de caminhos. Globais so as finanas; mas,
porque o so, no querem global a circulao das pessoas. Global e
revolucionria a moderna cadeia de produo; mas a ordem que a sustenta
no dispensa o trabalho infantil, ou sem horrios, ou sem direitos. Globais so
os bens de consumo individuais, mas o ar que respiramos jamais permitir a
cada chins desfrutar de quatro rodas. Global a pujante indstria cultural
americana, da coca-cola ao jazz, passando pelo cinema; mas, porque o , a
vitria do multiculturalismo uma das certezas que temos. Entre o pouco que
sabemos, sabemos
173
que a nossa hiptese de futuro j aqui mora. S preciso descobri-la e
associ-la.
S, mas no pouco. A grande questo que hoje se pe saber se a esquerda
se deve deslocar para ir ao encontro das expectativas populares, correndo o
risco de acabar a defender o contrrio do que sempre defendeu, ou deve
trabalhar junto desses sectores populares para tentar justificar e enraizar a
justeza dos seus valores. No se pode trabalhar politicamente no alheamento
do que pensam as pessoas, mas no se pode aceitar que o simples facto de elas
pensarem assim constitua uma legitimidade em si mesma. Contudo, o pior
seria no conseguir identificar onde se situam hoje os verdadeiros conflitos. A
pura enunciao das reas sinistradas (da biotica imigrao ou segurana,
passando pelas novas formas de marginalizao e de pobreza ou a degradao
do imaginrio das indstrias culturais) manifestamente insuficiente. So
precisos diagnsticos extremamente precisos para entender onde a linha de
demarcao se traa.
Miguel Portas surpreender alguns ao dizer que as duas grandes aquisies do
sculo xx so a democracia poltica e a exploso das redes de comunicao.
Contudo, precisamente a que ele situa a linha de partida para o caminho que
nos prope: o da hiptese de um futuro e de uma esquerda capaz de lutar por
esse futuro. A hiptese difcil, mas nossa. No sabemos como? Pois no.
O caminho tem de se fazer de novo. Mas deu para aprender alguma coisa. A
democracia no para se deitar fora, para valer como cidadania alargada. O
progresso no sacrossanto,
174
a qualidade conta. A hegemonia no uma cultura da unilateralidade, s pode
ser uma libertao da privacidade. Sabemos pouco? natural, h muito para
descobrir e essa a melhor promessa do sculo.
S com um homem poltico que diz que sabemos pouco que estamos em
condies de aprender. Por isso mesmo vale a pena ler este livro. No final,
talvez continuemos a saber o pouco que sabamos, mas tommos conscincia
da extenso do que nos falta saber. meio caminho andado. O outro meio
depende cada vez mais de ns.
175
22
Carta aberta a Miguel Serras Pereira
Miguel
Como tu dizes, so muitos anos j. Alguma coisa esquecemos, alguma coisa
aprendemos, alguma coisa construmos em comum. A verdade que, com uma
persistncia, uma ateno e uma lucidez surpreendentes, tu me continuas a ler
sempre com uma disponibilidade (para empregar uma palavra tua) ou
generosidade, que, texto aps texto, me compensa e deslumbra. Julgo que,
provavelmente com a excepo amiga de Eduardo Loureno, ningum ter
seguido to de perto tudo o que eu escrevi (e, evidentemente, tudo o que no
escrevi). Mas o que me espanta que atravessas por dentro, seguindo o fio
das metforas, das aluses dispersas, daquilo que para mim prprio aparece
ainda balbuciante ou cambaleante.
Sem dar disso testemunho explcito (o que lamento), tambm eu te leio - no
apenas naquilo que escreves segundo uma pulso poltica constante e
aparentemente inabalvel, mas tambm naquilo que
177
produzes em termos de poesia e (embora aqui as coisas sejam obviamente
diferentes) como tradutor excelente que sempre foste.
Aprecio ainda em ti as qualidades que no possuo: uma coerncia
irrepreensvel (que tem um preo cvico, mas tambm algumas implicaes
tericas, como adiante tentarei explicar), um sentido permanente da
marginalidade discreta e uma convico to profunda quanto obstinada.
No livro que neste momento publicas nas edies Fenda, com o ttulo (um
pouco bao para meu gosto, demasiado notarial) de Exerccios de Cidadania
Algumas Propostas e Leituras, encontramos no s um ncleo
acentuadamente inventivo de propostas polticas, como um conjunto de
leituras exemplares, tudo isto envolvido na rede de um discurso de extrema
densidade conceptual e potica. Livros como este impem-se-nos logo nas
primeiras pginas: percebemos de imediato que h ali algum que no faz
profisso do pensar, mas vive disso: do pensar-em-palavras-e-afectos.
Sou tanto mais sensvel a esta tua atitude quanto eu prprio tenho vindo a
tentar reduzir o meu discurso quilo que nele julgo ser essencial, que o
retorno incessante a algumas intuies fundadoras que, num dia j longnquo,
designei como manchas de obsesses a trabalhar (numa frmula que tinha a
ajuda de Herberto Helder). Abandono assim o que poderia ser o dispositivo
universitrio para encontrar uma subjectividade quase rasa de anonimato, que
nos melhores momentos poder ser apenas o resduo de uma voz
178
que fala como quem se explica diante daquela figura para a qual quer dar
testemunho de ddiva e paixo: exerccio de uma verdade em puro desamparo,
consciente de que, a partir de certa altura, s importa dar ao outro o mximo
de verdade possvel. O que deixa marcas no apenas no discurso, mas na
atmosfera - e quem te ler com a mesma generosidade que tu tens sabe que
assim .
Tu voltas incansavelmente a um pensador, Cornelius Castoriadis, a quem foste
buscar uma intuio que lhe fundamental: a de que a sociedade autnoma
autoproduo de si mesma a partir de um nada que se configura como sem-
fundo e em direco a um horizonte de sentido que sempre uma fixao
suspensa e adiada. Sejam quais forem as voltas e reviravoltas que ds, tu vais
sempre l parar - e de tal forma estamos certos disso que, em dada altura, so
as voltas e reviravoltas que antecedem um tal desenlace que se tornam o mais
interessante.
Acontece que Cornelius Castoriadis no me um pensador simptico. Que
quer isto dizer? Ao certo no sei. Talvez o melhor seja afirmar que sempre que
me aproximei dele achei que, para alm daquilo que j sabia que ele me iria
dizer (e que tu retomas de um modo infinitamente mais tocante), no resto
aprendia pouco e me irritava muito. Aprendia pouco porque as suas descries
mais ou menos apocalpticas da sociedade contempornea me parecem mais
marcadas pela virtude pouco expansiva da mera indignao do que pela
capacidade de produzir conceitos que permitam uma melhor apreenso das
articulaes do real. E irritava-me
179
muito o tom de arrogncia permanente com que Castoriadis pretendia devastar
adversrios e concorrentes. Nesta medida, e apesar das advertncias s vezes
severas com que tu verberas a minha embirrao, troco toda a obra de
Castoriadis por uma pgina de Derrida, ou mesmo, suprema ignomnia para ti,
por uma pgina de Badiou. E isto sabendo que estes dois so at incompatveis
(um clebre congresso sobre Lacan deu disso a medida pblica), e que partilho
muito poucas das convices polticas de Badiou. Mas Badiou ou Rancire,
Jameson ou Rorty, Balibar ou Lyotard, ou mesmo Luhmann, Castels ou
Habermas, ajudam-me muito mais a pensar o mundo contemporneo do que o
moralismo prepotente que emerge de Castoriadis.
E, no entanto, eu ando muito perto de quase tudo o que tu dizes. To perto que
seria capaz de subscrever grande parte das tuas anlises. Mas tenho tambm a
sensao de que tudo isto tem pouco a ver com o mundo real e, no sendo
literatura mas poltica, ainda uma verso totalmente literria da poltica. Ora
eu possuo o gosto de passar tambm mais perto do concreto (mesmo que ele
apele de uma forma menos veemente para aquilo que deveria ser a mais pura
exigncia dos humanos), e para isso preciso de anlises mais polticas da
poltica. Mesmo que tu aches que nessas anlises mais polticas da poltica eu
corro o risco de compromissos e derrapagens que te parecem inaceitveis. O
que tu dizes est obviamente certo porque, no fundo, no busca confirmao
em nenhum real; apenas a formulao reiterada de um desejo.
indesmentvel
porque desde o princpio pressupe que a verdade no tem reverso.
Eu tenho o mau hbito de pensar pelos extremos. Tu, pelo contrrio, situas-te
serenamente no corao da tua prpria evidncia: nesse plano, tu ests certo, e
eu limito-me a deambular pelas vias mais pedregosas da incerteza. Mas a tua
certeza est um pouco dentro de uma redoma. As minhas dvidas itinerantes
levantam mais p, suscitam mais matria para pensar (embora tenham como
contraponto uma disperso no isenta de cedncias e mesmo programadas
contradies).
Tudo aquilo que tu dizes sobre a dimenso literria do real, sobre uma
literatura que no apenas literatura, sobre a produo do sentido ou sobre o
lugar impossvel de Deus, parece-me admiravelmente formulado (at porque
tu sabes como ningum impregnar poeticamente o teu discurso poltico). Mas
quando pretendes criar uma espcie de militncia do democrata libertrio, eu
no consigo seguir-te: vejo ainda como um efeito remanescente da poesia. Por
isso a tua solido poltica me parece total, embora apeles para a cumplicidade
de todos os sujeitos que supes intrinsecamente livres. Sou ainda demasiado
estruturalista para acreditar nesta liberdade dos homens em estado puro e para
poder aceitar sem reservas esta transparncia supostamente sublime de uma
sociedade que permanentemente se auto-institui.
Ser puro acreditar numa s coisa. Nesse aspecto tu bates-me aos pontos. E
isso explica alguns leves desentendimentos, que so mais de sensibilidade do
que de inteligncia das coisas. Tu perguntas-me por
181
que razo eu contraponho ao Eduardo Loureno, que afirma a exigncia de
uma cultura que deveria dar um sentido ao nosso destino, a exigncia de dar
um pouco sentido ao acaso da minha existncia. A diferena simples (e
reala-se na anlise recente que fiz ao livro Mitologia da Saudade): a que
vai da palavra acaso palavra destino. Por isso me apego ideia da
contingncia dos objectos. No indiferena dos objectos, mas contingncia. E
no penso que isso fique aqum da altura do investimento que a abertura da
questo do sentido institui. Aumenta apenas a nossa vulnerabilidade perante
o jogo imenso de tudo: e a comea o amor.
No sei se os democratas libertrios (como tu orgulhosamente te intitulas)
costumam falar no abismo iluminado da psique e no fluido da aco da
sociedade sobre si prpria. Em poca de identidades obstinadas ou de
esvaziamento subjectivos tu mantns uma alta crena em qualidades de que s
vezes os humanos so capazes. Tu dizes que, se s vezes so capazes, isso
significa que poderiam s-lo sempre. Eu, mais cptico, penso que, se s s
vezes so capazes, porque na maior parte das vezes no o so. E nada me
garante que venham a ser. Embora esteja certo de que, na mais improvvel das
circunstncias, haver, por segundos que seja, algum que para mim suportar
a iluso de que o acaso se pode transformar em destino.
182
ndice
Nota introdutria 7
1. O fio da modermidade 9
2. Novas configuraes da funo intelectual 27
3. Trs palavras 43
4. Comunicao e democracia 51
5. Lngua,vazio e democracia 61
6. Europa-espao ou Europa-potncia? 75
7. Ligaes perigosas 83
8. Imprio (1) 89
9. Imprio (2) 95
10. Cpticos e globalistas (1) 101
11. Cpticos e globalistas (2) 107
12. A planetarizao do homem da rua 113
13- A informacionalizao 119
14. Zonas negras 125
15. O comum dos homens 131
16. O man e a limalha 137
17. A fuga e a tanga 143
18. A alma e o holofote 149
19. A via sinuosa 155
20. Muda mudando 161
21. A melhor promessa do sculo 167
22. Carta aberta a Miguel Serras Pereira 177
Orelha da contracapa
Eduardo Prado Coelho nasceu em Lisboa, em 1944. Foi professor na Faculdade de Cincias Sociais e Humanas na
Universidade Nova de Lisboa. Doutorou-se em teoria da literatura. Em 1988 foi para Paris leccionar na Sorbonne-Paris 3.
Entre 1989 e 1998, foi conselheiro cultural na Embaixada de Portugal em Paris. Regressou a Portugal em 1998,
reiniciando a actividade docente na Universidade Nova de Lisboa. Tem ampla colaborao em jornais e revistas,
publicando uma crnica semanal sobre literatura no Pblico e um comentrio poltico dirio no mesmo jornal. autor de
uma vasta bibliografia universitria e ensastica. Em 1996 recebeu o Grande Prmio da Literatura Autobiogrfica e em
2004, o Grande Prmio de Crnica Joo Carreira Bom.
A modernidade feita de um movimento de emancipao e de uma ideia de
revoluo.(...) Todo o sculo XX viveu escuta desse caos rumoroso e ofegante que
vem da noite do mundo e que se transmite sobretudo nos momentos em que
encostamos o ouvido parede nocturna de um corpo desejado ou odiado. A
exiguidade do esprito perante a exuberncia dos corpos algo que atravessou este
sculo em todas as suas lutas e decepes, em todos os seus confrontos e gestos
radicais de emancipao. Da que se possa dizer que esse arco tenso que a
modernidade, suspenso da emancipao e da revoluo, tambm o arco que
sustenta a relao incendiada do corpo com a ideia de presente em que ele
S-ar putea să vă placă și
- 1000 Questões Comentadas de Provas e Concursos em Engenharia Civil - 2BDocument734 pagini1000 Questões Comentadas de Provas e Concursos em Engenharia Civil - 2BRafael Pavezi Joe100% (2)
- Planos - de - Saude - Nove Anos Após A Lei 9656-98Document83 paginiPlanos - de - Saude - Nove Anos Após A Lei 9656-98Germano Kruse JuniorÎncă nu există evaluări
- George LapassadeDocument25 paginiGeorge LapassadeCristiano Rios da Silva100% (1)
- COOPERATIVAS DE TRABALHO - Recolhimento de INSS Pelo ContratanteDocument2 paginiCOOPERATIVAS DE TRABALHO - Recolhimento de INSS Pelo ContratanteGermano Kruse JuniorÎncă nu există evaluări
- DD7Document167 paginiDD7Germano Kruse JuniorÎncă nu există evaluări
- 05 - DFurtadoMendonca - AjustePreco - IMPRESSODocument26 pagini05 - DFurtadoMendonca - AjustePreco - IMPRESSOGermano Kruse JuniorÎncă nu există evaluări
- Padronização Dos Sistemas de Informação - SaudeDocument29 paginiPadronização Dos Sistemas de Informação - SaudeGermano Kruse JuniorÎncă nu există evaluări
- Seguro Saúde No Brasil Dos Anos 90 - IMPRESSODocument200 paginiSeguro Saúde No Brasil Dos Anos 90 - IMPRESSOGermano Kruse JuniorÎncă nu există evaluări
- Semna MedicaDocument40 paginiSemna MedicaLopes LopesÎncă nu există evaluări
- PPC - Design e Expressão GráficaDocument130 paginiPPC - Design e Expressão GráficaAndre SalgadoÎncă nu există evaluări
- Normas Apresentação de Teses PDFDocument30 paginiNormas Apresentação de Teses PDFmftcosta84Încă nu există evaluări
- Ibfc 2016 Ebserh Assistente Social Hupest Ufsc GabaritoDocument15 paginiIbfc 2016 Ebserh Assistente Social Hupest Ufsc GabaritoMICHELINE LOUREIROÎncă nu există evaluări
- História Do Direito PortuguêsDocument47 paginiHistória Do Direito PortuguêsJoana Maria Diogo100% (1)
- Impacto Leiria7Document80 paginiImpacto Leiria7Paulo RodrigiesÎncă nu există evaluări
- Direitos Humanos - Questões em DebateDocument226 paginiDireitos Humanos - Questões em Debatemconcurso2014Încă nu există evaluări
- O Que Dizem As Publicações Sobre o PIBID No Encontro Nacional de Didática e Práticas de Ensino (ENDIPE) - Período 2008 A 2012Document15 paginiO Que Dizem As Publicações Sobre o PIBID No Encontro Nacional de Didática e Práticas de Ensino (ENDIPE) - Período 2008 A 2012Cami GimenesÎncă nu există evaluări
- Root Default - Groups.name - Manager 9932 33265 1 CeDocument510 paginiRoot Default - Groups.name - Manager 9932 33265 1 CeВиктория ВикториÎncă nu există evaluări
- Projeto Pedagógico de Curso - Direito PDFDocument294 paginiProjeto Pedagógico de Curso - Direito PDFClivison CésarÎncă nu există evaluări
- Projeto 2018Document6 paginiProjeto 2018Nazineide BritoÎncă nu există evaluări
- Igualdade CITE NET-3Document362 paginiIgualdade CITE NET-3Thais FelizÎncă nu există evaluări
- Modelo de Plano de AulaDocument5 paginiModelo de Plano de AulaThayanFonsecaPereiraÎncă nu există evaluări
- Anexo Resolução 57 - PGR - USOST.001.PGR.2021 - 2023. - Validado - SVSSPDocument184 paginiAnexo Resolução 57 - PGR - USOST.001.PGR.2021 - 2023. - Validado - SVSSPdiegoÎncă nu există evaluări
- Solenidade de Formatura 05022016 Discurso OradorDocument4 paginiSolenidade de Formatura 05022016 Discurso OradorJohny SalesÎncă nu există evaluări
- Reformas Na Educação Superior - de FHC A DilmaDocument18 paginiReformas Na Educação Superior - de FHC A DilmaJosielle SoaresÎncă nu există evaluări
- Anais ConfetecDocument379 paginiAnais ConfetecNina SnapeÎncă nu există evaluări
- Edital de Cadastramento - Ead - 2020 - Primeira ListaDocument28 paginiEdital de Cadastramento - Ead - 2020 - Primeira ListaKaio FreitasÎncă nu există evaluări
- Numero 8 Dezembro 2017 Art7Document21 paginiNumero 8 Dezembro 2017 Art7suÎncă nu există evaluări
- Montes Claros Na História Do SUS - A Escola Técnica de Saúde Da UnimontesDocument103 paginiMontes Claros Na História Do SUS - A Escola Técnica de Saúde Da UnimontesDelmar Vinícius Oliveira100% (1)
- Newsletter FCG Dezembro 2013Document36 paginiNewsletter FCG Dezembro 2013Miguel BanhaÎncă nu există evaluări
- Projeto Pedagogico Versão Final Ultima Correção1Document354 paginiProjeto Pedagogico Versão Final Ultima Correção1Angela TeixeiraÎncă nu există evaluări
- Antunes - O Ensino Da Literatura Hoje PDFDocument15 paginiAntunes - O Ensino Da Literatura Hoje PDFThiago MattosÎncă nu există evaluări
- Anais Congresso Da Família - UEMDocument222 paginiAnais Congresso Da Família - UEMRafaely Nogueira100% (1)
- Globalização Na Literatura Infantil PDFDocument449 paginiGlobalização Na Literatura Infantil PDFRonaldo FariasÎncă nu există evaluări
- Historia Da Catedra Unesco de Educacao A Distancia Fe Unb PDFDocument20 paginiHistoria Da Catedra Unesco de Educacao A Distancia Fe Unb PDFPricsantosÎncă nu există evaluări
- Trabalho em Grupo Manuela 2023 ActualizadaDocument14 paginiTrabalho em Grupo Manuela 2023 ActualizadaCláudio João SindiqueÎncă nu există evaluări