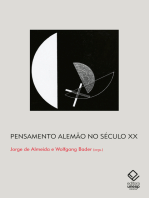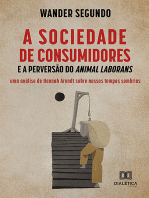Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Chatelet-História Da Filosofia 7
Încărcat de
Helena PinelaDrepturi de autor
Formate disponibile
Partajați acest document
Partajați sau inserați document
Vi se pare util acest document?
Este necorespunzător acest conținut?
Raportați acest documentDrepturi de autor:
Formate disponibile
Chatelet-História Da Filosofia 7
Încărcat de
Helena PinelaDrepturi de autor:
Formate disponibile
Roland DESN, encarregado de curso da Universidade de
Reims.
Franois DUCHESNEAU, professor da Universidade de Ottawa.
Michel FICHANT, investigador-chefe da Universidade de
Paris I.
Grard GRANEL, professor da Universidade de Toulouse.
Benedykt GRYNPAS, director da seco do Extremo Oriente
dos Museus Reais da Blgica.
Louis GUILLERMIT, encarregado de curso da Universidade
de Aix-Marselha.
Patrick HOCHART, professor agregado da cole Normale
Suprieure.
Jean IBANS, director do departamento de cincias humanas
da cole Normale Suprieure.
Pierre KAUFMANN, professor da Universidade de Paris X.
Yves LACOSTE, professor-conferencista da Universidade de
Paris VIII.
Danile MANESSE, encarregado de curso da Universidade de
Paris V.
Jean PPIN, director de estudos do C. N. R. S.
Alexis PHILONENKO, professor da Universidade de Caen.
Evelyne PISIER-KOUCHNER, professor assistente da Univer-
sidade de Paris I.
Rafael PIVIDAL, professor assistente da Universidade de
Paris V.
Nicos POULANTZAS, professor-conferencista da Universidade
de Paris VIII.
Jean-Michel REY, encarregado de curso da Universidade de
Paris VIII.
Claire SALOMON-BAYET, investigador agregado do C. N. R. S.
Marianne SCHAUB, investigador agregado do C. N. R. S.
Ren SCHRER, professor-conferencista da Universidade de
Paris VIII.
Louis-Vincent THOMAS, professor da Universidade de Paris V.
Hlne VDRINE, professor-conferencista da Universidade de
Paris I.
Ren VERDENAL, professor do Liceu Lakanal.
HISTRIA DA FILOSOFIA
IDEIAS, DOUTRINAS
O SCULO XX
J. Bouveresse/G. Deleuze
C. Descamps / M. Fichant / G. Granel
P. Kaufmann/E. Pisier-Kouchner
Traduzido do francs
por Jos Afonso Furtado
;/: ; . . : ;
BKBJOILCA
PUBLICAES DOM QUIXOTE
LISBOA
1977
FICHA:
@ Librairie Hachette, 1912.
Ttulo original: L XX" sicle.
Editor original: LAbrairie Hachette, Paris.
Tradutor: Jos Afonso Furtado.
Capa e orientao grfica: Fernando Felgueiras.
Todos os direitos para Portugal reservados por Publi-
caes Dom Quixote, Rua Luciano Cordeiro, 119 Lisboa
Composto e impresso nas oficinas grficas
de Editorial Imprio, Lda., em Fevereiro de 1977.
Edio: 8 K 57.
ND I C E
Introduo geral
Prefcio .
II-
11
15
I Freud: a teoria freudiana da cultura, por Pierre Kaufmann ... 19
1. O problema epistemolgico da censura 20
2. Sedimentao psquica e mutuao social 23
3. A noo de camada e a transferncia 27
. Do discurso psictico sublimao cultural: paternidade
e mediao 32
5. O acto fundador: solido neurtica e devir humano 37
6. Iluso transferencial e progresso cultural 42
7. Genealogia da cultura 45
8. Agresso, culpabilidade, histria 52
9. Economia pulsional e processos socioeconmicos 55
10. Principais componentes de uma teoria da cultura 59
- A teoria e a observao na filosofia das cincias do positivismo
lgico, por Jacques Bouveresse 65
1. Diabolos in philosophia . . . 65
2. O princpio de verificao 72
3. Testabilidade e significao 77
4. O problema da base observacional 81
5. Reduo contra definio 90
6. Conceitos disposicionais e conceitos tericos 95
7. A teoria como sistema formal parcialmente interpretado 102
8. Concluso: as virtudes do Diabo 106
III A epistemologia em Franca, por Michel Fichant ... 111
1. Da filosofia das cincias epistemologia 111
2. O racionalismo aplicado: Gaston Bachelard 114
3. A epistemologia matemtica: Jean Cavaills 130
4. Epistemologia e histria das cincias. O racionalismo apli-
cado das cincias biolgicas 136
IV Observaes sobre o acesso ao pensamento de Martin Hei-
degger: Sein und Zeit 147
Introduo: o acesso e a inaparncia 147
1. A tese e a sua explicao 149
2. Feuerbach 151
3. Husserl e o horizonte da subs(is)t()ncia 153
4. A dificuldade e a fractura 157
5. A (no)-descrio do fenmeno do mundo 159
6. O circular e o anfractuoso 162
7. Fragmentos sobre o frag-rnento 167
Concluso : 177
V Os existencialismos, por Christian Descamps
1. Jean-Paul Sartre
Filosofia da conscincia
O olhar e o corpo
Ausncia do inconsciente
Encontro da histria
Dialctica dos grupos
Concluso
2. Maurice Merleau-Ponty
O itinerrio do sentido: forma e estrutura
A abertura perceptiva
O pensamento do corpo
A arte, ancoragem no cerne do mundo ...
VI Os marxismos, por Evelyne Pusier-Kouchner
Do marxismo desfigurado ao marxismo transfigurado ...
A desfigurao revisionista
A transfigurao pela prxis
Rosa Luxemburgo e o movimento spartakista
Gramsci
Do revisionismo estalinista desestalinizao revisionista
A revoluo permanente e cultural
A Zona das Tempestades
A re-leitura ocidental
Os dois campos
181
182
183
186
187
189
190
194
195
196
198
201
205
215
216
217
219
223
225
226
233
233
239
241
VII Como reconhecer o estruturalismo?, por Gilles Deleuse 245
1. Primeiro critrio: o simblico 246
2. Segundo critrio: local ou de posio 249
3. Terceiro critrio: o diferencial e o singular 252
4. Quarto critrio: o diferenciante, a diferenciao 255
5. Quinto critrio: Serial 260
6. Sexto critrio: A casa vazia 263
7. tntimos critrios: do sujeito prtica 269
Para no concluir 275
Cronologia dos principais textos do sculo XX com importncia
filosfica 281
INTRODUO GERAL
O ttulo desta obra colectiva Histria da Filosofia, Ideias,
Doutrinas. Deve ser compreendido no sentido rigoroso dos
termos. certo que se trata de uma histria: a ordem que
recebeu cronolgica, na medida em que a cronologia inte-
lectualmente mais eficaz do que a classificao alfabtica, por
exemplo, e em que permite muitas vezes descobrir filiaes,
onde as houver.
constituda por oito volumes: o primeiro, dedicado
filosofia pag (de Tales de Mileto a Plotino); o segundo trata
do perodo chamado medieval (dos padres da Igreja a So Toms
e a Guilherme de Occam); o terceiro analisa a filosofia do mun-
do novo (de Thomas Miinzer e de Giordano Bruno a Leibniz);
o quarto estuda o iluminismo (de Berkeley a Rousseau); o quinto
intitulado a filosofia e a histria (de Kant a Marx-Engels);
o sexto refere-se filosofia face ao desenvolvimento das cincias
e da indstria (de Nietzsche ao positivismo' lgico); o stimo,
estabelece as relaes entre as ideias filosficas e as cincias
siciais (psicologia, sociologia, histria, lingustica, geografia,
etnologia); este, o ltimo reporta-se aos grandes movimentos
de ideias do nosso sculo.
No entanto, esta apresentao, que aceita, como natural,
a ideia de sucesso, no aceita de igual modo dois preconceitos
que lhe esto implicitamente ligados. Por um lado, de modo
algum esta histria da filosofia fixa como ideal uma restau-
rao integral do passado do pensamento filosfico, em que
todos os autores estivessem assinalados, tal como a sua influn-
cia e as suas relaes. Foi operada uma seleco que tem em
conta, ao mesmo tempo, a exigncia de inteligibilidade e de
originalidade dos colaboradores (que em comum determinaram
os seus temas e o seu centro de interesse). Esta liberdade,
posta em relao com a tradio, pareceu ser o meio mais
11
SCULO XX
eficaz de expressar o devir deste modo especfico da cultura
que tem sido o discurso filosfico; e de constan temente subli-
nhar a mistura incerta de pureza e impureza que o caracteriza.
Por outro lado, renunciou-se a dar fosse que lio fosse,
e a deixar entender, entre outras coisas, que por detrs da
superabundncia das doutrinas se desenha, de certo modo, uma
evoluo significativa, um progresso, uma repetio ou uma
regresso. sempre possvel construir, com ou sem a ajuda
da erudio, uma mitologia genealgica que, pondo cada dou-
trina no seu lugar, reconstri a ordem triunfante do pensa-
mento. Das supostas origens, caminha-se tranquila ou drama-
ticamente, positiva ou dialecticamente, at esta nossa poca,
que vem dar-nos o ensino retrospectivo e definitivo. Que um
texto terico se entregue, com o pretexto de fazer histria, a
esta tarefa, muito bem: uma maneira como qualquer outra
de demonstrar uma tese. A perspectiva desta nossa obra
diferente: o seu objectivo informar, aclarar as ideias funda-
mentais que as principais doutrinas produziram, pois estas
ideias constituem agora a herana filosfica herana essa
que devemos inventariar, se melhor a quisermos compreender
ou combater.
Ora, informar notar diferenas. Os historiadores e os
filsofos que participaram neste trabalho esforaram-se man-
tendo cada um a sua ptica prpria e s tendo provavelmente
em comum com os outros co-autores a exigncia de uma crtica
escrupulosamente racionalista por fazer aparecer distines;
aplicaram-se em avaliar o conceito ou o sistema de conceito
que deu a determinado pensador o seu lugar no interior da
tradio chamada filosofia. evoluo, positiva ou dialctica,
substitui-se assim uma apresentao diferenciada. Esta deixa
ao leitor outra liberdade: j no se trata de se abandonar ao
sabor do devir, mas de apreciar doutrinas e ideias; o que
importa no seguir uma linha, por muito ramificada que
seja, mas encontrar pontos de referncia num espao articulado.
Em suma, de modo nenhum esta histria da filosofia uma
filosofia da histria da filosofia.
No difcil de compreender que, dentro desta ptica, os
elementos biogrficos tenham sido salvo alguma excepo
muito reduzidos. Poder-se-ia sem dvida compor um lindo
texto, dedicado um pouco maneira de Plutarco vida
dos filsofos ilustres. Com ele teramos surpresas. No entanto,
no este gnero de novidades que se procura na presente
obra. Se houver originalidade, ela ser resultante do facto de
que uns quarenta tericos tentaram estabelecer o quadro dos
elementos do pensamento filosfico, de que o fizeram no mesmo
12
INTRODUO GERAL,
esprito, mas sem preconceito; que compreenderam o seu em-
preendimento no como uma demonstrao, mas como uma
apresentao; no como um edifcio, mas como uma constru-
o. Segundo os autores, as bibliografias no tm a mesma
importncia. Tambm a se deixou liberdade a cada um dos
colaboradores para assinalar a sua comunicao com as notas
que considerasse convenientes. Referncias histricas vm, de
vez em quando, lembrar que a filosofia no um assunto
separado e que pode ter uma relao directa, indirecta ou
contraditria com as prticas sociais e outras actividades
culturais.
outra histria da filosofia que se anuncia aqui. Nem
progressista nem neutra, mas crtica; que no quer dizer tudo,
nem dizer todo; que se impe afirmar a ordem aberta das
doutrinas e das ideias diferentes. O srio, neste gnero de
obra, caminha a meia distncia da erudio e da vulgariza-
o. Pois no h Plato nem Descartes que se possa res-
taurar na sua verdade; h pensadores que uma anlise severa
e argumentada torna, hoje, legveis.
No fim de cada um dos volumes desta obra, o leitor encon-
trar, por um lado, uma lista alfabtica dos autores que nele
so analisados, com a sua biografia e as suas principais obras,
e, por outro lado, um quadro sinptico estabelecendo a relao
entre a histria da filosofia e a histria cultural, social e
poltica.
13
.
PREFCIO
O volume VI A Filosofia do Mundo Cientfico e Indus-
trial salientou o facto de que a filosofia., como gnero
cultural, j no pede ter pretenses a possuir um objecto
privilegiado que fosse seu apangio e justificao da sua von-
tade dominadora: nem o Ser, nem Deus, nem a Substncia, nem
a Razo, nem o Sujeito, nem o Universo, nem o Valor... nem
qualquer outra entidade inventada conjunturalmente para legi-
timar uma reputao.
Foi Nietzsche quem abriu o caminho para esta importante
refutao, no momento em que Husserl administra os ltimos
reflexos da grande metafsica e que Bergson, na peugada de
Victor Cousin, faz entrar definitivamente a instituio filosfica
nos quadros da pedagogia pueril e honrada (W. James pro-
cede do mesmo modo, mas com a diferena do humor). O vo-
lume VII A Filosofia das Cincias Sociais mostrou que a
ideia positivista de neutralidade., fundada na observao, na
experimentao, no operante em nenhuma das disciplinas
estabelecidas como cincias humanas,^ e no capaz de asse-
gurar a passagem do testemunho desta filosofia que no cessa
de morrer, de renascer, de se agitar e de sbito, talvez, de reen-
contrar o seu projecto inicial: discurso do Estado e do contra-
-Estado no Estado... Este ltimo volume se necessrio
acabar porque, precisamente, nada se completa, porque tudo
est preparado para o encerramento quando o para alm ou a
repetio se afirmam , na realidade, um livro de aventuras.
S certo que todas as sociedades estiveram sempre em crise (sob
este aspecto a histria semelhante a um velromo, s com-
porta curvas). No entanto, o sculo xx assinala-se pelo facto
de mundializar os conflitos, de estender a todo o planeta os
sucessos e os disparates da realidade industrial. Desde 1900 que
w coisas no correm bem. Os grandes princpios que serviram,
15
. . .
O SCULO XX
PREFACIO
para a expanso dos Estados modernos (capitalistas, burgue-
ses, parlamentaristas), so duramente postos em questo no
prprio momento em que alcanam o seu maior sucesso. O pre-
sidente Schreber encontra-se gravemente doente; a matemtica
modelo da racionalidade h vinte e cinco sculos v com-
prometida a sua autoridade; as cincias fsicas, apesar das
demonstraes kantianas e das certezas positivistasi, sofrem
transformaes fundamentais; no domnio poltico, at o pr-
prio marxismo doutrina de oposio ao sistema capitalista
deve mudar de estatuto (no estaro os primeiros escritos de
Lenine em contradio com os ltimos textos de Engels?).
Apesar das aparncias, a ordem da burguesia est profun-
damente fendida. Perante este desenvolvimento catico, aven-
tureiros de um novo gnero lanam-se ao assalto. E isto, at
agora. So filsofos, que contornam a lentido da instituio
universitria. Vm da medicina como Freud; das matem-
ticas e da poltica como Russel e Wittgenstein; da prtica
dos fsicos e dos bilogos; da teologia como Heiegger; da
referncia s veredas do vivido como Merleau-Ponty ou J.-P.
Sartre; dos combates polticos Trotsky e Mo Ts-tung,
entre outros; da explorao das estruturas da linguagem ou
das sociedades chamadas selvagens Saussure e Lvi-Strauss.
Todos estes pensadores de que aqui tratamos so, sem qual-
quer dvida, aventureiros. O desaparecimento do objecto da filo-
sofia traduz-se a partir de ento pela fragmentao do prprio
estilo filosfico. A ideia positivista de que a filosofia iria mor-
rer de consumpc decididamente falsa. A filosofia dos pro-
fessores mantm-se com seriedade e enfado apoiada na psico-
logia e na sociologia que, exercendo uma funo de regulao
social, se desenvolvem. Ao mesmo tempo surgem, vindas de
outros lados, outras invenes. Impem-se objectos despeda-
ados, quebrados, discordantes ou evanescentes (do ponto de
vista da tradio especulativa): o inconsciente, a linguagem, a
cincia (j no apenas como conhecimento mas como prtica
e como instituio poltica), a guerra, o (ao que dizem) partido,
a (ao que dizem) loucura, o (ao que dizem) crime, o (ao que
dizem) primitivo1, a arte como actividade, como mscara e como
efeito.
Isto significa que o texto que se segue no , de modo
algum, um panorama do pensamento contemporneo: semelhan-
tes nomenclaturas existem e boas. Rene com uma liberdade
ainda maior do que nos volumes precedentes captulos des-
conexos, ensaios que tm por objectivo, na sua disparidade e na
sua reunio, tornar evidente como pensadores sero filsofos
ou j no o sero? (a questo no tem grande interesse)
tomam partido nas nossas novas tragdias. O leitor no deve,
portanto, esperar nem uma enciclopdia nem um palmares':
filsofos trabalhadores da filosofia de hoje dizem de que
modo entendem escritos dos quais o mais antigo tem menos de
oitenta anos e o mais recente exactamente.um lustro.
Pranois Chtelet
16
FREUD:
A TEORIA FREUDIANA DA CULTURA
por Pierre Kaufmann
Como o nosso objectivo o de investigarmos de que modo
se afirmou a especialidade de uma teoria freudiana, da cultura,
abandonaremos provisoriamente qualquer preocupao com as
suas origens, e inclusivamente qualquer questo prvia refe-
rente aos termos Kultur e Ziwlisation e aos seus equivalentes
noutras lnguas, de modo a seguirmos a sua construo no ter-
reno prprio do pensamento psicanaltico. S ento poderemos
inquirir da legitimidade do lugar conferido, numa histria do
pensamento filosfico, a um tipo de investigao que repre-
senta, sob muitos aspectos, a sua negao. Mas como preser-
var, nesta perspectiva, a autonomia do domnio que visamos?
Os temas da aculturao e da cultura no so peas embutidas
no movimento de conjunto da teorizao freudiana, mas seguem
e elucidam tambm as suas vicissitudes. Isol-las da prtica em
que a psicanlise se funda, da clnica em que se ordena, da teo-
ria que a suporta, equivaleria a ocultar os nicos traos que lhe
garantem a originalidade. Tentaremos igualmente mostrar
como a converso das relaes arcaicas de domnio em insti-
tuies espirituais, que constitui o ncleo da concepo freu-
diana, inscreve no plano da efectividade histrica, com o acto
fundador do assassnio colectivo do chefe da horda, a renovao
que a elucidao da transferncia e a anlise da psicose causam
conjuntamente psicanlise. Assim, abriremos o caminho para
um aprofundamento da teoria das pulses, destinado a auten-
ticar no registo do desenvolvimento humano a elaborao gen-
19
O SCULO XX
FREUD: A TEORIA FREUDIANA DA CULTURA
tica da pulso individual. E, desse modo, o problema do fim da
anlise, na dupla acepo do seu termo e da sua finalidade, en-
contrar a sua soluo.
Porque as formaes neurticas acessveis regresso
transferencial remetem, numa viso retroactiva, para um plo
abissal. Mas, se esta regresso interminvel, se a realidade
psquica incapaz de se prender a uma realidade efectiva,
que a aptido para a neurose confere ao homem a medida da
precaridade da sua insero social. cultura, pelo contrrio,
que compete assegurar a travessia deste intervalo: nela, e
apenas nela, que se opera a confrontao do homem com o real
no facto mas instaurao de modo que a imagem de
Aqueronte inscrita em epgrafe no limiar do reino solitrio dos
sonhos possa ento encontrar a sua rplica na concluso goe-
thiana de Totem e Tabu, no princpio era o Acto. Paradoxal ,:.-
movimento de pensamento cujo comeo teremos de recordar nas <
primeiras abordagens da transferncia, antes de surpreender,
se tal possvel, a viragem decisiva, em que o acesso aos inte-
resses culturais consagra a sua resoluo.
1. O Problema epistemolgico da censura < \
Toda a nossa concepo das neuroses se ressente ainda
( / . da influncia do estudo da histeria, que a tinha precedido, es-
' > ; creve Freud em 1916. Recuemos pois vinte anos, logo aps os
,; Estudos sobre a Histeria. Neste contexto ( Manuscrito K, l de
Janeiro de 1896), ao procurar a origem do desprazer origi-
' nado por uma excitao sexual precoce sem a qual no seria
, possvel explicar nenhum recalcamento que penetramos no
- cerne do problema psicolgico. Assim, a dimenso sob a qual
ento encarada a civilizao a da moralidade, cujo papel
na gnese da inibio se tenta apreciar, e o dado esencial em
que Freud insiste nesta altura que a moralidade por si
mesma desprovida de qualquer capacidade dinmica.
Haveria de facto a tentao de considerar em primeiro
lugar que so o pudor e a moralidade que constituem as foras
v recalcadoras, devendo a vizinhana que a natureza conferiu
aos rgos sexuais suscitar inevitavelmente, no momento das
i experincias sexuais, um sentimento de repugnncia. Pois no
; T se observa que onde falta o pudor ( como nos indivduos do
sexo masculino), onde a moralidade est ausente ( como nas
classes inferiores), onde a repugnncia se encontra esbatida
pelas condies de existncia ( como no campo), o recalcamento
se no produz e, por isso, nenhuma excitao sexual infantil
implica recalcamento ou, consequentemente, neurose? No en-
tanto, prossegue Freud, esta explicao no resiste a um
exame mais fundo, incidindo a sua crtica em dois pontos: por '
um lado, a moralidade da relao causal: No consigo acreditar
que uma produo de desprazer durante as experincias sexuais :
possa derivar da intromisso fortuita ( sublinhado por ns) de
alguns factores de desprazer... Nenhum sentimento de repug-
nncia se produz quando a libido atinge um nvel suficiente- :
mente elevado.. Nessa altura a moralidade cala-se. Por outro
lado, a prpria natureza da causa invocada: Julgo que o pudor .
depende inteiramente do incidente sexual.
O problema levantado pela causalidade da inibio ser,
portanto, o de que modo caracterizar um factor que depende
do incidente sem por isso se apresentar como fortuito. E , "
neste sentido que necessrio- entender a hiptese segundo a
qual deve haver na sexualidade uma fonte independente de -
desprazer. Se esta fonte existe ou, noutros termos, se o seu
papel assumido por um processo intrinsecamente inerente ao
exerccio efectivo da sexualidade, pode estimular as sensaes
de repugnncia e conferir moralidade a sua fora.
Assim, a noo de contra vontade, introduzida por Freud
quatro anos antes a respeito da observao prnceps da cura
cartrtica o caso da cura hipntica de Anna O. , encontra-se '
determinada na sua qualidade de problema. Ora, que este pr- '
blema tenha uma componente essencial de ordem epistemol-
gica -nos confirmado pela crtica das hipteses de Beard refe-
rentes etiologia da neurastenia, iniciada por Freud em 189o
e vrias vezes retomada at 1908., B certo que o leitor contem- .
porneo de American nervousnes, its causes an consequences
( 1881, trad. alem) e de Sexual neurasihenia, nervous exlmus-
tion, its hygiene, causes, symptoms and tr&atment ( 1886, trad.
alem) ter alguma dificuldade em compreender o movimento
de interesse suscitado por esta anlise bastante sumria de uin
novo mal do sculo, o da modernidade de estilo americano.
No entanto, no indiferente salientar at que ponto o recurso
a um tipo de explicao sociolgica em psicopatologia devia
nesta data parecer original; e, sobretudo, em que que a con-
cepo freudiana lhe aprofunda do imediato a demasiada gene-
ralidade do projecto.
Para retomar os termos do artigo publicado em francs,
em 1896, sobre A hereditariedade e a etiologia cia neurose, ais- k
tinguiremos, com efeito, entre trs gneros de influncias etio-
lgicas diferentes entre si pela sua dignidade e modo do rela-
es (sic) com o efeito que produzem: 1. Condies que so
indispensveis para a produo da afeco em questo, mas
que so de natureza universal e se encontram de igual modo
21
O SCULO XX
na etiologia de muitas outras afeces. 2. Causas concor-
rentes que compartilham do carcter das condies pelo facto
de funcionarem na causao de outras afeces, assim como
na da afeco em questo1, mas que no so indispensveis para
que esta ltima se produza. 3. Causas especficas, to indis-
pensveis como as condies, mas de natureza restrita e que
apenas aparecem na etiologia da afeco de que so espec-
ficas. Ora, prossegue Freud, como causas concorrentes ou
acessrias das neuroses podemos enumerar todos os agentes
vulgares encontrados noutra parte... Defendo a proposio de
que nenhum deles... entra regular ou necessariamente na etio^
logia das neuroses... Desde que Beard declarou que a neuras-
tenia era o fruto da civilizao moderna, s encontrou crentes
(sic), mas a mim -me imposvel aceitar esta opinio... a etio-
logia especfica das neuroses escapou ao conhecimento de
Beard.
Por outras palavras, a influncia geral da 'civilizao de-
ver ser colocada no nmero das condies da neurose, en-
quanto a sexualidade parece dever constituir o registo das cau-
sas especficas. A neurose de angstia .do adolescente, pros-
segue Freud, pode, deste ponto de vista, ocupar o lugar de pro-
ttipo, na medida em que permite constatar os efeitos pato-
gnicos de uma quantidade emanando da prpria sexualidade.
Mas a anlise no mais desenvolvida, e enquanto no dispu-
sermos de uma teoria exacta deste processo, o problema da ori-
gem do desprazer agindo no recalcamento permanecer inso-
lvel.
Apercebemos de facto quais as dificuldades que impedem
que Freud estabelea uma relao mais estreita entre a forma
cultural da moralidade e a dinmica psicolgica do recalca-
mento. A noo de causalidade de que dispe est ainda longe
de ser homognea, encontrando-se dividida entre as influncias
sociais exgenas do tipo tradicional da causalidade natural e
os factores psicolgicos marcados por um ndice gentico,
caracterstico da fase de desenvolvimento individual em que
operam. Por outras palavras, a ordem social da civilizao
no est estratificada, razo pela qual no suporta outras in-
fluncias patognicas para alm das causas concorrentes de
dignidade menor do que as causas especficas, neste caso
genticas. Com efeito, s com Totem e Tabu plenamente reco-
nhecida a afinidade entre a mutao individual e a mutao
social, entre uma causalidade interna originada por uma rup-
tura de nvel no percurso do destino pulsional e uma causali-
dade social proveniente do acto de ruptura em que se abole
a relao primitiva de dominncia.
FREUD: A TEORIA FREUDIANA DA CULTURA
\o entanto, mesmo no perodo que estamos a considerar,
o problema anunciado e precisamente na medida em que
se elabora a noo de sedimentao gentica. No dia l de Ja-
neiro de 1896, Freud ensaiava a anlise da escruipulosidade
e do sentimento de culpa sobre a neurose obsessiva. Mas no
extraa qualquer ensinamento no que se refere relao entre
a vertente objectiva e a vertente subjectiva da moralidade.
O tema , pelo contrrio, aflorado a 6 de Dezembro do mesmo
ano. E porque no intervalo se desenvolveu a teoria da estratifi-
cao das zonas ergenas como fundamento da estratificao
do psiquismo. Como sabes, escreve ele a Fliess, nos meus
trabalhos parto da hiptese de que o nosso mecanismo psquico
se estabeleceu atravs de um processo de estratificao: os ma-
teriais presentes sob a forma de traos mnemnicos recom-
pem-se de tempos a tempos segundo 'as novas circunstncias.
Ora, esta teorizao introduz o princpio de uma correspondn-
cia entre dois registos de estratificao individual e social:
No fundo, encontra-se a ideia de zonas ergenas abandonadas.
Durante a infncia, de facto, a reaco sexual obtm-se, segundo
parece, em numerosas partes do corpo; mas, mais tarde, estas
j no podem produzir seno a angstia di 28. dia e nada
mais. O progresso da civilizao1 e o desenvolvimento duma mo-
ral tanto social como individual dever-se-iam a esta diferen-
ciao, a esta limitao.
2. Sedimentao psquica e mutuao social
Trata-se da formulao de um problema, mais. do que do
anncio de uma soluo. Que interesse pode ter para a socie-
dade esta redestribuio das camadas do psiquismo? Contudo o
passo decisivo encontra-se prestes a ser dado: a 23 de Novem-
bro de 1896 morre Jakob, pai de Freud. E a 31 de Maio de 1897,
aps alguns meses no decurso dos quais a geral insistncia
sobre o papel dos impulsos lhe encobre o verdadeiro objecto,
opera-se numa nica carta a conjuno dos astros.
Na vertente psicolgica, o anunciar da descoberta de que
as pulses hostis para com os pais (desejo da sua morte) cons-
tituem igualmente parte integrante das neuroses. Na parania,
os mais graves delrios de perseguio (desconfiana patol-
gica em relao aos chefes, aos soberanos) emanam destas
pulses. Estas encontram-se recalcadas nos perodos em que os
sentimentos de piedade para com os pais as dominam du-
rante as suas doenas, na sua morte. No luto os sentimentos
de remorso manifestam-se; nessa altura, censuramo-nos pela sua
fc
O SCULO XX
morte ( o que se descreve sob o nome de melancolia), ou en-
to punimo-nos de modo histrico, ficando doentes como eles...
Segundo parece, nos filhos, os desejos de morte so dirigidos
contra o pai, e, nas filhas, contra a mas. Indicaes cuja con-
trapartida, no plano da cultura, a mesma carta suscita imediata-
mente: No fundamento do sagrado, escreve Fi*eud, est o
sacrifcio, consentido pelos humanos no interesse de uma mais
larga comunidade, de uma parte da sua liberdade sexual per-
versa. O horror que o incesto inspira (acto mpioi) assenta no
facto de que, por consequncia de uma vida sexual comum,
mesmo na poca da infncia os membros de uma famlia en-
contram-se permanentemente solidrios e tornam-se incapazes
de se ligarem a estranhos. O incesto um acto anti-social a que
a civilizao, para existir, teve de progressivamente renunciar.
A noo de sedimentao no se enriqueceu somente ao
integrar o impulso, mas alargou-se tambm s relaes infantis
com os pais, e nesta medida que chamada a fundar a arti-
culao entre a ordem psicolgica e a ordem cultural: todo o
problema residir em compreender sob o efeito de que foras
os impulsos hostis para com os pais se superaro a si mes-
mos, de modo a que o ser humano seja subtrado da esfera da
sexualidade perversa. Simultaneamente aprofuda-se o problema
epistemolgico subjacente a todo este desenvolvimento. Efec-
tivamente, com a noo da sedimentao das zonas ergenas
abandonadas encontra-se consagrada a recusa da concepo
de um traumatismo operando a parte antenc-ri.
No dia 7 de Julho de 1897, Freud carateriza, como efeito,
o fantasma como retroactivo e afirma que lhe esto associadas
pulses que so tambm objectos de recalcamento. Mais precisa-
mente, na sequncia do abandono das zonas sexuais arcaicas,
desenvolve-se uma actividade fantasmtica que recobre o que
foi abandonado e que acompanhada pela emergncia de pul-
ses associadas, por sua vez recalcadas.
Mas, a 15 de Outubro, dipo e Hamlet entram em cena,
e a teoria da cultura, at ento contida nos limites do problema
da moralidade, alarga-se ao domnio dos mitos. No que Freud
no se tivesse j interessado por isso, no prolongamento das
sugestes que lhe suscitava, a respeito do folclore, a anlise
da fase anal. As histrias do diabo, o vocabulrio das pragas
populares, os costumes e as canes de embalar adquirem para
mim um significado, escreve ele em 24 de Janeiro do mesmo
ano. E estou pronto a acreditar, acrescentava, que conviria
considerar as perverses, de que a histeria o negativo, como
os tragos de um culto sexual primitivo que talvez tenha mesmo
sido, no Oriente semtico, uma religio (Moloch, Astarte).
FREUD: A TEORIA FREUDIANA DA CULTURA
\neste contexto que o conceito de sublimao ir ser introdu-
zido alguns meses mais tarde (a 2 de Maio de 1897). Mas, dora-
vante, o que o ir guiar nessa via a hiptese da coerncia do
sistema fantasmtico. Uma das nossas maiores esperanas,
escreve a 25 do mesmo ms, conseguir determinar o nmero
e as espcies de fantasmas do mesmo modo que determinamos
o das cenas. Vemos assim delinear-se uma terminologia estru-
tural: Conheo pouco mais ou menos as regras que determi-
nam a funo destas estruturas (Struktur) e os motivos da
sua solidariedade, escreve Freud a 7 de Julhoterminologia
que ir ser precisada a 27 de Outubro pela noo de motivos-
-quadro (Rahmenmotive) que determinam o desenvolvimento
em factores gerais distintos dos que completam o painel e
variam consoante os incidentes vividos pelo sujeito.
E digno de nota que esta concepo estrutural, solidria
de uma reconstruo da gnese libidinal apoiada retrospectiva-
mente pela sua concluso no dipo, se traduza por uma repre-
sentao sistemtica das condies de advento da moralidade.
H zonas sexuais arcaicas, afirma-nos uma carta de 14 de No-
vembro de 1897, mas estas zonas no so originalmente deli-
mitadas. A contribuio da libido , inicialmente, difusa. A no-
o de fantasma retroactivo e de pulses emergentes retroac-
tivamente deve, portanto, ser compreendida atravs do tema
da no determinao primria da sexualidade. As zonas sexuais
no so inicialmente delimitadas e tudo se passa como se elas
o fossem retroactivamente a partir do fantasma e a prpria
zona ertica, como fonte de prazer, estaria na dependncia do
fantasma cuja funo seria a de dar corpo a esta ideia da frui-
o parcial delimitvel no nvel do rgo. Em resumo, deve-se
considerar cinco nveis de determinao:
1) zona sexual orgnica no delimitada;
2) recordao de excitao das zonas abandonadas, sendo
essencial que elas estejam abandonadas;
3) na medida em que estejam abandonadas haver des-
carga de desprazer em vez de prazer;
4) nesta medida, o indivduo ir desviar-se da recordao,
e desviar-se da recordao equivale repugnncia pe-
rante o objecto actual: isto que nos vai fornecer a
chave do recalcamento. Na medida em que o indivduo
se tiver afastado da zona abandonada haver, de facto
libertao de angstia;
5) H transformao da angstia em rejeio (Verwer-
fung).
85
O SCULO XX
graas a uma progressiva elaborao que se iro arti-
cular entre si estas partes de interpretao ainda heterogneas,
dependentes do domnio da moralidade e do domnio da arte. As-
sinalemos no entanto, para melhor caracterizar a sua novidade,
que alguns dos elementos que iro ser integrados j estavam
esboados no prprio perodo que estamos a considerar.
Uma carta de Freud datada de 5 de Novembro de 1897,
contempornea, portanto, da sua auto-anlise, associa, de facto,
a referncia obra de M. J. Baldwin sobre O Indivduo e a Raa,
a evocao de um seminrio de Beard, uma aluso interpre-
tao dada dias antes a dipo e Hamlet e a expresso do vivo
interesse com que recebe as visitas do seu amigo Eminanuel
Lowy, professor de arqueologia em Roma. Imaginemos pois, por
um instante, ligar estes fios numa antecipao sistemtica dos
desenvolvimentos ulteriores. Em epgrafe inscrever-se-iam os
. versos de Goethe evocados logo aps a descoberta de dipo:
:. { : Muitas sombras queridas ressurgem. Semelhantes a uma lenda
', antiga retornam, meio esbatidos, o primeiro amor, a primeira
/ amiaade. Quase trinta anos mais tarde, por alturas da come-
morao do poeta na sua casa de Frankfurt, Freud dir que
; esta citao poderia aparecer em todas as nossas anlises.
Por nos fazer descobrir tambm, atravs da graa da expresso
' " ; , potica, a afinidade do mito individual e do mito histrico,
; \a igualmente a melhor ilustrao para o prolongamento que
j ; Baldwin deu famosa lei de Haeckel, a ontognese reproduz
: , a f ilognese; enquanto a paixo arqueolgica de Freud no ir
J cessar de defender a sua traduo sucessivamente metodolgica
' e metafrica, desde o desenterrar dos Estudos sobre a Histe-
,; ' /. na encenao pompeiana de Gradiva e at meditao de Mal-
' V ( -estar na Civilizao sobre a sobrevivncia sincrnica dos estra-
tos que sucessivas Roms depositaram ( ncleo edpico do de-
> senvolvimento, sedimentao e ressurgncia das organizaes
culturais, entrelaamentos da vida e da morte na marca de um
destino comum, na sua lei peridica, aos indivduos e aos po-
vos). Quem no pressentiria, no plo de convergncia destes
v diversos temas, o esboo do que ir ser, na sua maturidade,
,' ^ i a representao freudiana da cultura?
1 Talvez que, de facto, a partir desta data, esta construo
tenha obsecado Freud de modo semelhante a um desses mitos
; endopsquicos cuja noo ele relaciona com a percepo confusa
que o sujeito tem da sua prpria estrutura. Sers capaz de
imaginar, escreve ele a Fliess a 12 de Dezembro de 1897, o
.! ,' que so os mitos endopsquicos? Pois bem, so as ltimas pro-
'! ,: dues da minha actividade cerebral. A obscura percepo
,:; interna que o sujeito possui do seu prprio aparelho psquico
FREUD: A. TEORIA FREUDIANA DA CULTURA
suscita iluses (Denkillusionen) que so, naturalmente, pro-
jectadas para o exterior e, de modo caracterstico, no futuro,
num alm. A imortalidade, a recompensa, todo o alm (das
ganze jenseits), tais so as concepes da nossa psique in-
terna... uma psicomitologia. Os editores das Cartas apro-
ximaram com razo estas linhas das teses formuladas em 1908
no artigo sobre o poeta e a actividade fantasmtica: No que
se refere aos materiais, provm do tesouro popular constitudo
por mitos, lendas e contos, O estudo das criaes psicolgicas
populares est longe do seu termo e tudo leva a crer que os
mitos, por exemplo, so, muito provavelmente, vestgios defor-
mados de fantasmas de desejo comum a naes inteiras e
representam os sonhos seculares da jovem humanidade. No
entanto, devemos sublinhar bem onde se encontra a origina-
lidade destes pontos de vista. Em primeiro lugar, no atinge
a analogia das duas infncias, a individual e a histrica: o
tema , afinal de contas, bam banal. Mas est perto da analogia
do modo de gnese, encarado respectivamente por uma e outra.
A noo de mito endopsquico faz aparecer na projeco da
estrutura subjectiva e, mais precisamente, da sua clivagem
interna, a fonte das grandes categorias em que se moldam os
fantasmas constitutivos da trama dos mitos. O problema re-
sidir ento em saber se no poderemos assinalar no registo
da histria humana um equivalente desta clivagem subjectiva.
Semelhante convergncia suporia que a teoria psicanaltica, ou
seja, a teoria da transferncia encontraria, de algum modo, a
teoria da restituio arqueolgica. Do ponto de vista da his-
tria dos mtodos, o primeiro dado a este respeito -nos forne-
cido pelas trocas ocorridas, no decurso do sculo xix, entre as
acepes cosmolgica, geolgica, arqueolgica e lingustica do
conceito de camada.
3. A noo dei camada e a transferncia
Georg Curtius, nascido em Lubeck em 1820, contempor-
neo de Max Muller, cujos princpios gerais aplicou histria
primitiva dos idiomas indo-europeus, aluno de Bopp e pro-
fessor de literatura grega na Universidade de Leipzig, publi-
cou em 1867 um ensaio sobre A Cronologia na Formao das
Lnguas Europeias, procurando instaurar uma estreita asso-
ciao entre a lingustica comparada e o mtodo histrico.
Mesmo, nos limites em que a analogia da cincia da linguagem
com as cincias naturais se justifica realmente, escreve ele,
ela parece aplicar-se sobretudo s cincias que se ocupam de
26
o S C U L O xx
objectos mutveis e muito diferentes no decurso dos tempos,
como a geologia e a paleontologia. Se Max Muller recusa o
emprego da palavra histria para a linguagem , sem dvida,
por ter sentido as exigncias de uma acepo estreita, prpria
da lngua inglesa, da palavra history... O que distingue a nova
lingustica da antiga, que se limitava ou a uma simples esta-
tstica ou a uma tentativa de classificao sistemtica dos fen-
menos da linguagem, precisamente a concepo gentica da
vida da linguagem. A esta perspectiva ligasse, como natural,
a exigncia de uma cronologia: Em qualquer considerao his-
trica trata-se com factos sucessivos, de anterioridade e de
pcsterioridade, tanto no pormenor como no conjunto. A histria
nada sem cronologia, sem determinao de perodos baseada
em datas cronolgicas. Mas a noo de cronologia presta-se a
equvocos. De facto, ela no pode ser interpretada no sentido
de uma ordem linear. A perfeita concordncia da investigao
histrica de Jacob Grimm no domnio da lngua alem com as
descobertas de Bopp no seu sistema de conjugaes revela, por
exemplo, que o rico tesouro das formas se produziu por cama-
das. De modo geral, a linguagem oferece num qualquer mo-
mento da sua durao um aspecto semelhante ao dos jazigos
de rochas mais ou menos antigos, colocados por cima ou ao lado
uns dos outros sobre ia superfcie terrestre. Torna-se, necess-
rio, portanto, rejeitar o mtodo que pretendia explicar a priori
as formas que subsistem umas ao lado das outras atravs da
base de uma nica ideia. preciso comear por distinguir as
diferentes camadas de formas colocadas acima ou ao lado umas
das outras. o nico meio de chegar ao estado primitivo e, a
partir da, reconhecer e compreender, como algo de inteligente
e racional, as primeiras tentativas para criar as formas da lin
guagem, o ulterior crescimento de novas formaes e, final-
mente, a reunio de todas as formaes assim nascidas, uma
'aps outra, num sistema completo. Na verdade, a observao
desta estratificao das formas conduz-nos agora muito miais
longe do que seria possvel prever numa primeira panormica.
Assim se aprofunda, no sentido de uma historicizao da
anlise dos sistemas, a noo elaborada por Max Muller e por
ele retomada no ttulo de uma conferncia de 1868 de estra-
tificao da linguagem.
Ora, numa noo equivalente que o mtodo psicanaltico
encontrar o seu estatuto, que este mtodo de estratificao
encontrar o princpio do seu desenvolvimento transferencial,
que, finalmente, a estratificao da transferncia encontrar a
razo da sua analogia com a sedimentao dos processos de
cultura.
FREU D: A TEO RIA FREU DIANA DA C U L TU RA
Retomemos a anlise do caso de Elisabeth. Foi essa, diz-
-nos Freud, a minha primeira anlise completa de uma histeria.
Permitiu-me proceder, pela primeira vez, graas a um esforo
(Verfahren) que mais tarde institu em mtodo, eliminao
por camadas (S chichtweisen Ausraumung) dos materiais ps-
quicos, o que gostvamos de comparar tcnica de desenterrar
uma cidade sepultada. Eu fazia, em primeiro lugar, com que a
doente me contasse tudo o que lhe era conhecido, anotando cui-
dadosamente as passagens em que uma associao permanecia
enigmtica, em que um membro (Glied) parecia faltar na rede
(Kette) das ligaes causais; em seguida, penetrava nas cama-
das (S chichte) mais profundas da recordao. Salientemos,
em primeiro lugar, o alcance da anlise arqueolgica, aqui esta-
belecida sem equvocos; para alm disso e sobretudo, a signi-
ficao metodolgica que lhe est ligada, fazendo aparecer, com
o conceito de estratificao (S chichtung), o ponto de articula-
o entre a metodologia propriamente psicanaltica e a cultura.
Ser esta, dez anos mais tarde, a lio da Gradiva de Jensen.
Mas a, a mesma imagem ser desenvolvida como ilustrao
da transferncia. Assim, pressentimos que qualquer desenvol-
vimento da experincia psicanaltica est votado a traduzir-se
num aprofundamento das relaes entre a experincia psicana-
ltica e a teoria da cultura, que qualquer nova manifestao da
transferncia est destinada a traduzir-se num aprofundamento
das relaes entre transferncia e cultura e, de facto, cin-
quenta anos de investigao emprica e de elaborao terica
ordenam-se sistematicamente sob esta perspectiva.
Tomemos por referncia os dois tpicos ou modelos estru-
turais do aparelho psquico, construdos por Freud volta de
1900 e 1920.
A estes dois grandes impulsos da criao- freudiana ligam-
-se, conjuntamente, o desenvolvimento da teoria da transfern-
cia e o desenvolvimento da teoria da cultura.
Desde 1895 que a noo de transferncia estava, de facto,
presente nos Estudos sobre a Histeria, segundo as trs dimen-
ses que correspondero, trinta anos mais tarde, (1925) s de
Inibio, S intoma, Angstia - teoria psicanaltica da solido
humana, fundada nos dados da experincia transferencial.
Mas, entre estes dois limites, operou-se a mutao decisiva,
que corresponde ao deslocamento de interesse da interpretao
das neuroses para a construo da psicose. Com a noo de
destino pulsional e a introduo ao narcisismo, suportados pelo
comentrio do caso de Schreber, a relao de alteridade ocupar
Doravante na teoria psicanaltica uma posio central. Na direc-
da transferncia, este progresso foi definido pela elaborao
29
O SCULO XX
FREUD: A TEORIA FREUDIANA DA CULTURA
da teoria dos prottipos; no domnio da cultura pela reflexo
sobre Schreber que Totem, e Tabu representa: aspectos comple-
mentares desta problemtica da alteridade que veremos desen-
volver-se em torno da segunda tpica, com a oposio de Eros
e de Tanatos.
Ora, que esta ltima oposio seja, por sua vez, indisso-
civel quer da teoria da transferncia quer da teoria da cultura,
parece evidente, por um lado, em virtude da pertena da repe-
tio transferencial esfera das pulses de morte, por outro,
devido generalizao que a exigncia ontogentica encontra
no ciclo da filognese.
Uma ltima noo ir coroar e condensar o essencial deste
desenvolvimento, a de Verdade histrica, Noo presente a par-
tir do momento em que a anlise de Schreber revelava, no seu
delrio, uma construo terica regressiva, cuja relao com a
verdade s poderia ser expressiva atravs do reconhecimento
de que ela foi verdadeira segundo a dimenso da histria
do sujeito e segundo a dimenso da histria da humanidade. Ela
ir sustentar, alis, quer o mtodo de construo biogrfico
apresentado em 1932 como caracterstico da psicanlise, quer
a construo histrica pela qual Freud, em 1938, tentar resti-
tuir, no seu Moiss, as origens do monotesmo.
De uma etapa a outra, temos pois de situar no campo de
uma metodologia transferencial o alcance operatrio desta
noo de estratificao, oriunda da prpria prtica da psica-
nlise, de que o comentrio de Gradiva de Jensen deveria ates-
tar a posio central na esfera da cultura. E no por acaso
que esta contribuio intervm logo aps os Trs Ensaios sobre
a Teoria da Sexualidade, que consagra a explicao gentica do
fantasma de desejo, e imediatamente antes das grandes recons-
trues onto e filogenticas de Schreber e Totem e Tabu: a
estratificao a explicao transferencial da dimenso de
alteridade imanente gnese.
Mas o privilgio assim reconhecido ao Comentrio de Gr-
diva adverte-nos tambm de que a teoria freudiana da cultura
no teve de imediato o valor de um projecto sistemtico.
O recalcado, a transferncia no so, de facto, nela evo-
cados por conceitos, mas, por assim dizer, no estado nascente,
como se a aliana ntima dos registos terico e potico fosse
chamada a testemunhar o duplo sentido em que a anlise se
funda. Qual a razo, pergunta Freud, para esta predileco
manifesta pelos discursos ambguos na Gradiva? Numa pers-
pectiva didctica ou terica, podemos dizer que ela no mais
do que um corolrio da dupla determinao dos sintomas, na
medida em que os prprios discursos constituem sintomas e
todos estes resultam de compromissos entre o consciente e o
inconsciente. Mas esta viso terica funda-se numa situao
romanesca cuja singularidade na dupla acepo do termo
confere um lugar de eleio ao pensamento do duplo sentido.
Para Hanold, os seus discursos s tm um sentido e apenas a
sua companheira Gradiva capta o outro sentido. Assim, aps
a sua primeira resposta: Eu sabia que era esse 'o som da tua
voz', Zoe, ainda insuficientemente prevenida, pergunta como
que issoi possvel, visto que ele no a ouviu falar. Numa se-
gunda conversa, a jovem momentaneamente desconcertada
pelo delrio de Hanold, quer dizer, da sua amizade remontando
infncia, mas Hanold no suspeita o alcance do seu prprio
discurso e interpreta-o em relao ao delrio que o possui.
A alteridade abre assim uma nova dimenso ao duplo sentido
do discurso: a teoria confina Potica, a Potica Poesia. Por-
que a poesia no apenas jogo do som e do sentido, efeito de
discurso, mas tambm fenmeno de escuta, verdade que s fala,
como nos diz Freud, para ser entendida por meias-palavras.
Do mesmo modo' no nos admiraremos que esta anlise do
duplo sentido, conduzida primeiramente na ordem da linguagem
para lhe tornar manifesto' o equvoco da fala emitida ou com-
preendida, se desenvolva numa interpretao do amor de trans-
ferncia de modo a fazer-nos sentir afinidades poticas. O
romancista sabe que uma componente de luta contra o amor
concorreu para a gnese do delrio e deixa a jovem que tenta
a cura pressentir a componente do delrio que lhe mais agra-
dvel. S esta compreenso- pode decidi-la a consagrar-se a uma
cura. S a certeza de ser amada a pode levar a confessar o seu
prprio amor. O tratamento consiste em restituir do exterior
a Hanold as recordaes recalcadas que ele no pode libertar
do interior. Mas tudo teria sido intil se a teraputica no
tivesse em conta os sentimentos de Hanold e se a traduo do
delrio no tivesse, ao fim e ao cabo, sido: V, tudo isto signi-
fica que tu me amas.
Mas, como se sabe, compete a Gradiva e ao seu comentrio
no limitar ao discurso, interpretao e transferncia esta
potica do duplo sentido. Parece-me, exclama Gradiva, que,
h dois mil anos, partilhmos o nosso po, no te recordas?
Ppmpeia aparece, portanto, aqui em vez da infncia, o passado
histrico em vez do passado individual, a arqueologia em vez da
psicanlise. O duplo sentido no diz apenas respeito s condi-
es transferenciais do retorno do recalcado; essencial para
a elaborao do tema da cultura. certo que no conseguimos
captar de imediato o modo como se opera esta mutao. E esta
indeciso conceptual manter justamente a noo de cultura
S
31
O SSOULO XX
que nos prope Gradiva no registo potico em que o duplo sen-
tido da expresso se desenvolveu. :
Mas confere igualmente valor metfora do desenterrar
como antecipao do mtodo de anlise da cultura. Se, desde
1895, se encontrava estabelecido pelos Estudos sobre a Histeria "
o modelo que, atravs da Pompeia de Gradiva, leva Roma de
Mal-estar na Civilizao, porque o conceito psicanaltico de
estratos e o processo psicanaltico de anlise estratificada so
subjacentes a esta evocao incessantemente renovada da tc-
nica arqueolgica. Trata-se, portanto, de marcar o fundamento ,
de uma analogia epistemolgica precisa entre a historicidade ;
caracterstica do indivduo e a historicidade caracterstica da ^
cultura (entre os seus respectivos modos de sedimento). E ; t
visto que, em suma, apenas o processo transferencial d acesso
estratificao subjectiva, podemos, sem dvida, prever que ele
nos esclarecer sobre a
ia experincia psicanaltica
_ ji
nos esclarecera, auurc a, pa-oocig,^ ^ ^ v* ,,,.
teoria da cultura e, mais precisamente, que nos ajudar a
compreender o tipo de organizao em que assenta esta tran-
sio.
4. Do discurso psictico sublimao cultural:
Paternidade e meditao
De que modo este primeiro esboo de uma estratificao em
que se prolongaria e generalizaria a estratificao transferen-
cial se desenvolveu e sistematizou numa teoria, na teoria freu-
diana da cultura?
Vemos delinear-se esta verso terica no ano seguinte ao
comentrio de Graiva, com A tica Sexual e a Nervosiae
Moderna, e o interesse deste texto no reside por certo apenas
no testemunho da renovao que o ponto de vista gentico dos
Trs Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade suscita na elabo-
rao da transferncia. O conceito de estdio dominava, em
1905, os Trs Ensaios; a tica Sexual de 1908 dirigida pelo
conceito de camada. certo que assinalmos a interveno
desta noo na origem da interpretao das zonas ergenas. Mas,
doravante, as suas condies de emprego so precisas: ela
emerge em Freud em cada momento em que a gentica cha-
mada a articular-se com uma teoria do discurso. Esta, contudo,
s depender do registo da psicanlise em virtude da subordi-
nao em que o discurso se encontra em relao posio do
seu destinatrio: posio do psicanalista na transferncia, posi-
o de um garante de verdade na teoria. Temos portanto de
prosseguir na elucidao desta referncia, de modo a com-
32
FREUD: A TEORIA FREUDIANA DA CULTURA
preendermos por que razo ela emerge na prtica, na teoria
do sujeito e na teoria do desenvolvimento humano.
A este respeito no se poderia desconhecer o impulso de
Jung, e Freud no s nos advertiu disso no prefcio de Totem
e Tabu, associando ao nome de Wundt o do discpulo de que
se separa para reconhecer a sua dvida para com eles, mas tam-
bm deixou a sua marca na correspondncia com Abraham, da-
tada de 1909, a propsito do artigo de Jung sobre a Significao
do Pai para o destino do indivduo,
J tinha ouvido falar muito da contribuio de Jung,
escrevia Abraham, e esperava, assim, algo de perfeitamente ori-
ginal. Infelizmente decepcionou-me um pouco porque, para dizer
a verdade, no traz sobre a questo pontos de vista novos. Voc
tambm da opinio de que o pai [sublinhado pelo autor] seja
de tal modo preponderante? Em muitas das minhas anlises
a me; em outras, no possvel decidir quem tem a maior im-
portncia, se o pai se a me. Parece-me que isso depende muito
das situaes individuais. A resposta contudo suficiente-
mente favorvel para que se possa levantar a questo da in-
fluncia de Jung, no directamente sobre o desenvolvimento da
psicanlise mas sobre o desenvolvimento da sua problemtica.
At agora, escreve Freud, considerava que, para a pessoa,
a parte do mesmo sexo era a mais importante; mas tambm
posso admitir as minhas disposies em funo de uma maior
diversidade individual. Jung retirou, mas muito frutuosamente
[sublinhado por ns] um elemento do conjunto.
De facto, o impulso era dado investigao cujo resultado
se pode resumir no tema da morte do pai. A cultura, para
Jung, perpetuava o investimento do pai vivo; para Freud, ela
consagrar a ruptura violenta do princpio de espiritualizao
que ele representa com o indivduo vivo, que ter sido o seu
veculo. Mas a oposio tambm de ordem metodolgica. Jung
limit-so a transpor para o registo da crena religiosa algumas
orientaes da anlise das neuroses. Freud inovador na me-
dida em, que confere investigao cultural um centro de refe-
rncia clnico privilegiado, que a anlise do delrio. ao pros-
seguir esta em paralelo com a anlise da transferncia que ele
consegue constituir a teoria da cultura como discurso estrati-
ficado; e o papel do pai ento o de sustentar, das suas suces-
sivas posies, o desenvolvimento desta estratificao.
Retomemos cie facto as concluses que Jung extrai da sua
breve anlise de quatro casos de neurose. A partir do momento
em que se levanta o vu sobre o problema do destino do indi-
vduo identificvel ao problema do destino da sexualidade
o olhar dilata-se da histria individual para a histria dos
53
O SCULO XX
FREUD: A TEORIA FREUDIANA DA CULTURA
povos. E, em primeiro lugar, a ateno incide na histria das
religies. A religio do Antigo Testamento, escreve, em resumo,
Jung, promoveu o pai de famlia num Jeov dos Judeus a quem
o povo, com ansiedade, deve obedecer. Um grau intermdio em
direco divindade representado pelos patriarcas (Erzva-
ter). A angstia neurtica da religio judia, tentativa incom-
pleta de sublimao por parte de um povo ainda brbaro, ori-
ginou o cruel rigor da lei mosaica, o cerimonial compulsivo do
neurtico, evocado por Freud em 1907 no seu artigo sobre o
ritual. Apenas se libertam os profetas, a quem est reservado
o privilgio da identificao com Jeov, quer dizer, a perfeita
sublimao. Eles tornam-se ento os pais do povo. O Cristo, a
quem compete realizar a mensagem dos profetas, afasta o temor
de Deus e ensina aos homens que a verdadeira relao com a
divindade a do amor. Quebra assim o cerimonial neurtico da
Lei e d o exemplo da relao pessoal de amor a Deus. As subli-
maes incompletas da massa crist conduzem ao cerimonial da
Igreja de que apenas alguns santos e reformadores com uma
maior capacidade de sublimao se podem libertar. Inversa-
mente, prossegue Jung, vamos encontrar no curso da vida indi-
vidual as etapas que vemos sucederem-se. na cena da histria.
Os sentimentos da primeira infncia, recalcados no incons-
ciente, so a raiz das primeiras sublimaes religiosas. Deus
aparece no lugar do pai e o conflito da sexualidade e do amor
sublime exprime-se na figura do Diabo...
Confrontemos estas sugestes com a progresso do per-
curso freudiano. O interesse passa, de imediato, da expo-
sio de um material clnico caracterizado apenas pelas ati-
tudes da criana para com os membros da sua constelao
familiar e pelos conflitos originados, para a constituio interna
do delrio, compreendido como uma sublimao abortada; e,
por este facto, a contribuio da patologia para a teoria da cul-
tura, reduzida por Jung a uma transposio no motivada do
registo individual no curso da histria, apoia-se no prprio
movimento em que se engendra o discurso humano e de que o
delrio assinala uma peripcia.
Dado primeiro: a apresentao das teorias sexuais infantis.
Embora se extraviem grotescamente, escrevia Freud em
1808, cada uma contm, no entanto, um fragmento de pura
verdade; so, sob este aspecto, anlogas s solues qualifica-
das como 'geniais' que os adultos se esforam por dar aos
problemas que o mundo coloca e que ultrapassam o entendi-
mento humano. O que nelas h de correcto e pertinente expli-
ca-se por terem a sua origem nas componentes da pulso sexual
que agem j no organismo da criana; no foram a arbitrarie-
34
dade de uma deciso psquica ou o caso das impresses que
originaram tais hipteses, mas as necessidades da constituio
psico-sexual e, por essa razo, podemos falar de teorias sexuais
infantis tpicas e encontrar, do mesmo modo, as mesmas con-
cepes erradas em todas as crianas a cuja vida sexual pode-
mos ter acesso.
Estamos pois perante sistemas intelectuais parciais e o
artigo de Freud consagrado s dramticas vicissitudes das
tentativas de verificao destes sistemas. Anuncia-se, em par-
ticular, a restituio gentica da dvida: quando a criana, por
exemplo, parece no caminho certo para postular a existncia
da vagina e reconhecer numa penetrao do pnis do pai na me
esse acto atravs do qual a criana surge no corpo da me, a
investigao interrompe-se, desconcertada: ela acaba de tro-
pear na teoria segundo a qual a me possui um pnis como o
homem e a existncia da cavidade que recebe o pnis permanece
desconhecida da criana. Admitir-se- facilmente que o insu-
cesso do seu esforo de pensamento facilita a sua rejeio
(Werfen) e esquecimento. No entanto, esta ruminao inte-
lectual e esta dvida so os prottipos de todo o trabalho de
pensamento ulterior respeitante soluo de problemas, e o
primeiro falhano tem um efeito paralisante para o resto dos
tempos.
No mesmo perodo, o tema encontra uma ilustrao na
anlise do Homem aos Ratos. Uma necessidade psquica comum
aos obsecados, e que... nos leva longe na investigao das pul-
ses a da incerteza na vida ou a da dvida. A formao da
incerteza um dos mtodos de que a neurose se serve para
retirar o doente da realidade (Reailitat) e isol-lo do mundo
exterior o que, no fundo, uma tendncia comum, a qualquer
perturbao neurtica. Mas tambm a se remete, numa nota
clebre, da gnese da dvida para a filiao paterna. Segundo
Lichtenberg, o astrnomo sabe praticamente com a mesma cer-
teza se a lua habitada e quem o seu pai, mas sabe com uma
certeza muito maior quem a sua me. E constituiu de facto
um grande progresso da civilizao a humanidade ter-se deci-
dido a adoptar, ao lado do testemunho dos sentidos, o da con-
cluso lgica, e a passar do matriarcado ao patriarcado. Esta-
tuetas pr-histricas em que uma forma humana est sentada
sobre a cabea de uma maior representam a descendncia pa-
terna, Atena, sem me, sai do crebro de Jpiter. Ainda na
nossa lngua, o nome de testemunha (Zeuge) num tribunal, que
atesta qualquer coisa, provm da parte masculina do acto de
procriao; e j nos hierglifos a testemunha era representada
Pelos rgos genitais masculinos.
35
o S C U L O xx
Assim se instituiu uma sequncia entre uma srie de noes
sistemas intelectuais, verdade histrica, testemunho dos
sentidos e concluso lgica, Paternidade que interessam em
comum posio na Realidade do objecto de uma representao
abstracta. Esta sequncia, inaugurada pela anlise do delrio
obsessivo do Homem dos Ratos., s encontrar, no entanto, a sua
forma definitiva graas anlise do delrio psictico, neste caso
o delrio de Schreber, que ir pr em evidncia a articulao
dos seus diversos momentos na estrutura do sujeito. Progresso
decisivo, na medida em que faz com que o processo de regresso
aparea como o negativo da aculturao ou melhor, com que
a elaborao do conceito de regresso aparea como a contra-
partida emprica, no terreno prprio psicanlise, da elabo-
rao de uma teoria da cultura.
Lembremos pois, primeiramente, alguns elementos de m-
todo. O principal obstculo que se encontra na elucidao deste
caso, resulta da confuso entre o mecanismo da formao dos
sintomas, neste caso o delrio, e o do recalcamento. No temos
qualquer razo para supor, escreve Freud, que os mecanismos
sejam idnticos e que a formao dos sintomas siga a mesma
via que o recalcamento, sendo esta, por assim dizer, percorrida
das duas vezes em sentidos opostos. Mas importa, alm disso,
decompor este mecanismo do recalcamento. Distinguiremos
assim a fixao, o recalcamento propriamente dito e o insucesso
do recalcamento, provocando o retorno do recalcado. Concentre-
mos a nossa ateno na fixao, destinada a funcionar como
plo da regresso e deixemo-nos conduzir pelo fantasma da des-
truio do mundo. O que est aqui em causa no a regresso
da libido de um objecto para outro objecto, mas a retirada de
toda a libido da esfera dos objectos. Poderemos ento inter-
pretar o delrio como uma tentativa de reconstruo. E esta
concepo do delrio determina, de trs pontos de vista, o tema
da cultura. Por um lado, diz-nos Freud, se examinarmos as
engenhosas construes que o delrio cie Schreber edifica sobre
o terreno religioso (a hierarquia de Deus as almas experi-
mentadas os vestbulos do cu o Deus inferior e o Deus
superior), poderemos avaliar retrospectivamente a riqueza das
sublimaes que nele foram aniquiladas pela catrstrofe do des-
prendimento geral da libido. Por outro lado, se certo que os
paranicos possuem uma fixao no estdio do narcisismo,
podemos afirmar que a soma de regresso que caracteriza a
parania calculada pelo caminho que a libido deve percorrer
para retornar da homossexualidade sublimada ao narcisismo.
Finalmente, num ponto particular, a relao de Schreber com
o sol, possvel pressentir a analogia entre o processo patol-
35
FREUD: A TEORIA FREUDIANA DA CULTURA
gico de reconstruo delirante e uma etapa do desenvolvimento
cultural. Efectivamente, o sol fala uma linguagem humana,
como um ser animado, e somos obrigados a consider-lo, diz
Freud, um smbolo paterno sublimado. Alm disso, Schreber
assegura-nos que os seus raios empalidecem perante ele quando,
virado para o sol, lhe fala em voz alta. E, uma vez curado,
vangloria-se de ser capaz de, sem grande dificuldade, fixar o
Sol e de apenas ficar moderadamente ofuscado, o que, claro est,
no lhe era possvel anteriormente. este privilgio delirante
de ser capaz de fixar o Sol sem ficar ofuscado que apresenta
um interesse mitolgico e que compreenderemos a partir do
modelo do ordlio.
Todo o problema reside, portanto, em compreender a arti-
culao entre o processo psicolgico da sublimao e o processo
histrico da cultura. Mas sabemos j que esta problemtica
suportada pela corrente de pensamento que teve origem, com
a concepo das teorias infantis, na anlise da dvida em
relao posio mediata da paternidade e da realidade em que
ela se funda. A catstrofe interior de Schreber, em que o seu
mundo foi arrastado, a desinsero dcs seus investimentos do
campo da exterioridade, consagram, de facto, a ruptura desta
mediao sob a exigncia fascinante do investimento narcsico.
E a sua tentativa de reconstruo aborta, desfralda em delrio
em vez de se realizar em sublimao, na medida em que no
dispe, num centro de mediao-, de qualquer ponto de apoio
para a sua expresso. Para determinar o ponto de juno entre
o processo de sublimao e a problemtica da cultura temos
pois de investigar se existe um modo de correspondncia assi-
nalvel entre as condies subjectivas da sublimao e as con-
dies efectivamente reais do aparecimento da cultura ou, nou-
tros termos; temos de decifrar a correspondncia entre a an-
lise de Schreber e Totem e Tcibu, seu comentrio cultural.
5. O acto fundador: Solido neurtica e devir humano
Texto a que est ligada a rara fortuna de ter sido, sem
dvida, o mais maltratado de todos os escritos de Freud e de
ter, no entanto, conservado para c seu autor, at ao termo da
sua carreira, o seu crdito intacto. Dogmatismo? De todas as
hipteses formuladas por Freud, a realidade histrica da morte
do pai e a sua marca, a transmisso da culpabilidade, precisa-
mente a que ele rodeou de maiores precaues crticas. Algum
motivo propriamente analtico parece t-lo a isso encorajado,
e esta impresso reforada pelos critrios retidos pela inves-
37
O SSCULO XX
tigao. Os dois assuntos anunciados no ttulo deste livro,
escreve Freud no seu prefcio, o totem e o tabu, no so tra-
tados da mesma maneira. O problema do tabu recebe uma solu-
o que considero praticamente definitiva e certa. O mesmo
no sucede em relao ao totemismo, a respeito do qual tenho
de modestamente declarar que a soluo que proponho apenas
a que os dados actuais (sublinhado por Freud) da psicanlise
parecem justificar e autorizar. Freud coloca-se aqui, portanto,
apenas do ponto de vista psicanaltico. E igualmente noi estilo
propriamente analtico do desenterrar que a investigao se
ir desenvolver. No registo clnico ela procede do conflito neu-
rtico manifestado pela proibio ao incesto e pela ambiva-
lncia aos sentimento no ncleo narcsico de que depende
o processo psictico e para que o capitulo Animismo, magia
e omnipotncia das ideias remete. Talvez este estdio inter-
mdio entre o auto-erotismo e o amor objectai, pode ler-se,
por outro lado, na anlise de Schreber, seja inevitvel no de-
curso de qualquer desenvolvimento normal, mas parece que
certas pessoas a se detm de maneira singularmente prolon-
gada... e as teorias sexuais infantis, que atribuem inicialmente
aos dois sexos os mesmos rgos genitais, devem exercer a este
respeito uma enorme influncia. Mas, a este nvel, est envol-
vido num alto grau a relao do sujeito com a realidade. Vamos
ver que esse ser precisamente o tema fundamental da recons-
truo etnogrfica do acto fundador da comunidade primitiva.
Observemos com maior ateno o desenvolvimento e a liga-
o dos quatro captulos de Totem e Tabu.
No primeiro captulo, O medo do incesto, verificaremos
em primeiro lugar que tenta repor a questo levantada a partir
de 1897 das origens e da funo da exogamia, no contexto do
sistema totmico, numa posio intermdia entre a Sociedade
natural e a Sociedade alargada. Mas, com esta formulao,
impe-se um assinalvel deslocamento de ponto de vista.
Como que a famlia real, pergunta Freud, foi substituda
pelo grupo totmico? Eis um enigma cuja soluo talvez s
venhamos a encontrar quando tivermos compreendido perfeita-
mente a natureza do totem. Descritivamente, evocaremos pois
a noo do sistema classificatrio de Morgan. Mas, na medida
em que este sistema se funda na funo classificatria do totem,
a questo residir em saber se a represso do incesto no est
subordinada s vicissitudes da relao com o pai. E por esta
via que Totem e Tabu seguir: as tentativas de explicao da
represso do incesto fracassaram porque dissociavam o inves-
timento libidinal da agressividade para com o rival; a origina-
lidade de Totem e Tabu estar em fazer surgir a represso libi-
58
l FREUD: A TEORIA FREUDIANA DA CULTURA
dinal de uma mutao da agressividade que lhe associa a sua
estrutura edpica.
A interpretao do tabu, a que o segundo captulo se dedica,
inaugura esse movimento pela clarificao da ambivalncia
subjacente ao tabu. E, a este respeito, a analogia patolgica
exerce um triplo papel. No que se refere prpria natureza dos
processos, permite restituir a componente de agressividade que
lhe essencial; no que se refere ao seu objecto, permite reunir
em traos comparveis trs tipos caractersticos: os inimigos,
os chefes, os mortos; a agressividade emerge portanto sob a
sua forma limite, o desejo de morte de uma personagem omni-
potente. Finalmente, no que se refere ao modo de manifestao
desta hostilidade, a experincia analtica e, de modo mais
amplo, psicolgica permite ainda compreender a sua impu-
tao aos demnios ou aos espritos atravs do mecanismo1 de
projeco.
Porm, mesmo estas analogias levantam uma questo de
princpio quanto s relaes das neuroses e das formaes
sociais. Do ponto de vista gentico, escreve Freud, a natu-
reza social da neurose deriva da sua tendncia original para
fugir realidade que no oferece satisfaes, para se refugiar
num mundo imaginrio pleno de promessas aliciantes. Neste
mundo real de que o neurtico foge, reina a sociedade humana,
com todas as instituies criadas pelo trabalho colectivo; afas-
tando-se desta realidade, o neurtico exclui-se da comunidade
humana. Nos termos da nossa investigao e na perspectiva
dos seus primeiros resultados, a oposio assim formulada tra-
duz-se da seguinte forma: em que que a expresso neurtica
do desejo de morte difere da sua expresso social social quer
dizer tambm real, pois a observao ensina-nos precisamente
que os dois domnios se sobrepem.
Mas a restituio do mecanismo de projeco fornece uma
primeira abordagem. Acabamos de iniciar uma explicao da
crena nos demnios pela projeco das pulses agressivas.
Ora, o sistema assim constitudo graas a um mecanismo cujo
prottipo fornecido pelo que temos chamado a elaborao se-
cundria dos contedos do sonho, pode tomar lugar numa srie
coerente de representaes do mundo. A humanidade, a acre-
ditar nos autores, teria conhecido sucessivamente trs desses
sistemas intelectuais, trs grandes concepes do mundo: con-
cepo animista (mitolgica), concepo religiosa e concepo
cientfica. Procura-se ento reconhecer sob que categoria psico-
lgica se deixa construir uma srie como esta, se impe como
Princpio de deduo a omnipotncia das ideias, que fixa o
tema da terceira parte da obra.
39
O SCULO XX
FREUD: A TEORIA FREUDIANA DA CULTURA
E atingimos o problema da insero no real. Porque, em
primeiro lugar, nada parece mais natural do que ligar ao nar-
cisismo, como sua caracterstica essencial, o grande valor que
o primitivo e o neurtico atribuem s aces psquicas. Vamos
pois precisar o nosso primeiro esboo do desenvolvimento das
representaes do mundo. Se a fase animista corresponde ao
narcisismo, a fase religiosa corresponder ao estdio de objec-
tvao, caracterizado pela fixao da libido nos pais, enquanto
a fase cientfica ter a sua correspondncia neste estado de
maturidade do indivduo, caracterizado pela renncia procura
do prazer e pela subordinao da escolha do objecto exterior s
convenincias e s exigncias da realidade. Mas o paralelismo
no pode ser aceite acriticamente. Enquanto o neurtico, como
acabmos de sublinhar, foge do real, toda a dificuldade, na
ordem histrica, est em compreender a que ttulo pde o ani-
mismo, pelo contrrio, representar uma momento decisivo< no
acesso do ser humano ordem da realidade. Tal ser o objecto
do ltimo captulo de Totem e Tabu e a funo da morte do
pai expresso de resto muito infeliz: porque a inteno de
Freud precisamente restituir o aparecimento da funo pa-
terna a partir do fundamento do assassnio do chefe da horda,
ou seja, a inverso das relaes primitivas de dominncia.
A nossa questo inicial incidia, de facto, na origem da
comunidade totmica. Restitumos as estruturas de sociabili-
dade que lhe so subjacentes, at um momento caracterizado
pela projectividade narcsdca; e se a experincia psicanaltica
nos pde apoiar neste esforo regressivo porque o estado pr-
-totmico, a-cultural, o reino da horda, tem, de facto, o seu
modelo na psiconeurose narcsica, contanto que esta leve ao
seu limite narcsico a a-socialidade caracterstica da neurose:
assim como Schreber tem, para com a imago paterna onde
exige reconhecer-se, uma relao dual ambivalente de domnio-
-dependncia, tambm o homindeo pr-totmico tem a mesma
relao para com o chefe da horda.
Mas aqui que intervm a mutao decisiva. Esta relao
dual, a reunio dos membros da horda, seguida do assassnio
e da devorao colectiva do seu chefe, converte-a numa con-
figurao social. E o que torna possvel esta mutao a iden-
tificao recproca dos membros daquilo que se ter assim
transformado num cl, o cl totmico.
Por outras palavras, o acontecimento fundador da ordem
cultural pode ser descrito sob dois aspectos solidrios, consti-
tuindo a prpria essncia da teoria freudiana o reconhecimento
dessa solidariedade. Em primeiro lugar, a sociabilidade tot-
mica, figura inaugural da sociabilidade humana, tem como fun-
damento a morte. Porque da morte como tal que ela recebe
a marca da identificao comum aos seus participantes. Do
mesmo modo o acto de morte, que pe fim ao domnio do chefe
da horda e que abre igualmente ao homindeo as vias de um
pensamento abstracto, inaugura essa relao mediata com o
ausente em que se institui a funo cultural do antepassado
totmico, inaugura a capacidade de o ausente exercer no cl
um poder classificador. Mas assim se rompe o paralelismo entre
o neurtico e o primitivo, entre o animal totmico do pequeno
Hans e o totem primitivo. Aquele sanciona a desinsero so-
cial, este consagra o aparecimento do vnculo social. E no
basta sublinhar que o registo de que depende o assassnio do
chefe da horda no assimilvel ao da neurose mas ao da per-
verso. Porque esse perverso polimorfo que a criana ou,
com mais propriedade, que o infams passa aco por sua
prpria conta. Mas o homindeo s promove o totem na medida
em que ele participa num assassnio colectivo. E nisto consiste
o estatuto de realidade histrica, o estatuto de acontecimento,
conferido por Freud a este acto.
Neste ponto essencial esclarecem-se para ns a maior parte
das dificuldades sentidas em torno de Totem e Tabu. Um dia,
diz-nos Freud, os irmos expulsos reuniram-se, mataram e
devoraram o pai, o que ps fim existncia da horda paterna.
Uma vez reunidos, tornaram-se audaciosos e conseguiram rea-
lizar o que cada um deles, individualmente, teria sido incapaz
de fazer. Se o assassnio do chefe da horda pode ser apresen-
tado como um acontecimento histrico , portanto, na medida
ern que empreendimento colectivo, originado pelo sentimento
difuso de uma afinidade de condio entre os seus artfices; a
vitima devorada ern comum a sua vtima comum, e as dife-
rentes fases da refeio totmica atestam que esta a coroa-
o de um acontecimento integralmente colectivo. Assim, a
situao e o processo com que nos confrontmos parecem, em
primeira instncia, comparveis aos que Freud evocava, em 1913,
em Os dois princpios ao processo psquico, a respeito da ins-
crio da obra de arte no Real da comunicao. O homindeo
socializa no assassnio colectivo do chefe a sua pulso de agres-
so, do mesmo modo que o criador socializa na obra o fantasma
com que o seu desejo se envolve. Um dia, de facto, diz Freud,
os irmos coligaram-se, mataram e devoraram o chefe da
horda. O assassnio pois histrico porquanto um acto colec-
tivo, porquanto os irmos s devoram era comum aquilo que
mataram em comum, e a mesma coisa dizer que o assassnio
se cumpre realmente e que instaura o Social como funda-
mento do Real. Da a discusso que Freud inicia no fim do livro
o S C U L O xx
FREUD: . TEORIA FREUDIANA DA CULTURA
sobre a oposio entre a realidade psquica e a realidade
factual. No seria possvel assimil-las e considerar a reac-
o moral do primitivo como reaco simples realidade ps-
quica do desejo e no realidade do acto? Mas a realidade
psquica a que o neurtico reage distingue-se precisamente
da realidade efectiva por esta depender da insero social; ter
por origem da moralidade uma reaco ao desejo individual
equivaleria a torn-la ininteligvel como instituio social.
No se poderia, pelo menos, supor que a sociedade criou con-
dies favorveis para o seu progresso contnuo? Mas, tra-
ta-se precisamente de justificar esta descontinuidade, visto que
temos de promover o chefe da horda como morto. Uma passa-
gem ao acto assassino, socializado, portanto, em virtude
deste acto, real. A relao da essncia pulsional com a morte
emerge assim no cerne do problema da cultura e o movimento
de pensamento desenvolvido por Totem e Tabu ir encontrar,
em 1920, o seu coroamento no segundo tpico.
6. Iluso transferencial e progresso cultural
Recordemos em primeiro lugar que o problema das pul-
ses de morte se ps a Freud muito antes da elaborao siste-
mtica de Para Alm do Princpio de Prazer. Podemos afir-
mar, escrevia ele na anlise do presidente Schreber, que o
processo prprio do recalcamento consiste no facto de a libido
se desprender de pessoas ou de coisas anteriormente ama-
das. Este processo desenrola-se em silncio, sem sabermos que
decorre, sendo obrigados a inferi-lo dos processos que lhe suce-
dem. O que atrai fortemente a nossa ateno o processo de
cura que suprime o recalcamento e remete a libido para as
prprias pessoas que tinham abandonado. Aqui no h erro
possvel: Preud antecipa as clebres formas de 1920, ou antes,
ir retomar em 1920 as frmulas de 1911 para designar o
estilo de trabalho das pulses de morte: As pulses de morte
trabalham em silncio; todo o tumulto da vida provm de
Eros. Assim, a ruptura de Schreber com o mundo e, inversa-
mente, o seu retomo s pessoas e s coisas outrora amadas
parecem, nesta altura, depender de processos que sero mais
tarde relacionados com as pulses de morte e com o Eros; ou
melhor, e para nos exprimirmos com maior prudncia, digamos
que o recalcamento definido negativamente em relao ao
objecto exterior, ou seja, como motivo de desinvestimento da
alteridade, e no j apenas em relao s representaes pul-
sionais, prefigura alguns dos traos e funes imputados pul-
so da morte, em oposio aos processos que presidem re-
construo do mundo e que dependeriam da esfera do Eros.
E, sem dvida, no est ainda explicitamente iniciado o debate
entre esses dois grupos de pulses, mas entre o eu e as pulses
sexuais. No quereria terminar este trabalho, escreve Freud
em concluso do caso Schreber, que, mais uma vez, apenas
um fragmento de um conjunto mais vasto, sem recordar duas
proposies principais que a teoria libidinal das neuroses e das
psicoses tende cada vez mais a comprovar: as neuroses ema-
nam essencialmente de um conflito1 entre o eu e a pulso sexual,
e as formas de que se revestem trazem a marca da evoluo
seguida pela libido e pelo eu. No entanto, j se indicam os
desenvolvimentos a que a pulso dessexualizada estava desti-
nada, Penso, escreve por fim Freud, que est prximo o
momento de alargar um princpio que ns, psicanalistas, h
muito enuncimos, e de acrescentar ao que ele implica de indi-
vidual, de ontogentico, uma ampliao antropolgica, filo-
gentica.
A equao que constitua o ncleo de Gradiva encontra-se,
pois, aqui sob nova forma. Em lugar da equao Pompeia = in-
fncia aparece, no contexto de Schreber, a questo Totem=Pai.
Mas o comentrio de Gradiva no se limitava equivalncia
entre Pompeia e a infncia. Esta equivalncia era estabelecida
no registo da transferncia. Por outro lado, como acabamos de
ver, na perspectiva filogentica que c totem assume o lugar
do pai primitivo'. Freud, alis, assimila o ponto de vista arqueo-
lgico ao ponto de vista filogentico. E, finalmente, todos
sabem que estas correspondncias so motivadas pelo princpio
que considerado razo comum lei ontof ilogentica de Haeckel
e transferncia, isto , pela compulso repetitiva em que a
pulso de morte se traduz.
Comeamos assim a entrever o destino do tema arqueo-
lgico que formava o ncleo do comentrio de Gradiva. A estra-
tificao das sries psquicas definida pelos Estudos sobre a
Histeria tem apenas um alcance metodolgico. Gradiva con-
fere-lhe a sua dimenso transferencial. Mas a dimenso trans-
ferencial na medida em que repetitiva depende da pulso de
morte; e foi precisamente, assinalemo-lo, sobre o fundamento
de uma estratificao das camadas da realidade solidria
de uma teoria matemtica e serial do equilbrio que Fechner
introduziu em 1873, com o princpio de constncia, o modelo
sob a gide do qual vai ser elaborado o segundo tpico de
Freud. Mas, ao caracterizar a constncia como a igualizao
das tenses qumicas, Freud por certo fez mais do que desig-
nar uma noo. Dotou-nos de um mtodo capaz de determinar
O SCULO XX
certo tipo de processos, neste caso o tipo de processo em que
a pulso de morte representa o vector energtico, ou seja, de
modo mais geral, a aproximao do homogneo, a desindivi-
dualizao ou, num sentido subjectivo, a desapropriao.
Apliquemos, de facto, este modo de proceder nossa equa-
o Pompeia = infncia. Pompeia, assimptota, nunca atingida,
dos actos repetitivos, representa a infncia, mas desapro-
priada: passado cado no anonimato e que no seramos por-
tanto capazes, atravs de critrio algum, de distinguir do pas-
sado da espcie.
Nesta perspectiva, o apoio dado concepo freudiana
pela lei de Haeckel seria restitudo sua verdadeira signifi-
cao, ou seja, sua significao propriamente psicanaltica
e esta significao fundada na sua dimenso constitutiva, isto
, na perspectiva da transferncia. Mas podemos avanar um
pouco mais, porquanto a transferncia obsesso do inani-
mado. Mas sabemos que se ignora somo tal. Por outras pala-
vras, a verdade da transferncia est dissimulada para o su-
jeito, mas a aparncia sob que se oculta deve apresentar-nos
o seu modo de presena sob forma invertida. Ora, Freud des-
creveu efectivamente esta viragem do anonimato do Outro na
sua personificao ilusria como centro de gratificao: esse
o objecto de Futuro de uma Iluso, onde parece evidente que
ele situa as representaes religiosas no registo da filognese
apenas por ter visto surgir a matriz ilusria do amor de trans-
ferncia limitando-se ento a questo somente em saber
sobre que fundamento se opera esta mutao, do desenvolvi-
mento da transferncia ao desenvolvimento ancestral.
E, bem entendido, a questo era implicitamente levantada
pelo comentrio de Gradiva e, precisamente, podia ser-lhe
dada resposta graas elaborao da noo de transferncia.
Mas igualmente assinalvel que os elementos desta resposta
no tenham sido simplesmente formulados nos escritos tcnicos
mas que se desprendam de um novo texto de interpretao
mitolgica e de crtica literria o comentrio sobre o motivo
das Trs Urnas. Faltava um intermedirio entre as represen-
taes provindas do amor de tranf erncia e a sua traduo filo-
gentica. O motivo das trs urnas designa-o nesse smbolo da
morte o silncio.
Ora, a prefigurao deste silncio -nos dada precisa-
mente pelo silncio do analista. E Frend no sublinharia segu-
ramente como o fez a funo simblica se esta no contribusse
para um esclarecimento decisivo da sua experincia.
Mas a experincia psicanaltica, que a da transferncia
e sua resoluo, designa-nos tambm a dimenso em que esta
U
FREUD: A TEORIA FREUDIANA DA CULTURA
simblica se constitui e permite compreender as suas incidn-
cias. Em primeiro lugar atesta-nos porque se trata de um
facto de experincia que o sujeito que se acha confrontado
com o silncio, isto , que no obtm resposta sua prpria
interrogao, posto em questo na sua identidade. A carac-
terstica problemtica retrocede do contedo do discurso para
o ego. Mas compreendemos assim que as representaes ento
conferidas ao sujeito tendem a cair no anonimato, e compreen-
demos inversamente que o sujeito se esfora por se manter
na sua identidade enfraquecida, ou seja, que se atribui um
suporte para uma identidade que se esquiva na personificao
ilusria, do Outro. Deixemos agora desenvolver-se este desgnio
constitutivo do amor de transferncia segundo um processo
anlogo ao que consagrava a equao infncia = Pompeia.
Observaremos as iluses transferenciais converterem-se em
iluso cultural, assitiremos, nos termos de Futuro de uma
Iluso, ao nascimento das mitologias e das religies.
7. Genealogia da cultura
A experincia subjectiva da transferncia reconhece por
modelo a generalidade de uma experincia ancestral da huma-
nidade na medida em que a identidade do sujeito da transfe-
rncia suspensa pelo silncio do 'analista: , pois, esta a for-
mulao cujas diferentes dimenses se trata agora de fazer
aparecer, para permitir uma representao sistemtica da
teoria freudiana da cultura. Nesta investigao, -nos proposto
um fio condutor pela genealogia dos problemas que evoca o
artigo Interesse a Psicanlise, publicado em 1913, isto , no
perodo mdio do freudismo em que a teoria da psicose, pro-
movendo a noo de destino pulsional, permite simultanea-
mente perspectivar os ensinamentos do sonho e da patologia
e, numa outra vertente, antecipar o desenvolvimento da noo
psicanaltica de historicidade.
Aps ter recapitulado na sua primeira parte os conceitos
e as aquisies fundamentais dependentes do interesse psico-
lgico, quer dizer, da teoria psicanaltica do sujeito, esse texto
enumera os domnios em que se manifesta o interesse da psi-
canlise em comparao com as cincias no psicolgicas.
E a sua importncia advm, em primeiro lugar, da ordem
adoptada por Freud na sua exposio, onde imediatamente
visvel que ele tem em mira a gnese epistemolgica das disci-
plinas evocadas.
O SCULO XX FREUD: A TEORIA FREUDIANA DA CULTURA
Antes de mais, o interesse pela linguistica. A nossa insis- :
tncia nos modelos da psicanlise no exigiria que a nos deti-
vssemos se Freud no sublinhasse um aspecto essencial, e \o descurado, da afinidade entre processo do sonho
e processo da linguagem. que, como os meios de represen-
taco que o sonho apresenta consistem em imagens visuais e
no em palavras, a comparao do sonho com um sistema de
escrita parece ainda mais adaptada do que a comparao com
uma linguagem. A interpretao dos sonhos portanto assi- : .
milvel ao desenvolvimento de uma escrita antiga como os
hierglifos egpcios. Encontra-se, em particular, em ambos
os registos, a funo dos determinantes em relao com a
superdeterminao. Compreendemos agora todo o alcance da -"
sugesto avanada em 1905 pela anlise da histeria de Dora,
respeitante ao investimento do escrito como meio de comuni-
cao com o ausente: o mesmo se passa com o sonho na ausn-
cia do alocutor.
Mas compreendemos igualmente como o interesse lingus-
tico conduz ao interesse filosfico. O inconsciente, que se ex-
prime atravs da linguagem do sonho, fala mais que um
dialecto; a histeria, por exemplo, fala a linguagem dos gestos
e a neurose obsessiva a linguagem dos pensamentos. Do mesmo
modo, pode-se restituir as fontes subjectivas da psicologia e a
indicao rene-se aqui reconstruo das vises do mundo
em Totem e Tabu: a elaborao secundria do sonho fornece
um excelente exemplo da maneira como um sistema se forma,
com as suas naturezas e exigncias. Nos paranicos, o sistema
domina o quadro mrbido, mas ele tambm no deve ser me-
nosprezado nas outras formas de psiconeurose. Ora, um sis-
tema como este no se distingue, de maneira nenhuma, de uma
representao como o animismo. O animismo um sistema
intelectual. No explica apenas este ou aquele fenmeno mas
permite conceber o mundo como um vasto conjunto a partir
de um dado ponto; de um modo mais geral, a primeira das
trs grandes concepes do mundo: animista (mitolgica), reli-
giosa e cientfica. psicanlise no autoriza portanto apenas a .
crtica subjectiva dos sistemas filosficos no sentido em que lhe
restituiria a marca do destino pulsional de um criador sin-
gular; funda, mais radicalmente, uma tpica dos sistemas no
estabelecimento dos momentos genticos de constituio do
discurso.
Por outras palavras, compete-lhe dar o seu pleno sentido
noo de verdade histrica.
A partir do momento em que, com efeito, a psicose vai
ocupar uma posio central na teoria psicanaltiea, e na medida
em que implica o desmoronamento conjunto da posio de ou-
trem e da realidade, o destino pulsional revela-se como histria
da alteridade. A verdade histrica traduz o facto de que, em
cada uma das viragens desta histria, o sujeito se constitui
como um modelo especfico' de abertura para outrem.
Encontramo-nos no ponto em que o interesse da psican-
lise pela filosofia desemboca no seu interesse1 biolgico. A filo-
sofia refere o discurso a uma posio cie verdade, isto , a uma
posio da alteridade, e a biologia assegura a determinao
dessa relao, mantida precisamente pela insuficincia da filo-
sofia no registo de uma intersubjectividade abstracta, como
veculo da funo sexual. Deste ponto de vista, o conceito
de Triebj nomeadamente, pode ser introduzido como conceito
limite entre o registo psicolgico e o registo biolgico. Em par-
ticular, diremos, a respeito do masculino e do feminino, que no
se relacionam com as prprias pulses mas com os seus alvos.
Fica, no entanto, por explicar a posio singular do orga-
nismo num e noutro plos da relao biolgica, e esta questo
implica a emergncia de uma nova dimenso epistemolgica.
Porque a psicanlise distingue-se dos outros tipos de anlise
por lhe competir, lembra Freud, no b decompor o complexo
em elementos simples, mas tambm remeter de uma formao
psicolgica para a que a precedeu e a partir da qual ela se
desenvolveu. Assim se define o seu interesse pela histria do
desenvolvimento. Para retomar os modos de representao de
que apareceu fundamentalmente adstrito, o psiquismo estra-
tificado de modo original, em que o passado no est sepa-
rado do presente mas permanece virtualmente inerente a ele.
Mas podemos tambm restituir em cada uma dessas
camadas o trao de um despojamento. O interesse da psica-
nlise pela histria do desenvolvimento impe, nessa qualidade,
o seu interesse pela histria da cultura.
Atingimos agora uma das exposies mais condensadas,
mas tambm mais sistemticas., que Freud nos deixou, refe-
rente prpria constituio deste domnio de investigaes.
Metodologicamente, o princpio que preside o de uma
transferncia dos pontos de vista, hipteses e descobertas
da psicanlise. Uma primeira aplicao foi feita a esses pro-
dutos da imaginao dos povos que so o mito e o conto po-
pular. Se lhe atribumos um sentido secreto, a psicanlise
prepara-nos para captar as alteraes (nsrungen) e as
recomposies (Umwandlungen) que o recobrem, e a um
nvel duplo. Por um lado, o trabalho que ela efectuou sobre o
sonho e sobre a neurose d-nos ensinamentos quanto aos mo-
tivos da redistribuio dos momentos componentes destes con-
46 4 "
O SCULO XX FREUD: A TEORIA FREUDIANA DA CULTURA
juntos. Por outro lado, permite-nos restabelecer os motivos
que impuseram a dissimulao do seu estado primitivo. Mas
esse apenas um primeiro domnio de transferncia. A psi-
canlise, para alm disso, capaz de esclarecer as origens das
nossas grandes instituies culturais: religio, tica, direito,
filosofia. E consegue-o na medida em que restitui, a partir
dos seus traos (nachsputt), as situaes psquicas primitivas.
que deram o estmulo para tais criaes. Para aceder inteli-
gncia, isto , emergncia epistemolgica da teoria freudiana
da cultura, torna-se apenas necessrio confrontar, na prpria
ordem em que no-lo propem a genealogia das cincias e a
emergncia progressiva das suas dimenses caractersticas, o
interesse da psicanlise pela lingustica, pela filosofia, pala
biologia, o seu interesse pela histria da cultura. Ora, se o
vocabulrio de Freud, na poca em que nos encontramos, ir
ainda evoluir, o seu pensamento perfeitamente claro no que
se refere originalidade deste domnio e dimenso em que
os processos foram ordenados: a esfera da cultura a da cas-
trao. De facto, Freud recorda em primeiro lugar a distino
entre necessidade e desejo, ou seja, como tinha indicado o
stimo captulo de Interpretao dos Sonhos, a tenso origi-
nada pelo apelo ao outro em procura da saciedade. Seguida-
mente, apoia-se nesta distino para opor essas exigncias, a
cuja satisfao o mundo exterior pode ser forado ou concor-
rer, aos desejos no satisfeitos para os quais dever ser encon-
trada uma igao. Mas no atingimos ainda aqui a definio
da cultura: ela depende propriamente da esfera da crena, em
que o primeiro momento restitui na vida dos povos a crena
infantil na omnipotncia e em que os momentos posteriores,
que so precisamente as fases do desenvolvimento da cultura,
traduzem as transformaes da crena sob as espcies das con-
cepes do mundo, animista, religiosa, cientfica. Tornamos,
assim, mais precisa a dimenso em que estas transformaes c
desenvolvem e compreendemos igualmente a sua conexo com
as posies da verdade histrica, noo que Freud avana
nesse mesmo momento. A crena infantil primitiva na omni-
potncia coincidncia narcsica entre o sujeito e o Outro
tutelar, e as representaes sucessivas do mundo figuram as
mutaes do Outro em que a exigncia da crena se perpetua
enquanto se afirma a sua independncia das reivindicaes do
sujeito; aos momentos progressivamente desenvolvidos da
crena correspondero as sucessivas posies da verdade
histrica.
Mitos, religio, direito, so portanto os substitutos da
cauo que era imediatamente assegurada ao infans pela
crena infantil na sua omnipotncia. Eles ligam o desejo, no
sentido em que o retorno da presena tutelar, objecto dos seus
desgnios, deixa transparecer o seu fundamento na prpria
natureza das potncias que influenciam ou regulam o curso das
coisas. A ocorrncia da satisfao substituda pela segurana
das qualidades que lhe legitimam o acesso, a crena na pr-
pria omnipotncia, exercendo-se em benefcio deste ser sin-
gular e nico que eu sou, substituda pela crena numa ordem
que se exerce em benefcio de qualquer ser singular, consa-
grando-o e reconhecendo-o nessa qualidade. O desejo indivi-
dual no excludo, universalizado.
Ora, a situao assim dominada a istuao de abandono
(Hilflosigkeit) que o inverso da crena na omnipotncia;
sabemos, para alm disso, que uma das contribuies de 1926
de Inibio, Sintoma, Angstia ser a caracterizao desta
situao pela experincia ou repetio da angstia de que
possvel, em definitivo, afirmar que sempre angstia da cas-
trao, na acepo generalizada em que o termo pode ser
tomado a todos os nveis da separao: o rgo genital em
particular, segundo uma observao tirada de Ferenczi, dar
lugar angstia de castrao, na medida em que traz a cauo
(Gewahrung) de uma possvel reunio ao corpo materno. Esta
forma de crena que a ligao cultural, constitui, portanto,
o valor no lugar onde se deixa de exercer a garantia contra a
castrao. E na medida em que a dimenso da crena est
originalmente presente na certeza do infans na sua omnipo-
tncia, que nesta mesma dimenso da crena se distribuem os
valores que constituiro os sucessivos ncleos das formas de-
senvolvidas da cultura.
A categoria da privao a partir da qual a castrao se
determina, aparece pois aqui no seu nvel prprio, na genera-
lizao das cincias no psicolgicas. Em 1913, data em que
redige O Interesse da Psicanlise, falta no entanto a Freud
um princpio para legitimar o seu. uso, ou melhor, este princpio
est apenas em esboo no comentrio de caso Schreber; ser
explicitado na noo das pulses de morte e no segundo tpico,
cuja elaborao dirigida por esta noo: a pulso de morte
exerce uma funo de dessexualizao sobre o Eros. Por outras
palavras, compete-lhe superar essa polarizao de actividade
e de passividade que marca a constituio do registo biolgico.
Em ltima anlise, uma tal despolarizao levaria ao nivela-
mento geral das tenses entre o indivduo e o mundo que o
rodeia, ou seja ao retorno ao no vivo, anterior ao vivo. O apa-
recimento dos valores de cultura uma fase deste ciclo e
as categorias, cujo alcance operacional consagra, dominaro as
'
O SCULO XX
fases posteriores, medida que o seu uso for promovido a
outros nveis atravs da introduo de novas dimenses de
anlise.
A tarefa das Cincias da Arte ser, em primeiro lugar,
a determinao das condies em que atribudo um estatuto
de actualidade aos fantasmas relegados no imaginrio, em
virtude da recusa que o real ope exigncia pulsional de frui-
o. Devemos pois distinguir, como Freud o fez, nomeadamente
em os Dois Princpios do Processo Psquico, a efectividade
ou realidade efectiva (Wirklichkeit) das obras e a realidade
(Realtt), definida pela independncia em relao ao sujeito,
independncia cuja assumpo tem por fundamento o princpio
de realidade (Realittsprinzip). Mas o artista, na medida em
que produz -a sua obra, fornece a si mesmo uma via de retorno
realidade (Realitt): de facto, diz Freud, a insatisfao que
experimenta comum aos outros homens; ela pois, nessa
qualidade, uma parte da Realidade. Na perspectiva epistemo-
lgica em que estamos colocados, a dimenso em que se desen-
volvem os processos de criao fica assim determinada no seu
nvel e originalidade prprios. O aparecimento das grandes
instituies culturais correspondia ligao da pulso insa-
tisfeita. Pressupunha a privao que a categoria de castra-
o ir representar. Mas o mito, o direito, a religio no sus-
tentavam por si mesmos a instaurao de um novo campo de
actividades ou o aparecimento correlativo de uma nova esp-
cie de realidades efectivas. O artista, pelo contrrio, eleva-se
at converter a privao numa presena actual, a da obra, e
esta presena fundada na Realidade pelo simples facto de ser
o motivo de uma comunicao universal. Outrem despoja o
sujeito da sua pretenso sobre o mundo, mas outrem a ga-
rantia da expreso que esse despojamento encontra na obra
na medida em que o partilha com o sujeito criador.
Passemos agora desta comunidade expressiva, em que o
sujeito se actualiza, para o estabelecimento das exigncias que
so o preo da realizao efectiva de uma ordem cultural; che-
garemos ao nvel sociolgico e dimenso que o suporta a
de integrao. Paradoxo aparente: Freud trata em primeiro
lugar da a-socialidade para assinalar o interesse da psicanlise
pela sociologia. Mas a a-socialidade, resta perspectiva, tem
precisamente como sentido a explicitao do tipo de ordenao
caracterstico do processo social. E, assim, o nvel epistemol-
gico em que este se deveria situar pode ser estabelecido. A his-
tria da cultura a das grandes instituies culturais que
para o sujeito, decado da sua omnipotncia, mantm o esta-
tuto de uma identidade substitutiva do seu narcisismo. Para
50
FREUD: A TEORIA FREUDIANA DA CULTURA
este efeito, a produo artstica permite a actualizao dos
seus fantasmas no sentido em que a obra o suporte da comu-
nicao da sua estrutura que os constituiu precisamente em
fantasmas. Mas nenhuma destas dimenses atinge ainda a
sua realizao hic et nunc em efectivas relaes de troca. De-
terminar, dir Freud em 1932, de que modo a constituio
pulsional em geral, as variaes raciais e as suas recomposi-
es culturais se contm e se atraem reciprocamente sob as
condies estabelecidas pela organizao social, pela actividade
profissional e pelas possibilidades de ganho, e proceder a esta
determinao na particularidade de cada caso im einzel-
nen), seria a tarefa de uma verdadeira sociologia, o que equi-
vale, sem dvida, a afirmar que a sociologia uma psicologia
aplicada na medida em que estuda o comportamento do ho-
mem na sociedade mas o que especifica tambm a acepo
original em que entendida a aplicao e a dimenso episte-
molgica que consagra, na medida em que delimita, o lugar de
actualizao efectiva do indivduo.
Agora, mas s agora, se pode levantar a questo da subli-
mao a que compete promover na ordem social as energias
reprimidas em razo das prprias exigncias da aculturao
social. Se retornamos abordagem do problema di incesto,
que Freud inicialmente tentou, porque isso equivale a afirmar
que a liberdade sexual perversa a que os homens renuncia-
ram em benefcio de uma mais vasta comunidade encon-
trar nesta um campo de actualizao pela converso dos
objectivos que lhe estavam primitivamente inerentes e aqui
emerge o interesse pela pedagogia.
Mas isto no mais do que um episdio no desenvolvi-
mento do pensamento freudiano. A integrao nas concepes
sociolgicas de Interesse da psicanlise da hiptese directriz
de Totem e Tabu lanar, de facto, as bases de uma teoria da
histria e esta teoria Mal-estar na Civilizao.
H, no entanto, uma fase intermdia: a elaborao (con-
junta) do conceito de pulso de morte e do segundo tpico.
Porque esta elaborao tem, de facto, em mira a teoria da
cultura, no prprio lugar na acepo tpica em que o
superego assegura indefinidamente a perpetuao de uma culpa-
bilidade no menos necessria ao trabalho da cultura, pela
coaco que impe s pulses, do que o foi, no seu aparecimento,
o acto de morte de que ela procede,
Mas Mal-estar na Civilizao traz ainda mais: o traado
de um destino cultural das pulses de morte (o que se pode
dizer pela transposio do ttulo do artigo de 1915, As pulses
e o seu destino).
51
O SCULO XX
8. Agresso, culpabilidade, histria
O Interesse da Psicanlise assinalou, de facto, a funo
da insatisfao da pulso no desenvolvimento humano. Mas
que pulso? Sabamos j, a partir da anlise de Schreber, que as
pulses de morte trabalham em silncio, o que a restituio do
acto fundador da cultura nos vem confirmar: para matar, os
membros da horda reuniram-se; a partir desse momento
intervm, pois, lateralmente no exerccio da destruio, uma
componente de uma outra ordem. E toda a metodologia de
Mal-estar assenta, efectivamente, no princpio de que a pulso
de morte, para se manifestar ou at mesmo para dar ensejo
anlise, deve beneficiar do concurso de Eros. A agressividade
representa precisamente, na sua forma mais elementar, este
enredar das pulses de morte e de Eros.
Mas, se certo que o desenvolvimento cultural tem como
condio a insatisfao pulsional, qual destas componentes
iremos pr em causa? Nesta formulao dinmica, compete
ao Mal-estar na Civilizao mostrar que as condies de ins-
taurao da cultura prescrevem que se substitua a questo
econmica das vicissitudes histricas da agressividade.
Para avaliar os progressos realizados neste terreno em
quarenta anos de investigao, lembremos apenas que o pro-
blema aqui levantado o mesmo que, em 1897, a noo de fun-
damentos afectivos (affelttive Grundlage) evocava, sendo estes
ento destinados a sustentar os processos intelectuais da
cultura moral. Toda a dificuldade consistia, ento, em determinar
um termo mdio entre a individualidade dos fundamentos afec-
tivos e a socialidade dos processos intelectuais da moral.
Ora, este termo mdio foi restabelecido por Totem e Tabu: o
assassnio colectivo do chefe da horda. Qualquer processo que
possa derivar deste -acto ser, portanto, originalmente e de
parte a parte, um processo colectivo e, em primeiro lugar, o
reforo do sentimento de culpabilidade, sobre que Freud afirma
em Mal-estar, que legtimo esperar que atinja, em virtude das
exigncias da cultura, um nvel to elevado que o indivduo
tenha dificuldade em suportar.
Processo irreversvel, atravs do qual se define de facto,
na opinio de Freud, uma das caractersticas essenciais da
histria humana para cuja inteligncia Inibio, Sintoma, An-
gstia, estabelecer, em 1927 uma ltima referncia. Entre a
angstia e a culpabilidade, sublinhava ento Freud, apenas
existe uma diferena tpica. A culpabilidade a angstia pe-
rante o superego, isto , perante a instncia em que se inte-
rioriza a potncia de que a criana, em estado de abandono,
52
FREUD: A TEORIA FREUDIANA DA CULTURA
depende: a me, numa primeira anlise, mas em definitivo o
pai, de cuja autoridade depende a eventualidade da sua reapa-
rio. Mas a nova teoria das pulses permite avanar um pouco
mais. De facto, o mesmo texto desloca o ncleo gerador da
angstia do registo objectai para o conflito original das pul-
ses de vida e de morte. Ser esse igualmente o princpio de
construo da culpabilidade histrica em Mal-estar, de onde
provm a ltima promessa do empreendimento terico de
Freud, a sugesto condensada, mas decisiva, de uma articulao
possvel da psicanlise com a sociologia e, nomeadamente, com
o domnio socioeconmico do pensamento marxista.
Retomemos pois, luz da hiptese terica do dualismo
pulsional e do assassnio originrio, o problema da culpabili-
dade. O sentimento pelo qual o assassnio do chefe da horda
sancionado depende do remorso. Mas necessrio que lhe
preexista uma disposio que geralmente recobre o conceito de
culpabilidade. E a teoria das pulses permite a sua deduo.
A culpabilidade exprime originariamente o prprio conflito
das pulses de morte e de vida, isto , na medida em que as
relaciona com o seu alvo e com o seu objecto virtual, o conflito
de amor e de dio. Extramos ento da nossa hiptese inicial
uma srie de derivaes auxiliares: o assassnio do chefe satis-
faz a componente agressiva do complexo pulsional; o amor
assim liberto reaparece no remorso ligado ao crime, engendra
o superego por identificao ao pai, delega nele o direito e o
poder que este detinha de punir, de algum modo, o acto de
agresso realizado' sobre a sua pessoa e, por fim, estabelece
as restries destinadas a impedir o seu retorno.
No entanto, prossegue Freud, devemos recordar uma con-
cepo perfeitamente conveniente para a psicanlise e total-
mente estranha ao pensamento humano tradicional. Na sua
origem, a conscincia moral (Gewissen) aparece como a causa
da renncia pulso mas, posteriormente, a relao inverte-se.
Qualquer renncia pulsional torna-se ento uma fonte de ener-
gia para a conscincia; em seguida, qualquer nova renncia
intensifica, por sua vez, a sua severidade e intolerncia. A an-
tecipao histrica de um crescimento inexorvel da culpabi-
lidade colectiva at esse grau em que poderia tornar-se insu-
portvel para a humanidade, refere-se portanto a este pro-
cesso em espiral.
No este o local para investigar o modo como esta ante-
cipao pode ser confirmada pela sintomatologia social das
crises histricas nos tempos modernos. Para apreciar o even-
tual interesse dessa investigao para a teoria psicanaltica,
sublinhemos apenas a diversidade que pode afectar as mani-
53
O SCULO XX
f estaes desta presso intolervel da culpabilidade. Quer
se trate de transformaes da tica, de mutaes nas relaes
de autoridade, da evoluo das formas artsticas, nada disto
se refere, evidentemente, a uma expresso directa da culpabi-
lidade em qualquer dos conflitos ou figuras da histria, mas
a. deslocamentos sintomticos de que uma investigao de esp-
rito analtico deveria, precisamente, reconstruir as fases ou
restabelecer, na culpabilidade original, a fonte esquecida.
Mas a preponderncia reconhecida na teoria energtica
das pulses tem consequncias metodolgicas mais directas.
A considerao das estruturas, isto , a organizao social das
situaes em que esta energia se insere, ser-lhe-, de facto,
subordinada. estrutura edpica, em particular, ser conferido
um estatuto de relatividade na medida em que consagra sim-
plesmente a marca do conflito pulsdonal original na estrutura
familiar. Como dissemos, o sentimento de culpabilidade a
expresso da luta eterna entre Eros e a pulso de morte.
Este conflito inflamou-se a partir do momento em que foi im-
posta aos homens a obrigao de viver em comum. Enquanto
esta comunidade conhece apenas a forma familiar, ele mani-
festa-se necessariamente no complexo de dipo, institui a cons-
cincia e d origem ao primeiro sentimento de culpabilidade.
Quando esta comunidade tende a alargar-se, o mesmo conflito
persiste revestindo formas que dependem do passado, inten-
sifica-se e leva a uma acentuao do primeiro sentimento.
Deste modo se encontra estabelecido, na sua formao pro-
priamente psicanaltica, O; problema que Freud levanta desde
1897, referente s origens da represso do incesto em relao
com a transio da sociedade familiar para o sociedade alar-
gada. Mas a prpria noo de organizao social requer uma ela-
borao. Trata-se de saber, em primeiro lugar, qual a participa-
o na articulao do ponto de vista propriamente psicanaltico,
ou seja, na teoria das pulses, da anlise das estruturas, no s
sociais mas tambm socioeconmicas: preocupao que ir levar
Freud a debruar-se em 1932, nas Norvas Conferncias sobre
a, Psicanlise, sobre a situao da psicanlise em relao
investigao marxista.
1 certo que a sua contribuio limitou-se, neste domnio,
a sugestes metodolgicas. No entanto estas conservam, em
comparao com numerosas tentativas contemporneas, uma
originalidade surpreendente, e, como esto estreitamente liga-
das com o desenvolvimento terico que acabamos de evocar,
parece-nos que no ser intil apresentar pelo menos um esboo
delas.
FREUD: A TEORIA FREUDIANA DA CULTURA
9, Economia pulsional e processos socioeconmcos
\e incio, a relao do princpio de economia de Mach com
as analogias desenvolvidas nomeadamente pela Interpretao
dos Sonhos e pelo Dito de Esprito entre os modelos da econo-
mia poltica e a economia do trabalho inconsciente, necessitaria
de ser precisada. Um exemplo famoso o comentrio do sonho
de Otto no stimo captulo da Interpretao dois Sonhos. O de-
sejo diurno que Freud reconhece de ser nomeado professor
titular teria permitido que ele repousasse se, como diz, a preo-
cupao (Sorge) pela sade do seu amigo no tivesse perma-
necido viva. Mas, por si s, esta preocupao no teria pro-
duzido qualquer sonho. A fora motriz que o sonho exigia devia
receber a contribuio de um desejo; criar este desejo' como
fora motriz do sonho era o trabalho da preocupao (Diese
Sorge htte noch keinen Traum gemacht, die Triebkraft, die der
Traum bedurfte, musste von einem Wunsche beigesteuert wer-
en, es war Sache der Besorgnis, sich einen salchen Wunsch
ais Triebkraft ds Traumes zu verschaffen). Ser esta. a base
do modelo econmico: o resto diurno, neste caso a preocupa-
o, exerce o papel do empresrio que tem a ideia (Idee) e o
impulso (Drmg) para a converter em acto, mas que nada
pode fazer sem o capital: tambm ele tem necessidade de um
capitalista que possa fazer face s despesas (Aufwand) e este
capitalista sempre uma aspirao vinda do inconsciente. Po-
dem ento ser encaradas diferentes variaes, consoante a
contribuio respectiva de um ou vrios capitalistas e empre-
srios. Todas elas tm em comum o que constitui precisamente
o termo de comparao entre os dois tipos de economias:
a considerao da quantidade livremente disponvel numa
medida determinvel, E este elemento, que constitui pois o nervo
da comparao, encontra, prossegue Freud, uma ilustrao par-
ticularmente interessante na estrutura do sonho (Traumstru-
ktur).
Um segundo exemplo ser-nos-ia dado pela parte sinttica
do dito de esprito, no captulo intitulado Os mbiles do esp-
rito, o esprito como processo social. O interesse da passagem
o de tornar evidente a originalidade dos problemas da economia
freudiana; vai-nos permitir tambm precisar, por cotejo, o nvel
a que esta originalidade se manifesta.
Antes do mais, resumamos.
Tema geral: comparao da economia psquica com a ges-
to de uma empresa comercial (Geschftsbetrieb).
1. Considerao, nesta perspectiva, do volume das tran-
saces (Umsaitz).
55
O SCULO XX l
2. Num negcio modesto, a poupana depende do valor
absoluto da despesa. Os custos da administrao (Regie)
sero reduzidos ao mnimo.
3. Aumentando o volume das transaces (Umsatz) e a
receita, a parte relativa destas despesas diminui. Parece
que, portanto, no que se lhes refere, a poupana deve
diminuir.
4. Todavia, uma judiciosa adminstrao tende ainda a
reduzi-las ao mnimo.
O mesmo se passa no que se refere poupana psquica:
1. H um prazer localizado da poupana (exemplo do
comutador elctrico).
2. No entanto, sendo realizada esta poupana, uma alegria
durvel apenas possvel na medida em que a energia
no dispendida no encontrar colocao.
3. Esta ligao opera-se em relao ao terceiro. Indicao
evidentemente essencial. Comprova, de facto, o que
constitui a originalidade da economia freudiana, ou seja,
a distribuio da energia psquica entre as trs partes
da estrutura edpica. Observou-se, alis, a diferena
dos pontos de vista sob que se situam os dois modelos
do Sonho e do Dito de Esprito. Na linguagem da eco-
nomia poltica, o primeiro incide nas condies de pro-
duo, o segundo na gesto financeira na sua relao
com o volume das operaes comerciais. Por outras pa-
lavras, um diz respeito energtica do trabalho ps-
quico, outro distribuio de energia numa rede de
trocas.
O desenvolvimento do pensamento freudiano e, nomeada-
mente, o aparecimento do segundo tpico, a concepo de Freud
acerca da insero da energia pulsional em diferentes nveis
de estrutura estrutura familiar, sociedade alargada vo,
no entanto, dar a estas primeiras sugestes um novo realce.
O ensaio sobre O Dito de Esprito prope-nos de facto, para
um caso particular, uma teoria da sublimao: neste caso, su-
blimao da situao estabelecida na cena primitiva, com as
componentes de indiscrio e de agressividade, cujos prolon-
gamentos se encontram no Homem dos Ratos. Mais precisa-
mente, o terceiro do Dito de Esprito vem em lugar do ter-
ceiro da estrutura edpica ao nvel da qual foi transportada a
experincia ou o fantasma da cena primitiva; mas ele ocupa
este lugar j no na qualidade de rival, mas na qualidade de um
alocutor lateral, destinatrio de uma mensagem puramente
56
FREUD: A TEORIA FREUDIANA DA CULTURA
significativa ou, por outras palavras, nesse lugar em que se
realiza, nos termos dos Dois Princpios do Processo Psquico^
a sociabilizao da castrao subjectiva que promove o fantasma
ao estatuto da obra de arte. esse o sentido do alvio global
que Freud evoca no termo da sua anlise das condies econ-
micas do dito de esprito e que representa o modo de ligao da
energia libertada pelo levantamento das inibies.
Ora, a partir do fundamento do Mal-estar, ou seja, a partir
do tema da estruturao da energia, esta primeira sugesto do
Dito de Esprito parece ento generalizvel. Sabemos j que
Freud distingue inequivocamente em O Mal-estar o ponto de vista
energtico em que se define o conflito entre as pulses de vida
e de morte do ponto de vista estrutural, em que se esboa a es-
tratificao das organizaes por que a energia se distribui.
Podemos, portanto, situar facilmente a representao econmica
do Dito de Esprito. Situa-se nesse nvel de estruturao em
que se realiza a socializao da dinmica edpica que ela
mesma a representao, na organizao familiar, da energia
pulsional. Mas, assim, -nos sugerida uma hiptese heurstica.
Se certo que o processo de sublimao exprime uma mutao
da referncia ao terceiro, poderemos ento perguntar se o apa-
recimento de mutaes anlogas, em outros nveis de estrutu-
rao, no presidiria constituio do domnio sociolgico em
condies acessveis a uma anlise sistemtica. E o prprio
Freud nos convida a esta investigao.
Recorramos pois s sugestes de limitada extenso, mas
nem por isso menos preciosas, que o ltimo captulo de Novas
Conferncias sobre a Psicanlise (1932), referente avaliao
freudiana do pensamento marxista, suscita. A lemos, em suma,
que as estruturas socioeconmicas determinam as condies
em que as foras onde a energia pulsional se actualiza se distri-
buem, se opem ou se equilibram. Da a questo: em que posi-
o, a este nvel, se deve situar o terceiro ?
Em primeiro lugar, evidente que s conseguiremos pro-
gredir nesta via na condio de nos termos assegurado de um
ponto de referncia rigoroso do estatuto epistemolgico da
questo levantadaou, em outros termos, do seu nvel na
estratificao epistemolgica esboada em 1913 no Interesse
da Psicanlise.
Este texto, no que se refere sociologia, situava-se, de
facto, bastante aqum do Mal-estar e das Novas Conferncias.
Embora evocasse o tema da culpabilidade e o das exigncias da
sociedade e da cultura, nada antecipava sobre a participao que
vir mais tarde a ter a agressividade. Alm disso, o problema
do trabalho no encarado no nvel sociolgico mas a um nvel
57
O SCULO XX
epistemolgico antecedente segundo a estratificao das dis-
ciplinas no psicolgicas, no nvel da histria da cultura, onde
se encontram definidas as grandes instituies culturais da
religio, da tica, do direito, e da filosofia: estando estabele-
cido o princpio da analogia das fontes dinmicas nas realiza-
es individuais e sociais, Freud dispunha efectivamente duas
partes na classificao dos mecanismos que, em virtude da sua
funo comum, asseguram a libertao das tenses provindas
das necessidades. Uma parte desta tarefa ser resolvida pela
satisfao que se obtm, forosamente, do mundo exterior. Para
este fim, requer-se o domnio do mundo real. No entanto,
uma outra parte das exigncias humanas permanece assim in-
satisfeita. A histria da cultura permite reconhecer por que
vias se opera a ligao destes desejos insatisfeitos, segundo
as condies alterveis e modificveis, graas ao progresso tc-
nico que so as de uma recusa ou de uma resposta favorvel
por parte da realidade. Em resumo, assistia-se ao abandono
de toda a potncia dos pensamentos e da representao animista,
em proveito de uma Weltaschauung religiosa e, seguidamente
cientfica. Freud afirma que mito, religio! e tica se inse-
rem neste contexto como tentativas de assegurar compensaes
falta da satisfao de desejo. O conjunto deste desenvol-
vimento realiza-se assim paralelamente ao progressivo dom-
nio do mundo e para colmatar as lacunas.
Qual , portanto, a contribuio do segundo tpico? A
questo no tem um interesse estritamente histrico. Procura
restituir, se tal for possvel, a dimenso em que a noo de
trabalho de 1912, inicialmente definida no nvel da cultura, se
converteu numa noo do domnio sociolgico nos escritos do
ltimo perodo e, nomeadamente, sob a perspectiva da aproxi-
mao tentada por Freud entre as contribuies da psicanlise
e do marxismo. Em 1912, apenas era evocada a ligao dos
desejos no satisfeitos nas condies atribudas pelo progresso
tcnico insero natural do homem; em 1932, Q' mesmo pro-
blema formulado' , mas a outro nvel, o da sociologia, conce-
bido como psicologia aplicada, isto , como a configurao
das representaes dinmicas prprias das situaes histricas
particulares. A gerao conceptual .desta mudana de perspec-
tiva , a ipartir da, facilmente discernvel: a estratificao epis-
temolgica de 1912 estipula uma anterioridade da cincia do
desenvolvimento sobre a da cultura e desta sobre a sociologia.
Consideremos, no entanto, a especificao das categorias ener-
gticas e o estabelecimento dos nveis de estrutura. A cincia
do desenvolvimento constitui-se no nvel da estrutura familiar
e a sociologia no nvel da estrutura da sociedade alargada,
58
FREUD: A TEORIA FREUDIANA DA CULTURA
enquanto a cincia da cultura se interessar pela articulao de
ambas. Formulemos ento, nesta nova linguagem, o problema
da mudana de posio do terceiro, problema que equivale
no fundo a prolongar as sugestes de Pulses e suas Vicissi-
tudes (1913), de modo a seguir esta linha de destino das pul-
ses no nvel estrutural da sociedade alargada. Diremos que
se trata, para ns, de precisar segundo que modo de estrutura-
o historicamente determinadoem cada situao singular,
diz-nos Freud, e tendo em considerao a influncia essencial
das condies tcnicas e socioeconmicas se constitui o tipo
de trabalho e de produo caracterstico de uma determinada
sociedade. Quem tentasse transformar o marxismo numa ver-
dadeira doutrina social, escreve Freud em 1932 nas suas Novas
Conferncias, deveria ser capaz de mostrar detalhadmente o
papel de cada um destes diversos factores.
10. Principais componentes de uma teoria da cultura
Teremos progredido suficientemente para estabelecer, no
termo deste desenvolvimento, o balano sistemtico de uma
teoria freudiana da cultura ? Qualquer discusso a este res-
peito exige, evidentemente, que seja afastada a impreciso em
que at agora foi deixada a traduo dos termos alemes
Kultur e Zivilisation e o prprio contedo das noes que
lhe correspondem. Mas a soluo, para Freud, no oferece qual-
quer dificuldade: A cultura humana (diemenschliche Kultur)
escreve ele em 1927 em O Futuro de uma iluso, por cultura
humana eu entendo tudo aquilo atravs do qual a vida humana
se elevou acima das suas condies animais e por onde ela se
distingue da vida dos animais, e recuso separar a civilizao
da cultura (und ich verschmhe es, Kultur und Zivilisntion
zurennen oferece, como se sabe, dois aspectos ao observador.
Ela compreende, por um lado, todo o saber e o poder (ali das
Wissen und Knnen) que os homens adquiriram a fim de domi-
nar as foras da natureza e de conseguir os seus bens para a
satisfao das necessidades humanas (um die Krfte der Natur
zu beherrschen und ihr Guter zur Befrieigung der menschl-
chen Bedurfnisse abzugewinnen) ; por outro lado, todas as orga-
nizaes (Einrichtungen) que so necessrias para regular as
relaes dos homens entre si e, em particular, a repartio dos
bens que so capazes de assegurar.
certo que Freud no afirma que as noes de Kultur
e de Zivilisation sejam equivalentes, mas apenas que recusa
separ-las e sugere-nos a razo desta solidariedade. Ela
59
O SCULO XX
FREUD: A TEORIA FREUDIANA DA CULTURA
revela a prpria constituio das organizaes sociais como
provenientes de uma superao das condies animais da vida:
a civilizao perpetua na sua intimidade o movimento que a
engendrou, est destinada a entregar sem descanso o resgate e,
como Freud, citando Shakespeare, anunciava j a Fliess a res-
peito do indivduo (o mesmo se passa, com maior razo ainda,
com a espcie humana), no deixa de ser devedora de uma
morte natureza, O que, em 1917, O Homem dos Lobos ex-
prime admiravelmente, numa data em que se opera precisa-
mente a grande viragem inaugurada pela anlise de Schreber,
da libido s pulses de morte.
Se se considerar o comportamento da criana de quatro
anos em face da cena primitiva reactivada, escrevia Freud,
s dificilmente se poder afastar a ideia de que uma espcie
de saber difcil de definir, como uma prescincia, age, nestes
casos, na criana. No podemos em absoluto imaginar em que
pode consistir tal saber e no dispomos para esse efeito
seno de uma nica mas excelente analogia: o saber instintivo
(instinktive) to extenso dos animais. Este patrimnio
instintivo constituiria o ncleo do inconsciente uma espcie de
actividade mental primitiva, destinada a ser posteriormente
destronada e recoberta pela razo humana quando a razo tiver
sido adquirida.
Estamos assim situados no nvel que acaba de nos desig-
nar, na definio da cultura, a referncia natureza. Mas o
facto esssencial que esta inerncia primitiva, embora seja su-
perada, no por isso anulada. Com frequncia, prossegue
Freud, e talvez em todos ns, este patrimnio instintivo con-
serva o poder de absorver processos psquicos mais elevados.
O recalcamento seria o retorno a este estado instintivo sendo
assim que o homem pagaria (bezalilen, sublinhado por ns),
com a sua aptido para a neurose, a sua grande nova aquisio;
testemunharia, alm disso, em virtude da possibilidade das neu-
roses, a existncia de estdios anteriores instintivos. Mais
ainda, esta hiptese permite-nos a reconstruo do prprio
detalhe dos processos psquicos. De facto, o importante papel
dos traumatismos da primeira infncia seria fornecer ao in-
consciente um material que o preservasse da usura por altura
da subsequente evoluo. E talvez que, por fim, a concluso de
Freud, pela sua ltima referncia, nos justificasse da nossa
entrada na matria. Eu bem sei que em diversos lados se falou
de ideias semelhantes, sublinhando o factor hereditrio, filoge-
neticamente adquirido, da vida psquica. Penso mesmo que
houve demasiada tendncia para lhe conceder um lugar e atri-
buir importncia na psicanlise. Apenas os considero admiss-
veis quando a psicanlise respeita a ordem das instncias e,
aps ter atravessado os estratos (Schichtung, sublinhado por
ns) sucessivos do que foi individualmente adquirido, encontra
por fim os vestgios do que o homem herdou.
Esta tenso da actividade psquica primitiva para a
racionalidade, de onde provm a nossa aptido para a neurose,
, portanto, o que Freud tinha em vista quando evocava no prin-
cpio da definio da cultura, a promoo da vida humana
acima das suas condies animais; e a hiptese directriz da
teoria consiste em compreender a cultura como uma socializao
deste prprio movimento' de gnese, ou seja, como a socializao
das carncias, dos riscos e dos conflitos que so a sano deste
arrancamento esfera da natureza. Sublinhmos j, como carac-
terstica da ltima fase do pensamento freudiano, a distino
do registo energtico das pulses, que constitui o assunto espe-
cfico da investigao psicanaltica, e das configuraes histori-
camente determinadas, famlia, sociedade alargada, em que estas
pulses depositam respectivamente o trao do conflito edpico
e da culpabilidade. Primeiro exemplo da emergncia ao nvel da
cultura das condies da sua prpria gnese. Mas reconhecemos
na prpria definio da pulso como' representante da neces-
sidade, reconhecemos na insatisfao a que a pulso est desti-
nada em virtude da sua emergncia da ordem fechada da natu-
reza e na plasticidade em que encontra a sano do seu inacaba-
mento, a garantia e o prprio ganho do desenvolvimento cultural
nas grandes organizaes sociais da religio, do direito e da
arte, os responsveis pela converso desta privao interna
nas formas sublimadas da ordem social.
Mas a construo das relaes sociais apenas, como disse-
mos, um dos aspectos da cultura; o outro ajusta a relao do
homem com a natureza no reconhecimento, na actividade tcnica
e no trabalho. E estes dois aspectos esto estreitamente ligados,
em primeiro lugar, escreve Freud em O Futuro de uma Iluso,
porque as relaes mtuas dos homens so profundamente in-
fluenciadas pela dimenso das satisfaes pulsionais que as
riquezas presentes permitem; em segundo lugar, porque o pr-
prio indivduo pode entrar em relao com outro homem na qua-
lidade de proprietrio, na medida em que emprega a sua capa-
cidade de trabalho ou o toma como objecto sexual; em terceiro
lugar, porque cada indivduo virtualmente um inimigo da civi-
lizao que, no entanto, trabalha no interesse da humanidade
em geral.
Acabamos de salientar que, para Freud, to essencial
Para a sociologia e, nomeadamente, para a sociologia marxista,
manter esta solidariedade com a teoria das pulses como para
60
61
O SCULO XX
a teoria psicanaltica da cultura especificar as organizaes em
que o trabalho das pulses se desenvolve e, nomeadamente, em
que a ambivalncia pulsional se manifesta. Trata-se, repitamo-lo,
de simples sugestes, mas cuja originalidade metodolgica pode-
mos, neste ponto, precisar: ela assenta no princpio de uma
correspondncia entre a estratificao cultural e a estratificao
epistemolgica cuja primeira verso, proposta em 1913 a partir
das espcies da genealogia das cincias no psicolgicas, teria
de ser reconstruda com base no fundamento do segundo tpico
e no prolongamento dos desenvolvimentos que acabamos de es-
boar. Em suma, est excluda uma aplicao directa da psi-
canlise s cincias sociais pela mesma razo- que se exclui uma
psicanlise selvagem; no possvel, antes de abordar o do-
mnio socioeconmico, poupar a dificuldade de percorrer uma
srie de disciplinas intermdias, assim como no se pode poupar
ao paciente, como Freud afirma, o longo e doloroso trabalho da
cura e as vicissitudes da transferncia.
E talvez a analogia seja mais essencial do que parece, por-
que da teoria da transferncia e da sua resoluo que provm
a teoria freudiana da cultura e dela que esta recebe o seu
estatuto psicanaltico'. A genealogia das cincias do homem, na
medida em que inspirada pela psicanlise, depende da mesma
origem, articulando atravs das diferentes camadas de sociabi-
lidade o campo de conceptualizao aberto por Totem e Tabu.
Decididamente, uma epistemologia comparada devia, portanto,
restabelecer todo o itinerrio do destino pulsional, ou seja, a
prpria histria da alteridade, satisfazendo assim o desejo ju-
venil de Freud declarado por duas vezes durante 1896: No
tive, na minha juventude, outra aspirao (Sehnsucht) alm
da que me impelia para o conhecimento filosfico, e estou agora
prestes a satisfaz-la ao caminhar da medicina para a psicolo-
gia, satisfazendo este desejo originalmente alimentado no
mais ntimo de si mesmo, muito para alm da exaltao das
primeiras descobertas, no momento em que a elaborao da pul-
so de morte conduz a psicanlise, da estrada real dos sonhos,
ao limiar de uma teoria da histria.
BIBLIOGRAFIA
Obras completas de Preud, com excepo dos chamados trabalhos
pr-psicanalitlcos e da correspondncia: Gesammelte Werke, I-XVII, ndice
geral, XVIII. S. Fischer Verlag, 1940-1968.
Tradues francesas:
Obras:
Btudes sur 1'Hystrie, em colaborao com Breuer, P. U. F., 1956.
Interprtation ds Revs, P. U. F., 1926; nova edio, 1967.
L Rev et son interprtation, Gallimard, 1925.
Psychopathologie de Ia vie quotidienne, Payot, 1948 [Edio portu-
guesa: Psicopatologia da Vida Quotidiana, Estdios Cor, Lisboa (N. do T.)~\.
Trois essais sur Ia thorie de Ia sexualit, Gallimard, 1962. [Edio
portuguesa: Trs Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, Livros do Brasil,
Lisboa. (N. do T.)].
L Mot d'esprit et ss rapports avec l'inconscient, Gallimard, 1953.
Delires et revs a-ns Ia Gradiva de Jensen, Gallimard, 1949.
Un Souvenir d'enfance de Lonar da Vinci, Gallimard, 1927.
Toten et Tabou, Payot, 1947.
Introdwciion Ia Psychanalyse, Payot, 1951.
Inhibition, symptm-e et angoisse, P. U. F., 1951; nova edio, 1965.
L'Avenir 'une Ilhision, Denoel e Steele, 1932; P. U. F., 1961.
Malaise dans Ia civilisation, Denoel e Steele, 1932; P. U. F., 1971.
Nouvelles Confrences sur Ia Psychanalyse, Gallimard, 1936.
Abrg de Psychanalyse, P. U. F., 1950.
Moise et l Slonothisme, Gallimard, 1948.
Compilao de artigos:
Ma vie et Ia psychanalyse, Gallimard, 1928.
Cinq Psychanalyses, P. U. F., 1954.
La Vie Sexuelle, P. U. F., 1969.
Essais de Psychanalyse Aplique, Gallimard, 1933.
Mtapsychologie, Gallimard, 1952.
Essais de Psychanalyse, Payot, 1936.
La Technique Psychanalytique, P. U. F., 1953.
Correspondncia:
Correspondance (1813-1939), Gallimard, 1969.
62
63
O SCULO XX
Corresponance avec Wilhelm Fliess (1S81-1902), in La Naissance de
Ia Psychanalyse; P. U. P., 1956.
Corresponance avec Karl Abraham (1907-1926), Gallimard, 1969.
Corresponance avec l pasteur Pfister, Gallimard, 1966.
Correspondance avec Lou Anras-Slom, Gallimard, 1970.
Estudos sobre Freud:
ANZIEU (D.), L'Auto-Analyse, P. U. F., 1959.
JONES (E.)t La Vie et 1'Oeuvre e Sigmund freu, 3 vol., P. U. F.
1958,
KAUFMANN (P.), Psychanalyse es oeuvres in Encyclopaedia Uni-
versalies, volume XIII, 1972.
LAPLANCHE (J.) et PONTALIS (J.-B.), Vovabulaire e Ia Psycha-
nalyse, sob a direco de D. Lagache, P. U. F., 1967. [Edio portuguesa:
Vocabulrio da Psicanlise, Moraes Editores, Lisboa, 1970. (N. do T.) ].
MANNONI (O.), Freu, ditions du Seuil, 1968.
RICCEur (P.), De l'interprtation. Essai sur Freud, ditions du
Seuil, 1965.
ROBERT (M.), La rvolution psychanaly tique, 2 vol., Payot, 1966.
Trabalhos originais sobre a psicanlise freudiana:
LACAN (J.), crits, Editions du Seuil, 1966.
II
A TEORIA E A OBSERVAO NA FILOSOFIA
DAS CINCIAS DO POSITIVISMO LGICO
por Jacques Bouveresse
1. Diabolus in philosophia
O dogma fundamental do empirismo moderno, escreve
Hempel, a ideia de que qualquer conhecimento no analtico
se funda na experincia. Denominamos esta tese o princpio do
empirismo. O empirismo lgico contemporneo acrescentou-lhe
a mxima segundo a qual uma proposio no constitui uma
assero cognitivamente dotada de sentido, s podendo, por con-
sequncia, dizer-se que ela verdadeira ou falsa se for, primeiro
analtica ou contraditria, ou ento, segundo, susceptvel, pelo
menos em princpio, de ser submetida a um teste pela experin-
cia (1). Russel d uma definio idntica do empirismo: O em-
pirismo pode ser definido como a assero: Qualquer conheci-
mento sinttico funa-se na experincia. Ele faz notar que esta
assero s adquire um sentido determinado quando se tiver
definido sinttico, conhecimento, funda-se na e experin-
cia ; depois de o ter feito, chega concluso de que ela verda-
deira com algumas restries, isto , que o empirismo, como teo-
ria do conhecimento, inadequado, mas de que o menos do
que qualquer outra teoria do conhecimento anterior e que, de
qualquer modo, as insuficincias que se viu forado a reconhe-
(* ) Cari G. Hempel, Problems and Changes in the Empricist Criterion
f Meaning, Revue Internationale de Philosophie 11 (1950); reproduzido
Linsky (ed.) Semantics and the Philosophy o f Language, The Univer-
of Illinois Press, Urbana, 1952, pp. 161-185 (ver p. 163).
65
O SCULO XX
cer foram descobertas, no que lhe diz respeito, por uma adeso
estrita e uma doutrina que inspirou a filosofia empirista: a
doutrina segundo1 a qual qualquer conhecimento humano
incerto, inexacto e parcial C 1) . Esta acepo, emprica e feita
com importantes reservas, de uma tese que no pode, certa-
mente, ser derivada da experincia, deve surpreender os ama-
dores de posies peremptrias. Mas pense-se o que se pensar, de
modo geral, do empirismo, no se pode contestar uma das po-
sies de Russel: as melhores e, de certo modo, as nicas crti-
cas reais do empirismo devem-se a filsofos que se reclamavam,
todavia, do empirismo, ou, pelo menos, de uma certa forma de
empirismo.
A tese segundo a qual todo o conhecimento no analtico
(ou seja, que no de tipo lgico-matemtico) se funda na expe-
rincia , por certo, difcil (e, em certo sentido, completamente
impossvel) de estabelecer; mas talvez, em certos aspectos,
ainda mais difcil de rejeitar. Alguns filsofos e epistemlogos
conseguiram aparentemente, no nosso pas, desqualificar como
empirista qualquer filosofia das cincias que deixe entender
que uma teoria cientfica deve estar, ao fim e ao cabo, de uma
maneira ou de outra, sob o controlo de algo como a experin-
cia, a realidade, os factos, etc. A uma no-theories-theory
que duvidamos que algum tenha alguma vez defendido seria-
mente, ope-se uma espcie de no-facts-theory, o que tem qual-
quer coisa de mordaz, pois evoca de muito perto uma teoria da
verdade-coerncia que foi precisamente defendida, numa certa
poca, por uma parte dos neo-positivistas lgicos (Neurath,
Hempel, e, at certo ponto., pelo prprio C arnap) . Segundo esta
teoria, a verdade ou a falsidade de uma proposio nunca deriva
de uma confrontao com a realidade extralingustica, mas, sim-
plesmente, da sua compatibilidade ou incompatibilidade com
outras proposies num sistema, sendo afinal o sistema verda-
deiro aquele que for aceite pelos cientistas da nossa poca (2 ) .
Ressalvando naturalmente todas as diferenas, no se com-
preende muito bem como que aqueles que, seja por que razes
for, negam a referncia necessria das teorias cientficas
experincia (independentemente do que aqui queira dizer a pala-
vra referncia) esperam fugir aos inconvenientes da concep-
(' ) Cf. Human Knowledge, Its Scope and lmits, Simon and Schuster,
Inc., Nova Iorque, 1948, Parte VI, Cap. X.
(") Ver nomeadamente a crtica de Russel, An Inquiry into Meaning
and Truth, Allen & Unwin, Londres, 1940, Cap. X; e a de A. J. Ayer, Veri-
fication and Experience, Proceeings of the Aristotelian Society, 1936-1937,
reproduzido eni Id. (ed. ) , Logical Positivism, Macmillan, 1959, pp. 228-243.
A TEORIA E A OBSERVAO NA FILOSOFIA
co sintxica da verdade, do convencionalismo e do histori-
cismo.
curioso que no se tenha observado mais vezes a simetria
caracterstica que existe entre o dogmatismo antimetafsico do
Crculo de Viena e o dogmatismo anti-empirista que frequente-
mente se lhe ope. A diferena mais importante , evidentemente,
que os neo-positivistas lgicos se viram forados a precisar pro-
gressivamente o que entendiam eliminar quando falavam de eli-
minar a metafsica, o que os levou, de facto, a renunciar quase
totalmente ao seu programa primitivo, enquanto, do outro lado,
a intolerncia mais macia e vaga do que nunca. Russel, de
quem podemos decididamente invejar o humor e a lucidez, escre-
veu na Histria das Minlias Ideias Filosficas: A acusao de
fazer metafsica tornou-se, em filosofia, uma acusao do gnero
da que se faz a um funcionrio perigoso para a segurana do
pas. Eu no sei o que se pretende dizer pela palavra metafsica.
A nica definio que encontrei capaz de convir a todos os casos
a seguinte: Opinio filosfica que o autor no defende O) .
Poder-se-ia dizer praticamente a mesma coisa da palavra empi-
rismo tal como utilizada, de maneira geral, em Frana: ela
significa essencialmente uma coisa de aquele que fala no pode,
de nenhum modo, ser suspeito e de que necessrio, custe o que
custar, evitar a suspeita. Porque, se ser empirista consiste ape-
nas em defender que qualquer conhecimento no analtico se
funda na experincia, parece que, at aqui, to possvel
perguntar Como se pode no se ser empirista? como Como
se pode ser empirista? Rejeitar o princpio do empirismo sem
outra preciso equivale a no rejeitar coisa alguma, porque a
negao do princpio uma proposio to vaga como o prprio
princpio. E, no que se refere s diferentes especificaes, parti-
cularmente complexas e elaboradas, que foram acrescentadas ao
princpio pelos empiristas contemporneos, no se pode dizer que
tenham sido verdadeiramente recusadas, no nosso pas, pelos
detractores da filosofia empirista, visto que so., de maneira
geral, completamente ignoradas. A situao que se pode obser-
var , de facto, a seguinte: o empirismo condenado de uma vez
por todas, mas no porque aquilo que os seus representantes afir-
mam leve a concluses inaceitveis; tudo o que possam dizer
considerado a priori como inaceitvel porque se reclamam
do empirismo (2 ) . Ora, o que interessante nas filosofias empi-
0) Histaire de ms ies phlosophiques, trad. francesa, Gallimard,
1961, pp. 276-277,
(2 ) E necessrio constatar que o hbito francs de utilizar algumas
palavras mgicas em isnio (idealismo, empirismo, positivismo, etc. )
67
O SCULO XX
ristas o que se segue declarao de princpios; e precisa-
mente isso que, geralmente, ningum se d ao trabalho de exa-
minar.
Sob o nome de empirismo denuncia-se normalmente a
iluso que consiste em pensar que conhecer, no sentido usual e
cientfico do termo, essencialmente constatar, registar, conta-
bilizar, etc., os fenmenos, ou seja, ignorar a importncia e a
especificidade do trabalho terico, o facto de que o conhecimento
deve ser produzido e no apenas recebido, de que os factos
cientficos no so dados mas construdos, e que a sua constru-
o pressupe teorias, etc. Os que ignoram estas verdades pri-
meiras esto, por certo, completamente errados; mas resta saber
se, entre os empiristas conscientes e responsveis, h muitas pes-
soas nessas condies. Mach defendeu, de facto, a ideia do carc-
ter essencialmente compendiador e, portanto, em princpio, facul-
tativo, de qualquer teoria, chegando mesmo a sugerir que se
todos os fenmenos singulares que dseejamos conhecer nos fos-
sem imediatamente acessveis nunca uma cincia se teria cons-
titudo. A teoria segundo a qual as construes da cincia servem
unicamente para ordenar um universo de dados sensoriais at-
micos pode legitimamente aparecer hoje como uma curiosidade,
quase pela mesma razo que as concepes de Bacon. Mas o
perodo machiano de Carnap, por exemplo, foi muito breve.
Corresponde essencialmente a Der logische Aufbau der Welt
(1928), em que se esfora, no seguimento das sugestes de
Russel e utilizando as tcnicas dos Principia Mathematica,, por
efectuar a reduo definicional de qualquer espcie de discurso
sobre o mundo exterior a um discurso em termos de dados dos
sentidos (sense-ata), de teoria dos conjuntos e de lgica, ou
seja, reduzir toda a ontologia das coisas da teoria dos con-
juntos dos dados sensoriais.
Certamente que no contradiremos Goodman quando
observa que o Aufbau considerado, de modo quase geral, como
uma abominao filosfica: The Awfbau stands preminent as
a horrible example 1). Mas isso deve-se certamente em grande
,..Y:.-,Vt
como refutao suficiente, conduziu na prtica, num certo nmero de casos,
a que o real trabalho efectuado em outros pases permita consider-lo como
uma forma aristocrtica de analfabetismo. H um certo nmero de tra-
balhos inferiores que so (se tal se pode dizer) reservados mo-de-obra
estrangeira e um certo nmero de trabalhadores com quem no devemos
compronieter-nos.
C1) The Significance of Der logische Aufbau der Welt, na colectnea
organizada por PA. A. Schilpp, The Philosophy of Rudoif Carnap, Open
Court, La Salle, Illinois, 1963, p. 545. Passarei a partir de agora a utilizar
a abreviao PRC para esta obra.
68
A TEORIA E A OBSERVAO NA FILOSOFIA
parte, como assinala, porque foi esquecido que, no esprito de
Carnap, no se tratava de traar a gnese real ou hipttica dos
nossos conceitos, mas de fornecer uma reconstruo racional
do processo de aquisio do conhecimento, isto , de tornar evi-
dentes certas relaes de dependncia lgica entre as nossas
ideias, no pressupondo a validade do sistema nada de seme-
lhante primazia gnoseolgica dos elementos de partida ou
plausibilidade das fases distinguidas e da ordem seguida na
constituio. , de facto, um erro censurar o Aufbau a partir
do terreno da teoria do conhecimento ou da epistemologia. Mas,
de qualquer modo, o fenomenalisnio foi abandonado por Carnap
a partir dos anos Trinta. Embora reconhecendo que se podia
sempre, em teoria, escolher livremente entre uma linguagem
fenomenalista e uma linguagem fisicalista quando se trata de
usar uma lngua da cincia, j no se interessou seno pela cons-
truo e estudo dos sistemas fisicalistas em virtude de certas
vantagens decisivas que apresentam (cf. PRC, p. 945). De facto,
com excluso de Goodman (The Structure of Appearance, 1951),
o Carnap do Aufbau no teve uma verdadeira posteridade.
Censura-se frequentemente os empiristas por no se darem
conta de que a cincia s parte do real para dele se afastar. Mas
se os empiristas modernos puderem, em certos momentos, causar
a impresso de que procuravam antes de mais anular esse afas-
tamento, sucede que o seu empreendimento consistiu essencial-
mente em tentar determin-lo, em tentar compreender em que
direco e por que vias os conceitos e as proposies da cincia
se afastam da experincia, a que distncia dela se encontram.
Colocada sob esta forma no absoluto, a questo no tem, eviden-
temente, muito sentido; mas talvez no seja absurdo a priori
coloc-la a respeito da linguagem de uma cincia particular
tomada num estado determinado, com fez, por exemplo, Carnap
para a fsica O). Que qualquer conhecimento, por mais humilde
e vulgar, comporte j uma parte considervel e irredutvel de
elaborao terica, um facto que por certo nunca escapou real-
mente ao autor do Aufbau e que, de qualquer modo, no pode ser
oposto com pertinncia a uma tentativa de reconstruo lgica
do mundo com uma base mnima. Trata-se, seja como for, de algo
que autores como Popper ou Quine sublinharam com nfase.
(Refira-se de passagem que delicioso constatar que em Frana
se recorre com frequncia, contra o empirismo em geral, a argu-
mentos prximos dos que foram utilizados, alis de maneira
C) Ver, por exemplo, PhysikliscJie BegriffsHldung, Wissen und Wir-
ken, Einzelschrifften zu den Grundfragen ds Erkennens und Schaffens,
B(l. 39, Karlsruhe, 1926.
69
O SCULO XX
elaborada e convincente, por um empirista to decidido como
Quine, e em nome do prprio empirismo, contra certas formas
de reducionismo.)
preciso notar que se, como parece hoje quase evidente, o
programa do neo-positivismo lgico era perfeitamente irreali-
zvel e no foi realizado, talvez no haja motivo para uma satis-
fao particular, visto que isso prova principalmente, num deter-
minado sentido, que somos, de modo geral, incapazes de dizer o
que distingue uma explicao cientfica de outro tipo de expli-
cao. de recear, efectivamente, que aqueles que temem acima
de tudo ver a cincia confessar certas ligaes comprometedoras
com a experincia se encontrem em dificuldade quando se trata
de nos dizer o que faz com que, por exemplo, a teoria da rela-
tividade seja uma explicao cientfica do mundo fsico enquanto
algumas construes mitolgicas, religiosas ou filosficas o no
so. Porque, se a favor da cientificidade apenas se pode invocar
o facto de tomar uma suficiente distncia em relao expe-
rincia, a coerncia interna e o consenso dos especialistas, no
se compreende muito bem o que que impede de considerar even-
tualmente a teologia racional como uma cincia, na mesma qua-
lidade que a fsica relativista. Carnap e os neo-positivistas lgi-
cos consideraram, com razo ou sem ela, que a diferena entre
uma explicao teolgica ou metafsica caracterstica e uma
explicao cientfica do mundo devia consistir, afinal, no facto
de que os conceitos, as proposies e as teorias da cincia man-
tm certo tipo de relao com a experincia (por mais indirecto,
longnquo e complexo que possa ser) que no existe no caso
das produes mais tpicas da metafsica e da teologia. De facto,
isto significa apenas que o cientista deve sempre, em princpio,
poder ser, se no confirmado, pelo menos desmentido pela expe-
rincia, enquanto algumas afirmaes do telogo ou do meta-
fsico no impem, primeira vista, qualquer restrio verda-
deira ao comportamento dos objectos do mundo exterior e so
compatveis com qualquer estado imaginvel do universo.
Quer se trate de eliminar a metafsica (Carnap) quer, pelo
contrrio, de traar apenas uma linha de demarcao entre a
cincia e a metafsica (Popper), o certo que os resultados
foram bastante decepcionantes. Mas o que permanece de positivo
o enorme trabalho de classificao e de anlise que foi efec-
tuado no domnio da lgica e da metodologia das cincias emp-
ricas. Quando se consideram as frmulas brilhantes e definitivas,
mas particularmente vagas e alusivas, de que alguns se servem
em Frana para proclamar que, afinal, tudo o que autores como
Russel, Reichenbach, Carnap, Hempel, Popper, Quine, etc. (para
s citar alguns grandes nomes), tentaram praticamente nulo,
70
A TEORIA E A OBSERVAO NA FILOSOFIA
torna-se difcil deixar de ver na prtica dos depreciadores do
empirismo em geral um novo aspecto da luta da filosofia ele-
gante, no sentido kantiano da palavra, contra a filosofia labo-
riosa. urgente chamar a ateno para aquilo que os empiristas
contemporneos efectivamente disseram, isto , deixar de pos-
tular que devem necessariamente dizer certo nmero de coisas
0-rosseiramente falsas e dizer afinal todas a mesma coisa, visto
'que so empiristas. Talvez possamos, a este respeito, avanar
as duas sugestes que se seguem:
1. Que se deixe de atribuir aos empiristas algumas teses
manifestamente inaceitveis, que nenhum deles defende, ou seja,
que se deixe de procurar vitrias sem perigo e triunfos sem gl-
ria sobre adversrios fantasmas. Recomenda-se a utilizao do
princpio de caridade: quando se levado a atribuir a autores
como Carnap ou Quine algumas afirmaes particularmente
absurdas, conveniente encarar pelo menos a possibilidade de
que se tenha compreendido mal o que eles dizem. (O hbito
adquirido em certos meios filosficos de considerar que um autor
praticamente o menos qualificado para saber quais so as
ideias que exactamente defende, no deixa, como evidente, de
ter certas vantagens: certamente mais fcil compreender o que
alguns fazem dizer a Quine, por exemplo, do que aquilo que ele
realmente diz.)
2. Que se recorde que o perodo do Crculo de Viena (1926-
-1935) apenas representou na vida de um filsofo como Carnap
um episdio decerto importante, mas relativamente breve, e que
a maior parte das teses defendidas nessa poca pelos neo-positi-
vistas foram posteriormente abandonadas ou substancialmente
modificadas. bastante aflitivo ver que se continua em Frana
a apresentar certos autores, essencialmente atravs de teorias a
que apenas aderiram de modo passageiro, e que o antema lan-
ado sobre o neo-positivismo lgico, como movimento filosfico,
se estendeu de facto a tudo o que Carnap escreveu, na poca
do Crculo de Viena ou mais tarde, sobre coisas como a sintaxe
lgica, a semntica, a lgica modal, e a teoria das probabilidades
etc. A obra de Carnap continua a ser essencialmente julgada
entre ns por dois ou trs artigos publicados entre 1930 e 1938
na revista Erkenntnis e a de Reichenbach por uma obra como
O Advento da Filosofia Cientfica (' ). Ora, se h efectivamente
C1) Considerado, por exemplo, por D. Lecourt (Pour une critique
de 1'pistemologie, Maspero, 1972, p. 8, nota 2) [Edio portuguesa: Para
wm Crtica da Epistemologia, Assrio & Alvim, Lisboa (N. do T.)] a obra
rnais importante de Reichenbach, opinio que dispensa comentrios. Se
3 filsofos agirem para com os neo-positivistas lgicos, possvel supor
71
O SCULO XX
nos trabalhos destes dois autores elementos que apenas pos-
suem um interesse histrico, deve-se-lhes igualmente toda uma
srie de contribuies j clssicas, que servem de ponto de par-
tida e de referncia quase obrigatria quando se abordam
certas questes, O interesse de uma obra fundamental como
A Sintaxe Lgica a Linguagem quase por completo indepen-
dente das preocupaes filosficas particulares que inspiram o
seu autor; e, com o risco de surpreender um pouco o leitor
francs habituado a outra escala de valores, somos inteiramente
da opinio de algum que, alis, no poupou as suas crticas a
Carnap: A Sintaxe Lgica de Carnap faz parte do reduzido
nmero de obras filosficas que se podem caracterizar como de
primeira importncia. Reconhece-se que, entre os argumentos
e as doutrinas a desenvolvidas, algumas esto ultrapassadas,
principalmente devido s descobertas de Tarski, como o prprio
Carnap explicou francamente no famoso ltimo pargrafo da
sua Introduo Semntica. Reconhece-se que a obra no de
leitura fcil (e mesmo de leitura mais difcil em ingls que
em alemo). Mas estou firmemente convencido de que, se al-
guma vez for escrita uma histria da filosofia racional da pri-
meira metade deste sculo, este livro tem nela direito a um
lugar insubstituvel (* ).
2. O princpio de verificao
O princpio deste princpio, se tal se pode dizer, est
contido no aforismo 4024 do Tractatus logico-philosophicus:
Compreender uma proposio significa saber qual o caso (was
der Fali ist) quando ela verdadeira. Wittgenstein deu, nos
anos Trinta, certo nmero de formulaes particularmente ex-
plcitas do princpio de verificao e, por momentos, pode haver
a impresso de que era na poca um verificacionista radical:
O sentido de uma proposio o seu mtodo de verifica-
o (2). O sentido de uma questo o mtodo utilizado para
lhe dar resposta... (3), Compreender o sentido de uma pro-
posio significa saber como se deve chegar a uma deciso
que considerem La linguistique cartsienne como a sua obra mais im-
portante (o que seria, alis, claramente menos extravagante).
1) K. R. Popper, The Demarcation Between Science and\
sics, in pp. 202-203.
(2) Ludwig Wittgenstein una der Wiener Kreis, ed. by B. F. McGuin-
ness, B. Blackwell, Oxford, 1967, p. 79.
(3) Philosophische Bmerkungen, B. Blackwell, Oxford, 1964, 27.
72
A TEORIA E A OBSERVAO NA FILOSOFIA
sobre a questo de saber se verdadeira ou falsa 1), etc. Na
realidade, parece que Wittgenstein nunca considerou a questo
Como que a proposio susceptvel de verificao? seno
como uma maneira particular de se interrogar sobre o sentido
desta proposio, podendo a prpria interrogao significar
coisas bem diferentes e no ter inclusivamente sentido (2).
A questo que se refere natureza e possibilidade de veri-
ficao de uma proposio, precisam as Investigaes Filos-
ficas, apenas uma forma particular da questo Como que
se entende isto?. A resposta uma contribuio para a gra-
mtica da proposio. ( 33).
O princpio de verificao, tal como foi utilizado na fase
inicial do Crculo de Viena, constitui uma especificao muito
restritiva do princpio do empirismo. Consiste em admitir que
uma proposio tem uma significao cognitiva se for suscep-
tvel, pelo menos em princpio, de ser verificada completa-
mente por uma evidncia de tipo observacional. Se chamarmos
caracterstica observvel a uma propriedade ou a uma relao
de objectos fsicos cuja presena ou ausncia pode, em condi-
es apropriadas, ser revelada com uma certeza indiscutvel
pela observao directa, predicados e observao aos predi-
cados que designam caractersticas observveis e proposies
de observao s proposies que atribuem ou negam com
razo ou sem ela a um ou vrios objectos especificamente
designados, uma determinada caracterstica observvel, pode-
remos dar a seguinte definio rigorosa:
Uma proposio tem uma significao emprica se, e ape-
nas se no for analtica e for uma consequncia lgica de uma
classe finita e logicamente consistente de proposies de obser-
vao (3).
Por proposies com uma significao emprica ou pro-
posies dotadas de sentido necessrio entender neste caso
as proposies cognitivamente dotadas de sentido que no so
nem analticas nem contraditrias. O princpio de verificao
indica em que condies uma proposio pode ser considerada
como empiricamente significante. No abordaremos por agora
a questo de saber se existe ou no, realmente, coisas como
uma observao directa:, caractersticas observveis e enuncia^
dos de observao. Importa salientar primeiramente porque
ponto ocasionou numerosos equvocos que a verifica-
(') ibid., 43.
(2) Cf., por exemplo, Wittgenstein's Lectures in 1930-1933, in G. E.
Moore, Philosophical Papers, Allen & Unwin, Londres, 1959, p. 266.
(3) Cf. Hempel, op. cit., p. 167.
73
O SBCULO XX
bilidade completa que aqui se exige no de modo algum a
verificao completa ou a possibilidade emprica de uma obser-
vao completa, mas a possibilidade lgica de um conjunto
de dados verificadores concludentes formulados em proposies
de observao. Isto significa que proposies que incidam sobre
regies inacessveis do espao e do tempo, por exemplo, podem
perfeitamente ser completamente verificveis. Seguidamente
e apesar disso o requisito da verificabilidade completa ,
claramente, demasiado draconiano 1). Tem, em particular, o
inconveniente enorme de excluir todas as proposies de forma
universal, isto , todas as proposies susceptveis de exprimir
leis gerais, pois essas proposies no podem ser deduzidas,
logicamente de nenhum conjunto finito de dados de observao.
Ao que acresce, por exemplo, o facto de que uma proposio
existencial (gx) P (x), que afirma que a propriedade P per-
tence pelo menos a um objecto, completamente verificvel
(visto ser uma consequncia lgica de qualquer proposio que
atribua a propriedade P a um objecto determinado), enquanto
a sua negao, que uma proposio universal, pois equivale a
(yx) P (x), o no .
Nos neo-positivistas lgicos, o princpio do empirismo coin-
cide evidentemente com o princpio da no significncia (mea-
ninglessness) da metafsica. A demarcao entre a cincia e
a metafsica a mesma que a que existe entre o sentido e o no
sentido (cognitivos). Esta identificao foi vivamente criticada
por Popper que considerava que era possvel fazer uma distino
satisfatria entre a cincia e a metafsica sem haver necessi-
dade de considerar esta como destituda de sentido. Na origem
da concepo empirista clssica encontra-se a ideia de que a
cincia se funda numa bass observacional < e utiliza o mtodo
indutivo por oposio ao mtodo especulativo das pseudocin-
cias e da metafsica. Sensvel ao carcter altamente abstracto e
especulativo de algumas teorias cientficas modernas, Popper
rejeita simultaneamente o mito dos dados observacionais de
base e a lgica indutiva. O critrio de demarcao que prope
para separar a cincia da metafsica o da refutabiliae ou da
f alsif icabilidade: ...Um sistema deve ser considerado como
C 1) Pode-se mostrar do mesmo modo que, de certos pontos de
vista, o no suficientemente: se S uma proposio que satisfaz o
critrio e N uma proposio que o no satisfaz (desprovida portanto de
significao emprica), a disjuno S v N satisfaz o critrio e , por
consequncia, dotada de significao emprica. Mas, como Hempel observa
seguidamente, pode-se objectar que, se N uma expresso desprovida
de sentido e no , por esse facto, uma proposio, S v N, que tambm
no uma proposio, no realmente uma consequncia lgica de S.
74
A TEORIA E A OBSERVAO NA FILOSOFIA
cientfico apenas quando formula asseres que podem entrar
em contradio com observaes; e um sistema , de facto,
testado por tentativas que se fazem para produzir tais contra-
dies, ou seja, por tentativas feitas para o refutar. Por con-
sequncia, a testabilidade o mesmo que a refutabilidade e
pode, portanto, de modo semelhante, ser tomado como critrio
de demarcao. (PRC , p. 186.)
Para Popper no existe realmente lugar na cincia para
empreendimentos de verificao indutiva: todos os testes que
se aplicam so, de facto, tentativas de refutao. Uma teoria
tanto mais tentvel quanto menos provvel for, quanto mais
exigncias precisas impuser realidade, isto , quanto mais
facilmente for refutvel, e tanto mais confirmada, quanto mais
tiver resistido a testes mais severos. Os enunciados da meta-
fsica no so testveis, mas no so forosamente por tal pseu-
do-enunciados. A fronteira entre a cincia e a metafsica no
necessita evidentemente de ser traada de modo absolutamente
estrito, porque pode ser relativamente indiferente classificar
determinados enunciados litigiosos na cincia ou na metafsica
a partir do momento em que a questo j no reside em saber
se so ou no realmente dotados de sentido. De facto, na con-
cepo de Popper, a fronteira deve poder ser, e efectivamente,
transposta com frequncia no sentido que vai da especulao
pura, da mitologia ou da pseudocincia cincia.
Poder-se-ia, evidentemente, ser tentado a substituir o cri-
trio da verificabilidade completa pelo da falsificabilidade com-
pleta, ou seja, utilizar a possibilidade de princpio de uma refu-
tao por um nmero finito de dados observacionais como cri-
trio da significmicia para as proposies que no sejam nem
analticas nem contraditrias (no de modo algum, como vi-
mos, a maneira como Popper o utiliza).
Uma proposio tem uma significao emprica se, e apenas
se, a sua negao no for analtica e puder ser deduzida logica-
mente de uma classe finita logicamente consistente de proposi-
es de observao p).
Isto equivale a dizer que uma proposio empiricamente
dotada de sentido se a sua negao satisfizer o requisito da veri-
ficabilidade completa; e, por consequncia, devemos encontrar
neste caso os inconvenientes simtricos daqueles com que t-
nhamos chocado no caso precedente. Em particular, uma hip-
tese puramente existencial como, por exemplo, Existe pelo
um licrnio, no pode ser falsificada por um nmero
75
O C f. Hempel, op. cit., pp. 169-170.
O SCULO XX
finito de proposies de observao e no tem, pois, em princ-
pio, significao emprica. Alm disso, se P um predicado
de observao, a proposio que enuncia que todos os objectos
tm a propriedade P falsificvel e, por conseguinte, empirica-
mente significante, mas a sua negao no o , pois equivale a
uma proposio de existncia pura. A bem dizer, uma das razes
que Popper invoca a favor de uma linha de demarcao male-
vel e no discriminatria entre a cincia e a metafsica preci-
samente o facto de que certos enunciados podem ser testveis,
e mesmo do modo mais severo, como, por exemplo, as leis uni-
versais da cincia, enquanto as suas negaes o no so e que,
por consequncia, em certos casos, a proposio negativa e a
proposio positiva devem ser colocados de um lado e do outro
da linha de demarcao.
Popper insiste patricularmente no facto de que as leis na-
turais so menos descritivas do que proibitivas: no afirmam
que certos estados de coisas existem, mas prescrevem ou ex-
cluem certos estados de coisas (a lei de conservao da energia,
por exemplo, pode exprimir-se sob a forma No existe ne-
nhuma mquina animada de um movimento perptuo); e por
isso que so falsificveis. Ao contrrio dos enunciados estrita-
mente existenciais, que so somente verificveis (os enunciados
estritamente existenciais e os enunciados estritamente univer-
sais podem ser caracterizados, por esse motivo, por aquilo a que
Popper chaitna decidabiliae unilateral), devem ser considera-
dos como metafsicos e como desprovidos de interesse para
a cincia, o que pode parecer, em certos casos, surpreendente.
Mas Popper insiste no facto de que se trata, neste caso, de
asseres de existncia pura isoladas. Se uma hiptese existen-
cial estrita, como, por exemplo, a hiptese, deduzida da classi-
ficao peridica dos elementos qumicos, de que h elementos
com pesos atmicos determinados, for formulada de maneira a
que se torne testvel, implica muito mais do que uma afirmao
de existncia pura, isto , todo um contexto terico (x).
Caso se persista em procurar um critrio da significncia,
o facto de que, com toda a clareza, uma proposio e a sua nega-
o devam ser consideradas como simultaneamente dotadas
ou desprovidas de sentido, obriga a que se rejeite igualmente
como requisito a falsificabilidade completa. Para superar estas
dificuldades, os neo-positivistas tentaram formular um critrio
que exige apenas, em vez da verificabilidade completa ou da
1) Cf. K. R. Popper, The Logic of Scientific Discovery, Hutchi-
nson, Londres, nova edio revista, 1968, i 15. (A partir de agora utili-
zaremos como abreviao as iniciais LSD).
76
A TEORIA E A OBSERVAO NA FILOSOFIA
falsificabilidade no sentido estrito, a conformabilidade parcial
e eventualmente indirecta pela evidncia observacional.
3. Testabilidade e significao
evidente que, pelas razes indicadas (entre outras), o
critrio de testabilidade emprico> no pode ser formulado nem
em termos de equivalncia nem de deductibilidade em relao
a proposies de observao. Em Testability and Meaning,
Carnap permanece fiel ao princpio de verificao: ...A signi-
ficao de uma proposio , num determinado sentido, idntica
maneira como determinamos a sua verdade ou a sua falsidade;
e uma proposio s tem significao se tal determinao for
possvel, 1) Mas confere, a partir de ento, um sentido mais
fraco palavra verificao: Se por verificao se entende
o facto de estabelecer de modo definitivo e inapelvel a verdade,
ento nenhuma proposio (sinttica) verificvel, como
veremos. Podemos apenas confirmar uma proposio cada
vez mais. Por consequncia, referir-nos-emos mais ao pro-
blema da confirmao do que ao problema da verificao.
Distinguimos a testagem de uma proposio da sua confirma-
o, entendendo pelo primeiro termo um processo por exem-
plo, a efectivao de certas experincias que leva a uma
confirmao at um certo grau quer da prpria proposio quer
da sua negao. Dizemos que uma proposio testvel quando
conhecemos no seu caso um tal mtodo de testagem; e chama-
mos confirmvel a uma proposio quando sabemos em que con-
dies a proposio seria confirmada, Como veremos, uma pro-
posio pode ser confirmvel sem ser testvel; por exemplo, se
sabemos que a nossa observao desta ou daquela sucesso de
acontecimentos iria confirmar a nossa proposio e que esta
ou aquela sucesso diferente confirmaria a sua negao, sem
saber como realizar as condies que nos permitiriam observar
uma e a outra (ibid.). Ao reconhecer que no s as proposi-
es particulares (cf. ibid.,, pp. 48-49), nunca so completa-
niente verificveis, Carnap encontra-se com Popper num ponto
fundamental. Mas a diferena continua a ser, num certo sentido,
aprecivel, pois Popper professa uma concepo dedutivista e
negativa da testabilidade, que ele identifica com a refutabili-
(' ) Testability and Meaning, Philosophy of Science III (1936) e
(1937); reproduzido parcialmentte em H. Feigl e M. Brodbeck Rea-
s in the Philosophy of Science, Appleton- Century-Crofts, Nova
orque, 1953, pp. 47-92 (cf. p. 47). Citaremos o texto na verso de Feigl
8 Brodbeck e utilizaremos, para o designar, a abreviao TM.
77
O SCULO XX
A TEORIA E A OBSERVAO NA FILOSOFIA
dade, s aceitando falar de confirmao se por tal for enten-
dido o facto de ter resistido a srias tentativas de refutao,
enquanto Carnap fiel concepo indutivista e positiva que
considera a confirmao como uma forma enfraquecida e um
sucedneo da verificao.
O que muito mais significativo que Carnap prefere dora-
vante apresentar o princpio do empirismo e, portanto, o prin-
cpio do no sentido da metafsica, que nele toma praticamente
o mesmo sentido mais como uma proposio ou um requi-
sito (ibi., p. 84) para a escolha de uma linguagem da cincia
do que como uma tese.. Na nossa qualidade de empiristas,
explica ele, exigimos que a linguagem da cincia seja subme-
tida a um certo tipo de restrio; exigimos que os predicados
descritivos e, consequentemente, as proposies sintticas, s
sejam admitidos quando tm uma certa relao com observa-
es possveis, uma relao que deve ser caracterizada de ma-
neira apropriada (ibid.). O critrio da significncia cognitiva
para que Carnap se orienta pois um critrio do seguinte tipo:
Uma proposio tem uma significao cognitiva quando, e
s quando, traduzvel numa linguagem empirista, isto , numa
linguagem cujos constituintes no lgicos se referem directa-
mente ou de modo indirecto, por vias especficas, a elementos
observveis.
H evidentemente, diferentes maneiras de constituir uma
linguagem empirista e Carnap, em Testability and Meaning,
enumera quatro principais. possvel, de facto, adoptar como
reformulao exacta do princpio do empirismo um dos quatro
critrios seguintes (do mais restritivo ao mais liberal):
1) o requisito da testabilidade completa (RTC); 2) o requisito da
confirmabilidade completa (verificabilidade) (RCC); 3) o re-
quisito da testabilidade (RT); 4) o requisito da confirmabili-
dade (RC). Por oposio a RTC, RCC autoriza a presena, em
proposies sintticas, de predicados que no sejam completa-
mente testveis mas apenas confirmveis no sentido acima
definido. A diferena entre estes dois requisitos no , na
prtica, muito grande, mas a que existe entre RTC e RT con-
sidervel, pois RT admite proposies incompletamente test-
veis ' essencialmente proposies universais que s podem ser
confirmadas parcialmente atravs dos seus casos particulares,
portanto, entre outras, as leis da cincia formuladas deste modo.
Na linguagem que corresponde a RC encontraremos simulta-
neamente predicados confirmveis, mas no testveis, e propo-
sies generalizadas. Esta linguagem, a que Carnap chama uma
linguagem generalizada- confirmvel, contm as trs preceden-
tes como linguagens prprias. considerada como a mais liberal
78
possvel, tendo em considerao que Carnap no renuncia a eli-
minar a totalidade ou pelo menos uma boa parte da metafsica:
...Mesmo que L devesse ser uma linguagem adequada para
toda a cincia (...), no desejaramos, por exemplo, que nela
houvesse proposies correspondentes a um grande nmero ou
talvez ao maior nmero das proposies que figuram nos livros
dos metafsicos. (TM, p. 75). Mas, deste ponto de vista, RC
pode ser considerado como suficientemente restritivo e Carnap
prope-o, por fim, como a verso mais aceitvel, no caso geral,
do princpio do empirismo. (Cf. ibid., p. 86).
Como assinala Popper, Carnap permanece fiel, em Testability
and Meaning, a duas das suas ideias centrais: 1) a de uma ln-
gua da cincia que exclusse a prpria possibilidade da meta-
fsica atravs de regras de formao apropriadas; 2) a de uma
lngua adequada para a totalidade da cincia, ou seja, de uma
lngua unitria da cincia. interessante considerar a resposta
de Carnap a estes dois pontos. No que se refere a 1), Popper
tinha assinalado que possvel formular como uma proposio
bem formada e, portanto, dotada de sentido, numa linguagem
fisicalista perfeitamente anloga s que so propostas em Tes-
tbility and Meaning, o seguinte enunciado (a que ele chama
a assero arquimetafsica): Existe um ser espiritual pessoal
que omnipotente, omnipresente e omnisciente. (Cf. PR C,
p. 207-209.) Carnap resolve o problema introduzindo uma dis-
tino j no s entre duas mas entre trs categorias de propo-
sies: a categoria I compreende os enunciados cientficos au-
tnticos, isto , essencialmente os que, em virtude da sua forma,
seriam assim considerados pelos cientistas, independentemente
da questo de saber se h ou no razes suficientes para os
aceitar ou rejeitar; a categoria II, os enunciados pseudocien-
tficos (completamente diferentes dos pseudo-enunciados),
ou seja, enunciados como os que dependem da astrologia, dos
mitos, da magia ou de certas supersties populares, que so
compreensveis e tm uma referncia emprica indiscutvel, mas
no podem ser encarados seriamente de um ponto de vista
cientfico; a categoria III, osi pseudo-enunciados no sentido
estrito, isto , as proposies declarativas que so desprovidas
de significao cognitiva como, por exemplo, O nmero cardi-
nal cinco azul ou O nada nadifica. (Cf. PRC, p. 878.) Visto
os termos que figuram na proposio arquimetafsica por
, segundo parece, ser definidos numa linguagem fisicalista,
a proposio em questo emprica e no metafsica; pertence
a categoria II e no categoria III. Na sua resposta s observa-
Ses de Paul Henle (PR, pp. 874-877) Carnap recorda, alm
disso, a distino que ele e Neurath fizeram nos anos Trinta
79
O SCULO XX
entre o uso mtico (ou mgico) e o uso metafsico da palavra
Deus, que utilizada nos enunciados da teologia umas vezes
com uma significao mtica, portanto emprica, outras com
uma significao metafsica, ou seja, de facto sem significao,
outras ainda com uma significao ambgua.
De facto, Carnap considera finalmente que, se proposies
qualificadas numa certa poca de metafsicas pela maior parte
das pessoas podem vir a ser refutadas ou confirmadas em vir-
tude de certos desenvolvimentos ulteriores da cincia, que per-
tencem na pior das hipteses pseudocincia mas no meta-
fsica. No que se refere a saber se uma proposio com um con-
tedo emprico deve ou no ser encarada seriamente de um
ponto de vista cientfico, a deciso compete aparentemente aos
cientistas da poca e no lgica da cincia C1 ). Carnapi man-
tm que h proposies que devem ser excludas da linguagem
da cincia como intrinsecamente destitudas de sentido cogni-
tivo. Mas o que qualifica uma proposio como metafsica e
dispensa os cientistas de lhe prestarem qualquer ateno (ao
contrrio do que se passa em relao a uma afirmao irres-
ponsvel da pseudocincia) o facto de ser uma proposio
sinttica proposta sem qualquer interpretao emprica: se, por
qualquer razo, se conferir proposio uma interpretao
deste gnero, podemos defender legitimamente que se trata de
mitra proposio.
A tese da possibilidade de uma linguagem cientfica uni-
ficada suscitou imensos comentrios irnicos ou compadecidos.
Ela no constitua, no entanto, no esprito dos seus defensores,
uma afirmao dogmtica, mas uma simples sugesto respei-
tante procura de uma base de confirmao uniforme para a
totalidade das proposies da cincia, isto , dirigida sobretudo
contra certas tendncias filosficas descontinuistas e dualistas
(introspeccionismo, vitalismo, emergentismo, etc.). Os membros
do Crculo de Viena no tiveram por certo a ingenuidade de pre-
tender que todas as cincias falavam a mesma linguagem ou
que era possvel destinar de uma vez para sempre cincia os
meios de expresso que deve utilizar (a atitude tolerante e o
pragmatismo consequente de Carnap implicam, na realidade,
exactamente o contrrio.). A tese da linguagem universal da
cincia no , de facto, nada mais do que uma norma regula-
dora: no estabelecer dogmaticamente diferenas de natureza e
introduzir descontinuidades intrasponveis onde tal no abso-
lutamente necessrio. ...Ela era entendida, explica Carnap,
(' ) Sobre a questo de saber se a frmula arquimetafsica pode
ser confirmada ou infirmada pela experincia, ver Popper, PR, p. 209,
nota 57 a.
80
A TEORIA E A OBSERVAO NA FILOSOFIA
como uma rejeio da diviso da cincia emprica em domnios
que se pretendia fundamentalmente separados e, sobretudo, da
diviso efectuada entre as cincias da natureza e as cincias
sociais (Geisteswissenschaften), diviso fundada na metafsica
dualista que se encontrava, nessa poca, em posio dominante
na Alemanha. Ao contrrio desta concepo dualista, a nossa
tese afirmava que a cincia emprica, com todos os seus dife-
rentes domnios, pode ssr construda sobre uma base uniforme.
Se for compreendida neste sentido, uma tese que ainda hoje
defendo. (PRC, p. 880.)
4. O problema da base observacional
Popper tinha utilizado em Logik der Forschuncf o termo
proposio de base (Basissatz) para designar as proposies
descritivas singulares que deduzimos das nossas teorias abstrac-
tas para as submeter prova da experincia. Os enunciados de
base eram, no esprito de Popper, enunciados sobre o comporta-
mento directamente observvel de certos objectos fsicos, sendo,
alis, esse comportamento interpretado j luz de certas teo-
rias (o que cria um risco de circularidade cf. LSD, p. 107,
nota 3, e PRC, p. 198, nota 35). Foram, certamente, em grande
parte, as crticas de Popper que levaram Carnap a renunciar
ideia de que as proposies que constituem a base emprica
da cincia (chamadas proposies protocolares. na linguagem
do Crculo de Viena) deviam ser constataes de observao re-
latando as nossas prprias experincias (solipsismo metodol-
gico), quer na linguagem fenomenalista dos estados de cons-
cincia quer na linguagem fisicalista da descrio corporal.
Ao rejeitar a teoria dos enunciados protocolares, conside-
rada como sendo, por exemplo, em Carnap nada mais do que
psicologismo traduzido no modo de discurso formal (isto , o
que consiste em falar de palavras e j no de objectos, de pro-
posies e j no de factos), Popper tinha proposto que se dis-
tinguisse claramente a cincia objectiva por um lado, e o nosso
conhecimento por outro (LSD, p. 98). A deciso de aceitar
um enunciado de base e de no procurar test-lo doravante en-
contra-se, evidentemente, em relao causal com as nossas expe-
rincias, mas no so essas experincias que servem para jus-
tificar um enunciado de base: As experincias podem motivar
uma deciso e, por consequncia, uma aceitao ou recusa de
um enunciado1, mas um enunciado de base no pode ser justi-
ficado por elas do mesmo modo que no seria possvel justi-
fic-lo batendo na mesa. (LSD, p. 105.) Por outras palavras,
81
O SCULO XX
as proposies de base no so proposies total e definitiva-
mente subtradas dvida por incidirem em dados da expe-
rincia mais imediata, so proposies que constituem um ponto
de paragem, em parte convencional e em parte natural, para o
processo de testagem, no sentido em que so fceis de testar e
em que comodamente se pode chegar a acordo sobre a questo
da sua aceitao ou rejeio. Distinguem-se portanto das propo-
sies protocolares pela sua objectividade e validade intersub-
jectiva por um lado, e pela sua relatividade e carcter provisrio
por outro, pois no so de modo algum incorrigveis ou irrefu-
tveis.
Feyerabend denominou .teoria 'pragmtica da observao
a teoria segundo a qual o facto de uma proposio pertencer
ao domnio observacional no tem incidncia na sua significa-
o. C 1 ) Como acabamos de ver, Popper tinha insistido parti-
cularmente no facto de que as proposies de observao no
tm de ser interpretadas em termos de experincias subjectivas
ou intersubjectivas. A teoria pragmtica consiste em distinguir
cuidadosamente, como ele recomendava que se fizesse, as causas
da produo ou as caractersticas do processo de produo de
um enunciado observacional e a significao deste enunciado,
mais precisamente, para um ser dotado de sensaes o facto
de ter uma certa sensao ou uma disposio para um deter-
minado comportamento verbal e a interpretao da proposio
enunciada na presena dessa sensao ou constituindo o resul-
tado desse comportamento verbal (cf. ibi., p. 94) . Esta con-
cepo implica, naturalmente, que se admita que a dicotomia
observacional/terico no tem qualquer carcter absoluto e
mesmo, num determinado sentido, que todas as proposies
so tericas, A este respeito, o melhor que podemos fazer citar
novamente Popper: ...No podemos formular qualquer enun-
ciado cientfico que no v bem alm do que pode ser conhecido
com certeza na base da experincia imediata. (Podemos falar,
para designar esse facto, da transcendncia inerente a qualquer
espcie de descrio.) Qualquer descrio faz uso de nomes
(ou smbolos, ou ideias) universais; qualquer enunciado tem o
carcter de uma teoria, de uma hiptese. O enunciado H
aqui um copo de gua no pode ser verificado por nenhuma
experincia observacional. A razo para isso que os universais
que nela aparecem no podem ser postos em correlao com ne-
nhuma experincia sensorial especfica. (Uma experincia ime-
n P. K. Feyerabend, Explanation, Reduction and Empiricism,
Minnesota Studies in the PMlosopTiy of Science, Vol. III, University of
Minnesota Press, 1962, p. 39
A TEORIA E A OBSERVAO NA FILOSOFIA
diata s dada imediatamente uma nica vez, ela nica.)
Pela palavra copo, por exemplo, denotamos corpos fsicos que
manifestam um certo comportamento regio por leis, e o mesmo
se passa com a palavra gua. Os universais no podem ser
reduzidos a classes de experincias; no podem ser constitu-
dos. (LSD, pp. 94-95.) Na prtica, como observa G. Marxwell,
o facto de fazermos passar a linha de demarcao entre o
observacional e o terico por um determinado ponto qualquer
um acidente e uma funo da nossa constituio fisiolgica,
do estado dos nossos conhecimentos no momento considerado e
dos instrumentos de que podemos dispor... (e, por conseguinte,
no tem qualquer espcie de significao ontolgica) , t1 )
Na poca de Testbility and Meaning, C arnap parece ter
abandonado completamente a teoria naturalista substituindo-a
pela teoria pragmtica da observao. O modo como o termo
primitivo observvel introduzido e utilizado coincide prati-
camente com o de Popper (cf. LSD, 28, pp. 102-103). Os ter-
mos descritivos da linguagem de coisas (tning-language)
adoptada por C arnap no se referem a experincias mas a pn>
priedades de objectos acessveis observao, ou seja, tais
que um observador colocado em condies apropriadas pode
decidir rapidamente se um dado objecto possui ou no esta ou
aquela propriedade. Ou, mais exactamente: Diz-se que um pre-
dicado P de uma linguagem L observvel para um orga-
nismo (por exemplo, uma pessoa) N, se, por argumentos apro-
priados, por exemplo b, for possvel a N, em circunstncias
apropriadas, chegar a uma deciso, com o apoio de um pe-
queno nmero de observaes, sobre uma proposio com-
pleta, por exemplo, P (& ) , isto , a uma confirmao de
P(>) >> ou de ' P ( & ) de um grau suficientemente elevado
para que aceite ou rejeite P (& ) . (TM, p. 63) . claro que este
gnero de explicao informal tem um carcter necessariamente
vago. A linha de separao que se escolheu para demarcar os
predicados observveis dos predicados no observveis foro-
samente arbitrria at certo ponto, visto que, na realidade,
lida-se sobretudo com graus contnuos de observabilidade. Mas
a questo filosfica geral que diz respeito s noes de signifi-
cao e de testabilidade no ser, previne C arnap, seriamente
afectada pela simplificao introduzida neste ponto (cf. p. 64) .
Precisa-se que as palavras empirismo e empirista se entendem
aqui no seu sentido mais lato e no no sentido estreito do posi-
tivismo tradicional ou do sensacionismo ou de qualquer outra
doutrina que restrinja o conhecimento emprico a um determi-
(* ) G. Maxwell, The Ontological Status of Theoretical Entities,
lbi(i., pp. 14-15.
82
O SCULO XX
nado tipo de experincia (p. 72, nota). Carnap admite dora-
vante, com Popper, que a aceitao e a rejeio de uma pro-
posio (sinttica) contm sempre um elemento convencional
(p. 49) e renuncia ideia de que as proposies atmicas ou
elementares devam remeter para qualquer coisa como factos
ltimos (cf. p. 58).
No entanto, como se tornar claro depois, Carnap perma-
nece tributrio da concepo segundo a qual a significao dos
termos observacionais fixada independentemente da sua rela-
o com sistemas tericos, Muitos empiristas, e certamente o
prprio Carnap, esto dispostos a admitir que a significao dos
termos tericos pode mudar em propores considerveis devido
aos progressos da cincia. Mas, como assinala Feyerabend, no
h muitas pessoas que estejam preparadas para alargar a va-
rincia de significao igualmente aos termos observacionais.
A ideia que motiva esta atitude , grosso moda, que a signifi-
cao dos termos observacionais apenas determinada pelos
processos de observao tais como olhar, escutar e outros do
mesmo gnero. Estes processos no so afectados pelos progres-
sos da teoria. O que se esquece que a lgica dos termos
observacionais no se esgota atravs dos processos que se ligam
sua aplicao na base da observao, 1)
Toda a dificuldade reside, evidentemente, em conseguir
exprimir uma autonomia relativa dos factos em relao teoria,
autonomia que indispensvel se as teorias devem ter um m-
nimo de justificao extrnseca e que no pode, como mani-
festo, ser total, pois a ideia de uma f actualidade pura, no con-
taminada pela teoria, no tem qualquer sentido. Carnap est
perfeitamente consciente de que a natureza dos factos ou das
realidades com que uma teoria siisceptvel de ser confron-
tada no independente do sistema conceptual, isto , da forma
de linguagem escolhida para os descrever: A resposta a uma
questo referente realidade (...) depende no s desta rea-
lidade ou dos factos, mas tambm da estrutura (e o conjunto
de conceitos) da linguagem utilizada pela descrio. Quando
se traduz uma linguagem numa outra, nem sempre o contedo
factual de um enunciado emprico se pode manter inalterado.
Essas mudanas so inevitveis se as estruturas das duas lin-
guagens diferem em pontos essenciais. Por exemplo: enquanto
numerosos enunciados da fsica moderna so inteiramente tra-
0) How to Be a Good Empiricist A Plea for Tolerance in
Matters Epistemological (Philosophy of Science, The Delaware Semi-
nar, Vol. 2, ed. B. Baumrin, Intersclence Publishers, 1963), reproduzido
em P. Nidditch (ed.), The'Philosophy o f Science, Orford Readings in
Philoaophy, 1968, pp. 12-39 (cf. pp. 22-23),
A TEORIA E A OBSERVAO NA FILOSOFIA
duzveis em enunciados da fsica clssica, o mesmo no acon-
tece ou no acontece completamente em relao a alguns
outros. 0) Mas a concepo bi-linguista (cf. infra, VII),
que desenvolvida, por exemplo, m The Methodological Cha-
rdcter of Theoretical Concepts, assenta, evidentemente, em
grande parte, no pressuposto indutivista de uma base observa-
cional relativamente estvel em relao a todas as transforma-
es tericas possveis e de uma determinao unilateral (ainda
que, naturalmente, incompleta) da teoria pelos factos (enquanto
como o prprio Carnap reconhece nessa ocasio, os factos so
igualmente determinados, numa importante parte, pela teoria).
Outra objeco de princpio que seria eventualmente pos-
svel fazer concepo de Carnap, que, aparentemente, ele
raciocina sempre na hiptese da confrontao de uma teoria com
os factos, enquanto o pluralismo terico' pode ser considerado
como um factor essencial de progresso para o conhecimento
objectivo, fornecendo a inveno de novas teorias, heterodoxas
e eventualmente difceis de serem, primeira vista, tomadas a
srio, os meios de criticar a teoria recebida de um modo que
vai alm das possibilidades de crtica fornecidas por uma com-
parao desta teoria com os factos (2). Os empiristas con-
temporneos tm, de modo geral, tendncia para subestimar o
facto de que, para estabelecer a adequao factual de uma teo-
ria, necessrio confront-la, de modo sistemtico, no s com
um universo mais ou menos autnomo de factos empricos mas
tambm com teorias rivais. No entanto, parece evidente que
Carnap no pensa de modo algum em restringir, seja de que
modo for, a liberdade de inveno terica e se limita a sublinhar
que qualquer teoria deve necessariamente, para merecer um
interesse real, ser testvel. De facto, se se aplicar o princpio
de tolerncia (que Carnap formula a propsito da escolha de
instrumentos lingusticos apropriados s necessidades da cin-
cia) prpria prtica cientfica, ele apenas significa, pelo con-
trrio, um encorajamento produo de teorias competitivas e
explorao de possibilidades inditas e no fidelidade a uma
teoria altamente confirmada e admitida de uma vez para sempre.
O chamado sistema da dupla linguagem assenta na ideia
de que os termos tericos recebem a sua significao por inter-
mdio de regras de correspondncia que os relacionam com uma
linguagem observacional que se presume estabelecida antecipa-
1) R. Carnap, Truth and Confirmation, in H. Peigl and W.
Sellars (eds.)t Readings in Philosophical Analysis, Appleton-Century
Crofts, Nova Iorque, 1949, p. 126.
C') Peyerabend, How to Be a Good Empiricist, pp. 14-15.
85
O SCULO XX
damente e de que se supe que em nada depende da estrutura
da teoria que se pretende interpretar. Por outras palavras, a
significao do vocabulrio terico determinada (incompleta-
mente) pela do vocabulrio pr-terico e no o inverso. No
h, sublinha Carnap, interpretao independente para Lt [a
linguagem terica]. O sistema T [a teoria] , em si mesmo um
sistema de postulados no interpretado. Os termos de Vt [o vo-
cabulrio terico] apenas recebem uma interpretao indirecta
e incompleta devido a alguns deles estarem ligados por inter-
mdio das regras C [as regras de correspondncia] a termos
observacionais e os restantes termos de Vt estarem ligados aos
primeiros por intermdio de T. (x) A linguagem observacional,
em contrapartida, tida como provida de uma interpretao
completa: Imaginemos que L0 [a linguagem observacional]
utilizada para uma determinada comunidade de linguagem como
instrumento de comunicao e que todas as proposies de Lo
so compreendidas no mesmo sentido por todos os membros do
grupo. Desse modo encontra-se estabelecida uma interpretao
completa de L0. (2 ) Em Foundations o/ Logic and Mathematics
(' 24), Carnap fala de conceitos mais elementares do que
outros, no sentido em que podemos aplic-los em casos con-
cretos e apoiando-nos em observaes de maneira mais directa
do que outros, sendo os ltimos denominados mais abstrac-
tos. Ele assinala que, na construo de uma teoria fsica como
clculo formal, podemos tomar como termos primitivos quer ter-
mos elementares quer termos abstractos. Mas, seja qual for o
processo adoptado, quando se trata de interpretar o sistema, as
regras semnticas s se devem referir aos termos elementares
que elas relacionam com propriedades observveis das coisas.
simultaneamente necessrio e suficiente para que um profano
possa compreender o sistema em questo, entendendo-se por
profano qualquer pessoa que no conhea a fsica mas que
tenha sentidos normais e entenda uma linguagem em que pro-
priedades observveis das coisas podem ser descritas (por
exemplo, uma parte apropriada do ingls no cientfico cor-
rente). (3) Por outro lado, Carnap precisa em MCTC que, se
um cientista decidiu utilizar um certo termo M de modo tal
(1) The Metodological Charaoter of Theoretical Concepts, Minne-
sota Studies in the Philosophy of Science, Vol. I, 1956, p. 47. (Abreviado
a partir de agora para MCTC).
P) MCTC, p. 40. Cf. igualmente: Beobachtungsprache und theo-
retische Sprache, in Lgica.. Studia Paul Bernays dedicata, ditions du
Griffon, Neuchtel, 1959, p. 32 (abreviado em BTS).
(3 ) Foundations of Logic and Mathematics, Internacional Ency-
clopedia of Unified Science, Vol. l, n. 3, 1939, p. 62.
86
A TEORIA E A OBSERVAO NA FILOSOFIA
que, para certas proposies assentes em M, todos os resultados
observacionais possveis nunca podem constituir uma evidncia
absolutamente concludente mas, na melhor das hipteses, uma
evidncia que fornece uma probabilidade elevada, ento o lugar
apropriado para M, num sistema de duas linguagens como o
nosso sistema L0-Lt, mais m Lt do que em L0 ou L0. (p. 69).
O que parece significar que a confirmabilidade completa, em
condies de observao directa) apropriadas afinal requerida
para os termos descritivos de L0.
De tudo isto ressalta claramente que Carnap faz depender
a significao de um enunciado observacional propriamente dito
do comportamento verbal de uma lngua vulgar munido de um
aparelho sensorial normal e colocado na situao de observao
imediata apropriada. A concepo carnapiana dualista da lin-
guagem da cincia , em geral, acompanhada da ideia de que as
lnguas correntes, em virtude de ser possvel supor que esto
completamente interpretadas partida e relativamente libertas
de elementos tericos e hipotticos, constituem os candidatos
ideais para o papel da linguagem observacional. possvel ob-
jectar que, na realidade, a linguagem usual no se caracteriza
de modo algum por essa ausncia de pressupostos que a tornaria
a prori compatvel com qualquer concepo cientfica, que con-
tm princpios altamente tericos (a maior parte das vezes de
modo implcito) e toda uma ontologia abstracta que podem estar
em contradio com teorias recentemente introduzidas e, por
consequncia, devem ser reformadas ou abandonadas (cf., Feye-
rabend Explanation, Reduction and Empiricism, pp. 84-85). Da-
qui resulta que, se tentarmos interpretar o clculo correspon-
dente a uma dada teoria, previamente privada da significao
que lhe atribuda pela comunidade dos cientistas, segundo o
esquema do sistema dualista, arriscamo-nos a ter como resultado
uma teoria totalmente diferente: possvel supor sem receio
que a linguagem das coisas fsicas de Carnap e qualquer lingua-
gem anloga que tiver sido sugerida como linguagem de obser-
vao, no invariante em relao transformao de Lorentz.
Se se tentar interpretar o clculo da relatividade tomando-o
como base, no se pode, por consequncia, ter como resultado a
teoria, da relatividade tal como foi entendida por Einstein.
(Id. How to Be a Good Empiricist, p. 23.) O sistema da dupla
linguagem supe que as teorias que no esto ligadas a uma lin-
guagem de observao qualquer no possuem interpretao. Ar-
gumentos como o que acaba de ser evocado parecem indicar,
pelo contrrio, que se deve supor que tm uma interpretao
e tentar escolher a linguagem de observao que lhe for mais
apropriada. Para clarificar e, se possvel, justificar em certa
87
O SCULO XX
medida a atitude de Oarnap, podemos fazer as seguintes observa-
es:
1) Os resultados observacionais que so susceptveis de se-
rem modificados pelo progresso das nossas teorias ou o aperfei-
oamento dos nossos instrumentos no pertencem realmente,
do seu ponto de vista, ao domnio observacional e devem ser
formuladas de preferncia na linguagem terica. Para retomar
uma distino feita em TM (cf. p. 69) eles no pertencem
linguagem de coisas (thing-language), mas linguagem
fsica (physical language). A linguagem observacional apenas
deve conter, em princpio, enunciados qualitativos como as
azul, a? quente, a agulha A coincide com a graduao B,
A maior que B, etc. O lugar dos enunciados quantitativos
(ou, pelo menos, de uma boa parte deles) parece ser de facto na
linguagem terica: Aquilo a que os fsicos chamam com fre-
quncia a velocidade, a energia, a frequncia das ondas, e outras
coisas semelhantes, no so observveis no sentido habitual
nas discusses filosficas de metodologia e, por consequncia,
fazem parte dos conceitos tericos na nossa terminologia.
(MCTC, p. 49.) Mas, para grandezas observveis muito menos
abstractas (isto , muito mais prximas daquilo a que se chama
habitualmente a observao), a deciso arrisca-se a ser mais
ou menos arbitrria. Os enunciados observacionais propria-
mente ditos devem ser escolhidos de maneira a poderem perma-
necer, quaisquer que sejam as modificaes impostas pela evolu-
o das teorias e das tcnicas. Mas isto no prova, evidente-
mente, que haja realmente enunciados deste gnero.
2) O esquema carnapiano no em absoluto destinado,
como certas crticas fceis e superficiais tendem a fazer crer,
a dar conta do modo como as teorias centficas so construdas,
interpretadas e utilizadas na prtica. Seria alis, para tal, per-
feitamente inadequada. (Os que receiam que restries do tipo
das que foram impostas pelos empiristas contemporneos con-
ceptualizao cientfica sejam de molde a entravar o processo
cientfico sobrestimam provavelmente, como sugere Carnap
[MCTC, p. 70], a influncia que os filsofos so capazes, de
modo geral, de exercer sobre os cientistas. Quanto ao empirismo
espontneo que constitui a maior parte das vezes a filosofia
implcita destes, pode revelar-se e efectivamente revelou-se
em certos casos inteiramente prejudicial aos interesses da
cincia; mas precisamente porque se comete o erro de acreditar
que a lgica da descoberta, cientfica conforme com o esquema
empirista.) Para Carnap, trata-se, na realidade, de fornecer um
certo tipo de apresentao aplicvel, no mximo, a uma teoria
constituda tomada num determinado estado, que manifesta
A TEORIA E A OBSERVAO NA FILOSOFIA
claramente certas propriedades lgicas e epistemolgicas das
construes cientficas.
3) O recurso lngua verncula como linguagem pr-te-
rica geral deriva, de facto, de um pressuposto muito natural, que
se pode formular, com Tarki, do seguinte modo: Um trao
caracterstico da linguagem familiar (por oposio a diferentes
linguagens cientficas) a sua universalidade. As coisas no
estariam em harmonia com o esprito desta linguagem se fosse
possvel encontrar, numa outra linguagem, uma palavra que no
pudesse nela ser traduzida; poder-se-ia afirmar que, se somos
capazes de falar de um modo dotado de sentido do que quer que
seja, podemos igualmente falar disso im linguagem, familiar. p)
A posio de Carnap e dos filsofos da mesma tendncia mo-
tivada por aquilo a que se poderia chamar um argumento peda-
ggico: uma teoria cientfica, por mais abstracta, afastada
(e mesmo contrria a) do uso lingustico comum que possa
estar, no deixa de ser, por isso, qualquer coisa que se deve, em
princpio, poder explicar a qualquer pessoa que no possua
partida outros elementos de teoria para alm dos que esto
contidos implicitamente na lngua usual. Quaisquer que sejam
as transformaes revolucionrias que, por exemplo, a teoria
atmica tenha causado no conceito de matria, a teoria cin-
tica dos gases no conceito de calor ou a teoria da relatividade
no conceito de simultaneidade, somos forados a partir da sig-
nificao familiar dos termos em questo quando queremos
fazer compreender a um profano o que se passa nas teorias,
mesmo que afinal o conceito cientfico se encontre nos antpodas
da noo comum. Por outro lado, evidente que mesmo que
uma modificao terica seja susceptvel de modificar a signifi-
cao de certos termos observacionais, ela no pode por certo
modificar simultaneamente a significao de todos os termos
observacionais. Podemos, por fim, perguntar o que se pretende
dizer quando se afirma que as teorias fsicas modernas afecta-
ram profundamente a significao usual de termos como- ver-
melho ou quente e se pode haver incompatibilidade real
entre a maneira como so ou foram utilizados habitualmente e
o que afirmado por uma teoria da cor ou do calor, visto que,
na realidade, se trata, como diria Wittgenstein, de jogos de
linguagem totalmente diferentes (2 ).
0) The Concept of Truth in Formalized Languages, in Logic,
ntics, Metamathematics, Oxford, 1956, p. 164.
P) A noo de significao e a de identidade de significao
de facto, noes to problemticas que se torna muito difcil afir-
1 em certos casos, se a passagem de uma noo intuitiva a uma noo
ou a substituio de uma noo terica por uma noo terica
89
O SCULO XX
Acontece que o esquema carnapiano pode sugerir errada-
mente que uma teoria concebida para dar conta de fenmenos
previamente referenciados e examinados, susceptveis de serem
descritos num vocabulrio observacional que constitui uma base
de interpretao indispensvel para o vocabulrio prprio da
teoria. Na realidade, incontestvel que, para compreender uma
teoria nova, necessrio dispor de um vocabulrio a que se
pode chamar, como Hempel, o vocabulrio pr-terico ou ante-
cedente VA relativo teoria em questo C 1 ) , isto , um voca-
bulrio que possa ser compreendido anteriormente introdu-
o da teoria, e cujo uso seja regido por princpios que, pelo me-
nos partida, sejam independentes da teoria. Mas esse vocabu-
lrio prvio no tem necessidade de ser, e no geralmente, um
vocabulrio observacional no sentido restrito: dever, pelo con-
trrio, conter a maior parte das vezes termos que foram intro-
duzidos primitivamente no contexto de uma teoria j disponvel.
5. Reduo contra definio
Abstraindo da questo de saber que gnero de termos deve
conter o vocabulrio pr-terico, cabe perguntar se os novos
conceitos tericos podero ser caracterizados completamente
graas aos conceitos de que j se dispe. Parece legtimo supor
que, no geral, a resposta negativa. Ela -o, de qualquer modo,
se se exigir que todos os termos cientficos sejam definidos ex-
plicitamente por meio de um vocabulrio antecedente no com-
portando outros termos descritivos para alm dos termos obser-
vacionais. Uma linguagem empirista, no sentido atrs indicado,
no pode ser uma linguagem que apenas contivesse predicados
de observao e predicados def inveis em termos de predicados
de observao. Torna-se necessrio fazer intervir um processo
menos estrito e mais geral a que C arnap chama reduo.
O conhecimento das condies de aplicao de um termo
pode ser, assinala ele, de dois tipos diferentes. Em certos casos,
podemos ter um conhecimento puramente prtico, ou seja, utili-
zarmos correctamente o termo em questo sem sermos capazes
de fornecer uma descrio terica das regras que regem o seu
nova implicam uma mudana de significao do termo em causa ou,
pelo contrrio, apenas a descoberta de leis novas respeitantes ao compor-
tamento de unia entidade nica a que se referem tanto a teoria como
a linguagem usual ou tanto a teoria nova como a teoria antiga.
( * ) C . G. Hempel, On the Standard C onception of Scientific
Theories, Minnesota Stuies in the Philosophy of Science, Vol. IV, 1970,
p. 413.
90
A TEORIA E A OBSERVAO NA FILOSOFIA
uso. Noutros, conseguimos dar uma formulao explcita s
condies de aplicao do termo. Se um determinado termo x
for tal que as suas condies de aplicao (no uso que feito
na linguagem da cincia) possam ser formuladas por meio dos
termos y, z, etc. chamamos a uma formulao como essa um
enunciado de reduo para x em termos de y, z, etc., e dizemos
que x redutvel a y, z, etc. Pode haver vrios conjuntos de con-
dies para a aplicao de x; por consequncia, se pode ser redu-
tvel a y, z, etc., e igualmente a u, v, etc., e talvez ainda a outros
conjuntos. Pode inclusivamente haver casos de redutibilidade
mtua, por exemplo, cada termo do conjunto xlt x2, redutvel
a 2 /1 2 / 2 , etc. ; e, por outro lado, cada termo do conjunto 2 /1 y2, etc.,
redutel a x, xs, etc.. 1 )
Uma definio a forma mais simples de um enunciado de
reduo. Uma proposio explcita para um predicado Q a um
lugar a proposio da forma
( D:) Q (x) = ...x...
sendo o lugar de ...a? ... ocupado por uma funo proporcional
' o def iniens que contm o? como nica varivel livre. Um
enunciado deste gnero constitui um enunciado de reduo,
pois explicita as condies de aplicao do termo Q. Mas nem
todos os enunciados de reduo tm a forma de uma proposio
de equivalncia deste tipo. Algumas tm a forma mais com-
plexa Se ..., ento: ... == ..., isto , a forma daquilo a que se
pode chamar uma definio condicional. o caso dos enunciados
de reduo que possvel formular para os conceitos de disposi-
o, ou seja, os predicados que exprimem a propriedade que
um objecto possui de reagir desta ou daquela maneira em cer-
tas condies, por exemplo, visvel, fundvel, frgil, ma-
level, solvel, etc. Predicados como estes no podem ser
definidos por meio de termos que descrevem as condies e as
reaces em questo. Suponhamos, com efeito, que pretenda-
mos introduzir o predicado Q3 significando solvel na gua,
e que Qi e Q2 tenham sido j definidos de maneira tal que
Q! (x, ) significa o corpo x colocado na gua durante o
tempo e Q2 (x, t) o corpo x dissolve-se no tempo .
Podemos imaginar a seguinte definio:
( D:) Q3 (x) = ( , t) D Q2 (x, ) ],
( * ) R. C arnap, Logical Foundations of the Unity of Science, in
ia and Unif ied Sciences, International Enciclopdia of Unif ied
, Vol. l, n. l, 1938, pp. 49-50.
91
O SCULO XX
A TEORIA E A OBSERVAO NA FILOSOFIA
que equivale a dizer que # solvel na gua significa Todas
as vezes que x for colocado na gua, x dissolve-se. Mas fcil
mostrar que, em virtude das regras que regem o uso da impli-
cao material, um fsforo c, que tivesse sido ontem totalmente
queimado sem nunca ter sido mergulhado na gua deveria, nes-
sas condies, ser considerado como solvel na gua. No en-
tanto, Q3 pode ser introduzido por meio da seguinte propo-
sio:
(R:)
( V *)
=Q2 (x, ))],
que significa: Se um objecto x qualquer for colocado na gua
durante o tempo t, ento, se x for solvel na gua, x dissolve-se,
e se a; no for solvel na gua, x no se dissolve.
A reduo efectua-se, no geral, por meio daquilo a que
Carnap chama um par de reduo. Se pretendemos introduzir
um novo predicado Q3 na nossa linguagem, podemos enunciar,
para o fazer, um par de proposies da forma seguinte:
(RO Qa D (Q2 D QO ;
(R2) Q, D (QB D -Q3 ).
Se Q3 deve ser introduzido na base de uma classe C de
predicados, os predicados alm de Q3 que figuram nas pro-
posies em questo devem ou pertencer a C ou ento ter sido
introduzidos por sua vez na base de C por meio de uma sequn-
cia ordenada de elementos em que cada um , quer uma defini-
o explcita quer um conjunto de pares de reduo, constituindo
esta sequncia aquilo a que se chama uma cadeia introdutiva.
No caso particular em que Q4 coincide com Qi, e Qs com
< ' Q2, o par de reduo pode ser substitudo por uma propo-
sio nica Qi D (Q3 ==Q2) , que constitui um enunciado de
reduo bilateral para Q3.
Entre a definio e a reduo no sentido restrito, existe
uma diferena f undamental : uma proposio' definieional para
Q fornece, expressa no vocabulrio de que j se dispe, uma
condio necessria e suficiente para Q e, por consequncia,
permite eliminar Q em todos os contextos em benefcio do
seu definiens; enquanto um par de reduo ou enunciado de
reduo bilateral fornecem uma condio necessria e uma con-
dio suficiente, mas sem que as duas coincidam, o que quer
dizer que a significao de Q est apenas parcialmente deter-
minada e que a sua eliminabilidade em todos os contextos no
assegurada. Carnap caracteriza assim a diferena: ... Se de-
sejamos introduzir um novo termo na linguagem da cincia,
devemos distinguir dois casos.. Se a situao for tal que queira-
92
s fixar a significao do termo novo de uma vez para sempre,
ento uma definio a forma apropriada. Em contrapartida,
se pretendemos determinar a significao do termo na hora
presente apenas para certos casos, remetendo para decises efec-
tuadas gradualmente a preocupao de a determinar ulterior-
mente para outros casos, a partir do conhecimento emprico
que esperamos obter no futuro, ento o mtodo de reduo o
mtodo apropriado, prefervel ao da definio. Um conjunto de
pares de reduo apenas uma determinao parcial de signi-
ficao e no pode, por conseguinte, ser substitudo por uma
definio. S se conseguirmos, acrescentando sempre mais pares
de reduo, atingir um estdio em que todos os casos sejam
determinados, que podemos passar forma de uma definio.
(TM,p&. 59-60).
O par de reduo anterior fornece para Q3 as seguintes
especificaes:
(1) & . Q2) D Q3;
(2) Q 3 D ^(Q, . Q3 ).
Por outras palavras, estas duas proposies indicam unicamente
que a extenso de Q3 est compreendida entre a de Qi - Q2
e a de N (Q4 . Q5) , no sentido em que inclui a primeira e est
includa na segunda. O domnio de validade de Q3 s est
completamente determinado se essas duas extenses coincidi-
rem. Por outro lado, se a proposio universal
(V*) (x) . Q2 (a; )] V [Q4 (x) . Q5 (a? )]
for verdadeira devido a leis lgicas ou a leis naturais (L re-
gras resp. P regras da linguagem a que se refere) , os crit-
rios fornecidos pelas duas proposies anteriores nunca podem
ser aplicados e, de facto, nada se diz sobre as modalidades de
atribuio de Q3. Por conseguinte, um par de proposies do
tipo RJ , R, no pode constituir um autntico par de reduo se
esta eventualidade estiver excluda. Por uma razo anloga,
um enunciado do tipo Rb : Qt D (Q 3 =Q 2 ) s representa um
enunciado de reduo bilateral se (v*) ^Qi O) no for
valido. Mas, naturalmente supondo-se realizada esta condio,
a significao de Q3 s definida no interior da classe deter-
minada pelo predicado Qi. Se considerarmos novamente o
caso do fsforo c anteriormente evocado, evidente que a
lUesto de saber se o predicado disposicional Q3 pertence
u no a c irresolvel por razes tericas (o predicado em
luesto no se encontra definido no caso preciso), e portanto
93
o SCULO xx A TEORIA E A OBSERVAO NA FILOSOFIA
desprovido de sentido. Como observa Pap, a classe determinada
por Qi pode ser considerada como o percurso e significao
(range of significance) do predicado de disposio, no exacto
sentido em que o conjunto dos nmeros naturais constitui o
percurso de significao dos dois predicados contraditrios
par e mpar C1 ) .
Carnap est, evidentemente, consciente desta dificuldade
e observa que podemos quando muito reduzir a margem de inde-
terminao introduzindo especificaes suplementares quer por
meio de outros pares ou enunciados de reduo (correspondendo
a processos de determinao adicionais) quer por meio de pro-
posies de outro tipo: ... Para o fsforo do nosso exemplo
anterior, nem o predicado nem a sua negao podem ser atribu-
dos. Podemos diminuir esta regio de indeterminaro do pre-
dicado acrescentando uma ou vrias leis suplementares que
contenham o predicado e relacionando-o com outros termos de
que dispomos na nossa linguagem. Estas leis suplementares po-
dem assumir a forma de proposies de reduo (...) ou uma
forma diferente. No caso do predicado solvel na gua pode-
mos talvez acrescentar a lei que enuncia que dois corpos da
mesma substncia so ou ambos solveis ou no. Esta lei seria
suficiente no caso do fsforo; conduziria, em conformidade com
o uso comum, ao resultado o fsforo c no solvel, visto
que outros pedaos de madeira se mostraram insolveis na base
da primeira proposio de reduo. No entanto, subsiste uma
regio de indeterminao, embora menor. Se um corpo b for
constitudo por uma substncia tal que, para qualquer corpo
dessa substncia, a condio do teste no exemplo anterior:
ser posto em gua nunca tiver sido realizada, ento nem o
predicado nem a sua negao podem ser atribudos a b. Essa
regio pode, nesse momento, ser ainda mais reduzida, gradual-
mente, atravs da enunciao de novas leis. (TM, p. 56) .
Por outras palavras, os enunciados de reduo formulam
critrios operacionais de aplicao para certos termos; e, na
medida em que o progresso dos nossos conhecimentos e das nos-
sas tcnicas nos permitir dispor de novos critrios, podemos
enunciar proposies de reduo suplementares. Todos os enun-
ciados de reduo respeitantes a um dado termo podem ser
inseridos na sua cadeia introdutiva; mas, qualquer que seja a
riqueza desta, haver sempre lugar para interpretaes par-
ciais suplementares do termo em questo. Neste ponto as con-
cepes operacionistas de Carnap afastam-se consideravelmente
D Cf. A. Pap, Reduction Sentences and Disposition Concepts
PR, p. 561, nota.
94
no facto de que cada termo cientfico deve ser introduzido por
um critrio operacional nico: Se temos mais de um conjunto
(je operaes, temos mais de um conceito e, com todo o rigor,
deveria haver um nome distinto que correspondesse a cada con-
junto de operaes diferente, 1) Carnap adopta uma atitude
que tem a vantagem de evitar uma monstruosa proliferao de
termos e de ser mais conforme com os passos efectivos da cin-
cia quando admite, para um mesmo termo, uma pluralidade e
mesmo eventualmente um nmero indefinido de definies
operacionais.
6. Conceitos disposicionais e conceitos tericos
J assinalmos a dificuldade que se refere escolha de uma
linha de demarcao que no seja completamente arbitrria
entre os predicados de observao e os predicados tericos.
A distino que Carnap faz entre os predicados de observao
e os predicados de disposio levanta, como evidente, uma
dificuldade da mesma ordem. Porque, mesmo que num certo
sentido todos os predicados sejam tericos, eles so todos, num
certo sentido, igualmente disposicionais. Trata-se ainda de um
ponto que Popper (2 ) sublinhou de forma particularmente vigo-
rosa pois que para de tudo isto significa que so todos abertos
duvida e aos testes. O termo solvel na gua , na opinio
geral, disposicional; mas o termo dissolve-se -o igualmente.
No podemos pretender que um predicado s seja disposicional
quando pode ser reduzido a outros predicados por meio e impli-
caes universais e tipo carnapiano; porque, como assinala Pap,
essa redutibilidade perfeitamente simtrica (pelo menos se o
enunciado de reduo for bilateral) . O predicado vermelho
figura regularmente entre os que Carnap d como exemplos
indiscutveis de predicados de observao. Mas possvel faz-
-lo aparecer como 'disposicional de vrios modos, dizendo, por
exemplo, que uni objecto vermelho um objecto que suscept-
vel de reflectir de maneira selectiva, em condies apropriadas,
radiaes luminosas de um certo comprimento de onda ou ainda
que um objecto vermelho se for susceptvel de produzir certas
sensaes visuais num observador dotado de uma viso normal
e colocado em condies apropriadas. Com efeito, podemos defi-
1 ) P. W. Bridgman, The Logic of Moern Physics, extrado de
obra com o mesmo ttulo, in. Feigi and Brodbeck (eds.) , op. cit.
Cf. por1 exemplo, The Demarcations between Science and Meta-
pp. 210-212.
O SCULO XX
A TEORIA E A OBSERVAO NA FILOSOFIA
nir a propriedade-de-coisa vermelho como a disposio que
uma coisa tem para produzir percepes caracterizadas pela
propriedade-de-sensao vermelho, e a propriedade-de-sen-
sao vermelho como caracterizando o tipo de percepes que
as coisas vermelhas so susceptveis de produzir em condies
apropriadas (cf. Pap, op. cit., IV).
Estas dificuldades incitam rejeio da ideia de que o que
caracteriza um predicado P como disposicional o facto de
uma proposio da forma P (x) no poder ser confirmado
directamente, mas to-s inferido, por intermdio de proposies
de reduo, de proposies que podem ser confirmadas directa-
mente (cf. TM, pp. 64-65). Na realidade, no possvel adoptar
uma concepo pragmtica da base observacional sem admitir
simultaneamente que o carcter disposicional de um predicado
nada tem ide absoluto, mas deve ser considerado como essencial-
mente relativo ao modo de introduo do predicado em questo
numa linguagem. No , portanto, possvel falar de um predi-
cado disposicional em si, mas apenas de um predicado disposi-
cional relativamente a uma certa linguagem (descritiva) L.
Nestas condies, como observa Pap, predicado disposicional
torna-se um sinnimo de predicado introduzido em L por pro-
posies de reduo e predicado de observao um sinnimo
de predicado primitivo em L. Por outro lado1, conveniente
substituir a dicotomia observaoional/disposicional por uma es-
cala de graus de disposicionalidade, podendo, por exemplo1, um
predicado da linguagem da fsica ser considerado como disposi-
cional em relao a certos predicados menos abstractos (para
empregar a linguagem de Carnap em Foundations of Logic and
Mathematics) e observvel em relao a outros mais abstrac-
tos.
Esta relativizao da noo de disposicionalidade, que vai
inteiramente no sentido de uma das tendncias fundamentais da
filosofia de Carnap, foi por ele aceite sem dificuldade: Actual-
mente eu seria da opinio de Pap (no 4) de que a questo de
saber se uma dada propriedade em si mesma uma disposio
no tem um sentido claro. Preferiria relativizar o termo dispo-
sio em relao a uma linguagem, como Pap sugere. Os termos
de disposio de uma linguagem dada so caracterizados neste
caso pelo facto de serem introduzidos nesta linguagem de uma
certa maneira (por exemplo, por proposies de reduo sim-
ples ou probabilirias, ou por definies de formas determi-
nadas fazendo intervir modalidades causais). (PRG, p. 950.)
Esta soluo choca, no entanto, com uma dificuldade funda-
mental: a distino observacional/disposicional assim relativi-
zada provoca exactamente as mesmas objeces que as que fo-
96
ram feitas por Quine distino analtico/sinttico tal como foi
construda por Carnap o qualificativo' disposicional arrisca-se
a no representar mais do que uma denominao convencional
para uma classe de predicados seleccionados arbitrariamente
numa linguagem. claro que, de facto, embora reconhecendo a
existncia de um elemento de conveno irredutvel no estatuto
disposicional de um predicado, Carnap no renuncia ideia de
que esse estatuto possui uma base natural, isto , que o predi-
cado solvel na gua, tal como utilizado normalmente,
disposicional, enquanto o predicado dissolve-se no' o ou,
por outras palavras, que explicamos a significao do primeiro
a partir da do segundo em termos reducionais e no> o inverso.
Dito de outro modo, a reconstruo formal da distino observa-
cional/disposicional no interior de uma linguagem cuja estru-
tura determinada de modo artificial deve necessariamente, do
mesmo modo que a distino analtico/sinttico, obter a sua
razo de ser de uma dualidade pr-existente que reproduz e
explica (no sentido carnapiano) at certo ponto.
Evocmos at agora essencialmente o problema da distin-
o entre predicados de observao e predicados de disposio.
A questo reside tambm em saber se, entre os termos descri-
tivos que no fazem parte da linguagem observacional, conve-
niente fazer uma distino entre os termos tericos propria-
mente ditos e os termos disposicionais. Em MCTCj, Carnap
adopta uma posio nitidamente diferente da que era defendida
em TM e considera essas duas categorias de termos como essen-
cialmente diferentes. Os termos disposicionais so doravante
concebidos como ocupando uma posio intermdia entre os
termos observacionais de L0 e os termos tericos. Eles esto
ligados de modo mais estreito aos primeiros do que aos segun-
dos e podem, de facto, ser associados aos termos de observao
propriamente ditos para constituirem uma linguagem e obser-
vao extensa L A sua introduo efectua-se segundo o prin-
cpio seguinte: todas as vezes que uma coisa determinada ma-
nifesta no seu comportamento uma regularidade caracterstica
que consiste no facto de reagir pela resposta R ao estmulo E
(as palavras estmulo e resposta so aqui utilizadas num
sentido muito lato e aplicadas igualmente a corpos inertes), o
termo disposicional t> ER pode ser introduzido como predicado
novo em L0 com a condio que E e R possam ser descritos
eni L0. Se E e R so de natureza tal que o observador pode pro-
duzir vontade a condio E (pelo menos em casos apropria-
dos) e decidir atravs de um processo adequado se o aconteci-
mento R suceder ou no, ento a propriedade DER pode
denominar-se uina disposio testavel. A classe das proprie-
97
O SCULO XX
daes testveis compreende as propriedades observveis e as
disposies testveis. A introduo de DBR por uma especifica-
o das operaes de testagem e do resultado caracterstico R
corresponde ao que por vezes se chama uma definio opera-
cional. O princpio do operacionismo de Bridgman e o requisito
de testabilidade dos neo-positivistas lgicos corresponde prati-
camente mesma exigncia fundamental, e apenas reconhecem
significao emprica a um termo se dele se puder dar uma
definio operacional. Desde a poca de TM que Carnap tinha
reconhecido que a testabilidade era uma condio demasiado
restritiva e que implicava a excluso abusiva de alguns termos
empiricamente dotados de sentido. Mas, com o reconhecimento
da especificidade dos termos tericos, toma em considerao
a necessidade de uma liberalizao muito mais considervel do
princpio do operacionismo.
No texto de 1936, o carcter aberto dos conceitos cient-
ficos, isto , a incompletude da sua interpretao, era represen-
tada pela possibilidade oferecida de acrescentar regras disposi-
cionais suplementares sob a forma de enunciados de reduo.
Em MCTC Carnap pensa que ser representado mais adequada-
mente em LT pela liberdade que se possui de reforar a inter-
pretao dos termos tericos por meio de C regras adicionais
ou de postulados suplementares sem nunca a completar. Um
termo disposicional como DER, introduzido pelo processo geral
acima indicado, denominado por Carnap um termo disposi-
cional puro para insistir no facto de se distinguir dos termos
de LTpelas trs caractersticas seguintes:
1) Pode-se obt-lo a partir de predicados designando pro-
priedades observveis aplicando uma ou vrias vezes o processo
descrito.
2) A relao especificada entre E e R constitui a signifi-
cao total do termo.
3) A regularidade que pe em cena E e R, sobre que o
termo assenta, tida por universal, isto , vlida sem qualquer
excepo.
Ora, tendo em considerao estas trs caractersticas, su-
cede que a interpretao dos termos cientficos como disposi-
es puras no pode ser facilmente conciliada com alguns modos
habituais de os utilizar (p. 68). Em particular, todas as vezes
que algum teste ou, mais geralmente, alguma observao no
fornece, do ponto de vista daquele que utiliza, uma evidncia
absolutamente conclusiva para a aplicao de certo conceito,
mas constitui no mximo um indicador relativamente seguro,
A TEORIA E A OBSERVAO NA FILOSOFIA
i conveniente construir o conceito (a caracterstica, o estado)
em questo no como uma disposio pura, mas como um termo
terico (esta observao aplica-se muito particularmente aos
conceitos psicolgicos, cf. 9),
Carnap observa que a sua distino entre as disposies
puras e os termos tericos assemelha-se estreitamente das
variveis intermdias (intervening variables) e das constru-
es tericas (theoretical constructs), que tanto foi discutida
aps o clebre artigo de MacCorquodale e Meehl 1). No esp-
rito de MacCorquodale e Meehl, as variveis intermdias no
tm outro fim seno o de permitir uma mais cmoda formulao
de certas leis empricas, no tm contedo factual especfico e
podem, em princpio, ser sempre eliminadas; as construes
tericas ou hipotticas implicam, pelo contrrio, a hiptese da
existncia de uma entidade, de um processo ou de um aconteci-
mento que no ele prprio observado (p. 597), possuem uma
referncia factual prpria que no se confunde com os dados
empricos que lhes servem de suporte: o caso, por exemplo, da
noo de electro por oposio noo de resistncia em
electricidade. As tentativas efectuadas para distinguir os ter-
mos tericos autnticos dos termos simplesmente intermdios
ou auxiliares na base desta presena ou ausncia de referncia
cognitiva podem ser considerados, luz das numerosas discus-
ses que ocasionaram, como um tanto fteis (cf. Hempel, Im-
plicatians of Carnais Work for the Philasophy of Science, PRG
pp. 695-698). Mas Carnap no se preocupa de maneira alguma
em procurar para a sua distino pessoal uma base deste g-
nero. A distino entre predicados disposicionais puros e os
predicados tericos uma distino que, mais uma vez, no tem
qualquer carcter absoluto e depende essencialmente do modo
como decidimos construir a nossa linguagem. Por um lado, per-
manecemos inteiramente livres, em numerosos casos, de escolher
para um conceito a interpretao disposicional ou a interpre-
tao terica: a nica questo reside em saber se a interpretao
adoptada se encontra em conformidade com o uso cientfico
consagrado ou o uso que desejamos fazer do termo e se ela a
mais indicada para o sucesso da teoria em causa. Por outro
lado, as habituais questes ontolgicas referentes realidade
das entidades em questo numa teoria por exemplo, o campo
electromagntico em geral , so consideradas por Carnap como
destitudas de sentido evidente: Uma questo deste gnero
C) Hypothetical Constructs and Intervening Variables Psycho-
'ogcal Review, 55, 1948; reproduzido em Feigl and Brodbeck, op. cit.,
PP- 596-611.
O SCULO XX
em si mesma ambgua. Mas podemos dar-lhe uma significao
cientfica satisfatria se acordarmos em compreender a aceita-
o da realidade, por exemplo, do campo electromagntico no
sentido clssico, como a aceitao de uma linguagem LT e, nessa
linguagem, de um termo, por exemplo, E, e de um conjunto
de postulados T que inclui as leis clssicas do campo electro-
magntico (por exemplo, as equaes de Maxwell) como postu-
lados para E. Para um observador X, aceitar os postulados
de T significa neste caso no s dmitir T como um clculo no
interpretado, mas tambm utilizar T ao mesmo tempo que re-
gras de correspondncia C especificadas para guiar as suas
previses deduzindo predies respeitantes a acontecimentos
futuros observveis de acontecimentos observados, por meio
de T e de C. (MCTG, p. 45).
Utilizados com pretenses explicativas, os conceitos dispo-
sicionais tm, evidentemente, ressaibos de virtus dormitiva.
Afirmar que uma certa substncia solvel na gua no ape-
nas afirmar que todos os corpos dessa substncia se dissolvem
sempre que colocados na gua. afirmar que este corpo' aqui,
que nunca foi colocado na gua e que talvez nunca venha a s-lo,
se dissolveria, se nela fosse colocado: temos, neste caso, necessi-
dade de uma implicao que exprima uma necessidade que v
alm da simples generalidade no tempo 0), Ora, evidente que
no podemos dar conta do facto de que um pedao de acar
colocado na gua se dissolveria invocando a solubilidade do
acar, a no ser na medida em que esta remeta para um trao
permanente realmente explicativo da estrutura do corpo em
questo. Os termos disposicionais no constituem, num deter-
minado sentido, mais do que uma moeda fiduciria que podemos
j ou que esperamos vir a poder um dia converter em moedas
dotadas de valor real: Os progressos em qumica podem, afinal,
resgatar a ideia de solubilidade, mas apenas nos termos de uma
teoria inteiramente desenvolvida. Acabamos de compreender o
que existe, ao certo, na forma e na composio submicroscpica
de um slido que faz com que a gua seja capaz de o dissolver.
A partir desse momento, a solubilidade pode ser simplesmente
identificada com essas caractersticas explicativas. Quando di-
zemos que um fragmento de matria se dissolveria necessaria-
mente se estivesse na gua, pode-se compreender o que dizemos
como significando que atribumos a esse fragmento essas supos-
tas particularidades enumeradas da estrutura submicroscpica
(* ) Uma implicao a que por vezes se chama causal e que
possa dar conta adequadamente da significao dos hipotticos irrsais
(counterfactual conditionals).
100
iden
A TEORIA E A
essas caractersticas explicativas c
que a solubilidade foi ultimamente
pode dizer-vos o que elas so. Eu no posso,
O que parece implicar que apenas o qumico, que conhece as
caractersticas que servem para a definir, pode falar inteligivel-
mente da solubilidade. De facto, o termo solvel na gua
utilizado de modo perfeitamente natural e dotado de sentido
pelo profano e foi-o certamente muito antes que a teoria qu-
mica tivesse possibilidades de caucionar o seu uso atravs de
uma explicao adequada. Mas, como observa Quine, para quem
adopta uma atitude cientfica, o termo foi uma espcie de pro-
messa de pagamento escrita que se esperava resgatar posterior-
mente nos termos de uma caracterizao explcita do mecanismo
que entra em jogo. O tipo de descrio de um mecanismo que
pode ser considerado como explicativo depende, naturalmente,
at certo ponto, da situao geral da cincia na poca em causa
(ibid.). legtimo considerar, nestas condies, todos os termos
disposicionais como investidos de uma significao terica pre-
sumvel que os progressos dos nossos conhecimentos sero sus-
ceptveis de transformar, num prazo mais ou menos longo, numa
significao peremptria. Existe, deste ponto de vista, uma
considervel diferena entre a solubilidade como capacidade
de se dissolver na gua e a inteligncia como capacidade de
aprender, de resolver problemas, etc. Esta um dos exemplos
mais tpicos do que se pode chamar, na sequncia da metfora
de Quine, uma disposio irredente, ou seja, uma daquelas em
relao s quais no sabemos onde encontrar ou sequer exacta-
mente onde procurar as propriedades anatmicas, fisiolgicas
ou outras que, eventualmente pudessem ser consideradas como
explicativas: A inteligncia actualmente o que a solubilidade
era h sculos. No entanto', penso que uma promessa de
pagamento escrita. No creio que utilizssemos a palavra inte-
ligente se no pensssemos que existe uma causalidade agente
ou um mecanismo' no identificados mas identificveis mais dia
menos dia que fazem com que um homem seja superior a outro
quando se trata de aprender ou de resolver problemas (ibid.,
P- 53). O debate s pode, efectivamente, a partir do momento
em que se aceita utilizar a palavra inteligente, incidir sobre
a.^natureza e funcionamento presumveis desse mecanismo hipo-
ttico, sobre a questo de saber se inato ou adquirido, em que
(' ) W. V. O. Quine, Necessary Truth, in The Ways of Paradox,
Other Essays, Random House, Nova Iorque, 1966, pp. 51-52. Sobre
estatuto dos termos disposicionais em Quine, ver tambm Word and
uoject, The M. I. T. Press, Cambridge, Mass., 1960, 46.
101
O SCULO XX
medida se pode desenvolver ou inibir pela educao, etc. No que
se refere, de um modo geral, aos termos abstractos da teoria
psicolgica que representam, na sua maior parte, disposies
irredentes, Carnap adere concepo segundo a qual eles pode-
ro provavelmente ser resgatados afinal por meio de teorias
do sistema nervoso central formuladas em termos fisiolgicos
(MGTC, p. 74). Depois de ser atravessada, nas duas direces
fundamentais, introspectiva e behaviorista, que seguiu, por uma
fase quase exclusivamente observacional, e depois por uma fase
de livre criao terica, que Carnap salienta como tendo sido e
continuado a ser um factor de progresso essencial, conhecer
provavelmente uma fase fisiolgica e microfisiolgica para en-
contrar por fim, numa data que talvez no esteja muito
distante (cf. ibid., p. 75), o seu ponto de chegada e os seus fun-
damentos na microfsica.
7. A teoria como sistema formal parcialmente interpretado
A linguagem terica LT considerada por Carnap em Beo-
bachtungssprache und theoretische Sprache, compreende uma
linguagem matemtica contendo expresses e variveis para
todas as entidades que intervm nas matemticas clssicas e
certo nmero de T - termos (termos tericos) descritivos. A in-
troduo dos T - termos efectua-se por meio de duas categorias
de postulados: 1) os postulados tericos ou T -postulados, que
no contm O - termos (termos observacionais), mas apenas
T-termos; 2) as regras &correspondncia ou C - postulados,
que contm quer O - termos quer T - termos. Os T - postulados
podem ser, por exemplo, leis fundamentais da teoria cientfica
referida. Os C - postulados tm por funo, como vimos, esta-
belecer conexo entre os T - termos e os O - termos, e constituem
directivas de aplicao para os primeiros (por exemplo: Se um
corpo est mais quente do que outro ento a temperatura do
primeiro mais elevada do que a do segundo,) Suporemos que
o nmero dos T-postulados finito e designaremos por T a
conjuno dos T - postulados, por C a dos C - postulados e por
TC a de ambos. A significao dos termos tericos determi-
nada por um lado, pelos postulados do clculo que constituem,
como frequentemente se diz, uma definio implcita desses
termos e, por outro, pelas regras de correspondncia (tambm
denominadas definies coordenativas, definies operacio-
nais, princpiosrinterpretativos) que lhes obtm um contedo
emprico.
102
A TEORIA E A OBSERVAO NA FILOSOFIA
Carnap tenta resolver, no texto a que nos referimos, dois
problemas metodolgicos particulares em relao com a cons-
truo de um sistema terico, por exemplo, um sistema da fsica
terica, apoiando-se em T - e em C - postulados: um refere-se
natureza das entidades tericas postuladas pelo sistema, o outro
distino das proposies analticas e das proposies sint-
ticas num sistema deste gnero. Se os enunciados de uma teoria
cientfica parcialmente interpretados no tm, afinal, outro
objectivo do que estabelecer certas conexes predicativas entre
dados empricos formulados em enunciados observacionais inte-
gralmente interpretados, levanta-se inevitavelmente a questo
de saber se os termos tericos no poderiam, em princpio, ser
completamente eliminados da linguagem da cincia sem mais
prejuzo do que o da incomodidade. Carnap colocava a questo
nestes termos em Foundations o f Logic an Mathematics: Seria
possvel formular todas as leis da fsica em termos elementares,
s admitindo termos mais abstractos como abreviaes? Se
assim fosse, teramos esse ideal de uma cincia em forma sensa-
cionalista que Goethe, na sua polmica com Newton e alguns
positivistas parece ter em vista (p. 64). A resposta , por
razes empricas, negativa: acontece que e trata-se de um
facto emprico, no de uma necessidade lgica (ibid.) , se
se restringir o seu vocabulrio a termos elementares no se con-
segue formular um sistema de leis suficientemente poderoso e
eficaz.
J vimos de que modo Carnap tinha acabado rapidamente
por admitir que a eliminabilidade era impossvel se fosse enten-
dida no sentido da definibilidade explcita. H, no entanto, pro-
cessos puramente lgicos que permitem eliminar os termos
tericos em exclusivo benefcio dos termos pr-tericos numa
teoria convenientemente axiomatizada. Um deles foi descrito
por Ramsey (-1), e outro por Craig ( 2) . O processo de Ramsey
pode resumir-se do seguinte modo: a uma teoria dada TC,
possvel fazer corresponder uma proposio R que no contenha
T - termos, que se pode chamar a proposio de Ramsey desta
teoria. Se n termos diferentes figuram em TC, so substitudos
por n variveis diferentes que no figuram em TC e obtm-se
a- proposio R prefixando expresso obtida n quantificadores
existenciais ligando as n variveis em questo. R , evidente-
(') Cf. P. P. Ramsey, Theories, in The Founations of Mathe-
and Other Logical Essays, Routledge and Kegan, Paul, Londres,
, pp. 212-236.
(") Cf. W. CraigTj On Axiomatizability within a System, Journal
/ Symbolic Logic, XVIII, 1953, pp. 30-32; e Replacement of Auxiliary
Expresslons Philosophical Review, LXV, 1956, pp. 38-55.
10S
O SCULO XX
mente, uma consequncia lgica de TC. Por outro lado, poss-
vel mostrar que qualquer proposio que no contenha T - ter-
mos que seja dedutvel de TC igualmente dedutvel de R.
A proposio existencial R representa, portanto, de modo ade-
quado, o contedo emprico ou, mais exactamente, observa-
cional, da teoria TC: enuncia que existem n objectos que man-
tm com processos observveis as relaes especificadas em C
e que mantm entre si as relaes indicadas em T.
Esta proposio pode ser utilizada em lugar dos postulados
TC; mas, contrariamente ao que foi por vezes sugerido, no
elimina de nenhum modo' a referncia a entidades tericas, pois
afirma a existncia de certas entidades da espcie exigida pelos
postulados TC, sem conferir qualquer segurana suplementar
questo de saber se essas entidades so observveis ou, pelo
menos, inteiramente caracterizveis em termos de processos
observveis ( 1 ) . Embora de acordo com este ponto indiscutvel,
Carnap faz notar ( PRG, p. 963) que, no entanto, essas entida-
des no so objectos fsicos inobservveis, como os tomos, os
electres, etc,, mas antes (...) entidades puramente logico-
-matemticas, isto , nmeros naturais, classes de nmeros
naturais, classes de classes de nmeros naturais, etc. Este
processo de matematizao dos seres tericos encontra-se mi-
nuciosamente descrito em BTS, 3, e permite concluir que
no necessrio admitir novas espcies de objectos para os
T - termos descritivos da fsica terica. Estes termos designam
objectos matemticos, por exemplo, nmeros ou funes de n-
meros ou outras coisas semelhantes, mas objectos matemticos
que so caracterizados do ponto de vista fsico, no sentido em
que mantm com processos observveis as relaes determinadas
nas C - regras e que, alm disso, preenchem as condies indi-
cadas nos T-postulados. (p. 39).
Carnap utiliza o processo ramseyano, no para se dispensar
de recorrer aos termos tericos mas para resolver o problema da
explicao do conceito de experiential import (as implica-
es experimentais) de uma proposio e o da analiticidade
em relao com uma teoria TC. As implicaes experimentais
de uma proposio S representam a totalidade do que esta pro-
posio' nos transmite quanto a acontecimentos observveis
possveis, enquanto o problema da significncia reside no na
(* ) Cf. por exemplo, Hempel, The Theoretician's Dilemma: A Study
in the Logic of Theory Construction, Minnesota Studies in the Philosophy
o f Science, vol. II (1958), 9. Na verdade, corno observa G. Maxwell
( op. cit. , p. 15), mesmo que se efectuasse por uma definio explicitai a
eliminao dos termos tericos no implicaria necessariamente a elimi-
nao da referncia s entidades tericas.
A TEORIA E A OBSERVAO NA FILOSOFIA
questo de saber o que aprendemos, mas simplesmente se se,
sim ou no, S, nos transmite qualquer coisa sobre acontecimen-
tos observveis possveis (cf. PRG, p. 961). , evidentemente,
difcil a priori distinguir, num enunciado terico, o que cons-
titui uma assero factual e o que representa simplesmente
uma especificao convencional da significao de certos ter-
mos. No que se refere aos enunciados de reduo que servem
para a introduo de termos disposicionais, Carnap tinha j
sublinhado em Testability an Meaning que combinam duas fun-
es diferentes: a determinao do sentido e a descrio factual,
e proposto mais tarde, em Meaning Postulates (1952), um pro-
cesso que permitisse separar claramente essas duas funes.
Os postulados TC tambm tm, evidentemente, esse duplo des-
tino e no podem, por conseguinte, ser enunciados nem a ttulo
de verdades empricas no sentido usual nem na qualidade de
postulados de significao.
O conceito de analiticidade numa linguagem definido a
partir dos postulados de significao dessa linguagem, ou seja, a
partir de enunciados que explicitam as relaes de significao
existentes entre as constantes descritivas primitivas da lingua-
gem em questo. Esses postulados podem denominar-se A - pos-
tulados e diremos que uma proposio S A - verdadeira (ana-
liticamente verdadeira) se for dedutvel dos A - postulados.
O problema da definio da analiticidade para uma linguagem
terica resolvido por Carnap do' seguinte modo: a proposio
R enunciada como um P - postulado, isto , um postulado sin-
ttico, por exemplo, fsico. Como A - postulado AT para os
T - termos, escolhe-se a proposio implicativa R D TC. fcil
mostrar que 1) a conjugao R. AT logicamente equivalente
a TC; 2) qualquer proposio no comportando T-termos que
dedutvel de AT L - verdadeira (logicamente verdadeira, isto
, verdadeira exclusivamente pelo facto da significao das
constantes lgicas que a figuram). ;
1) significa que R em conjuno com AT afirma a mesma .
coisa que os postulados TC; 2) que AT no implica qualquer '.,
proposio sinttica. Por conseguinte, o contedo total TC foi
separado num elemento factual que pode ser testado pela obser-
vao e num elemento convencional que no conveniente sub-
meter a qualquer prova deste gnero. Falando concretamente,,'
e tendo em considerao a matematizao atrs evocada, AT ,
significa: JVo caso em que o mundo fosse constitudo de modo
tal que houvesse efectivamente n - uplos de objectos matem-
ticos que satisfizessem TC, enquanto os T - termos devem ser
entendidos de maneira tal que os objectos por eles designados
1 05
O SCULO XX
A TEORIA E A OBSERVAO NA FILOSOFIA
constituem n - uplos desse gnero. Se A0 representa a conjuno
dos A - postulados respeitantes aos O - termos, uma proposio
poder dizer-se A - verdadeira na linguagem L se for dedutvel
de A0 e AT em L, e P" verdadeira na linguagem L se for dedut-
vel de A0, ATe R em L. Assim se encontra resolvido o problema
(fundamental para Carnap) da obteno de um explicaum for-
mal adequado para o conceito intuitivo de analiticidade no caso
(particularmente 'delicado) de uma linguagem comportando
termos tericos.
8. Concluso: As virtudes do Diabo
A concepo que consiste em representar uma teoria como
constituda por dois elementos distintos: um sistema dedutivo
axiomatizado e um dicionrio que fornece um contedo ao
sistema interpretando algumas das suas frmulas em termos
empricos, foi to propalada na filosofia das cincias de inspira-
o analtica e, at uma data recente, to largamente aceite, que
pode ser denominada a concepo standard, consagrada ou
ortodoxa das teorias cientficas O1). Esta concepo, de que
Carnap foi um dos representantes mais caractersticos e mais
conscientes, foi submetida nos ltimos anos a diferentes ataques
e acabou por aparecer eomo seriamente inadequada aos olhos
de alguns (2 ). Infelizmente, no aqui possvel assinalar seno
sumariamente os debates que actualmente se travam em torno
deste ponto. A nossa tarefa era, efectivamente, traar apenas,
atravs do caso exemplar de Carnap, a histria de um problema
que desempenhou um papel fundamental na filosofia das cin-
cias do neo-positivismo lgico e dos seus herdeiros mais ou
menos directos.
Se certo que ta nossa apresentao se assemelha, em cer-
tos aspectos, a uma apologia, o que pretendemos defender no
foi propriamente nem a resposta (ou melhor, as respostas) nem
mesmo a problemtica de Carnap mas, simplesmente, o direito
(') As primeiras exposies perfeitamente explcitas desta con-
cepo clssica so, provavelmente, as que encontramos em Norman R.
Campbell Physics: The Elements, Cambridge, 1920 (reeditado sob o
ttulo Foundations o f Science por Dover Publ. em 1957), e num artigo
pouco conhecido de Carnap: uber die Aufgabe der Physik und die
Anwendung ds Grundsatzes der Einfachstheit, Kant-Studien 28 (1923),
pp. 90-107.
(") Ver, por exemplo, Henipel, On the Standard Conception of
Scientif ic Theories, e todo o volume IV dos Minnesota Btudies in the
Philosophy o f Science (1970).
106
que ele e certo nmero de autores da mesma famlia possuem
de serem julgados a partir de textos e no dos boatos ou impres-
ses. O resultado a que necessrio tentar chegar e para que
uma exposio como esta pretenderia, se possvel, contribuir,
apenas a abertura de uma verdadeira discusso e a formulao
de crticas que sejam mais do que denegaes de princpio. De
facto, extremamente lamentvel que, quando se adopta em
relao filosofia das cincias de tipo camapiano uma atitude
de rejeio global, se tente frequentemente fazer passar o que
no mais do que a expresso de uma falta de interesse, em si
perfeitamente legtima e compreensvel, por uma refutao.
Os juzos pouco lisonjeiros que os filsofos e os epistemlogos
franceses formulam, de maneira, geral, sobre a lgica da cin-
cia fazem por vezes pensar nas observaes irnicas de Poin-
car sobre os ltimos esforos dos logsticos. (Ao dizer isto,
no insinuamos que a lgica da cincia se possa encontrar um
dia na posio que hoje a da lgica matemtica; uma even-
tualidade que, infelizmente, parece totalmente excluda.) certo
que, para falar como Poincar, os lgicos da cincia, que em
certo sentido, pretendiam ter asas, foram em muitos aspectos
bem menos depressa e menos longe do que os epistemlogos
pteros, exclusivamente atentos aos mecanismos de produo e
de evoluo ef ectivos das teorias e das ideologias cientficas.
Mas o seu projecto era totalmente diferente. , portanto, per-
feitamente incorrecto apresentar as coisas como se eles tives-
sem falhado onde outros foram bem sucedidos embora seja,
alis, incontestvel que, num certo sentido, falharam.
A censura que muitas vezes se faz filosofia das cincias
dos neo-positivistas lgicos de terem ignorado a histria das
cincias assaz curiosa. Poder-se-ia, evidentemente, citar, nas
suas obras, certo nmero de passagens em que a necessidade
de estudar igualmente as cincias sob o aspecto histrico e so-
ciolgico enfaticamente proclamado. Mas o ponto essencial
que, como lembrou Carnap a um crtico sovitico' que o acusava
de no pr o problema das origens socioeconmicas da meta-
fsica que tentavam eliminar, o mesmo homem no pode fazer
tudo ao mesmo tempo (cf. PRG, pp. 867-868). Se pensarmos que
a lgica da cincia devia ser para Carnap, na poca de A Sintaxe
Lgica da Linguagem^ o exacto equivalente, para a linguagem
das cincias, do que a metamaterntica hilbertiana era para a
linguagem da matemtica (um estudo sinta tico formal dessa
linguagem), os que o censuram de no ter tido em considerao
no seu projecto as condies reais de formao e de transfor-
mao da linguagem das cincias poderiam, do mesmo medo,
107
O SCULO XX
censurar Hilbert por no ter feito intervir directamente consi-
deraes histricas na sua teoria da demonstrao.
Pode ser que a lgica da cincia que se tornou em Car-
nap, a partir da Introduo Semntica, a anlise no s sin-
tctica mas igualmente semntica da linguagem cientfica
seja, afinal de contas, relativamente decepcionante. Mas isso no
permite de nenhum modo que se dispense a obrigao de com-
preender correctamente do que se tratava. bem raro que as
crticas dirigidas a Carnap no cometam, implicita ou explicita-
mente, o erro de atribuir lgica da cincia uma funo des-
critiva ou normativa particular (supe-se que ela d conta da
maneira como as coisas se passam de facto nais cincias ou
indica de que modo deveriam passar-se). Na realidade, como em
vrias oportunidades recordmos, pertence a uma categoria que
nem particularmente nova nem, geralmente, particularmente
mal-afamada em filosofia: a da reconstruo lgica ou racional.
No que se refere aos resultados obtidos por Carnap e, de modo
geral, pelo empirismo lgico no domnio da filosofia das cincias,
subscreveria facilmente a concluso bastante pessimista mas
equitativa de Israel Scheffler: Parece, em suma, que mesmo um
empirismo modesto presentemente mais uma esperana de
clarificao e um desafio lanado investigao construtiva do
que uma doutrina bem fundada, a no ser que a construamos de
modo perfeitamente trivial. A melhor maneira de conceber os
empiristas , talvez, represent-los como pessoas que partilham
a esperana e aceitam o desafioque recusam considerar a
dificuldade como razo vlida para se contentarem com coisas
que permanecem obscuras ou para abandonarem qualquer
esforo. 1)
O) Theoretical Terms and A Modest Empli^st.M %$***?
and S. Morgenbesser (eds.), Philosophy of Scieri 15to'.^f,'f^"
shing Company, Nova Iorque, 1960, pp. 172-173. : v ; . ' ' - >
108
BIBLIOGRAFIA
Ayer (A. J.) (ed.), Logical Positivism, The Free Press, Nova Iorque,
1959.
Boudot (M.),. Logique inductive et probabilit, Armand Colin, 1972.
Bridgman (P. W.), The Logic of Moern Physics, Macmillan, Nova
Iorque, 1927.
Campbell (N. R.), Physics: The Elements, Cambridge University
Press, Cambridge, Massachusetts, 1920.
What is Science ? Methuen, Londres, 1921.
Carnap (R.), Der logische Aufbau der Welt, Weltkreis-Verlag,
Berlim, 1928 e Felix Meiner, Hamburgo, 1961.
Die physikalische Sprache ais Universalsprache der Wissen-
schaft, Erkenntnis, Bd. II, H. 5-6, 1932.
tiber Protokollstze, iUd., Bd. III, H. 2-3, 1932.
Die Aufgabe der Wissenschaftslogik, Einheitswissenschaft.
Schriften herausgegeben von Otto Neurath in Verbindung mit Ruolf
Carnap una Hans Hahn, H. 3, Verlag" Gerold & Co., Viena, 1934.
Formalwissenschaft und Realwissenschaft, Erkenntnis, Bd. V
H. l, 1935. As duas ltimas foram obras traduzidas em francs pelo gene-
ral Vouillemin sob o ttulo La logique de Ia science. Science formelle et
science du rel, Actualits scientifiques et industrielles 291, Hermann,
Paris, 1935.
Logische Syntax der Sprache, Springer-Verlag, Viena, 1934.
Traduo inglesa revista e aumentada, The Logical Syntax of Lan-
guage, Kegan Paul, Londres, 1937.
Testability and Meaning, Philosophy of Science (Baltimore),
vol. III, 1936 e IV, 1937. rteproduzido (incompletamente) em Feigl H.
and Brodbeck M., Reaings in the Philosophy of Science, pp. 47-92.
Logical Foundations of the Unity of Science, in Encyclopedia
an Unified Science, vol. It n." l, University of Chicago Presse, Chicago,
1938.
Foundations of Logic and Mathematics, ibid., vol. I, n. 3, 1939.
Truth and Confirmation, em Feigl H. and Sellars W. (eds.)
Readings in Philosophical Amlysis, pp. 119-127.
Empiricism, Semantics and Ontology, Revue Internacionale
e philosophie, vol. 44 1950; reproduzido (nomeadamente) na reedio de
R- Carnap, Meanning' and Necessity, A Study in Semantics and Modal
Logics, The University of Chicago Press e em L. Linsky (ed.), Seman-
tics and the Philosophy of Language, The University of Illinois Press,
Urbana, 1952.
109
O SCULO XX
The Mttodological Charo ter of Theoretical Concepts, em Feigl
H. and Scriven M. (es.), Minnesota Studies in the Philosovhy o f Science,
vol. I, 1956.
Beobachtungssprache und th'coretische Spraclie, Dialctica,
vol. XII, Neuchtel, 1958.
Philosophical Fouations of Physics, M. Gardner (ed.), Basic
Books, Nova Iorque e Londres, 1966.
Danto (A.) e Morgenbesser (S.) (es.), Philosophy of Science, Se-
lected Readings, Meridian. Books, Nova Iorque, 1960.
Feigl (H.) and Brodbeck (M.) (eds.), Redings in the Philosophy of
Science, Appleton-Century-Crofts, Nova Iorque, 1B60.
Feigl (H.) and Sellars (W.) (es.), Reaings in Philosophical Ana-
lysis, Appleton-Century-Crofts, Nova Iorque, 1949.
Feyerabend" (P.), Explanation, Reduction and Empirlcisra, Min-
nesota Stuies in the Philosophy of Science, vol. III, 1962,
Hempel (C. G.), Problema and Changes in the Empiricist Criterion
of Meaning, Revue nternacionale de philosophie, vol. IV, 1950; repro-
duzido em L. Linsky (ed.), Semantics and the Philosophy o f Language,
tm A. J. Ayer (ed.), Logical Positivism, e em Hempel, Aspects of Scien-
tif ic Explanation.
Fundamentais of Concept Formation in Empirical Science,
International Encyclopedia of Unif ied Science, vol. II, n. 7, 1952.
The Theoretician's Dilemrna: A Study in tlie Logic of Theory
Construction, Minnesota Studies in the Philosophy o f Science, vol. U,
1958.
Aspects of Scientif ic Ex-ptanation, and Other Essays in the Philo-
sophy of Science, The Free Press, Nova Iorque, 1965.
On the Standard Conception of Scientific Theories, Minne-
sota Stuies in the Philosophy of Science, vol. IV, 1970.
Elments ^pistmologie, trad. franc. de B. Saint-Germain,
Armand Colin, 1972,
Nagel (E.,), The Structure of Science, Harcourt, Brace and World,
Nova Iorque, 1961.
Nidditch (P. H. (e.), Th Philosophy of Science, Oxford Readings
in Philosophy, Oxford University Press, 1968.
Popper (K. R.), The LOgio of Scientif ic Discovery, Hutchinson,
Londres, 1959.
The Demarcation between Science and Metaphysics, in P. A.
Schlipp (e.), The Philosophy o f Ruolf Carnap; tambm em Popper,
Conjectures an Ref utations. The Growth of Scientif ic Knoivledge, Rou-
tledge and Kegan Paul, Londres, 1963.
Ramsay (F. P.), Theories, in Tho Founations o f Mathemntics, an
Other Logical Essays, Routledge and Kegan Paul, Londres, 1931, pp.
212-236.
Russel (B.), An Inquiry into Mecining and Trwth, Allen & Unvvin,
Londres, W. W. Norton and Co., Nova Iorque, 1940. Traduo francesa
de P. Devaux, Signif ication et Vrit,. Flammarion, 1959.
' Human Knowlege: Its Scope an Limits, Allen & Unwin, Lon-
dres, Simon and Schuster, Nova Iorque, 1948.
Scheffler (L), The Anatomy of 'Inquiry, Alfred A. Knopf, Nova
Iorque, 1963. Traduo francesa de P. Thuillier, Anatomie de Ia science,
Editions du Seuil, Paris, 1965.
Schlipp (P. A.), The Philosophy of Ruolf Carnap, Open Court,
La Salle, Illinois, 1963.
110
III
A EPISTEMOLOGIA EM FRANA
por Michel Fichant
1. Da filosofia das cincias epistemologia
Em 1908, no prefcio ao seu livro Identii et Rlit, mile
Meyerson, qumico de formao e filsofo per destino, escrevia:
A presente obra pertence, pelo seu mtodo, ao domnio da filo-
sofia das cincias ou epistemologia, segundo um termo suficien-
temente apropriado e que tende a tornar-se vulgar. Assim se
estabelece, para a cronologia, o momento em que o neologismo
epistemologia se impe para designar um conjunto de investi-
gaes susceptveis de serem caracterizadas pelo seu objectivo
especfico. O facto de Meyerson propor epistemologia como
equivalente apropriado de filosofia das cincias sugere uma
questo que pode, para comear, justificar uma resoluo que
no procura tanto traar um inventrio da produo epistemo-
lgica francesa desde h sessenta anos como descrever o campo
de uma problemtica em que esto em causa o prprio estatuto
da epistemologia e a designao do seu lugar terico. De facto,
epistemologia a demarcao em francs do termo corres-
pondente ingls (epistemology), ele prprio um neologismo que
traduz o alemo Wissensohaf tslehre (teoria ou doutrina da
cincia) utilizado em projectos diferentes por Fichte e Bolzano
antes de ser retomado por Husserl. , sem dvida, pela tradu-
o francesa de uma das primeiras obras de Bertrand Russel,
Bnsaio sobre os Fundamentos a Geometria, (1897, trad. franc.
1901), que o vocbulo epistemologia introduzido na nossa
lngua filosfica. evidente que estas transferncias de uma
a para outra, e tambm de um horizonte conceptual para
111
O SCULO XX
outro, no deixam invariante o que, nas diferentes utilizaes da
palavra, se designa. E, embora desde Meyerson epistemologia
e seus derivados se tenham imposto ao uso, a aparente neu-
tralidade que alcanaram no deve dissimular-nos que a sua
generalizada utilizao talvez o ndice difuso, na superfcie
do vocabulrio, de uma transformao mais radical que afecta
o estatuto ie as mtuas relaes dos diferentes discursos que
encontravam na filosofia a garantia e a sano da sua unidade
e > da sua coerncia. Por outras palavras, e essa a questo que
estas observaes procuravam introduzir: o facto de epistemo-
logia poder, numa primeira abordagem, ser admitido como
substituto de filosofia das cincias, ter ainda para ns o
mesmo sentido que para Meyerson? Ou, pelo contrrio, o uso
generalizado da palavra epistemologia constituir a marca
de deslocamentos e de rupturas que nos conduzem a um terreno
totalmente diferente daquele cujos contornos tinham sido defi-
nidos pela filosofia das cincias ?
Efectivamente, no se pode esquecer e Meyerson sabia-o
bem que filosofia, das cincias uma expresso cuja origem
permite que nela se veja a expresso solidria de uma proble-
mtica que a do positivismo. , de facto, Auguste Comte
quem, no momento1 de justificar a utilizao do termo filo-
sofia positiva como ttulo do seu Curso (1830), indica, alm
disso, que a denominao filosofia das cincias talvez fosse
ainda mais rigorosa. Se esta denominao no retida (do
mesmo modo que filosofia natural tomada dos ingleses),
porque no compreenderia ainda todas as ordens de fenme-
nos ; porque, se se entende por filosofia o sistema geral das
concepes humanas, ela deve incluir tambm o estudo dos
fenmenos sociais: ora, uma tese central do Curso que este
estudo no est ainda constitudo como cincia, isto , como
discurso validado no positivo e que se trata justamente de inau-
gurar esta cincia. Mas esta reserva permite induzir que, a
partir do momento em que a cincia dos fenmenos sociais for
conduzida segundo as regras metdicas do saber positivo o
que Comte pensa ter realizado como fundador da sociologia ,
o motivo que o fazia preferir, como mais geral, filosofia positiva
a filosofia das cincias, ter desaparecido. Ser ento possvel
atribuir filosofia das cincias, equiparada assim prpria
filosofia positiva, a definio desta: ela ser, por sua vez,
o estudo prprio das generalidades das diversas cincias, con-
cebidas como submetidas a um mtodo nico e como formando
as diferentes partes de um plano geral de investigao. Assim,
sem ter em considerao a ulterior evoluo da filosofia com-
teana, no nvel do Curso de Filosofia Positiva, o termo filosofia
112
A. EPISTEMOLOGIA EM FRANA
das cincias pode ser introduzido solidariamente com um pro-
jecto de conjunto.
Embora o uso da expresso filosofia das cincias seja gene-
ralizado a partir de 1834 pelo Essai sur Ia Philosophie es
Sciences publicado por Ampere, falar ie filosofia das cincias
implicar sempre, durante muito tempo, uma referncia, directa
ou implcita, ao positivismo concebido como origem de uma
problemtica que conserva, para alm de Auguste Comte e
mesmo quando dizem opor-se-lhe, traos gerais referenciveis.
Sob diferentes formas, trata-se sempre de projectos unitrios
definidos em relao especializao parcelar das diversas
cincias particulares, Falar de filosofia das cincias tambm
instalarmo-nos no par unidade/pluralidade, sendo, neste caso,
a unidade identificada generalidade e a pluralidade como con-
junto de especialidades. Se o que designamos como epistemo-
logia for a filosofia das cincias com outro nome, ela dever
conservar na sua situao recente e actual a ambio ou a pre-
suno de unidade que essencial tradio de que seria ento
a continuao'. Se, pelo contrrio, nada disso se passa, que,
como tnhamos suposto, a evoluo do vocabulrio acompanha
uma transformao de problemticas.
Conseguiramos circunscrever de modo anlogo uma inter-
rogao semelhante se pretendssemos confrontar as acepes
recentes da epistemologia com outra filiao possvel, que teria
por referncia a teoria do conhecimento.
na Alemanha que se formula, antes de se difundir em
Frana, o conceito de uma teoria do conhecimento (ErJcennis-
theorie). Seria possvel mostrar que esse conceito se inscreve
numa herana kantiana mais ou menos dispersa. Do programa
da Crtica s conservamos de facto a determinao dos poderes
e das faculdades do sujeito cognoscente na medida em que as
suas representaes so suscepveis de objectividade. Como h
pouco o par unidade/pluralidade, agora a parelha sujeito/
/objecto que caracteriza o campo em que se inscrevem as diver-
sas variedades de teorias do conhecimento. Sabe-se, alis, que
durante muito tempo foi o problema do conhecimento que for-
neceu a chave da interpretao comummente admitida do kan-
tismo em Frana, desde Lachelier e Boutroux at Lon Bruns-
chvicg. Tambm no se trata de examinar agora os ttulos e os
Hmites histricos desta interpretao, mas apenas de assi-
nalar como uma problemtica se formou e difundiu a partir de
um ncleo que lhe assegura a continuidade. Ser-nos- ento
necessrio determinar se os trabalhos que concorrem para for-
mar o conceito de epistemologia, cujo estatuto pretendemos
113
O SCULO XX
caracterizar, se increvem ainda no domnio definido pela relao
sujeito cognoscenteobjecto conhecido.
Parece-nos, de facto, que filosofia das cincias e teoria do
conhecimento tm em comum, como pressuposto partilhado de
posies filosoficamente divergentes, o facto de referir a cin-
cia a um sujeito que a produz humanidade, segundo Comte,
na unidade de um progresso necessrio, sujeito transcen-
dental kantianosujeito emprico das epistemologias gen-
ticas , conscincia pura da fenomenologia. Alm disso, am-
bas concebem a histria das cincias no como reveladora de
uma necessidade autnoma mas como expresso de uma lei de
progresso- lei dos trs estados no positivismo, advento da
razo ou progresso da conscincia nas diversas variedades do
idealismo. Sujeito da cincia, histria da cincia, so talvez os
dois temas em torno dos quais se poder caracterizar as rup-
turas que o novo conceito de epistemologia introduz, conceito
que se elabora atravs das obras de Bachelard e Cavaills e das
investigaes de uma histria das cincias tal como a praticam
Koyr e Canguillhem.
2. O racionalismo aplicado: Gastou Bachelard
S uma filosofia desperta pode seguir as modificaes
profundas do conhecimento cientfico. 1) Esta frmula de
Bachelard no exprime apenas uma simples constatao: ela
designa filosofia entendamos aqui epistemologia a ati-
tude que deve assumir perante o saber cientfico, e os termos
utilizados tm um valor polmico em relao s filosofias que
rejeitam esta atitude: afirmar que a filosofia deve seguir as
modificaes dos princpios de conhecimento , primeiramente,
recusar qualquer ideia de uma filosofia prvia que apenas pro-
curasse na cincia a confirmao ou a ilustrao de uma dou-
trina do^ esprito, da inteligncia ou do conhecimento. Por
outras palavras, o filsofo pede simplesmente cincia exem-
plos que provem a actividade harmoniosa das funes espiri-
tuais, mas pensa ter sem a cincia, antes da cincia, a capacidade
O) L'Activt rationaliste de Ia physique contemporaine, p. 19. Neste
captulo, a fim de facilitar a leitura, sero utilizadas as seguintes siglas
que se referem s obras de Bachelard: ARPO, L'Activit racionaliste
de Ia physique contemporame; La Philosophie du Non; RA, L Rationa-
lisme aplique; MR, L Matrialisme rationnel; VIR, La Valeur inductive
de Ia Relativit; FS, La Formation de 1'esprit scientifique; Actualit,
L'Actualit de 1'histoire ds sciences.
A EPISTEMOLOGIA EM FRANA
de analisar essa actividade harmoniosa. (Philosophie du Non.,
p. 3). Estar desperto estar disponvel para as lies da cincia.
A atitude inversa vai Bachelard encontr-la na obra que
constitui, a seu ver, o exemplo pertinente dos impasses em que
se encerra uma filosofia que apenas tenciona estudar o saber
cientfico para nele descobrir a confirmao das suas teses glo-
bais: a de Meyerscn.
Identit et Realit, a obra fundamental de mile Meyerson,
aparecida em 1908, apresenta-se primeiramente como uma cr-
tica da concepo positivista da cincia: esta no deve, de facto,
limitar-se a ordenar ern sistema de leio os nossos meios de
aco e de previso. O estado positivo era, para Comte, o estado
de uma cincia que renuncia investigao ilusria das causas
para se limitar a estabelecer as leis dos fnmenos, ou seja, as
relaes invariveis de sucesso e de similitude. Meyerson,
pelo contrrio, tenciona provar que a ontologia adere forte-
mente prpria cincia e no pode dela ser separada. A razo
deste carcter ontolgico da cincia provm da prpria natu-
reza da explicao, na medida em que esta consiste em designar
a causa de um fenmeno, designao que, segundo Meyerson,
se baseia na aplicao do princpio lgico de identidade suces-
so dos factos. Compreender a realidade, objectivo da cincia,
consiste em nela reconhecer identidades. Daqui deriva a impor-
tncia, no esprito de Meyerson, da histria dos princpios de
conservao. Efectivamente, esta verifica, do lado do esprito,
o carcter irredutvel e permanente da tendncia para a consti-
tuio de invariantes que so outras tantas expresses da iden-
tidade, e do lado do conhecido, o carcter inesgotvel daquilo
que sempre resiste identificao e constitui a irracionalidade
fundamental da Realidade.
Mas, alm disso, Meyerson pretende mostrar que, pelo seu
carcter explicativo, a cincia procede exactamente do mesmo
modo que o senso comum: a tendncia causal, o princpio da
identidade no tempo fazem com que o senso comum faa
parte integrante da cincia ou, inversamente com que a cin-
cia seja apenas ( :..) um prolongamento do senso comum.
talvez em relao teoria einsteiniana da relatividade que
melhor se pode calcular as consequncias das concepes de
Meyerscn: La Dduction relativiste (1924) prope-se de facto
extrair das teorias relativistas informaes sobre os princpios
do raciocnio cientfico em geral (p. 15). O enunciado do pro-
blema contm j a sua soluo (ou melhor, a ausncia de pro-
blema faz com que a soluo no seja mais do que a repetio
da tese inicial): O processo de pensamento a que os relativistas
obedecem conforme com o cnone eterno do intelecto humano
115
'/ . / w-v. '.'; ,
,'. 11'/ Jrt. Ml\j ' , ifi,''*i. i
O SCULO XX
que ccnstitiuiu no s a cincia mas, antes dela, o senso comum
(p. 69).
Desde a sua primeira obra, a sua tese de doutaramento de
estado defendida em 1927 sob o ttulo Essai sur Ia connaissance
approche, Bachelard ope teoria meyersoniana da identi-
dade um programa totalmente diferente. O facto de o ltimo
captulo desta tese se intitular precisamente Rectification et
Ralit uma maneira discreta mas decisiva de recusar a
ontologia simplista de Identit et Ralit. O que atribui a uma
filosofia de trabalho tarefas singularmente mais difceis do
que aquelas onde se acantona uma concepo esttica da psico-
logia do esprito cientfico, o facto de o real, para o cientista,
se constituir por rectificaes que formam uma rede de aproxi-
maes cada vez mais precisas. Em 1949, L Ratic>nalisme appli-
qu ir esclarecer a ligao entre a crtica do meyersonismo
e a funo' epistemolgica dos conceitos de rectificao e de
aproximao. Se a epistemologia deve ser to mvel como a
cincia, precisamente porque uma cincia incessantemente
rectificada, nos seus princpios e matrias, no susceptvel de
admitir designao filosfica unitria. A filosofia de Meyerson
onde simultaneamente se determina o apego do cientista ao
Realismoi e ao Idntico no manifesta um campo epistemo-
lgico suficientemente intenso. Fazer do cientista, ao mesmo
tempo, um realista absoluto e um lgico rigoroso leva a justapor
filosofias gerais, inoperantes. No se trata de filosofias no tra-
balho mas de filosofias de compndio... (RA, pp. 8-9) 1).
Como tornar viva a filosofia, isto . de que modo, tratan-
do-se das tarefas de epistemologia, assegurar-lhe os meios de
possuir as dimenses de uma cincia incessantemente rectifi-
cada, escapando ao falso dilema do estudo dos princpios dema-
siado gerais e do estudo dos resultados demasiado particulares ?
Parece, portanto, que necessitamos 'de uma filosofia das cin-
cias que nos indique em que condies subjectivas e objecti-
vas os princpios gerais conduzem a resultados particulares,
a flutuaes diversas; igualmente em que condies os resul-
tados particulares sugerem generalizaes que os completem,
dialcticas que produzem novos princpios (La Philosophie du
Ncn, p. 4). dizer de uma vez o que Bachelard enuncia noutros
(* ) A critica mais radical do meyersonismo e a constatao do seu
falhanQo encontram-se em L Nouvel Esprit scientifique, pp. 175 e segs:
o prprio Meyerson reconhece que, de facto, o mecanismo quntico
resiste a qualquer tentativa de integrao na filosofia de Identit et
Ralit. Mas, assim, fica retrospectivamente denunciado o que havia de
ilusrio no xito de Meyerson em reduzir a relatividade einsteiniana
estrutura de uma razo geral e imutvel.
116
A EPISTEMOLOGIA EM FRANA
locais: A cincia no tem a filosofia que merece. (MR; p. 20).
E, no entanto, o* cincia cria filosofia (FS, p. 3). Compreen-
der que -estes dois enunciados bem longe de se contradizerem
se completam, poder constituir ocasio para mostrar qual a
mutuao que a epistemologia bachelardiana representa e de que
modo esta mutao remete para uma transformao do campo
filosfico no seu conjunto.
Por um lado, seria um equvoco pensar que a filosofia que
a cincia cria a que professam, eventualmente, os cientistas:
Para eles, a hora da filosofia s soa aps o trabalho efectivo;
portanto, concebem a filosofia como um balano dos resultados
gerais do pensamento cientfico, como uma acumulao de fac-
tos importantes. Visto que a cincia est sempre inacabada, a
filosofia do cientista sempre mais ou menos ecltica, sempre
aberta, sempre precria (La Philosophie du Non, p, 2; cf.
tambm MR, p. 200: O cientista nem sempre professa sequer a
filosofia clarividente da sua prpria cincia). A filosofia dos
cientistas e seria fcil apresentar exemplos recentes que con-
firmassem esta afirmao divide-se, de f acto', vulgarmente, e
salvo notveis excepes, entre o empirismo, ou seja, uma filo-
sofia caduca incapaz de inspirar um trabalho epistemolgico
efectivo, e a preocupao tica que, mesmo que a tica proposta
seja caracterizada como uma tica de conhecimento, se en-
contra fora do domnio da competncia da epistemologia.
Se o cientista cede ao ecletismo, o filsofo de profisso
homem de uma s filosofia, que apenas assegura a sua ambio
unitria arrogando-se um princpio de exclusividade: mas, se se
reconhecer o carcter constituitivo e essencial do conhecimento
aproximado, ento o real e a razo, a experincia e a ideia en-
tram em correlaes que eliminam as facilidades do realismo
e do racionalismo, do empirismo e do idealismo. Mais do que o
exemplo, talvez forado, de Meyerson, uma filosofia como a de
Lon Brunschvicg ilustra o que a epistemologia de Bachelard
introduz de radicalmente novo na economia do discurso filo-
sfico: Brunschvicg, de facto, encontrava no estudo da his-
tria das matemticas e da fsica (Ls tapes de Ia Philosophie
mathmatique, 1912; L'Exprience humaine et Ia causalit phy-
sique, 1922), o campo de aplicao de um programa filosfico
que rejeitava os sistemas simples e definitivos da especula-
o dogmtica: contraditrio pretender, atravs da reflexo
sobre a cincia, esclarecer certas condies antecedentes, sus-
ceptveis de encerrar a priori qualquer conhecimento passado
u futuro em esquemas estticos. A reflexo deve nascer da pr-
pria cincia... Numa palavra... a metafsica da cincia re-
flexo sobre a cincia e no determinao da cincia. Estas
117
O SCULO XX
breves linhas, que poderiam ser de Bachelard, encontram-se em
UExprience humame et Ia causaKt physique (3.a ed., p. 539).
Tanto Bachelard como Brunschvicg ensinam um racionalismo
aberto, o de uma razo incessantemente reformada pelo pr-
prio processo do saber cientfico.
Contudo, a identidade das formulaes apenas aparente:
um programa s vale pela sua aplicao. Em Brunschvicg, esta
faz-se por uma retrospectiva global de uma histria cujas fa-
ses ou idades atestam, para ele, apesar de quaisquer obst-
culos momentneos, a unidade do progresso irreprimvel de uma
inteligncia universal cada vez mais consciente de si mesma e
a necessidade da sua passagem para um nvel de intelectuali-
dade mais fina. O reconhecimento da historicidade do saber
afina e torna malevel a problemtica da teoria do conheci-
mento; no lhe contesta a estrutura fundamental; a inteligncia
brunschvicguiana o sujeito de uma reflexo em que ela se
reassume na sua interioridade para alm da exterioridade dos
produtos que mais no so que as balizas do seu percurso.
Mais racionalismo de espectculo do que de trabalho, como
houve quem observasse, mais preocupado' em descrever conti-
nuidades e desenvolvimentos do que em referenciar obstculos
e rupturas ao fim e ao cabo, racionalismo suficientemente
seguro de si prprio para se limitar ao comunicado da vitria,
arrumar-se depois da batalha, propor-nos uma odisseia ou um
progresso. C1)
Bachelard, pelo contrrio, instala-se no prprio centro da
actualidade da cincia: no se trata nem de uma retrospectiva
nem de um balano mas da descrio de um trabalho. Talvez
nada avalie melhor o carcter radical da mudana de ponto de
vista que esta frmula de L Philosophie du Non (p. 22). A
cincia ordena a prpria filosofia. A filosofia no impe a sua
ordem ordem de um sistema, de uma enciclopdia ou de um
progresso ao trabalho cientfico. De facto, este trabalho assi-
nala o empenhamento dos valores epistemolgicos num percurso
de racionalidade efectiva, imprevisvel aos ordenamentos das
filosofias de sentido nico: no se trata de libertar desse
C1 ) Cf. Ftfanois Dagonet, Brunschvicg et Bachelard, Rvue de
Mtaphysique et de Morale, LXX, n. l, Janeiro-Maro de 1965, p. 53.
Cf. p. 50: Pensamos que Brunschvicg soube o que era necessrio fazer
mas que nem sempre fez o que sabia desejvel. Abre perspectivas, prev-
-Ihes as ricas consequncias mas nem sempre se empenha no edifcio em
construo. Ns julgamos que no se trata de um simples defeito da
filosofia brunschvicguiana mas de um limite essencial que lhe imposto
pelos seus pressupostos fundamentais: continuidade do progresso, iden-
tidade do sujeito e universalidade do mtodo reflexivo.
118
A EPISTEMOLOGIA EM FRANA
trabalho os valores que nele esto empenhados mas de tornar
esse empenhamento visvel, e de calcular em relao a cada um
dos valores epistemolgicos o alcance do seu empenhamento e
os laos que os unem aos outros valores. Bachelard afirma mo-
destamente que se trata apenas de exercer, no domnio das
cincias, a profisso do filsofo, que a de designar to
objectivamente quanto possvel a hierarquia dos valores da
cultura (MR, p. 33). Mas uma profisso agora profunda-
mente alterada: mais ainda, definir assim a filosofia como uma
profisso que encontra os seus materiais na actualidade efec-
tiva das cincias conceder filosofia um estatuto inteira-
mente novo.
A caracterizao' fundamental do conhecimento aproxi-
mado , tambm neste caso, o que nos vai permitir captar o que
est em jogo. J em 1927, a filosofia da aproximao recusa,
como um monstro epistemolgico, a ideia de uma coinci-
dncia entre pensamento e realidade, de uma adequao entre
teoria e experincia (p. 43). H razes para recusar o empi-
rismo usual e o racionalismo tradicional: porque j passou o
tempo em que a experincia respondia afirmativa ou negativa-
mente questo terica... A fsica e a qumica contemporneas
colocam-nos perante diferentes aproximaes da verdade. A cul-
tura e a tcnica conservam a estrutura de um conhecimento
aproximado. E necessrio um exame particular para decidir
em que grau da aproximao reinam as melhores verificaes.
Graas a esse facto, a cultura incessantemente rectificada,
rectificada nos seus pormenores e fundamentos (RA, pp. 36-
-37). A epistemologia, para ser completa, deve renunciar a qual-
quer filosofia mondroma para aderir a um polifilosofismo
(RA, p. 37; p. 7: polifilosofia).
Este polifilosofismo o absoluto contrrio de um ecle-
tismo: de facto, ordena, ou melhor, resulta da constatao do
modo como a cincia ordena os valores epistemolgicos num
campo. Esse campo apresenta-se como situando duas perspec-
tivas de pensamentos enfraquecidos de um e de outro lado de
uma posio central; todas as filosofias do conhecimento cien-
tifico se ordenam a partir do racionalismo aplicado:
119
O SCULO XX ^ ' ^ . ' ' i , i ; .
' , ' ' - ' ' . . ' ' ' ! ' > ' .
" " ' Ideali smo ' " c - '
' . . ; t * - . . . . , - , . . . . . . .
t n v en c on ali smo ' : ' i "
t < ; ; . , - . * ; . -^. . * &
Formali smo . . . v / n - v > . , ' ' ' . ' " ! , '
t . ^ . y^ . . ' . ; ' : . * ; ' si li ; ' ; ,
mali smo apli cado e materi ali SKli O tTO^ , , > . ' ;; .
l ; ' . ' . V . ' . V ; V ' . ' / ' ' ' ; . V : H < ; :
Posi ti vi smo ' . . . , . . . . . : ; . > ; , . , ;
" i ' ' . " : " . - . . ' ' " ' . v : . ' ' v , v . ;;/ ' V .
. . Empi ri smo - . . ' ' .
i ' " : ' : ; ' " ' : " ' :^^:':.
Reali smo RA, p. 5). . ' " J - - "
Assi m, os di v ersos v alores epi stemolgi cos que v ulgar-
men t e i solam as di scusses fi losfi c as referen t es ci n ci a,
orden am- se aqui n uma t opologi a que at ri bui a cada um a sua
posi o e as suas correlaes: c ompreen de- se en t o que a ci n -
ci a orden e a fi losofi a n o sen t i do mai s li t eral do t ermo.
Este quadro topolgi co exi ge algumas observ aes: em pri -
mei ro lugar, a oposi o t radi ci on al en tre o i deali smo e rea-
li smo en con t ra- se ao n v el da oposi o mai s di sten sa e, port an t o,
menos fecun da, en tre doi s pen samen t os i gualmen t e en fraque-
ci dos emv i rt ude do seu afast amen t o do cen t ro de coeso e de
efi c c i a que a posi o do raci on ali smo apli cado represen ta.
O i deali smo descon hece, n um concei to i n det ermi n ado de con he-
ci men t o ou de pen samen t o emgeral, o n di ce de di v ersi dade
que defi n e a mat eri ali dade do t rabalho ci en t fi co, n o seu carc-
t er i nstrumental. uma fi losofi a do i medi ato e, n essa c on for-
mi dade, fci l estabelecer a sua gnese a parti r da i luso soli p-
si sta que o seu mal congni to1 . O i deali smo t em a sua rai z
no i medi ato. O espri to , de certo modo, sempre i medi ato a si
mesmo. Ora, n o h, j n o h experi nci a ci en tfi ca i medi ata.
No seri a possvel abordar um pen samen to ci entfi co novo em
i n ocn ci a, com um esp ri t o n o preparado, sem reali zar por
v ' si mesmo a rev oluo c i en t fi c a que assi nala o pen samen t o n ov o
v como umprogresso do espri to' human o, semassumi r o eu soci al
da cultura (MR, p. 76). Se o i deali smo a fi losofi a evanes-
cen t e de uma con sci n ci a aban don ada a si mesma e s falsas
transparnci as de um cogito soli tri o, o reali smo, cuja tese foi
j i lust rada por Meyerson , a fi losofi a i n ert e que post ula
uma reali dade i mpen et rv el e si n n i ma da i rraci on ali dade.
O reali smo efect i v amen t e o gmeo1 do i deali smo, n o sen t i do
emque t ambmuma dout ri n a do i medi at o: mas v ai en con t rar
esse i medi ato n o dado pri mi t i v o e n o n o pen samen t o, aqui
A EPISTEMOLOGIA EM FRANA
reduzi do fun o de uma abst raco por ext en uao da ri queza
do v i v i do. Chamamos reali smo a t oda a dout ri n a que man t m
a organ i zao das i mpresses n o n v el das prpri as i mpresses,
que c oloc a o geral depoi s do part i cular, que acredi t a, port an t o,
n a ri queza proli xa da sen sao i n di v i dual e n o empobreci men t o
si st emt i co do pen samen t o que abst rai (VIR, p. 206). Mas
a ac umulao de fac t os e de coi sas que obst rui o reali smo n o
lhe d sen o a aparn ci a da ri queza. Est a ri queza do dado,
celebrada ao desafi o por t odas as fi losofi as da n egao da
c i n c i a , c omo a fort un a do av aren t o que v i v e n a mi sri a:
n o h n ada a fazer, ela n ada t roca e n ada produz. (Sobre o
reali smo e o av aren t o, FS, cap. 7. )
Nas duas ext remi dades do quadro, i deali smo e reali smo
so duas teses essen ci almen t e i n ac t uai s, i n act i v as: O reali smo
defi n i t i v o e o i deali smo premat uro. Nen hum deles t em essa
actualidade que o pen samen to ci en t fi co exi ge (RA, p. 8).
Se n os ori en t armos, pelo con t rri o, em di reco ao cen t ro, en -
con t raremos un i es men os frouxas e con testaes mai s cerra-
das: a do formali smo e do posi ti v i smo coloca- n os peran t e um
debat e que se en c on t ra n o pri mei ro plan o de t oda uma c orren t e
da fi losofi a con t emporn ea das ci n ci as, empart i c ular n o n ecn
- posi t i v i smo ou posi t i v i smo' lgi co . Por um lado, o forma-
li smo pode receber os result ados do pen samen t o rac i on al mas
men ospreza o papel do trabalho* raci on al. Tem t en dn ci a para
n o v er n as mat emt i cas mai s do que uma li n guagem e para
reduzi r a t eori a a um c on jun t o de con v en es cmodas mas
arbi t rri as. Tran sport a em si o i deali smo, poi s hav er a con s-
t an t e ten tao de relaci on ar essas convenes e essa arbi t rari e-
dade coma act i v i dade de umsujei t o pen san te (RA, p. 5).
Por out ro lado, i n dubi t v el que o posi t i v i smo aparece,
con tra o empi ri smo, c omo o guardi o da hi erarqui a das lei s .
Mas perde o sen t i do da n ecessi dade que assegura a coern ci a
e a capaci dade de organ i zao rac i on al das lei s. A i mport n ci a
que con fere s fun es de ut i li dade remet e- o, v i a pragmat i smo,
para o empi ri smo' : mas fact os desconexos, apenas regi stados,
v o, por fi m, con duzi r- n os a essa i rrac i on ali dade do real, que
a pri n ci pal cren a do reali smo.
Apen as a posi o cen t ral escapa a estes doi s desli zes. Ora
s o con segue por n o se formular n uma desi gn ao si mples e
exclusi va (o posi ti vi smo ou o empi ri smo, et c , ), mas por se ex-
pri mi r de i medi at o como a coeso de uma fi losofi a desdobrada:
raci on ali smo e mat eri ali smo, cuja c on jun o i remos en c on t rar
n o< t t ulo da lt i ma obra epi stemolgi ca de G. Bachelard. Mas
t udo i sto n o sufi ci en t e. A c on jun o do raci on ali smo e do
mat eri ali smo con t i n uari a a ser precri a se se tratasse sempre
121
120
O SSCULO XX
do mesmo racionalismo, do mesmo materialismo. Com efeito,
trata-se de um racionalismo aplicado e de um materialismo
tcnico. necessrio compreender que a aplicao no se vem
acrescentar ao racionalismo para formar uma sua nova va-
riante, assim como o reconhecimento da tecnicidade no cons-
titui um simples melhoramento do materialismo.
Talvez o consigamos ao examinar qual o estatuto que a
epistemologia bachelardiana concede ao conceito de objecto.
Esta questo est ela mesma estreitamente ligada ao problema
das relaes entre o conhecimento vulgar e o conhecimento
cientfico.
Poderia parecer, de facto, que o objecto o termo comum
da percepo vulgar e da cincia, como se ambos remetessem
para o mesmo mundo de coisas: a ideia de que existe continui-
dade e identidade de esforos entre o conhecimento vulgar e
o conhecimento cientfico deriva, precisamente, da confuso
entre objecto da cincia e o dado. A denncia desta confuso
tem, para Bachelard, um valor polmico em relao a toda a
filosofia que aceita o dado: Para Husserl (Meditaes carte-
sianas, trad., p. 54), tudo o que dado pressuposto existente
para o sujeito. Ao dado corresponde, no esprito, uma facul-
dade de recepo.. Este dualismo no nos parece suficientemente
conciso, no nos parece sistematicamente recproco (RA, p. 43
e ARPO, p. 2, a crtica da fenomenologia). Ora, os objectos da
cincia contempornea recusam tal estatuto. a que a mec-
nica quntica, de que Meyerson constatava a impossibilidade de
assimilao ao preconceito realista, encontra o seu valor de
ensinamento epistemolgico: no se pode sequer dizer que o
corpsculo da fsica actual seja um dado oculto (ARPO,
p. 87): ele um resultado (ibid., p. 124, sobre o meso). Se
certo que s existe cincia do que se encontra oculto (RA,
p. 38), indispensvel que se renuncie a imaginar esse oculto
como uma espcie de modelo reduzido do mundo usual das coisas
onde a sempiterna discusso sobre a realidade do mundo sen-
svel vai inferir os seus pobres exemplos. O objecto microfsico
um verdadeiro nmeno e no uma miniatura do objecto
comum (ARPC, p. 96). Neste recurso ao termo kantiano n-
meno (cf. o ttulo do estudo de 1931, Noumne et Microphysi-
que), pode ver-se esse ecletismo dos meios que o programa
da polifilosofia implica (Exigiremos aos filsofos o direito de
utilizarmos elementos filosficos desligados dos sistemas onde
tiveram origem, La Philosophie du Non, pp. 11-12). Do mesmo
modo que as posies filosficas tradicionais so estabelecidas
a ^partir da dimenso do desvio que as separa da cincia, tam-
bm, inversamente, a filosofia, rectificada e instruda pela cin-
122
A EPISTEMOLOGIA EM FRANA
cia., poder deslocar esta ou aquela categoria filosfica para a
utilizar de modo prprio, com uma desenvoltura que apenas per-
turbar o historiador da filosofia por ele ser um conservador do
museu das doutrinas caducas: porque, afinal, como classificar,
numa topologia da metafsica, a microfsica contempornea se-
no atribuindo-lhes o lugar e a funo da coisa em si?. .
Parece-nos, portanto, que a microfsica acaba de oferecer uma
sntese da noo negativa de coisa em si e da noo positiva de
nmeno (ARPC, pp. 15-16; cf. tambm La Philosophie du Non,
p. 60).
A significao' positiva deste deslocamento dos conceitos
filosficos atravessa toda a obra de Bachelard: o objecto da
cincia da ordem do construdo. Mas a filosofia do construdo
no instaura qualquer idealismo do sujeito construtor; poder-
-se-ia dizer que o objecto um efeito, um resultado e um arte-
facto. A fsica j no' uma cincia de factos: uma tcnica
de efeitos (efeitos Zeeman, Stark...) (Noumne et Micro-
physique, in tudes, p. 17); a noo filosfica tradicional de
dados imprpria para caracterizar o resultado das laboriosas
determinaes dos valores experimentais (ARPG, p. 24). A
cincia actual deliberadamente factcia, no sentido cartesiano
do termo. Rompe com a natureza para constituir uma tcnica
(ibid., pp. 3-lf). O objecto concebido por esta cincia poder
chamar-se um sobre-objecto (La Philc*sophie du Non, p. 139)
ou um objecto segundo (MR, p. 142). Ambos os termos intro-
duzem a noo fundamentalmente nova por onde a epistemo-
logia bachelardiana rompe com todas as filosofias das cincias
e teorias do conhecimento anteriores: a cincia um trabalho,
, por essncia, produo. Assim se desqualifica qualquer tenta-
tiva de reduzir a cincia ao conhecimento comum, de instaurar
uma continuidade de cultura da percepo ao conceito tecnica-
mente realizado': se a explicao no for mais do que uma
reduo ao conhecimento vulgar, ao conhecimento comum, fia
nada tem a ver com a essencial produo do conhecimento cien-
tfico (ARPO, p. 86).
O que, realmente, revoluciona todas as problemticas e
simultaneamente coordena todas as teses bachelardianas em
torno de um centro bem definido o facto de se reconhecer ao
saber cientfico o estatuto de uma produo.
A primeira consequncia deste reconhecimento a clari-
ficao da funo de ruptura da cincia com o conhecimento
comum. Este tema est sempre presente na obra de Bachelard
que, alis, lhe consagra especificamente um captulo do Ratio-
nalisme appliqu (cap. 6) e a concluso do seu ltimo livro
epistemolgico, L Matrialisme rationnel. conveniente pre-
123
O SCULO XX A EPISTEMOLOGIA EM FRANA
cisar as duas direces que a exposio deste tema assume em
Bachelard.
Por um lado, trata-se, de facto, de descobrir os traos que
tornam o conhecimento racional algo de radicalmente distinto
do conhecimento usual. O trao fundamental a progressivi-
dade essencial do conhecimento centfico. A percepo de um
objecto apresenta-se como um signo sem significao em pro-
fundidade. Remete apenas para os outros objectos e associa-se
percepo de outros objectos no plano homogneo do perce-
bido. Precisar o percebido apenas multiplicar as associaes
da percepo. Precisar o objecto cientfico, pelo contrrio,
iniciar um relato de numenalizao progressiva. Qualquer
objecto cientfico tem a marca de um progresso do^ conheci-
mento (RA, p. 110). Segunda caracterstica: o conhecimento
comum unitrio, sinal do seu realismo intrnseco: Seria de-
masiado cmodo confiarmos uma vez mais num realismo tota-
litrio e responder: tudo real, o electro, o ncleo, o
tomo, a molcula, a micela, o mineral, o planeta, o astro, a
nebulosa. Do nosso ponto de vista, nem tudo real da mesma
maneira: a eodstncia no uma funo montona (La PMlo-
so<phie u Non, p. 54). A esta realidade folheada do conheci-
mento cientfico corresponde um racionalismo mltiplo. O que
implica a noo capital de radonalism&s regionais, correspon-
dentes a sectores particulares do trabalho cientfico. Mas esses
sectores j no so aqueles de que o conhecimento fornece as
delimitaes sumrias, paradoxalmente demasiado rgidas e
demasiado flexveis, que, terceira diferenciao, o conheci-
mento comum determina os objectos pela sua utilidade ou pela
sua utensilidade. A cincia produz tecnicamente um objecto de-
purado. esta produo que instaura a repartio das regies
racionais: Bachelard substitui a fenomenologia, sempre enten-
dida como descrio complacente da conscincia ingnua e igno-
rante, por uma fenomenotcnica. Ela encarregar-se- da desig-
nao, sempre provisria na cincia que se faz, dos nveis espe-
cficos de realidade, correspondente a corpos de conceitos, acom-
panhados da tcnica de realizao que os torna efectivos. Se,
afinal, um racionalismo geral tiver um sentido, no na univer-
salidade a priori de uma razo que ser a razo preguiosa de
um racionalismo no aplicado porque sempre inaplicvel, mas,
posteriormente, na precria coordenao dos racionalismos re-
gionais previamente operando na sua aplicao.
Mas a distino polmica entre conhecimento comum e
conhecimento cientfico no se limita apenas a este nvel des-
critivo das oposies. De facto, o desvio que elas acarretam d
conta de uma resistncia que a cincia teve de superar, inaugu-
rao sempre recomeada. Em comparao com o saber racional,
a experincia primeira da percepo um obstculo. precisa-
mente o primeiro obstculo porque o primeiro conhecimento
objectivo um primeiro erro (FS, p. 54): para que a raciona-
lidade cientfica se constitua necessrio partir de uma ruptura
que faa surgir o conhecimento como uma funo de resistncia
a vencer. Faz parte da essncia do verdadeiro o ser obtido e no
dado e recebido, no termo de uma polmica que frusta as
iluses do conhecimento primeiro. La Fonnation de VEsprit
scientifique, obra publicada em 1938, inteiramente consagrada
anlise e descrio dos obstculos epistemolgicos: este
livro rompe com a segurana tranquila do racionalismo dos
resultados, que oblitera a conscincia das dificuldades de que
estes resultados foram o desenlace. Nesta poca, era necessria
uma audcia de que hoje temos tendncia mas, justamente,
graas a ela para esquecer a amplitude: o subttulo deste
livro Contribuio para uma psicanlise do conhecimento
objectivo. Ora, em 1938, a psicanlise no tinha qualquer di-
reito de cidadania no ensino universitrio; a fortiori a ideia de
transpor p) um ou outro dos seus conceitos ou dos seus mto-
dos de investigao para a formao do esprito cientfico a
ideia de um inconsciente do esprito cientfico necessitado de
uma lenta e penosa psicanlise para ser exorcisado (FS,
p. 40) podia parecer o cmulo do paradoxo ou da provocao
face a uma filosofia das cincias fundada na confiana do valor
insubstituvel do mtodo reflexivo, A consequncia epistemol-
gica essencial desta nova problemtica o estatuto que con-
cede ao erro. J a tese de 1927 enunciava: O problema do
erro pareceu-nos ter primazia sobre o problema da verdade,
ou melhor, no encontrmos soluo possvel para O' problema
da verdade seno afastando erros cada vez mais tnues (Essai
sur Ia connaissance approche, p. 244). Assim, o erro ou a igno-
rncia no simples privao ou carncia e o conhecimento
no provm da ignorncia como a luz das trevas: a ignorncia
um tecido de erros positivos, tenazes, solidrios ... qualquer
experincia objectiva correcta deve determinar sempre a correc-
o de um erro subjectivo. Mas no se destri facilmente os
erros um a um. Eles encontram-se coordenados. O esprito cien-
tfico s se pode constituir destruindo o esprito no cientfico.
(La, PMlasophie du Non, p. 8). Se s h verdade pol-
mica, no h verdade inicial: s h erros primeiros (tudes,
P- 89). Esta nova relao da verdade com o erro, que j no
C) No temos o espao necessrio para analisar o funcionamento
desta transformao.
125
O SCULO XX
simples simetria do positivo e do negativo mas ligao dialc-
tica de duas positividades, permite precisar uma vez mais a
funo da filosofia. Porque se a cincia fosse um todo de verda-
des positivas, constituda desde sempre, crescendo' por adio do
verdadeiro ao verdadeiro e excluindo o falso como um simples
no ser, no haveria lugar para a interveno terica da filoso-
fia. por a cincia, pelo contrrio, transportar em si, como
condio positiva de um progresso do conhecimento, a positivi-
dade do erro de que procede por rectificao (Uma verdade
sobre o fundo de erro, tal a forma do pensamento cientfico,
RA, p. 48), que a filosofia tem a funo a preencher perante a
cincia: poder-se-ia dizer que a filosofia da cincia o que,
na cincia, pertence razo polmica (ibid., p. 69).
Mas, do reconhecimento do saber cientfico como produo
resulta, para alm disso, uma nova concepo do erro, um novo
estatuto do sujeito. De facto, a teoria do conhecimento, deter-
minando as pocas da inteligncia ou descrevendo um progresso
da conscincia, pensava confirmar os direitos absolutos de um
sujeito puro, dominando o seu :saber e a sua histria e imediata-
mente dado a si mesmo numa certeza de si garantindo a vali-
dade dos seus actos ulteriores. Mas, se a primeira e mais essen-
cial funo da actividade do sujeito for enganar-se (tues,
p. 89), no existir sujeito originalmente constitudo (p. 92)
nem, acrescentmos, sujeito originalmente constituinte. ne-
cessrio, pelo contrrio, que o sujeito renuncie a qualquer afir-
mao inicial e que se elabore num trabalho. Em vez do ser
firmado num cogito inicial, debruar-nos-emos sobre o> ser con-
firmado pelo seu trabalho ordenado (RA, p. 46). Por outras
palavras, s h cogito distinto discursivo, isto , implicando a
conscincia das rectificaes que fazem aparecer como meu o
passado de erros reconhecidos. O sujeito cientista necessaria-
mente um sujeito dividido (RA, p. 63), empenhado numa his-
tria essencialmente inacabada.
H trs aspectos decisivos que fazem aparecer esse sujeito
como radicalmente diferente daquele em que os filsofos idea-
listas procuram as suas certezas fundadoras: em primeiro lugar,
um sujeito apetrechado. A dualidade de um universo objecto
de conhecimento, e de um esprito sujeito cognoscente re-
mete para um fenmeno no preparado e para uma sensao
no rectificada (FE8, p. 242). O saber cientfico instaura outra
dualidade, a do aparelho e da teoria, como designando dois
planos solidrios da actividade de conhecimento'. Convm ento
falar de um verdadeiro cogito de aparelho (ARPC, p. 5):
o olho por detrs do microscpio aceitou totalmente a instru-
A EPISTEMOLOGIA EM FRANA
rnentalizao, tornou-se ele mesmo um aparelho por detrs de
um aparelho.
Alm disso, trata-se tambm de um sujeito social. A lgica
da rectificao tambm uma doutrina da comunicao, do
controlo e do ensino: qualquer doutrina da objectividade acaba
por submeter o> conhecimento do objecto ao controlo de outrm.
(FS, p. 241). O cogito verdadeiramente discursivo um cogi-
tamus, ou seja, determina uma obrigao 'em pensar de
acordo ... conscincia comum de um saber apodctico (RA,
p. 57). O carcter social da cincia moderna, a unio dos tra-
balhadores da prova, uma das marcas mais manifestas do
progresso cientfico (ARPC, p. 6). A importncia que Bachelard
concede ao aspecto pedaggico das noes cientficas no
apenas uma preocupao secundria da sua epistemologia, ela
constitutiva, precisamente porque nada, a seu ver, pe melhor
em evidncia a funo polmica da cincia, a resistncia das in-
tuies primeiras e, por fim, a necessidade de controlo social
como garantia de qualquer objectividade do que o> ensino.
Finalmente, para Bachelard, o sujeito racionalista perde o
que constitua a prpria essncia e a soberania terica do sujeito
do racionalismo clssico: sujeito dividido em si mesmo, sujeito
social, um sujeito no unitrio. Para o filsofo que menospreza
o estudo dos progressos do conhecimento cientfico, basta a
identidade do esprito no 'eu penso para que a cincia desta
conscincia clara seja imediatamente a conscincia de uma
cincia, a certeza de fundar uma filosofia do saber (La Philo-
sophie du Non, p. 9). Se o racionalismo for mobilizado em tan-
tos racionalismos regionais quanto as cincias instauram dom-
nios de objectivaes particulares se, alm disso, o pensa-
mento cientfico socializado for inseparvel de uma cidade
fsica e matemtica acaba-se o imperialismo do sujeito
(RA, p, 8); torna-se necessrio aceitar com todas as suas con-
sequncias as variaes referentes unidade e perenidade do
eu penso (La Philosophie du Non, p. 9).
A este novo estatuto do sujeito corresponde um novo con-
ceito de histria. A histria das cincias , de facto, frequente-
mente enganadora: quase nunca restitui as obscuridades de
pensamento (RA, p. 9), Quando apresentada, num curto
prembulo, como uma preparao do novo pelo antigo, (ela)
avalia acima do seu valor real as provas de continuidade
dbid., p. 105). Mas o pressuposto da continuidade histrica, que
esbate a conscincia dos obstculos que foi necessrio transpor
noutras tantas rupturas decisivas, no separvel da continui-
dade epistemolgica que faz do conhecimento cientfico o pro-
longamento da percepo. Em ambos os casos trata-se do
126
127
O SCULO XX
A EPISTEMOLOGIA EM FRANA
mesmo axioma que pretendia que o primitivo fosse sempre
o fundamental (ARPO, p. 2). O equvoco reside em confundir
os comeos laboriosos e lentos da cincia com uma origem,:
visto que os incios so lentos, os progressos so contnuos
(MR, p. 210).
A epistemologia da ruptura deve, portanto, fundar uma
nova maneira de conceber a histria das cincias. A prpria
epistemologia bachelardiana, recusando fixar a cincia actual
num estado definitivo e perene (ARPG, p. 8), implica o reco-
nhecimento da historicidade constitutiva do conhecimento ra-
cional. Ela , nas palavras de G. Canguilhem, uma histria
das cincias sempre em acto, em que a conscincia de historici-
dade o exacto correlativo de um sentido agudo, no do passado,
mas do futuro: para Bachelard, essa a lio decisiva da
qumica, a que consagra o seu ltimo livro epistemolgico:
A qumica uma cincia de futuro por ser, cada vez mais,
uma cincia que abandona o seu passado... A clara conscincia
do seu presente permite-lhe descobrir a extraordinria fragili-
dade da isua histria longnqua... Assim, a sempre crescente
racionalidade da qumica d ao qumico a conscincia do futuro
prximo da cincia... O impulso de futuro* de uma cincia mo-
derna solidrio do conjunto dos problemas bem colocados
(MR, pp, 6-7). A conscincia histrica que, assim, o presente da
cincia forma, fornece a chave do seu passado1: Bachelard
dedica a esta nova abordagem da histria dois textos funda-
mentais: o captulo I de UActwit rationaliste de Ia Physique
contemporaine e a Conferncia, no Falais de Ia Deouverte
(1951), intitulada Actualit de Vhistoire ds scienc^s: O mo-
derno ponto de vista determina uma nova perspectiva sobre a
histria das cincias, perspectiva que coloca o problema da
eficcia actual desta histria das cincias na cultura cientfica
(ARPG, p. 24). , portanto, em nome e em funo do presente
da cincia no trabalho que o passado da histria das cincias
poder apresentar um interesse positivo. Desse facto deriva a
singularidade dessa histria que no ser como as outras:
ser uma histria duplicada, em que o desenvolvimento dos
valores duplica o dos factos, ser uma histria julgada: A his-
tria das cincias , pelo menos, um tecido de juzos implcitos
sobre o valor dos pensamentos e das descobertas cientficas
(Actualit..., p. 8). Desta duplicao resulta outra que, dora-
vante, ir interditar que a Histria reassuma os privilgios de
unidade e de validade fundadora que o racionalismo de antanho
atribua ao sujeito: assim, em nome da eficcia actual da hist-
ria das cincias distinguiremos uma histria caduca a dos
pensamentos que a racionalidade efectiva tornou impensveis
128
. _..^^_^^_^^^^^_^^^^^^_^_^_.
e unia histria sancionada a dos pensamentos sempre actuais
ou actualizveis, vlidos para a cincia actual. Aos obstculos
epistemolgicos dependentes de uma psicanlise do conheci-
mento objectivo ou de uma paleontologia de um esprito cient-
fico desaparecido opem-se ento os actos epistemolgicos,
assinalando o aparecimento de uma conquista definitiva, inter-
ditando doravante qualquer retorno para aqum de um grau
de racionalidade adquirido para sempre; neste plano, a his-
tria das cincias a mais irreversvel de todas as histrias
(ARPC, p. 27). Mas conveniente sublinhar o que torna essa
afirmao possvel, afirmao que uma deciso filosfica e
nunca uma constatao positivista: a histria no confirma
uma epistemologia prvia. , pelo contrrio, uma epistemologia
instruda no presente da cincia que permite constituir-lhe a
histria verdadeiramente racionalista, superando a contingn-
cia, a disperso e a singularidade aparentes das descobertas
pelo rigor de uma crescente coordenao, que define o eixo do
progresso cientfico. nesse sentido que, se certo que a noo
de progresso no tem significado em filosofia, no passaria
pelo esprito de nenhum filsofo afirmar que Leibniz progrediu
mais do que Descartes ou Kant do que Plato podemos, no
entanto, dizer que o progresso cientfico fornece um princpio
para a classificao das filosofias (La Philosophie du Non,
pp. 21-22). Assim adquire o seu sentido ltimo a proposio que
citmos: Se a cincia ordena a filosofia por produzir esse
novo conceito de historicidade das actividades racionais que
permite enraizar a filosofia no presente da nossa cultura cien-
tfica.
o prprio Bachelard quem o observa e essa ser a nossa
concluso: o levar prtica da histria cujas regras e objec-
tivos enuncia est tambm historicamente situado em funo do
desenvolvimento de certas disciplinas cientficas que atingiram
o nvel de rigor necessrio para reconhecer a hierarquia dos
valores epistemolgicos e, atravs dela, os estados reais da
filiao dos problemas, dos conceitos e das teorias: Esta assi-
milao do passado da cincia pela modernidade da cincia
pode ser ruinosa se a cincia no tiver ainda conquistado essa
hierarquia dos valores que caracteriza em particular a cincia
dos sculos xix e xx (Actualit... p. 10). Da deriva a
escolha fundamental das cincias fsicas para dar ao discurso
epistemolgico os seus fundamentos mais seguros: so elas que
fornecem o espectro mais extenso polifilosofia. Porque, por
um lado, as cincias humanas poderiam sugerir com demasiada
facilidade a ideia de que o esprito cientfico continua e desen-
volve as qualidades de clareza, de ordem, de mtodo, de tranquila
129
O SCULO XX
A EPISTEMOLOGIA EM FRANA
sinceridade, que so o apangio do homem inteligente de todos
os tempos, do homem feliz por aprender, do homem de socie-
dade, to caracterstico da cultura clssica (MR, 207-208).
Esta afirmao simultaneamente testemunho da datao da
epistemologia bachelardiana e da limitao do seu campo de
aplicao, que alis a condio que lhe preserva toda a sua
capacidade ainda actual de ensino e de orientao, A questo de
saber em que condies e segundo que modalidades podem as
cincias humanas realizar a sua ruptura epistemolgica^e
vir a enriquecer com novas regies o racionalismo aplicado no
foi aqui tratada. Inversamente, o progresso regular do esprito
matemtico maravilha de regularidade no permite re-
conhecer, com toda a acuidade que assumem no conhecimento
objectivo, as cerradas dialcticas do racionalismo aplicado
(FS, p. 22). Fsica e qumica apresentam, pelo contrrio,
todos os nveis epistemolgicos teoria matemtica, aparelha-
gem tcnica, conceptualizao, ruptura com o conhecimento
comum, necessidade da constituio experimental do objecto.
Se, portanto, os conceitos epistemolgicos elaborados por Ba-
chelard podem ser, mediante as transformaes eventualmente
requeridas, aplicados a outros campos cientficos e propor os
eixos e os meios de uma investigao em filosofia matemtica
ou biolgica ou, eventualmente, em epistemologia da economia
poltica ou da histria tal facto ficar a dever-se ao que a
conscincia aguda e directa das revolues das cincias fsicas
contemporneas ensinou a um professor do liceu de Bar-sur-
-Aube para o tornar um dos filsofos mais rigorosos e exigen-
tes do nosso tempo.
3. A epistemologia matemtica: Jean Cavaills
Uma epistemologia matemtica ser levada a clarificar de
modo diferente do de Bachelard o ponto de contacto do discurso
filosfico e da histria efectiva das cincias sem que, por isso,
a diferena dos modos de expresso e de exposio, da disposio
das teses, do peso das concluses, seja incompatvel com a con-
vergncia que a marca de um acordo na tentativa de situar a
epistemologia discurso sobre a cincia ou teoria da cincia
na sua justa relao com a cincia. esse o sentido da obra
de Jean Cavaills, integralmente consagrada aos problemas le-
vantados pela formao da teoria dos conjuntos e pelo funda-
mento das matemticas e que, por ter sido interrompido em
plena maturidade, quando assegurava a sua influncia sobre o
futuro, continua a atribuir tarefas e a propor interrogaes que
talvez ainda nem tenhamos acabado de reconhecer.
As obras de Cavaills so difceis: no permitem que o lei-
tor faa a economia de um trabalho de aprendizagem, simulta-
neamente filosfico e matemtico, visto que Cavaills renunciou
expressamente a qualquer desvio explicativo, a qualquer peda-
gogia prvia, a qualquer simplificao analgica. Neste aspecto,
o prprio estilo de Cavaills adequado tese que professa:
tal como faz parte da essncia das matemticas a excluso de
qualquer elemento extrnseco, o no obedecer seno necessi-
dade interna de encadeamentos realizados na singularidade de
um acto efectivo, tambm necessrio, do mesmo modo, afas-
tar da exposio epistemolgica qualquer aspecto suprfluo,
qualquer argumento de circunstncia, qualquer facilidade de
linguagemque constituram outras tantas maneiras de ate-
nuar o rigor da tese exposta. Dever-se- portanto renunciar
a procurar nas linhas que se seguem mais do que a referencia-
o de alguns pontos nodais de uma obra que se no deixa
resumir.
A escolha de um assunto como La Formation de Ia thone
abstraite ds ensembles para um estudo epistemolgico justifica-
-se facilmente: ao produzir as antinomias que pareciam contes-
tar a solidez de todo o edifcio das matemticas, a teoria dos
conjuntos conduzia necessariamente a uma situao que foi
qualificada de crise. Donde a necessidade de examinar os laos
unindo teorias matemticas reconhecidas como incontestveis
e a teoria dos conjuntos, na medida em que tendo nascido do
mesmo tronco comum com a mesma necessidade natural que
as outras teorias, produzia resultados cada vez mais precio-
sos em Anlise e nos domnios vizinhos (Mthode aociomatique
et Farmalisme, p. 1). A este problema davam resposta, por
um lado, as investigaes de axiomatizao, garantindo a se-
gurana dos passos permitidos teoria, condensando-a em
torno de alguns processos captveis intuitivamente e em rela-
o aos quais se torna mais fcil resolver a questo de uma
aprovao, se no de uma justificao (La formation de Ia
thorie abstraite ds ensembles, p. 161), por outro lado, as
escolhas filosficas correspondendo s solues doutrinais do
logicismo, do formalismo e do intuicionismo. Em todos os
casos o problema da teoria dos conjuntos torna-se o problema
do fundamento das matemticas (ibid., p. 159). Mas fundar as
matemticas, tal o resultado do estudo1 histrico sobre a
formao da teoria dos conjuntos, no de modo algum uma
operao absoluta e definitiva: As consideraes pragmatistas
do matemtico militante tm a ltima palavra (i&wZ., p. 164).
130
131
O SCULO XX
So elas que compem a impossibilidade de uma qualquer li-
mitao do campo matemtico a partir de consideraes pura-
mente matemticas (Mthode de axiomatique... p. 21). Torna-
-se necessrio regressar caracterizao da prpria essncia do
trabalho matemtico para poder simultaneamente elucidar uma
histria como a da teoria dos conjuntos e determinar o risco da
escolha entre as posies logicistas, formalista e intuicionista.
A dupla cultura de Cavaills permite-lhe demarcar as dificul-
dades que provm da mistura entre especulao filosfica e
raciocnios matemticos e as, normais, provocada pelas insufi-
cincias tcnicas (Mthode axiomatique... p. 182) distino
que os matemticos, por vezes, suprimiam. Neste sentido, o
trabalho de Cavaills, de parte a parte histrico na medida em
que segue passo a passo os textos e a memria originais resti-
tudas na singularidade da sua expresso, tambm crtico, e
prepara a obra futura que a morte impedir Cavaills de ela-
borar: definir o trabalho matemtico como tal implica uma
regresso que leva a penetrar, para alm do matemtico pro-
priamente dito, no solo comum de todas as actividades racio-
nais. A teoria da razo depende, alis, deste trabalho: a hist-
ria mostra a ligao que existe entre semelhantes conflitos
tcnicos e os sistemas edificados pelos filsofos (Mthode
axiomatique... p. 21).
O que, no entanto, se pode determinar, o que teria sido
interdito teoria da razo: envolver numa definio prvia o
estatuto do objecto matemtico e a enumerao dos processos
demonstrativos e dos mtodos reconhecidamente vlidos. Esta
interdio ditada pela natureza singular da historicidade
constitutiva das matemticas. E, em primeiro lugar, deve-se
sublinhar que, na acepo usual do termo, no h nada de to
pouco histrico no sentido de tornar-se opaco, captvel so-
mente numa intuio artstica como a histria matemtica.
Mas tambm nada h de to pouco redutvel na sua singulari-
dade radical (Mthode axiomatique, p. 176). Como compreen-
der esta histria no histrica e irredutvel? Em primeiro
lugar, a histria matemtica parece, de todas as histrias, a
menos ligada quela de que veculo; se tal acontece a parte
post...: o depois explica o antes. De facto, fazer matemticas
ser mais do que a recusa da autoridade do passado para revelar
a necessidade presente de um acto imposto pela urgncia de um
problema? Mas o prprio problema e o arsenal dos mtodos
existentes para o resolver so os dados de uma situao hist-
rica: A obra negadora de histria realiza-se na histria...
Existe uma objectividade, fundada matematicamente, do devir
matemtico: a essncia de um problema que leva a despojar
A EPISTEMOLOGIA EM FRANA
um mtodo de acidentes que nenhuma reflexo entenderia in-
teis, o rigor interno de um mtodo que ultrapassa o seu primi-
tivo campo de aplicao e coloca novos problemas (Formation,
p. 28). Esta historicidade original das matemticas interdita
portanto, simultaneamente, a preformao, que reduz o curso
da histria revelao do j ali, e o arbitrrio de um apareci-
mento contingente e isolado de qualquer encadeamento inteli-
gvel. Perante esta dupla interdio torna-se intil qualquer
tentativa para definir as matemticas; isso seria, de facto,
ou dizer que as matemticas so isto que no matemtico,
o que absurdo ou ento o recenseamento dos processos uti-
lizados pelos matemticos (La Pense mathmatique, in Bulle-
tm de Ia Socit Franaise de Philosophie, sesso de 4 de Feve-
reiro de 1939, pp. 7-8). Mas esta segunda soluo impossvel
pois limitaria antecipadamente os processos reconhecidos como
matematicamente vlidos para uma enumerao exaustiva: a
superao de um mtodo por outro mtodo e, correlativamente,
o aparecimento de novos objectos fazem parte da essncia do
trabalho matemtico.
A tarefa da epistemologia pois definida em correlao
com a situao original da histria matemtica: As matem-
ticas so um devir. Tudo o que podemos fazer tentar com-
preender a sua histria, ou seja, encontrar certas caracters-
ticas desse devir para situar as matemticas entre as outras
actividades intelectuais (La Pense Mathmatique, op. cit.,
p. 8). Cavaills fixa duas por serem, a seu ver, exemplares:
autonomia, isto , impossibilidade de ficar no exterior das mate-
mticas para explicar a razo do seu desenvolvimento; assim,
no interior de si mesmas que encontram as motivaes do seu
devir: Autonomia, portanto necessidade. A segunda caracte-
rstica a imprevisibilidade. Nenhuma anlise das noes j
empregues revela as novas noes: o objecto novo dado no
acto que o estabelece como irredutvel ao antigo. De modo que
nunca podemos nem estabelecer os objectos matemticos em
si^nem dizer exactamente: aqui est o mundo um mundo que
ns descrevemos. Somos sempre obrigados a dizer: so esses os
correlates de uma actividade. Tudo o que neles pensamos so as
regras de raciocnio matemtico exigidas para os problemas que
se levantam e h mesmo uma expanso, uma exigncia de supe-
rao que encontramos nos problemas no resolvidos que nos
obrigaram a admitir de novo outros objectos ou a transformar
a definio dos objectos primitivamente admitidos (ibid.,
Pp. 12-13).
Por isso mesmo se pode afirmar com razo que a activi-
dade matemtica uma actividade experimental, com a condi-
132
1S3
O SCULO XX
co de delimitar o sentido preciso em que neste caso se utiliza
o conceito de experincia: Sistema de gestos, regido por uma
regra e submetido a condies independentes desses gestos.
Deve-se distinguir esse sentido rigoroso do sentido usual da
experincia fsica que representa um complexo' de elementos
heterogneos que faz com que tudo o que h para pensar em
fsica seja a matemtica que nela encontramos (Mthode axo-
matique..., p. 179). Haveria matemtica desde que cada expe-
rincia, separadamente, fosse aprofundada em si mesma, inde-
pendentemente de qualquer subordinao a outras experincias,
sagundo uma ordem e ligaes de intenes tcnicas (obter um
resultado encarado antecipadamente como a criana que calcula
com o baco) que travam a autonomia do processo e a sua neces-
sidade prpria. Deste modo, no existe objecto matemtico* fora
da experincia efectiva que feita. Nenhum sistema inteligvel
prvio o platonismo matemtico garante o trabalho do
matemtico-. necessrio seguir o desenvolvimento efectivo da
conscincia matemtica desde a origem, qualquer objecto abs-
tracto resultado de um gesto sobre um gesto ... e por mais
longe que formos sobre um gesto sobre o sensvel primitivo
(Mthode amomatique..., pp. 178-179). Mas no se trata de
qualquer regresso em direco a uma origem no matemtica
das matemticas, de qualquer gnese emprica. S podemos ex-
plicar a razo de qualquer origem que atribuamos s matem-
ticas o grupo dos deslocamentos da geometria elementar ou
a actividade da numerao desenvolvendo todas as matem-
ticas, porque se somos fiis prpria exigncia que presidiu ao
nascimento destas noes e ao seu desenvolvimento, ser neces-
srio que suscitemos os problemas originados, por exemplo,
pela recusa de nos determos nessas circunstncias que so ex-
teriores ao problema colocado e, nesse momento, surgiro novas
noes e engendrar-se-o no s as matemticas at aos nossos
dias mas tambm as exigncias de desenvolvimento, os pro-
blemas no resolvidos que provocam as suas transformaes
actuais (La Pense mathmatique, p. 12). Assim no se toma
em linha de conta o matemtico: No h definio e justifi-
cao possveis de objectos matemticos que no sejam as pr-
prias matemticas (Mthode axiomatique, p. 177).
Para alm dos resultados escrupulosamente delimitados da
investigao levada a cabo sobre a teoria dos conjuntos e o
problema do fundamento, de crer que Cavaills tivesse em-
preendido uma tarefa filosfica consagrada directamente teo-
ria da razo que os seus primeiros livros apenas casualmente
evocam como horizonte da investigao. Sur Ia logique et tho-
rie de Ia science, obra redigida na priso e publicada aps a
134
A EPISTEMOLOGIA EM FRANA
morte de Cavaills, constitui, pelo menos parcialmente, a sua
introduo. A exigncia de autonomia, a afirmao de uma ne-
cessidade que no se liga a mais nada seno a si mesma (p. 19),
o seu fio condutor ao mesmo tempo que o critrio que permite
julgar os pressupostos das teorias da cincia descobertas pela
histria da filosofia e da lgica, de Kant a Husserl. Nessa con-
formidade, Cavaills sublinha a importncia de uma obra ainda
hoje pouco conhecida em Frana 1), a de Bolzano. O que Cavail-
ls vai buscar a Bolzano o projecto de submeter crtica
o prprio ser da cincia: talvez pela primeira vez, a cincia
j no considerada como simples intermedirio entre o esp-
rito humano e o ser em si, igualmente dependente de ambos e
no possuindo realidade prpria, mas como um objecto sui
generis original na sua essncia, autnomo no- seu movimento.
Ela to-pouco um absoluto como um elemento no sistema dos
existentes. No entanto, resta situar a disciplina a teoria da
cincia que tem por objecto a cincia assim caracterizada a
partir do momento em que exclui por princpio qualquer inter-
veno vinda do exterior. Seria necessrio que a teoria da cin-
cia fosse um a priari, no anterior cincia mas alma da cin-
cia, sem requisitos exteriores, mas exigindo, por seu turno, a
cincia (p. 26). Mas esta exigncia no pode ser satisfeita sem
que primeiramente se tenha constitudo uma analtica, teoria
pura dos encadeamentos racionais, e uma ontologia, teoria dos
objectos.
Muito antes da difuso em Frana da fenomenologia hus-
serliana, Cavaills consagra-lhe uma anlise crtica cuja densi-
dade e rigor nunca foram superados. A obra husserliana a
desmontada como o acabamento e a realizao de uma teoria
da cincia que encontra numa conscincia fundadora do sentido
de todos os contedos que atinge a justificao ltima que ga-
rante toda a validade terica. Mas se a anlise transcendental,
que reduz a uma subjectividade absoluta a legitimao de
qualquer conhecimento, supe uma evidncia justif icadora nica,
ela recusada por essa constatao essencial de que o progresso
da cincia consiste numa reviso perptua dos contedos por
aprofundamento e rasura. O que est depois mais do> que o que
era antes, no por o conter ou sequer o prolongar, mas porque
dele sai e leva no seu contedo a marca sempre singular da
sua superioridade. H nele mais conscincia e no sie trata
da mesma conscincia (p. 78). pois necessrio renunciar
ideia de uma conscincia una: a conscincia no mais do que
. O) Esta lacuna ser preenchida quando forem conhecidos os
'abalhoa actualmente em curso de vrios filsofos e historiadores.
135
O SCULO XX
o aparecimento da ideia e do lado do encadeamento inteligvel
dos contedos que se deve procurar a racionalidade do pro-
gresso. Deve-se renunciar primazia do cogito, admitir que o
que marca a histria a submisso do transcendental aos seus
perodos (Trcmsfini et comtinu, in Philosopliie mathmatique,
p. 274). Deve-se ler no como uma concluso, mas como o ann-
cio de um programa cuja amplitude mal compreendemos porque
ele ainda hoje est fora do nosso alcance e porque a nossa filo-
sofia s percorreu alguns dos caminhos que abria, estas linhas
por onde o inacabado se completa: No uma filosofia da
conscincia mas uma filosofia do conceito que pode originar uma
doutrina da cincia, A necessidade geratriz no a de uma
actividade mas a de uma dialctica.
4. Epistemologia e histria das cincias. O racionalismo apli-
cado das cincias biolgicas
Um dos factos relevantes da situao recente da epistemo-
logia o estabelecimento' de novas ligaes com uma nova his-
tria das cincias. Com maior clareza, parece que se a epistemo-
logia pretende fugir dupla dificuldade da prvia generalidade
filosfica e da repetio, numa linguagem forosamente inade-
quada, do que a cincia disse rigorosamente, ela s o pode se
for, em qualquer grau e tratando-se, inclusivamente, do mais
actual saber cientfico , conscincia da historicidade da cin-
cia. Se, portanto, a epistemologia discurso sobre a cincia
se pode constituir em discurso especfico, obedecendo s suas
prprias regras de formao, por reconhecer quer a autonomia
da cincia de que ela discurso quer o facto de que esta cincia
apareceu e conserva na sua universalidade a marca sigular do
seu aparecimento.
Mas, assim, sucede que a disciplina chamada histria das
cincias v igualmente reformarem-se o seu mtodo, o seu campo
de interesse, a relao com o seu objecto. Compreende que no
epistemologicamente neutra. Por outras palavras, se se deve
afirmar, como G. Canguilhem, que sem relao com uma his-
tria das cincias uma epistemologia seria um duplicado perfei-
tamente suprfluo da cincia de que pretenderia ser dis-
curso 1), ainda necessrio acrescentar que, sem relao com
a epistemologia, a histria das cincias no saberia literalmente
que histria . deste ponto de vista que conveniente colo-
carmo-nos se quisermos compreender por que motivo a histria
C1 ) tudes d'histoire et de Ia, philosOphie ds sciences, p. 12.
136
A EPI8TEMOLOGIA EM FRANA
das cincias em Frana no depende nem da perspectiva da re-
partio do saber em disciplinas, nem da histria, nem das
cincias, mas da filosofia, porquanto esta se cindiu em sectores
de interesses especficos, em domnios de investigao j no
articulados na unidade de um sistema.
O estudo da obra de Bachelard e de J. Cavaills forneceu-
-nos j algumas indicaes referentes, do ponto de vista da epis-
temologia, formao de uma epistemologia histrica. Tra-
tando-se agora de uma histria epistemolgica das cincias,
aos trabalhos de Alexandre Koyr que iremos solicitar a sua
ilustrao'. Quando Koyr publica, em 1939, os seus trs tues
galilennes, para pr em evidncia a mutao intelectual
que a nova cincia elaborada por Galileu constitui. Atravs
desta afirmao muito clara da descontinuidade histrica, ele
enuncia uma tese se no idntica, pelo menos compatvel com a
de G. Bachelard. Assim, o facto de Koyr sublinhar, no mesmo
momento, o seu acordo com Meyerson, no mais do que um
aparente paradoxo.. Na realidade, o apoio que Koyr d a Meyer-
son no implica a adeso ideia de uma continuidade e de uma
identidade de natureza entre o senso comum e os processos cons-
titutivos da cincia. O que Koyr tem em considerao , sobre-
tudo, que Meyerson se tenha oposto a qualquer reduo dos
direitos da explicao cientfica em que a teoria fosse concebida
como uma simples representao cmoda sem valor de verdade
intrnseca. Ora, esta a tese filosfica de Duhem e, simulta-
neamente, Duhem o autor de trabalhos histricos que, preci-
samente no caso de Galileu, expem a concepo da histria das
cincias que Koyr vai atacar constantemente. Efectivamente,
segundo Duhem a cincia mecnica e fsica que so o justificado
orgulho dos tempos modernos, deriva, atravs de uma srie
ininterrupta de aperfeioamentos, das doutrinas professadas
nas escolas da Idade Mdia; as pretensas revolues intelectuais
no foram, na maior parte dos casos, mais do que evolues
lentas e longamente preparadas (Ls Origines de Ia statique, I,
p. 3). Por outras palavras, uma teoria fsica no de modo
algum o produto repentino de uma criao; o resultado lento
e progressivo de uma evoluo (La Thorie physique, p. 337).
Ora, esta concepo das condies de nascimento de uma teoria
fsica no se pode separar de uma afirmao filosfica, ou seja,
com pretenses universalidade, sobre a natureza e o valor da
teoria. Toda a sua obra sobre a teoria fsica, publicada em 1900,
procura estabelecer que a teoria fsica uma simples classifi-
cao formal de leis empricas, no representando de modo
nenhum a ordem real dos processos da natureza mas fornecendo
apenas um fio condutor que permita encontrar o maior nmero
131
O SCULO XX
j
de leis empiricamente estabelecidas a partir de um mnimo de
proposies iniciais. Mas a sua escolha no mais do que uma
questo de comodidade ou de economia de pensamento. Desse
modo, romper com o continuismo histrico romper igualmente
com a filosofia das cincias que o suporta (1).
Toda a obra histrica de Koyr estabelece portanto o facto
de que a alternativa criao arbitrria evoluo lenta pro-
posta por Duhem ilusria: A revoluo galilaica e cartesiana,
que continua a ser, apesar de tudo, uma revoluo, tinha sido
preparada por um longo esforo de pensamento (tudes d'his-
toire de Ia pense scientifique, p. 176). Mas Koyr est perfei-
tamente consciente das condies histricas presentes que tor-
nam possvel uma histria das cincias concebida como histria
das mutaes epistemolgicas: Tendo ns prprios vivido duas
ou trs crises profundas da nossa maneira de pensar a crise
dos fundamentos e o eclipse dos absolutos matemticos, a revo-
luo relativista, a revoluo quntica, tendo suportado a
destruio das nossas antigas ideias e feito o esforo de adapta-
o s ideias novas, estamos mais aptos do que os nossos pre-
decessores a compreender as crises e as polmicas de outrora
(iwdi., p. 4). possvel resumir um pouco esquematicamente as
teses epistemolgicas que pem em oausa a histria das cincias,
segundo Koyr: em primeiro lugar, a cincia teoria e uma
mutao como a que Galileu opera ao fundar a cincia moderna
consiste tanto em romper com o senso comum (que seria repre-
sentado pelas concepes aristotlicas e medievais) como em
reencontrar os factos (que tinham sido dissimulados por essas
mesmas concepes). Porque, por um lado, as concepes aris-
totlicas so uma teoria rigorosa e com um forte ndice de
coerncia e no um prolongamento verbal do senso comum; a
verdadeira teoria nasce de uma ruptura com uma teoria anterior
reconhecida como falsa e supe igualmente que esteja j no
elemento terico: As cincias, falando de modo geral, tm
sempre o seu incio em teorias falsas. Mas a posse de uma teo-
ria, mesmo falsa, constitui um enorme progresso em relao ao
estado pr-terico (ibid., p. 101). Em segundo lugar, a prpria
teoria verdadeira no encontra os factos mas constri-os, subor-
dinando a experincia s suas condies tericas, que so, para
Koyr, as condies de uma matematizao. desse facto que
deriva a insistncia de Koyr em mostrar que a cincia moderna
no corresponde a uma preocupao pragmtica de eficcia tc-
nica mas ao desenvolvimento sistemtico do mtodo arquime-
(') Expusemos esta tese com maior preciso em L'Ide d'une
histoire ds Sciences, in Sur 1'Histoire ds Sciences, Maspero, Paris, 1969.
138
A EPISTEMOLOaiA EM FRANA
diano de idealizao, reduzindo o facto fsico a uma combina-
o de elementos matematicamente exprimveis. A cincia,
tanto a da nossa poca como a dos Gregos, essencialmente
teoria, procura da verdade e, por tal, tem e sempre teve uma
vida prpria, uma histria imanente, e em funo dos seus
problemas prprios, da sua prpria histria, que pode ser
compreendida pelos seus historiadores (ibid., p. 360).
Esta observao, traduzida em regra de mtodo o histo-
riador no deve compreender uma cincia seno em funo dos
seus prprios problemas , poderia servir igualmente para ca-
racterizar uma obra como a de G. Canguilhem. O que h de
assinalvel nesta obra que, de uma prtica da histria das
cincias de filiao bachelardiana, vai chegar a uma epistemo-
logia das cincias biolgicas que desenvolve e rectifica segundo
as exigncias do campo que lhe prprio as teses de um racio-
nalismo aplicado.
Como se trata da histria das cincias e do seu objecto,
G. Canguilhem. sublinha a ruptura desta histria com toda a
histria natural, com a qual, pelo contrrio, se confundiria
caso se identificasse a cincia com os cientistas, e os cientistas
com a sua biografia civil e acadmica, ou a cincia com os
resultados e os seus resultados com o seu enunciado pedaggico
actual (iudes d'histoir0 et de philosophie ds sciences, p. 18).
Esclarecer esta confuso , ao mesmo tempo, reservar para a
histria das cincias uma temporalidade irredutvel ao curso
geral do tempo, elemento comum e indiferenciado onde se vem
arrumar a cronologia dos resultados ou as vidas de cientistas:
ela requer, pelo contrrio, uma temporalidade diferenciada para
disciplinas diferentes nos mesmos perodos da histria geral
(p. 19): especificidade do tempo da cincia que faz com que o
acontecimento cientfico traga em si uma marca sempre singu-
lar que interdita a simultaneidade imaginria do anterior e do
posterior que leva ao pseudoconceito de precursor, de que tanto
se faz uso e se consegue, por ausncia de crtica epistemolgica,
reduzir a dimenso propriamente histrica da cincia a uma
aparncia. A iluso, neste caso, consiste em isolar os conceitos
do sistema coerente que define o seu sentido para estabelecer
entre eles filiaes fictcias, fundadas numa identificao que
no liga a menor importncia singularidade histrica do con-
texto terico: a tese heliocentrista de Aristarco de Samos no o
torna um precursor de Coprnico, pois situa-se no campo bem
ordenado de uma cosmologia completamente diferente da de
Coprnico. A fico do precursor procede do esquecimento
do aspecto histrico do objecto em questo (p. 21). S o con-
ceito o objecto da histria das cincias porque permite resti-
139
O SCULO XX
tuir, com o conjunto das ligaes que o fazem solidrio do
domnio terico da sua formao, a autonomia irredutvel do
devir da cincia. A histria dos documentos, dos instrumentos
ou dos mtodos s histria das cincias relacionadas com uma
histria dos conceitos. Porque o conceito no a mesma coisa
que a palavra: a presena, num texto cientfico, da palavra que,
para ns, designa tal conceito, no significa que esse conceito
a seja efectivamente empregue porque introduzir um con-
ceito formular uma problemtica. Inversamente, a ausncia da
palavra no significa forosamente a do conceito: o problema
que funda a necessidade da interveno do conceito pode per-
feitamente estar colocado sem que se tenha ainda inventado ou
importado a palavra que lhe ser definitivamente associada.
A histria dos conceitos dissuade, para alm disso, a iluso
de uma transparncia dos momentos do tempo uns aos outros
numa filiao puramente lgica: a obra fundamental sobre La
Formation du ccmcept de rflex aux xvn et XVlli sicles
mostrou como uma histria do conceito restitui as problem-
ticas reais ao fazer prevalecer os direitos da lgica da histria
sobre os direitos da lgica sem mais. Logicamente que, desde
o sculo Xix, o conceito de reflexo depende de uma teoria meca-
nista do comportamento do ser vivo e era necessrio, no
menos logicamente', que o conceito de reflexo tivesse nascido no
contexto de uma teoria igualmente mecanista: da o conceder-se
a Descartes o ter, atravs da teoria dos animais-mquinas,
introduzido a noo de reflexo. Mas G. Canguilhem mostra que,
embora Descartes descreva aquilo a que chamamos reflexos, no
forma o seu conceito conceptualizar no descrever um dado
prvio e evidente. Em contrapartida, legtimo perguntar, o
que que uma teoria do movimento muscular e da aco dos
nervos deva conter para que uma noo como a de movimento
reflexo, sobretudo a assimilao de um fenmeno biolgico a
um fenmeno ptico, nela encontra um sentido de verdade, isto
, um sentido de coerncia lgica com outros conceitos (La
Formation du concept de rflexe, p. 6). Determinado assim o
objecto da investigao, seremos levados a encontrar na obra
de um mdico considerado vitalista 'Willis, ou seja, num
contexto terico que recusa a concepo mecanista do ser vivo,
o lugar real da formao do conceito de reflexo: afastada a
iluso retrospectiva de uma homogeneidade terica a, posteriori,
o conceito de ref elexo restitudo no campo realmente histrico
da sua formao e levanta-se um problema de que a histria
lgica no podia suspeitar: como pde o conceito, assim for-
mado, ser transformado em conceito mecanista, ou seja, como
A EPISTEMOLOGIA EM FRANA
pde ser importado de um contexto terico para outro; Um
conceito formado acarreta a deformao e a transformao.
Mas a histria, entendida deste modo, encerra tambm uma
lio para a epistemologia, que uma filosofia crtica dever ter
em considerao, se por isso se entender, como se deve, uma
filosofia preocupada em delimitar e situar umas em relao s
outras as diversas actividades racionais. Ora, deste ponto de
vista, nenhuma cincia suscitou tantas confuses intelectuais
como a biologia, o que se deve, sem dvida, ao facto de uma
cincia do ser vivo chocar com os obstculos epistemolgicos
mais profundamente enraizados. Em Note sur Ia situation faite
en France Ia philosophie Jnologique (Revue de Mtaphysique
et de Morale, 1947), G. Canguilhem fazia notar o pequeno lugar
concedido na reflexo filosfica sobre as cincias aos proble-
mas especficos da biologia e, inclusivamente, a desconfiana
ou a suspeita que perante ela assume uma certa atitude ra-
cionalista. No h, de facto, domnio em que mais se imponha
a distino de gneros frequentemente confundidos-: a filosofia
biolgica pode ser tanto uma filosofia da filosofia que utiliza
para os seus fins uma informao biolgica como uma filosofia
de bilogo, tratando, de acordo com a sua competncia de cien-
tista, os chamados problemas filosficos da finalidade, da especi-
ficidade da vida, da evoluo, etc. Ambas podem degenerar nes-
ses monstros doutrinais que seriam uma biologia de filsofo e
uma biologia filosfica. O facto destes transbordamentos se-
rem possveis e de serem mais difceis para cincias como a
fsica ou as matemticas torna urgente uma autntica filo-
sofia biolgica entendida como epistemologia, ou seja, como
teoria que trata de uma cincia sem pressupor outros problemas
ou outros conceitos do que aqueles que a prpria cincia estabe-
lece no seu devir especfico.
Mas, precisamente, a obra consagrada ao conceito de re-
flexo, ao reavaliar o papel histrico do vitalismo, levanta simul-
taneamente o problema da racionalidade prpria da biologia e
da relao singular do conhecimento da vida com o seu objecto:
relao sigular visto que no se pode abolir completamente, no
conhecimento da vida, esse facto inicial de o conhecimento ser,
num certo sentido, obra de um ser vivo. Do mesmo modo, um
nacionalismo razovel deve saber reconhecer os seus limites e
integrar as suas condies de exerccio. A inteligncia s se pode
aplicar vida se reconhecer a originalidade da vida. O pensa-
mento do ser vivo deve ir buscar ao ser vivo a ideia do vivo
(La Gonnaissance de Ia me, p. 13). Assim, a restituio do pa-
pel histrico do vitalismo tambm uma constatao funda-
mental para a epistemologia biolgica se se admitir que ser
141
O SCULO XX
vitalista implica afirmar, contra qualquer reduo do ser vivo
ao que ele no , que o ser vivo como tal objecto de uma
cincia: O vitalismo a recusa de duas interpretaes meta-
fsicas das causas dos fenmenos orgnicos, o animismo e o
mecanismo... O vitalismo o simples reconhecimento da origi-
nalidade do facto vital. Classificar de metafsico o mecanismo
em biologia, enquanto passa habitualmente por ter sido reque-
rido pela exigncia de tornar a biologia uma cincia como as
outras, isto , conforme com o modelo metdico das cincias
fsicas, uma rectificao^ de juzo de grande alcance. , de
facto, dizer que no existe modelo metdico fixado de uma vez
para sempre, delimitando definitivamente o que ir ser reconhe-
cido como cientfico e o que o no poder vir a ser. O vitalismo,
reinterpretado por Canguilhem, designa apenas a abertura epis-
temolgica que assegura biologia o racionalismo aplicado que
lhe convm.
Ora, o estado mais recente da cincia biolgica, desde o
estabelecimento por Wattson e Crick, em 1954, daquilo a que
se chamou o cdigo gentico, tem a marca de uma mudana de
linguagem que impe que de novo se faa o exame do estatuto
do conhecimento do ser vivo: a biologia contempornea mudou
tambm de linguagem. Deixou de utilizar a linguagem e os con-
ceitos da mecnica, da fsica e da qumica clssica... Utiliza
agora a linguagem da teoria da linguagem e a da teoria das
comunicaes. Mensagem, informao, programa, cdigo, ins-
truo, decifrao, tais so os novos conceitos do conhecimento
da vida (tudes d'histoire et de Ia philosopMe es sciences,
p. 136): a prova de que no se trata de metforas aproximativas
fornecida pela eficcia terica desses conceitos. Alm disso, a
especificidade da vida tese permanente do vitalismo en-
contra-se doravante inscrita na materialidade do cdigo: Defi-
nir a vida como um sentido inscrito na matria admitir a
existncia de um a prior i objectivo, de um a priori propriamente
material. Assim o racionalismo aplicado da biologia atinge,
por seu turno, um materialismo racional. Donde o fundo da
questo filosfica: qualquer ser vivo est hereditariamente
informado para recolher e para transmitir apenas certas infor-
maes... Se o homem est informado nessa mesma qualidade
como explicar a histria do conhecimento que a histria dos
erros e a histria das vitrias sobre o erro? (ibid., p. 364).
Seria, sem dvida, um equvoco ver no sentido desta inter-
rogao uma incitao a que a histria das cincias fosse buscar
o seu modelo prpria cincia, neste caso a biologia. No en-
tanto, se a histria continuista encontrou na teoria da prefor-
mao a noo de um progresso por evoluo, isto , por desen-
A EPISTEMOLOGIA EM FRANA
volvimento contnuo o que continha j um estado inicial qual-
quer que ele fosse , talvez no esteja interdito a uma histria
epistemolgiea procurar os instrumentos de formulao de um
problema que lhe prprio em certos conceitos biolgicos sob
condio de se assegurar da pertinncia deste recurso atravs
de uma efectiva utilizao. Porque, se um ser vivo como um
texto que obedece a uma codificao e se o aparecimento de
algo novo na histria da vida se faz por mutaes que procedem
de um erro de decifrao', ento talvez a haja um pouco mais
do que uma metfora para uma histria das cincias que, ao
encontrar o seu material em textos 0), procura as regras o
cdigo que permitem reconhec-los como cientficos e cons-
tata que das mutaes surgem igualmente novas normas de
cientificidade. Foi recentemente assinalado este deslocamento
do conceito cientfico para o conceito epistemolgico a prop-
sito da obra de Bachelard, mostrando de que modo ao falar,
por exemplo, de acoplamento de noes ele transpunha um
conceito preciso, funcionando no campo de uma disciplina cien-
tfica, para o tornar uma categoria justificando todo o pro-
cesso de trabalho cientfico: Ele (Bachelard) encarrega a pr-
pria cincia de fornecer as categorias filosficas que devem, por
sua vez, reflectir e esclarecer a sua prpria actividade. Ao
faz-lo, despede toda a filosofia constituda e constri uma
epistemologia que, para no ser o 'pleonasmo da cincia', mais
no pode ser que ... a sua metfora (2 ). Se, efectivamente, a
metfora aqui como noutros lados a marca de um substituto,
no ainda certo que se trate de um substituto que possamos
dispensar. A metaforicidade est, talvez necessariamente, ins-
crita no prprio estatuto da epistemologia, isto , do discurso
sobre a cincia, que diz a cincia e, portanto, se separa
dela , mas que apenas diz a cincia, nada mais do que a cin-
cia ou seja, nada, se apenas as cincias tm um objecto sobre
o qual tm qualquer coisa para dizer. Como escapar a esta ins-
tncia se nos quisermos limitar a situar o discurso epistemol-
gico na disperso dos discursos em que a filosofia hoje consiste,
a partir do momento em que nenhum discurso unitrio, nenhuma
teoria global, nenhuma doutrina fundadora autoriza a que se
reabsorva na unidade de um saber esta disperso, reduzindo-a
aparncia das opinies?
(' ) Se se tratar de uma observao, ela s objecto da histria
tfas cincias atravs do seu relato, se se tratar de uma exprimentao
atravs do seu protocolo, etc.
(* ) Dominique Lecourt, Pour une critique de Vpistemologie,
l> p. 62-63. [Edio portuguesa: Para, uma Crtica de Epistemologia, Assrio
* Alvim, Lisboa. (N. do T.n
A EPISTEMOLOaiA EM FRANA
BIBLIOGRAFIA
Ampere: Essai sur la Philosophie ds Sciences, 1834-1843.
Bachelard (Gaston): Essai swn Io- connaissance approche, 1928.
Btude sur 1'volution d'un problme de physique: La propagation Thr-
tnique ans ls solides, 1928.
La Valeur inuctive- de la relativit, 1929.
L Pluralisme cohrent de la chimie moderne, 1932.
. L Nouvel Esprit scientifique, 1934.
La Formation de l'Esprit scientifique, 1P38.
La philosophie du Non, 19J fO. [Edio portuguesa: A Filosofia
do No, Presena, Lisboa (N. do T.)]
L Rationalisme appliqu, 1949.
L'Activit rationaliste de la physique contemporaine, 1951.
L Matrialisme rationnel, 1953.
Studes, 1970.
LfEngagement rationaliste, 1972.
Bachelard (Suzanne): La Logique de Husserl, 1957.
La, Conscience de la Rationlit, 1958.
Brunschvicg (Lon): Ls Mapes de la Philosophie mathmatique,
1912.
L'Experience humaine et la Causalit physique, 1922.
Canguilhem (Georges): L Normal et l Pathologique, 1943, 2.
edio aumentada, 1966.
La Formation du concept de rflexe aux XVII' e XVIII" sicles,
1955.
La Connaissance de la vie, 2.a edio, 1965.
tudes d'histoire et de philosophie ds sciences, 1968.
Cavaills (Jean): Mthode axiomatique et Formalisme, 1938.
La Formation de la thorie abstraite ds ensembles, 1938 (re-
produzido era Philosophie mathmatique, 1962, juntamente com Transfini
et Confinw).
La Pense mathmatique, comunicao Sociedade Francesa de
Filosofia de 4 de Fevereiro de 1949.
Sur la Lagique et la Thorie de la Science, 1960.
Comte (Auguste): Cours de Philosophie positive, 1830-1842. 6
volumes.
Costa de Beauregard (Olivier): L Second Prncipe de la Science
ds Temps, 1963.
Cournot (Augustin): Essai sur ls Fondements de nos connais-
sances et sur ls Caracteres de la critique philosophique, 1851.
Trait de Venchamement ds ides fondamentales dans la scien-
ce et dans l'histoire, 1861.
m
Matrialisme, Vitalisme, Rationalisme, 1875.
Couturat (Louis): De l'Infini mathmatique, 1896.
La Logique de Leibnis, 1901.
Ls Prncipes ds Mathmatiques, 1905.
Dagognet (Franois): Philosophie biologique.
La Raison et ls Remedes.
Mthodes et Doctrin&s dans 1'aeuvre de Pasteur, 1967.
Desanti (Jean T.): Ls Idalits mathmatiques, 1968.
Duhem (Pierre): L'volution de la Mcanique, 1903.
La Thorie physique, son object, s structure, 1906.
L Systme du Monde, histoire ds octrines cosmologiques de
platon Oopernic, 10 volumes, 1954-1959.
Jacob (Franois): La Logique du Vivant, 1910. [Edio portu-
guesa: A Lgica, da Vida, Publicaes Dom Quixote, Lisboa (N. do E.)~\ (Alexandre): Etudes galilennes, 1939.
pimnie l menteur, 1947.
From the closed world to the infinite universe, 1957 (trad. fn
Du Monde cios 1'Univers infini, 1962).
La Rvolution astronomique, 1961.
tues d'histoire de la pense scientifique, 1966.
Btudes newtoniennes, 1968.
Lautmann (Albert): Essai sur ls notions de structure et d'exis-
tence en mathmatiques, 1937.
Martin (Roger): Logique contemporaine et formalisation, 1964.
Meyerson (mile): Identit et Ralit, 1908.
De 1'Explication ans ls Sciences, 2 volumes, 1921.
La, Dduction relativiste, 1921.
Rel et Dterminisme dans la physique quantique, 1933.
Monod (Jacques)L Hasard et la, Necessite, 1970. [Edio por-
tuguesa: O Acaso e a Necessidade, Publicaes Europa-Amrica, Lisboa
(N. do T.)~\ (Henri) : La Science et l'Hipothse, 1902.
La Valeur de la Science, 1905.
Science et Mthode, 1908.
Serres (Michel): Hermes ou la communication, 1968. (Nomeada-
mente, La querelle ds Anciens et ds Modernes, e Ls Anamnses
mathmatiques.)
Spaier (Albert): La Pense de la Qwantit, 1927.
Vuillemin (Jules): Mathmatiques et Mtaphysique cartsiennes,
1960.
La Philosophie de VAlgebre, tome I, 1962.
La Premire philosophie de Russel, 1968.
La Logiqu& et l monde sensible, 1971.
Wolff (tienne): Ls Chemins de la vie, 1963.
IV
OBSERVAES SOBRE O ACESSO AO PENSAMENTO
DE MARTIN HEIDEGGER: SEIN UND ZEIT
por Gerarei Granel
Introduo: O acesso e a iiiaparncia
Embora as pginas que se seguem tenham por objectivo
uma introduo ao pensamento de Martin Heidegger, no pre-
tendem faz-lo do modo habitual, isto , simultaneamente pela
histria da formao desse pensamento e pelo inventrio do seu
contedo temtico. certo que essa introduo tradicional
necessria, mas existe j na excelente obra de O. Pggeler: Der
Denkweg von Martin Heidegger^ desde h pouco tempo aces-
svel aos leitores franceses 1). Afirmar que ela torna talvez
mais urgente ainda uma reflexo, ou melhor, uma meditao
sobre as condies e dificuldades do acesso ao pensamento
heideggeriano, no significa diminuir os mritos desse trabalho.
Com efeito, quanto mais esse pensamento nos for oferecido,
mais evidente se torna que ele no nos aberto.
Esta situao valeria j, certo, para qualquer grande
filosofia. No entanto, no vale simplesmente tambm para
Heidegger, mesmo com um suplementar grau de complexidade.
O motivo para tanto reside no facto de o pensamento heidegge-
riano no constituir mais uma grande filosofia: ele j no
pertence, em absoluto, metafsica. Tambm no pertence,
contudo, a uma dessas dimenses j de ns conhecidas e que,
na histria ocidental, se encontraram vrias vezes em relao
com a metafsica: a religio, a arte ou a histria. O pensamento
") Com o ttulo, ligeiramente modificado, de La pense de Martin
, Aubier, Paris, 1967.
.
MARTIN HEWEGGER
O SCULO XX
de Heidegger j no pertence metafsica e, no entanto, no
pertence a mais nada. Est inteiramente virado para a meta-
fsica, como essas figuras do Egipto que avanam geralmente
com o pescoo virado e o olhar atrs delas. A que futuro
corresponde, no entanto, a sua marcha e a que Deus corres-
ponde o presente, que as suas mos oferecem j? A sua sabe-
doria parece ser a de deixar para os humanos tais questes.
Este tranquilo enigma apenas pode aumentar nos nossos
espritos a loucura de saber. Loucura que permanece loucura,
no s porque o futuro de onde o pensamento heideggeriano
provm se conserva oculto, mas tambm porque o lao que une
necessariamente este futuro ao olhar-para-trs ainda mais
oculto e indeterminvel.
Heidegger pensa a partir de um sentido do ser que tanto
se chama Mundo como Diferena ou ainda alguns dos
seus outros nomes, mas que sempre mais antigo do que o
sentido metafsico. No porque seja um sentido arcaico, subsis-
tindo no passado como a Sumria, e que a metafsica tivesse
recoberto, consistindo afinal a tarefa de hoje em o exumar. Se
est em algum lado, esse sentido do ser est no futuro e
no necessita portanto de ser exumado mas de que o deixem
vir. E, embora seja mais antigo do que o sentido metafsico,
este foi, contudo, a sua primeira e nica metamorfose. Para
dizer a verdade, a primeira e nica forma., que no pode assim
ser pensada como meta-marfose seno a partir justamente da
sua forma a-vir, que nem sequer est ainda decidida. Que apenas
se decide, com a trmula indeciso, para ns, de tudo o que
nasce.
O pensamento que se encontra nesta situao foi por muito
tempo indeterminvel e a novidade do que diz deve permanecer
quase por completo inaparente. por isso que comporta uma
particular dificuldade de acessode tal modo particular que
se torna impensvel levantar esta dificuldade, p-la de lado
como uma pedra e deixar desse modo aparecer a entrada do
pensamento heideggeriano. Talvez seja possvel, contudo, uma
introduo prpria dificuldade do acesso, talvez seja possvel
mostrar a prpria inaparncia deste pensamento. O que sig-
nifica que devemos assumir ns prprios, numa linguagem
nossa, essa mesma deciso trmula do sentido do ser que
advm e que, advindo, separa de si mesma a metafsica na
sua totalidade como a forma do passado. A espera infatigvel
desta separao' apenas nos fornece um presente de que no
ser difcil ver, observando outros auspcios circunscritos por
menores templos, que ele , com efeito, o que suspende os dias
em que vivemos numa poca.
. A tese e a sua explicao
Com Sein und Zeit, em 1927, surgia uma questo sobre o
sentido do ser ou, mais sucintamente, uma questo do
ser que todos sabemos que, desde ento, guiou sempre o
pensamento de Heidegger. Desde a primeira frase a primeira
frase do primeiro livro que esta questo se apresenta todavia
como envolvida no esquecimento 0). Sein una Zeit inteira-
mente um esforo nico do pensamento para arrancar ao esque-
cimento a questo do ser. No entanto, a luta entre a questo e o
esquecimento trava-se, num certo sentido, no interior do esque-
cimento e, desse modo, encontra-se subtrada ao nosso olhar,
excepto como essa nuvem do combate, feita de brilho e poeira,
(' ) Die gennante Frage ist heute in Vergessenlteit gekommen...
(Sein und Zeit, Einl., l, Niemeyer, p. 2) A questo de que se trata
caiu actualmente no esquecimento... So estas as primeiras palavras
de Sein und Zeit. O seguimento da traduo destas primeiras linhas
arrisca-se, no entanto, a fazer-nos compreender incorrectamente a am-
plido do esquecimento em questo, levando-nos a dat-lo a partir da morte
de Aristteles. O texto alemo diz claramente que, diferentemente do
que se passa no nosso tempo, a questo sobre o sentido do ser man-
tivera em suspenso (in Atem gehalten) Plato e Aristteles. Mas acres-
centa de imediato que esta questo a bem dizer, comeou tambm, a partir
deles e neles a silenciar-se (um freilich auch von da an eu verstummen).
A traduo francesa (L'tre et l Temps, trad. Boehm e Waelhens, Gal-
limard, Paris, 1964, p. 17) ignora a auch que, contudo, precisa for-
malmente o von da... an e leva a compreend-lo como vulgarmente se
compreende von seiner Quelle an (desde a sua fonte, isto , j em esta.
Ao traduzir embora se tenha extinguido com eles o francs faz pensar
que Plato e Aristteles possuam uma certa luz da questo sobre o ser
em que Heidegger pensa e que ela se teria extinguido apenas com
a morte de Aristteles. orientar o leitor para a ideia de que a questo
heideggeriana sobre o ser, que aqui desponta pela primeira vez, seria,
pelo menos neste comeo, simples retorno a quma questo presente nos
dois maiores filsofos gregos e que apenas actualmente se perdeu
(ou seja, no mundo moderno, tomado tambm como herdeiro da Idade
Mdia e, mais ainda, da romanidade em geral). Esta impresso refor-
ada pela referncia yiyavTOjU .ctyta -n-spi ris ouc/ as platnica algumas
linhas atrs e pela citao do Sofista que serve de exergo obra. Todavia,
a questo sobre o ser no , mesmo no seu comeo, um retorno Grcia
como retorno filosofia dos Gregos, concebida como tendo sido outrora
depositria da questo que seguidamente (actualmente) tombou no
esquecimento. Os prprios Plato e Aristteles pertencem a esse ac-
tualmente do esquecimento que constitui a filosofia em geral e em
totalidade (mesmo que este esquecimento no seja idntico na sua forma
^oderna e na sua forma grega), e, a bem izer, mesmo a partir deles
(freilich auch von an) que esta questo caiu no esquecimento at ns, que
seu esquecimento se efectivou, efectivao extrema que, por sua vez,
determina a figura do nosso hoje.
O SCULO XX
na
deciso do destino
refgio, segundo Homero, do que
divino.
Em primeiro lugar, o esquecimento: ele encontra-se em
toda a tradio filosfica ocidental (no h outra), ou melhor,
toda essa tradio, de Plato e Aristteles at Husserl.
Em seguida, a questo: ela consiste numa tese sobre o
sentido do ser (que, na realidade, a questo s investiga por-
que, em primeiro lugar, o sabe). A tese afirma uma s coisa
por trs lados: 1) O ser Mundo; 2) O ser desvendamento
original de' si mesmo num a (o Da-sein) que ns somos e que,
no entanto, no o homem mas o ser do homem; 3) O Da-sein
finitude finitude no homem 1) enquanto compreenso
do ser.
E tudo. No h nada para alm disto em todo Sem una
Z&it, mais nada do que a afirmao desta tripla e nica tese e
o esforo para conseguir explicit-la.
Efectivamente, se a tese se deixar ficar em si mesma sem
receber xplicitao, fica to fechada na sua afirmao como
sob a forma em que acabamos de a dar. Mas, por outro lado, a
tese tal que no deixa intacta nenhuma dimenso no exterior
do que ela pensa na sua afirmao e onde a explicitao se pu-
desse vir a desenrolar com certa imediatez para, de seguida, re-
tornar simplesmente tese e lanar sobre ela uma luz vinda
de outro lado.
Esse exterior da tese pode ser imaginado quer como a
metafsica, quer como o primeiro solo de uma descrio origi-
nal, quer ainda como a relacionao de ambos. Nesta relacio'-
nao, as descries arrancadas a uma experincia irrecus-
vel e incontornvel serviriam para mostrar que, e como, a meta-
fsica assenta num nvel de evidncias no originais, isto , no
conquistadas no solo primitivo. Projecto que , por exemplo, o
de Husserl mas tambm o de Feuerbach. Na sua amplido, estes
dois projectos visam, aparentemente como o projecto de Sem
und Zeit, quebrar um esquecimento to antigo como a filosofia
e caracterstico da sua essncia, arrancar um sentido para o
ser que volta a dar ao homem qualquer coisa como um mundo
onde o homem reencontre o que nele mais antigo do que ele
mesmo e fonte de todo o seu conhecer e de todo o seu agir no
meio do ente.
No entanto, o facto de este projecto ser tanto mais depen-
dente da metafsica quanto mais resolutamente se coloca no seu
exterior, seja no terreno da vida seja numa censura da
histria, um sinal inquietante. claro que no intil
(> ) Kant et l Problme de Ia Mtaphysique, trad. fr., p. 258.
150
MARTIN HEIDEGGER
mostr-lo, a fim de privar de comparao o empreendimento
heideggeriano, cujo retraimento em relao metafsica no
tem esse carcter positivo e, por assim dizer, imediato, das
rupturas feuerbachiana e husserliana, mas que se produz em
retraimento ou de modo inaparente, numa relao com a meta^
fsica que esmorece as imagens do interior e do exterior.
2. Feuerbach
Para Feuerbach, a cesura a que se produz na profundidade
onde temos o nosso corao. Esta profundidade imediata-
mente estabelecida como aquela que a filosofia no invade
tambm imediatamente designada como religiosa. Religiosa
significa aqui apenas o nvel onde a histria originalmente se
faz, o nvel da historicidade da histria. A prpria cesura o
resultado da irrupo desta historicidade como tal na histria,
, por assim dizer, o aparecimento do nosso corao. Todavia,
no seu aparecimento, o nosso corao surge como a > sua pr-
pria ausncia: com efeito, o que aparece quando parece que o
religioso desaparece, que j no temos corao e, por-
tanto, histria.
Perante o que, todavia, o religioso (o cristianismo)
desaparece assim? Perante o aparecimento do poltico. sob
a forma do poltico que doravante se ergue e surge (provocando
a fractura da nossa histria) a prpria historicidade fundamen-
tal que a filosofia nunca atinge.
Observemos atentamente o que para Feuerbach o pol-
tico. O poltico a unidade autnoma, absolutamente fundada
em si mesma, de um mundo dos homens no seio do qual cada
homem, na sua relao com outrm e com a natureza, permane-
cesse perto de si mesmo na pura presena a si. A considerao
do homem como cidado (Bilrger) de um mundo determinado
pela presena original a si, ou seja, pela subjectividade como ser
do homem a que define mais propriamente a filosofia.
a prpria filosofia tal como surgia a Kant na sua dimenso
cosmopoltica (in weltburgerlicher Absicht).
Assim, o aparecimento do nvel da prpria historicidade na
nossa histria e como sua cesura, assinala, na verdade, o apare-
cimento do filosfico como constituindo a essncia desse Fu-
turo a partir do qual pensa unicamente o pensamento de
Feuerbach. A metafsica reina j assim neste aqum ou outro
da filosofia em que Feuerbach tenta fixar-se e fornece mesmo
toda a sua determinao. Esta permanncia, ou melhor, esta
ubiquidade do filosfico, mais profunda do que qualquer ten-
151
O SCULO XX
e tanto
tativa do pensamento para fazer surgir o concreto
mais profunda quanto ela prpria se faz esquecer.
Pouco importa ento que a filosofia, sob a forma da de
Hegel, sofra a sua crtica como crtica do seu comeo. Contudo,
Feuerbach mostra bem que, no seu comeo, seja o da Lgica ou
o da Fenomenologia, a filosofia hegeliana comea consigo
mesma e no com o concreto (a histria, a vida, o sensvel, a
necessidade); mostra que, inteiramente filtrada na forma da
sua exposio, a filosofia dos modernos afasta o pensamento da
presena original a si mesma que a sua matria, ou seja, o seu
prprio estofo e subsistncia e que deve encontrar-se igual-
mente na matria que a forma especulativa antecipadamente
ignorou ou reduziu: o aqui e agora reais, e, de modo geral, o ser
determinado que no desaparece no nada. Contudo, esta crtica
da filosofia pelo seu comeo ope simplesmente a exposio filo-
sfica essncia do filosfico, isto , ao ser como pura presena
(e, como aqui se trata mais precisamente do filosfico moderno,
ao ser como pura presena a si do ser do homem). A natureza
do poltico e a alma do Futuro so a irrupo do1 metafsico
como' tal.
indubitvel que Feuerbach mostrou neste pensamento ser
c mais clarividente adivinho do que, j presentemente, constitui
o nosso futuro: a autonomia da subjectividade do homem mo-
derno alargando o seu reino como poltico. Mas tambm ,
pelo mesmo motivo, o que est mais afastado de um sentido do
ser que volta a dar ao homem um mundo e uma f initude essen-
cial que, no entanto, ele desejava o suficiente para nela reco-
nhecer um deus o Deus Termo por oposio ao Dalai
Lama especulativo que representava sob os traos de Hegel.
A lio desta aventura feuerbachiana (que ainda no ter-
minou, pois prossegue actualmente em Marx) precisamente o
no haver oposto da Metafsica, E, por conseguinte, o no
haver dimenso primitiva onde uma descrio original permi-
tisse a uma linguagem primeira dar origem a um nmero sufi-
ciente de fenmenos para que, afinal, a prpria vida apare-
cesse, fazendo surgir claramente, ao mesmo tempo, a sua filo-
sofia como construo (substruo, superstrutura) tendo por
fundamento o prprio esquecimento da vida.
Para Heidegger esta no , evidentemente, em 1927, a
lio de Feuerbach. a de Husserl. No a lio contida nos es-
critos ou no ensino de Husserl mas, pelo contrrio, o que as
contm e, em certo sentido, as termina.
.
,
152
MARTIN HEIDEGGER
3. Husserl e o horizonte da sub(is)t()ncia
Acerca de Husserl, Sein una Zeit opera com discrio uma
derivao cuja direco e amplitude no aparecem de nenhum
modo no texto 0). Tanto menos se encontrar o que motiva esta
derivao quanto mais nos detivermos em fazer comparaes
tese a tese ou, ainda pior, em colocarmos questes imediatas
sobre a fidelidade e a traio. Teremos, pelo contrrio,
algumas hipteses de abordarmos a situao de pensamento que
realmente dirige a relao de Sein und Zeit com a fenomeno-
logia se ns prprios a tivermos atravessado, isto , reconhecido
e determinado por detrs de qualquer tese, deciso de prin-
cpio, mtodo e conceito prprios ao pensamento husser-
liano o que traa o destino deste pensamento. Mostrmos noutro
local (2) em que sentido e com que detalhe inexorvel esse des-
tino o da repetio^ da metafsica dos modernos.
medida que esse destino cresce e se declara nas obras de
Husserl, desaparece o solo primeiro do descritvel original
oposto filosofia. No entanto, foi sobre esse solo, embora
ele nunca tenha existido, que a fenomenologia se aproximou da
ideia de um mundo estruturado a priori segundo diversas fi-
guras do ser (os En das diferentes eidticas); que se aproxi-
mou igualmente da ideia de que o desenvolvimento do ente nes-
sas formas do ser era idntico mais ntima possibilidade de
ser da conscincia, na medida em que esta j no compreen-
dida a partir da alma do homem e mais antiga do que ele;
por fim, de que a antecedncia do modo como qualquer coisa
est em todos os conceitos que dela possa dar e todas as dvidas
ou todas as questes que eu possa inventar o tinha levado tam-
bm a (quase) reconhecer que o ser termina sempre a cons-
cincia e que esta , portanto, como compreenso do ser, essen-
cialmente finita.
Contudo, Sem und Zeit recua perante a evidncia do con-
ceito husserliano da fenomenologia at obscuridade de um
pr-conceito. Embora este seja o pr-conceito de uma fenome-
nologia, 'os fenmenos desta fenomenologia perderam intei-
ramente a espcie de imediata acessibilidade que possuem em
Husserl, desde que a reduo se tenha realizado. Doravante,
(* ) O detalhe desta articulao de Sein und Zeit com a fenomenolo-
gia (ou desarticulao da fenomenologia em, Sein una, Zeit) no pode
aqui ser desenvolvido e constitui o objecto de um estudo especial apa-
recido em Durchblicke, obra colectiva de homenagem a Martin Heidegger
por ocasio do seu octogsimo aniversrio (V. Klostermann, Frankfurt,
1970).
(a) In L Sens du Temps et de Ia Perception ches E. Husserl, Gal-
limard, Paris, 1969, 2." parte e concluso.
153
O SCULO XX
o modo como o ser e as estruturas de ser se encontram feno-
menalmente deve ser conquistada, a partir dos objectos da feno-
menologia 1). As condies desta conquista no so alis
mais do que uma suficiente compreenso, da nica tese de Sein
und Zeit sobre o sentido do ser, na unidade dos seus trs la-
dos: o ser mundo, o ser desvendamento original do ente
que tem lugar como o Da-sein no homem, o ser finitude.
Nenhum destes trs aspectos do sentido do ser encontra no
seguimento directo das trs ideias h instantes mencionadas
como as que, na fenomenologia husserliana, mais dele se apro-
ximam. Na verdade, existe uma diferena abissal entre esses
trs objectos principais da fenomenologia e o sentido do ser
que deve ser conquistado a partir dele. tambm por isso que
esta conquista integralmente dirigida pelo novo pensamento
no interior de si mesmo e do seu combate, sem qualquer apoio
por parte da fenomenologia, ainda que sem esta ele nunca
tivesse conseguido chegar assim a si mesmo e ao seu combate
o que significa igualmente que, sem essa ascendncia, talvez
nunca tivesse podido existir como pensamento sob qualquer
forma. No apenas entre Heidegger e Husserl, mas sempre, na
histria do pensamento, que uma filosofia devedora da que
a precede: Aristteles de Plato, Leibniz de Descartes, Hegel
de Kant e, no entanto, comea sem qualquer apoio a combater
por si mesma no interior de si mesma.
Com efeito, em primeiro lugar, o fenmeno do mundo
precisamente o que a fenomenologia husserliana falha ou, mais
exactamente, afasta por princpio. Para Husserl, o mundo
o horizonte dos horizontes em que a conscincia-de-coisa se cons-
titui, que caracteriza a percepo e que serve de base ati-
tude natural. Como a fenomenologia s acede aos seus fen-
menos reduzindo esta atitude natural, s acede, por consequn-
cia, saindo do mundo.
Em segundo lugar, uma ontologia fundamental estabe-
lece a unidade das diferentes ontologias regionais, o que mais
no do que a da regio-conscincia. No que esta a cons-
cincia seja ela mesma uma simples regio do ente deter-
minada por um tipo regional de ser e dando ocasio a uma
ontologia regional ao lado das outras. A regio-conscincia
no uma regio do ente mas a regio do ser tomada como tal
e como fundamento de qualquer tipo de ser, e a sua ontologia
a ontologia fundamental husserliana. Contudo, no por acaso
que o ser como Bewusst-sein (conscincia), o prprio ser e
como fundamento de qualquer regionalizao eidtica aparece
( > ) Sein una Zeit, p. 3 6 . . . . . . . . . , .:ai;aU
MARTIN HEIDEGGER
ainda como a regio do ser, a regio conscincia. Se o ser
tem ainda aqui o nome de regio por ser atingido apenas pelo
movimento redutor inicial que consiste em sair do mundo.
A regio-conscincia o outro da regio-mundo.
Mas o mundo a que nos referimos o horizonte dos hori-
zontes da conscincia-de-coisa dada na percepo, isto , o
horizonte dos subsistentes 1). O horizonte dos subsistentes
como tais a prpria substancialidade: & Substncia dos fil-
sofos no seu sentido ontolgico. A conscincia s se eleva ao ser
em Husserl ( todo o objecto das leen 7), demonstrando que
com ela o ser entra numa regio do sentido que j no a
regio do sentido da Substncia. precisamente aqui, quando
parece estarmos mais perto de Heidegger, que dele nos encon-
tramos mais afastados (e se estivermos perto de algum ser
de Hegel). Com efeito, se se no subsiste, tal no significa
ainda que se exista. Ao reduzir a Substncia, isto , ao sair
do mundo como horizonte dos subsistentes, obedece-se ainda
ocultao do fenmeno do mundo que, justamente, j reina
quando o mundo compreendido como a totalidade dos subsis-
tentes, mesmo que esta totalidade tivesse o sentido intencio-
nal de um horizonte ou de um horizonte de horizontes.
A reduo da Substncia faz-se assim inteiramente, como
sada fora do mundo, sob a evidncia do mundo subsistente.
A identidade da situao husserliana com a situao cartesiana
aqui mais profunda que todas as diferenas que a vigilncia
fenomenolgica tenta estabelecer entre B T T OX I )' e a dvida, entre
a subjectividade transcendental fenomenolgica absoluta e a
simples evidncia da alma que retm ainda no horizonte do
mundo um cogito cuja u-topia ainda assim topologicamente
intramundana. A conscincia como negao absoluta da subs-
tncia tem apenas como efeito alargar-lhe o horizonte ao infi-
nito e tornar o ser como sujeito o ser substancial vazio, cuja
u-topia intramundana se tornou inapreensvel porque ela pr-
pria se tornou todo o espao terico.
Em terceiro lugar, o que assim se falha desde o incio
precisamente a finitude. certo que, como espao vazio da
negao da subs(is)t()ncia, a conscincia algo de mais
antigo no homem que o homem. Aparece mesmo como o abso-
(l ) Deve ser notado que todo o esforo da primeira seco de Sen>
i Zeit est concentrado na procura de uni acesso ao ente em que este
no aparea j como um ente-subsistente (mas como um ente-disponl-
rel), NO entaut,^ este esforo tambm o de uma abertura do pensa-
mento ao fenmeno-do-mundo, isto , precisamente o contrrio de uma
salda do mundo que considere o mundo como o prprio horizonte da
subs(is)t()ncia.
155
O SCULO XX
MARTIN HEIDEGGER
luto de que a humanidade simplesmente portadora e a sua
estranheza alcana assim, na segunda parte de Krisis, a do
Esprito hegeliano. Todavia, embora esta antecedncia sobre
O ' homo> hwmanus seja bem a marca de que na subjectividade
absoluta do prprio ser que se trata, no menos certo que
a evidncia da conscincia do homem, como ente subsistente no
horizonte da subsistncia em geral, fornece ainda aqui o prprio
sentido' do ser mesmo1 que a esfera da substancialidade se tivesse
tornado essa esfera predita por Pascal cujo centro est em
todo o lado e a circunstncia em lado nenhum. O ter da feno-
menologia propriamente a infinitizao da atitude natural
contra que se bate, a quem, justificadamente, atribui o nasci-
mento e determinao de qualquer cincia e filosofia at ento
aparecidas na histria e qual pensa ter escapado em virtude
de, nesta infinitizao, a atitude natural se tornar indetermi-
nvel ou, ainda, desaparecer. Deste modo, a conscincia
tornou-se infinita no pensamento de Husserl, assim como o uni-
verso na cincia de Newton.
A produo da conscincia como o ser est pois ligada, com
uma necessidade absoluta, ao horizonte da sub(is)t()ncia em
geral ao qual pertencem, numa unidade indissolvel, a logici-
dade formal e o psicologismo do tema transcendental, ou seja,
as duas formas da in-finidade da subjectividade. Na medida
em que combate precisamente o carcter formal do a priori
moderno e a ligao do Cogito com a - f rv x n' Husserl caminharia
em direco descoberta de uma finitude essencial do ser do
homem como compreenso do ser, se no procurasse simulta-
neamente produzir a> conscincia como o ser; porque, inversa-
mente, assim mantm a in-finitude como o prprio sentido do
ser e continua a fazer assent-lo no homem. Apenas tornou
esta situao absoluta, isto , irremedivel, ao torn-la invi-
svel, sendo a extenso universal vazia (e desapercebida) do
horizonte da substancialidade tomada pelo seu desaparecimento
(pela sua reduo).
Como, alm disso, as duas significaes da fenomenologia,
a da antecedncia do ser que finaliza qualquer tipo de cons-
cincia e a da produo da conscincia infinita como o ser,
se confundem inextricavelmente no curso efectivo do discurso
husserliano, compreende-se que precisamente na sua efectivi-
dade, isto , no seu contedo, decises de princpio, mtodos
em suma, na familiaridade do. que ela como movimento
fenomenolgico 1) a fenomenologia seja inutilizvel pelo
pensamento' que se inicia em Sein im Zeit. Uma indicao se-
gura desta situao pode tambm aperceber-se no facto de
Heidegger mencionar apenas uma nica obra de Husserl quando
tenta estabelecer o pr-conceito da fenomenologia: as Inv esti-
gaes Lgicas p). Trata-se da nica obra importante de Hus-
serl anterior ao que ele chama a abertura da reduo fenome-
nolgica que, de facto, s se efectivou entre 1903 e 1905 e
assinala manifestamente para o criador da fenomenologia o
momento em que o seu pensamento verdadeiramente se forma.
Tudo se passa, no entanto, como se, para Heidegger, este Hus-
serl verdadeiramente husserliano j no fosse Husserl.
4. A dificuldade e a fractura
Assim, no possvel exumar um solo extra-tese como
relacionao do metafsico e do originrio em que se
desenrolaria a explicao da tese sobre o ser em que Sein una
Zeit consiste. essa a dificuldade que afasta da leitura destas
pginas instauradoras.
Esta dificuldade no consiste portanto apenas no carcter
necessariamente alusivo das referncias ao conjunto de meta-
fsica ocidental que enchem os primeiros pargrafos. Tambm
se no resume na complexidade da articulao que liga este in-
cio fenomenologia husserliana, assim como dela o separa.
A dificuldade no est sequer contida na precedncia recproca
que equivale questo do ser tomada em si mesma e analtica
do Da- sein. No porque tais dificuldades e outras, que lhes
esto subordinadas no existam nos textos ou que neles
sejam apenas aparentes. Mas no so o que, cada uma em si
e todas no seu conjunto, constitui a Dificuldade fundamental
no que se refere prpria possibilidade de ler Sein und Zeit.
So apenas ef eitos dessa Dificuldade. Esta provm de a questo
do ser constituir uma questo sobre o sentido do ser, entendido
precisamente a partir de um sentido para o ser inteiramente
outro do que o que ele possui em toda a metafsica ocidental.
Mas o difcil da Dificuldade est ainda mais oculto do que
pode deixar pensar o que acabamos de dizer. Com efeito, a ideia
de inteiramente outro ela mesma inteiramente outra do que
1) As nossas explicaes relativas ao conceito provisrio de fe-
nomenologia mostram que, para esta, o essencial no consiste em rea-
' izar-se como movimento filosfico (Sein und Zeit, p. 38, trad. fr., p.
56).
(' ) As investigaes que se seguem s foram possveis a partir
'*> fundamento que E. Husserl estabeleceu, cujas Inv estigaes Lgicas
abriram o caminho fenomenologia (ibid.).
156
157
O SCULO XX
podemos esperar. No entanto, as aparncias acorrem em grande
nmero e importa impor-lhes respeito.
O novo sentido para o ser que a questo heideggeriana
persegue de modo totalmente diferente do que o fez, de Plato
a Husserl, o caador do; ser o filsofo no se trata do
Deus que acaba por criticar severamente a analogia e deix-la
para trs em So Toms de Aquino nem daquele que se mantm
como Qualquer-Outro na teologia barthiana. Tambm no
se trata desses domnios do ente que uma certa rescendncia
do ser na figura do homem abriu ao empreendimento de uma
sucesso da metafsica que, culturalmente, caracteriza a nossa
poca: a produo em torno da figura do Trabalhador, a von-
tade de poder em torno da de Zaratustra, a libido e a linguagem
em torno do homem desejante e falante. No se trata sequer, no
que se refere questo pensante sobre o sentido do ser, de um
sentido que seja idntico quele a que o potico corresponde.
A diferena de objecto formal aqui tanto mais claramente
incisada e os bordos tanto mais vivos quanto estes objectos
so talhados numa mesma carne.
O difcil reside portanto no facto de a questo sobre o sen-
tido do ser, colocada a partir do sentido que procura e que
inteiramente outro que aquele sob que o ser compreendido na
metafsica, no nos levar positivamente a nenhuma outra parte.
O que significa que no nos conduz a um outro da metafsica
que estaria situado, estabelecido, subsistente ou consistente de
qualquer modo que fosse. O desvio em relao ao sentido meta-
fsico do ser antes um desvio imperceptvel que no perde
nunca a sua inaparncia em todos os pargrafos da introduo
de Sein und Zeit e mesmo em todos os movimentos que condu-
zem toda a obra fractura em que, subitamente, se detm.
Esta fractura como se sabe a ausncia da terceira
seco da primeira parte e a da segunda parte. Tida em princ-
pio talvez pelo prprio Heidegger por provisria, esta
ausncia rapidamente se revelou como um facto adquirido e,
mais tarde, como algo mais do que um facto. Efectivamente, o
pensamento que fala em Sein und Zeit fala j integralmente
sob a influncia e sob o signo da fractura onde inexplicavel-
mente se detm. Esta fractura retm pois no seu sentido o
desta fala; s por uma se pode aceder outra. Ora, no nos en-
contramos desprovidos de qualquer indicao sobre a razo da
interrupo de Sein und Zeit. O que nela se produziu foi no
uma ruptura mas a impossibilidade de uma ruptura. Mais exac-
tamente: a impossibilidade de se consignar a ruptura com a
metafsica em referncia ao sentido do ser. o que exprime sem
equvocos a passagem seguinte da Carta sobre o Humanismo,,
158
MARTIN HEIDEGGER
onde Heidegger fala da terceira seco da primeira parte: Aqui
tudo se inverte. Esta seco no foi publicada porque o pensa-
mento no conseguiu exprimir de maneira satisfatria essa
inverso e no o conseguiu utilizando a linguagem da meta-
fsica 1). O que significa implicitamente mas muito clara-
mente que as duas seces existentes falam ainda a lngua da
metafsica e a isso devem a sua existncia. Mas devem-lhe
igualmente a sua dificuldade essencial, pois ao seu objecto espe-
cfico resta tornar pela primeira vez audvel um sentido do ser
que se silencia desde a sua origem na metafsica ocidental e, por
conseguinte, tambm na lngua desta metafsica que em
nada se distingue.
Assim, o que a obra instauradora do pensamento heidegge-
riano diz, dito em silncio. O que devemos, em primeiro lugar,
tentar por nossa vez dizer, no que consiste este estranho modo
de dizer, no s para esclarecer por meio desta dificuldade
essencial todas aquelas de que Sein und Zeit mais imediatamente
se compe, mas tambm para mostrar em que sentido em que
profundidade e com que necessidade toda a obra de Heideg-
ger permanece uma obra sem acesso, inteiramente submetida,
como nenhuma o foi at agora, constante possibilidade de des-
conhecimento.
5. A (no)-descrio do fenmeno do mundo
Portanto, por um salto, e s por um salto, que podemos
tentar aproximar-nos da tripla e nica tese de Sein und Zeit.
No se trata ainda de pretender explicar melhor (ou mesmo
de apenas explicar) o que Heidegger disse j, mas antes de
desencorajar a vontade de explicao, na medida em que ela
encara sempre a dificuldade ou a obscuridade por aparentes e se
prope dissip-las. Pelo contrrio, tornando a examinar os
prprios traos do insucesso da questo do ser (ou melhor,
da sua explicitao) que temos algumas hipteses de nos apro-
ximar do que nesta questo essencial. o que iremos tentar
fazer em relao a esse fenmeno que se encontra no centro
de todos os outros: o fenmeno do mundo.
Heidegger conclui nos termos seguintes as vinte pgi-
nas (2 ) dedicadas a captar o mundo como mundo: As anlises
0) Brief iiber der Humanismus, 1." edio em Platon's lehre von der
Wahreit, Francke, Berna, 1947, p. 72. Traduo francesa de R. Meunier:
e sur 1'humanisme, Aubier, Paris, 1975, p. 65.
(') Pp. 67 a 87 do original, trad. fr., pp. 90 a 113.
159
O SCULO XX
precedentes mais no fizeram do que libertar o horizonte em
que se torna possvel investigar o que so o mundo e a mun-
danidade C 1 ) . No seria possvel dizer melhor que o fen-
meno cujas pegadas se seguem no foi alcanado, que continua
o seu caminho com algumas etapas de avano sobre o pensa-
mento. E, com efeito, aps cada avano da descrio , quando
se atingia os prprios locais do mundo, verificava-se que este
acabava de os abandonar. Aps a contraprova que a crtica
da ontologia cartesiana do mundo constitui ( 2 ) , esta espcie
de insucesso agrava-se de dois modos: em primeiro lugar, pelo
facto de a razo mais geral que se fornece parecer irremedivel,
pois perder de vista o fenmeno do mundo funda-se num
modo de ser essencial do prprio Da-sein; em segundo lugar,
em virtude de a penetrao das estruturas mais importantes
deste (o Da-sein) e, com ela, a interpretao do prprio
conceito de ser, que conjuntamente permitiriam captar na sua
raiz o retraimento do mundo, so remetidas para um futuro
que precisamente a prpria fronteira em que Sem una Zeit
se detm (ou seja, na terceira seco da primeira parte, que
no foi publicada) . Pelo programa que lhe foi traado, esta
terceira seco aparecia como o equivalente da destruio da
histria da ontologia desde Parmnides. Deste modo, o motivo
do recuo (ou do avano) do fenmeno do mundo perante a des-
crio (ou sobre ela) torna-se mais rigoroso e de uma maneira
que arruina a prpria ideia de descrio. Esta parece, no en-
tanto, muito ligada ideia de fenmeno, como a tomada de
vistas ao seu objecto. Mas o desvio que separa Heidegger de
Husserl surge precisamente agora na sua irredutibilidade. Um
fenmeno compreendido como modo de ser deve ser arran-
cado a um retraimento a uma inaparncia que lhe so essen-
ciais e que interditam que seja visado como o alvo de um ver.
Esta uma tese geral que j encontramos e que em si mesma
bem conhecida; o que no quer dizer que no tenha necessidade
de ser re-conhecida vrias vezes seguidas e na sua verda-
deira profundidade.
Aparece-nos precisamente aqui, onde o retraimento-a-
-coberto do fenmeno do mundo remetido, pela sua motiva-
o, simultaneamente para a constituio do ser do Da-sein,
para a interpretao do prprio conceito de ser e para a des-
truio da metafsica. Toda a dificuldade reside neste simul-
taneamente. Ele significa que nenhum dos trs termos aqui
mencionados o ser (no enigma do seu sentido), o Da-sein
MARTIN HEIDEGGER
(na sua constituio de ser) e a histria do ser (como passado
que precede qualquer explicitao da compreenso do ser impli-
cada no Da-sein) no so precisamente termos, subsistentes
em si mesmos, entre os quais se instituiria apenas uma rede
de relaes e que poderiam assim servir de comeo decifrao
do fenmeno do mundo. Sein, Da-sein, Geschichte es Seins
formam os trs e na sua interpretao recproca, um s e
mesmo comeo que ele prprio no tem comeo ou que no
apresenta nem extremidade nem incio fora do seu prprio cr-
culo.
A circularidade deste crculo o que retm em si, desde
o incio e ao longo das suas vinte pginas, a anlise do
mundo e a afasta ao extremo do ideal husserliano da descrio.
No que esta no se encontre l, presente (aparentemente)
nas pginas clebres que percorrem ,as estruturas do ser-de-
baixo-de-mo, da utensilidade do signo e, finalmente, do intra-
duzvel Bewandtniss. Mas a descrio que assim se encadeia
e enriquece no deixa contudo de no ter (ainda) comeado,
enquanto e porque no atingiu ainda o crculo da tripla inva-
so -Sinn ds Seins, Da-sein, Geschichte ds Seins onde
est antecipadamente retida,
A descrio do fenmeno do mundo assim uma no des-
crio, que se deve tambm escrever (no) descrio. No des-
crio porque obriga a renunciar ao ideal de uma simples
transcrio das necessidades eidticas que caram sob o pre-
tenso olhar puro da fenomenologia, ou seja, quilo que conhe-
mos (atravs de Husserl) como a prpria essncia d uma
descrio. Mas (no) descrio porque, no entanto, descreve
de facto um trajecto ou um caminho ou uma rbita que encon-
tra justamente a sua positividae no facto de a anlise do
fenmeno s aparentemente estar sempre presente nas estru-
turas que liberta . Antes se ausenta incessantemente (de
caminho ) a partir do termo nico e triplo para onde tende
e que encobre a inaparncia do fenmeno. Aqui, o caminho do
pensamento consiste na sua precaridade, ou seja, na (no)
juno de todas as suas fases com o termo que as retraar() ia
simultaneamente justificadas e irreconhecveis se fosse
(ou quando vier a ser) atingido .
No entanto, no possvel (como seramos bruscamente
tentados a descobrir) comear nestas condies, apenas pelo
circulo da nica e tripla questo final. Porque: a ontologia
s e possvel como fenomenologia 1 ) aqui: o desenvolvi-
mento ('simultneo ) do sentido do ser, da constituio de
8 SS S S: KMS&
0) Sein una Zet, p. 35, trad. ir., p. 53
161
160
O SCULO XX
ser do Da-sein e do destino metafsico do ser s , por seu
turno, acessvel ao longo do fenmeno do mundo, O acesso a
estas questes ltimas est ele mesmo contido na (no) descri-
o que elas retm no seu crculo.
certo que o mundo , ontologicamente, um carcter do
prprio Da-sein 1). Mas isso no significa que a analtica
existencial possa remontar, como numa analtica de tipo
transcendental, o curso da subjectividade at encontrar, na sua
constituio original, ainda e sempre o objecto transcendental,
revestido apenas dos caracteres prprios que nele permitam
reconhecer o mundo que a tradio kantiana e husserliana
no tinha a sabido ver. De facto, uma analtica de tipo trans-
cendental fala uma certa linguagem a do conhecimento do
ente subsistente que no pode seno levar, sob o ttulo de
mundo, totalidade do ente-subsistente ou determinao
ontolgica do seu modo de ser, isto , prpria substanciali-
dade. Ora, estes dois conceitos do mundo so precisamente,
para Heidegger, o sinal de que as ontologias do passado...
no conseguem compreender o ser-a como ser-no-mundo e,
por essa razo, passam necessariamente ao lado do fenmeno
do mundo (2 ). A analtica do Da-sein no portanto separvel
da irredutibilidade do fenmeno do mundo linguagem da
subs(is)t()ncia, ou seja, ao sentido metafsico do ser. Inclu-
sivamente, s libertando esta irredutibilidade atravs da des-
crio do fenmeno que a analtica existencial se desvia
de qualquer analtica transcendental e o Da-sein de qualquer
subjectividade. Por consequncia, no s as trs questes lti-
mas fazem entre si um crculo em que retm a possibilidade
da anlise ou da descrio, mas fazem um crculo com esta
prpria anlise, na possibilidade da qual elas so, por sua vez,
retidas.
6. O circular e o anfractuoso
Falta compreender correctamente esta circularidade. Longe
de se opor ao movimento de pensamento, assegura-lhe a cir-
culao. A ela, assim como ao conjunto de Sem und Zeit e a
todas as ontologias que at agora existiram, aplica-se a obser-
vao do 2: Um 'raciocnio circular' no pode aparecer de
modo nenhum na problemtica do ser porque a resposta a esta
H Sem und Zeit, p. 64, trad. fr., p. 87.
(2 ) Sein und Zeit, p. 89, trad. f r., p. 116
MARTIN HEIDEGGER
questo no procura estabelecer o seu fundamento por via de
deduo, mas atravs de uma libertao apofntica 1).
Em contrapartida (e pela mesma razo) o que exterior-
mente se apresenta como circularidade no est destinado a
ser frustrado do interior e reduzido linha reta de um
encadeamento de razes. A circularidade da (no) descrio
fenomenolgica e das questes ontolgicas essenciais a mais
ntima assim como a mais manifesta da escrita heideggeriana.
fi integralmente anunciada na aproximao destas duas fra-
ses do 7 da introduo: A ontologia s possvel como feno-
menologia (2 ) e No que se refere ao seu contedo real, a
fenomenologia a cincia do ser do ente a ontologia C 3 ).
A questo continua portanto a residir inteiramente em
saber como compreender essa circularidade. Uma vez afastada
a objeco lgica fundada na suposio- ingnua de que o
movimento de um pensamento um encadeamento de racio-
cnios, a circularidade no deixa por isso de se apresentar
como uma ameaa para o pensamento a ameaa do seu
insucesso1. E, se deve vir a receber ao fim e ao cabo* um
sentido positivo no certamente no puro e simples desapa-
recimento desta ameaa mas talvez no seu prprio cerne.
De facto, no devemos esperar que a circularidade se revele
apenas como uma boa coisa ou mesmo como a ltima palavra
do pensamento. Se lhe reserva a mais profunda verdade e
liberdade de aparecimento na medida em que destina o apo-
fntico manifestao de um fenmeno na sua inaparncia,
trabalho de escrita que est to afastado das sublimidades da
inverso dialctica como das superfcies planas da apoditi-
cidade.
esta inaparncia que pre-serva no fenmeno do mundo
uma profundidade e, no entanto, uma profundidade por
assim dizer escassa ou modesta, uma simples concavidade
e no os pretensos abismos do indizvel onde se vem alojar
toda a histria da metafsica, como defensora-da-concavidade
mas no mantendo aberta a prpria abertura, o acolhimento,
o bordo e, menos do que tudo, a simplicidade realizada. De
modo que, ao aproximar-se desta parapeito que nada de-
fende, asa da deciso, arredondada e perfeita, 'em torno dos
Pensamentos dos homens como o brao em torno do sono o
Pensamento que penetra no retraimento do fenmeno, na vi-
brao da inaparncia, avana tambm na anfractura de onde
a-s metafsicas nasceram, onde se agitam e onde permanecem,
(* ) Sein und Zeit, p. 8, trad. fr., p. 23
( ~ ) Sein una Zeit', p. 35, trad. fr., p. 53.
C) Sein und Zeit, p. 37, trad. fr., p. 55.
163
162
O SCULO XX
raas inocentes em que a questo do ser contempla a sua
genealogia e que, contudo, saem doravante por sua vez de si
mesma, que teve a sua origem mais alto na fenda,
Para dizer a verdade, no j na fenda, aqui ou ali, que
seria ainda um lugar-alojado, um abrigo anfractuoso em que
a prpria anfractura teria j encerrado a impecvel doura da
vida e a quem no deixaria de evitar a sua deciso. A questo
que o fenmeno do mundo persegue , pelo contrrio, frg-
il C 1 ) por nela assentar a inaparncia o estilhao da
anfractura desse fenmeno que o fenmeno da prpria Frac-
o, do prprio Fragmento. Tal , efectivamente, o Todo a
que chamamos mundo>. O mundo esse em que um Da-sein
factual vive como tal (2) tem a natureza do fragmentrio.
Fragmento: pedao de uma coisa que foi quebrada em
estilhaos (Littr) . Se se mantiver o pedao na quebra cujo
outro pedao o ente intramundano; se se entender foi que-
brado como geferocTien ist e se se traduzir: est de modo
estvel (ist) originalmente reunido (g-) como sempre-j que-
brado (gebrochen); ou ento se se entender frag-mento em
relao a frangere como firmamento em relao a firmare,
isto , anterior distino (mas antes: quebrado na diferena)
do sentido verbal e do sentido substantivo ento pode-se
afirmar: o fenmeno do mundo o fenmeno do Fragmento.
Anfractura , no entanto, uma palavra ainda melhor (no obs-
tante ela no existir...) que indica que a fractura sucede
dos dois lados e que, desse modo, circunda no como uma
unidade mas, precisamente, como uma fractura o que nela
permanece imemorialmente como esse lado da quebra e esse
outro. O mundo esse Am (b) -fractuoso, esse quebrado, esse
fragmento que est quebrado Aos dois lados em que se quebra:
pura ferida, lbios.
Por seu lado, essa quebra, essa quebra-do-mundo, o que
quebra a descrio. No exteriormente esse em que ela se esti-
lhaaria ao nele acertar aps um momento (e um movimento)
descritivo puro, mas o que a move a partir do seu incio
e do seu fim, na anfractuosidade desse nico e duplo comeo
onde a prpria anlise caminha anfractiiosa.
O afastamento o escarpamento aqui o que separa
o ente intramundano e a prpria mundanidade do mundo. Logo
no incio da anlise Heidegger precisa que a natureza exis-
tencial do mundo, ou seja, o facto de ser um carcter do
prprio Da-sein, no exclui que o caminho da procura do
1 ) No original francs frag-ide, que joga com ile, ilha. (N. do E.)
() Sein und Zeit, p. 65, trad. fr., p. 88.
161,.
MARTIN HEIDEGGER
fenmeno mundo deva passar pelo ente intramundano e seu
ser 1 ) Mas o fim da anlise resume toda a lio nesta decla-
rao: A interpretao do mundo perde definitivamente de
vista o fenmeno do mundo se, primeiramente, adoptar como
ponto de partida um ente intrarnundano ( 2 ) .
certo que tambm se no trata de circularidade no ra-
ciocnio nem de qualquer contradio. O caminho que passa
por o ente intramundano o seu ser, ou melhor, que iiber
ctos innerweltlich Seiene und sem Sein genommen, um
caminho que transpe esse por onde passa e que, nessa trans-
posio, sempre guiado pelo objectivo do mundo como exis-
tencial que assim o seu verdadeiro ponto de partida. Mas,
por outro lado, do outro lado da fenda descritiva o que
separa o sentido existencial do mundo do seu sentido simples-
mente transcendental ou metafsico (do seu sentido subs(is) -
ta(e) ncial) s se delineia ou anuncia pela prpria manifes-
tao do fenmeno do mundo, isto , na marcha da descrio.
Esta trilha, portanto, o que a guia, abre o que a mantm
aberta.
Esta anfractuosidade , na realidade, ela mesma dupla.
Para o dizer exteriormente, , por um lado, aquela em que
diferem o ente e o ser em geral e, por outro lado, aquela em
que so diferentes a determinao metafsica do ser como subs-
(is) t() ncia e a sua determinao existencial como mundo.
Mas tanto uma como a outra diferena (s) se recruza(m) . C om
efeito, o ponto de partida da determinao metafsica do ser
do ente como subs(is) t() ncia a tomada de caminho, a
tomada de ponto de partida no ente intramundano. O que
significa no ente suficientemente abandonado pelo horizonte
da prpria mundanidade para no aparecer mais do que como
subsistente no mundo ( 3 ) . A inaparncia do fenmeno do
mundo encontra-se aqui no seu ponto mximo mas sempre
assim que ela inicialmente e mesmo, num certo sentido,
assim que deve permanecer, ou seja, a descrio deva faz-la
aparecer. A supresso do horizonte-de-mundo em que o
ente encontrado, no significa efectivamente nem uma sinir
pies carncia nem uma advertncia. Se essa retraco deve ser
Pensada como uma carncia, ento a carncia deve ser pensada
como o que falta (o que preciso) , na anfractuosidade de
ser preciso e de faltar. Ser preciso (*) o mesmo que fal-
0) Sein una Zeit. p. 64, trad. fr., p. 87.
( = ) Sein und Zeit.,, p. 89, trad. fr., p. 116.
(*) Sein und Zeit, p. 65, trad. fr., p, 88.
( 4 ) No original, falloir. (N. do E.)
165
o SCULO xx
tar C 1 ) , diferindo1 apenas pela conjugao (Littr) . Tratando-
-jse do mundo, esta ruptura mesmo o que mais necessrio,
o que, num mesmo movimento e num nico sentido, preciso
e falta, sendo a Fenda a fenda o lugar onde a rocha falta
(Littr) que precede todos os conceitos de unidade e que
lhes precisa.
Nas vinte pginas da descrio do mundo no se trata
assim nunca apesar de certas aparncias de substituir
pura e simplesmente um ponto de partida existencial por um
ponto de partida subs(is) ta(e) ncial, como se o pensamento
fosse ainda precedido por outra clarividncia que optasse entre
os mtodos, ou de permanecer fiel ao mundo na medida em
que estrutural do Da-sein com excluso do caminho que
passa por (sobre) o ente intramundano. Trata-se, pelo con-
trrio, de permanecer na passagem que por (sobre) o ente
conduz ao seu ser, de permanecer na uay w y fi que transuma do
ente ao mundo.
Imperceptvel embora tudo cortando e separando a
diferena desta passagem e daquela que a metafsica efectua
do ente subsistente sua substancialidade. To imperceptvel
que, apesar da oposio bem ntida entre o ente-disponvel e
a coisa-subsistente, apesar da prioridade fenomenolgica do
Zuhanen (como ente primeiramente descoberto (2 ) ) sobre
a rs (a coisa da natureza, a matria coisa universal
simplesmente subsistente (3 ) ) , o leitor e talvez o escreve-
dor no podem, por muito tempo ainda, e sem o saberem
seno tratar de novo como uma coisa o utenslio (o Zeug)
de que o texto fala.
S algumas anfractuosidades deste alguns desvios
e recantos (Littr) so testemunho dele que suporta a
anfractura do mundo e testemunham-no com a inaparncia
correspondente do fenmeno. So torneios de frase, a
escolha das palavras e tambm o seu jogo rugosidades
do texto (asperezas e concavidades) que no so outras do que
o prprio tema, nem, igualmente, no outras. Falhas do texto
sobre a Fenda (*) . Observemos alguns exemplos, ou seja, entre-
mos na fenda, no estreitamento do que est aberto e decidido
mas nem patente nem plano, nunca dado ao abundante sol
da manifestao mas que, pelo contrrio, se dissipa no seu
ser-fendido, como, em Delfos, o tabique dual onde o prprio
sol aceitou, o mandato da paisagem.
C 1 ) No original, faittir. (N. ao E.)
(2 ) Sein una Zeit, p. 65, trad. fr., p. 89.
(3 ) Seiti und Zeit, p. 85, trad. f r., p. 112j
(4 ) No original, failles e faille. (N. do E.)
166
MARTIN HEWEGGER
7. Fragmentos sobre o frag-mento
a) Umwelt 1 )
Umwelt, o mtodo, o caminho para encontrar acesso
ao fenmeno do mundo;. Mas no. Desde o incio que a escrita
se inflecte, segue uma ruptura. No fala, simplesmente, de
encontrar acesso ao fenmeno mas de encontrar a sada para
o acesso: a justa sada fenomenal ... para o acesso ao fen-
meno da mundialidade. Um pouco de ateno, por assim dizer
montanhesa, ao que une esta estranha Ausgang fr Zugang s
indicaes metodolgicas do contexto imediato, por um lado,
e, por outro, s nossas observaes sobre a circularidade do
caminho, deve levar-nos a no falhar o desvio e o recanto da
noo de Um-welt.
Die methoische Anweisung hierfur (ou seja; para alcan-
ar a sada-para-o-acesso) wure schon gegeben. Das inder-
-Welt-sein und sonach auch die Welt sollen im Horisont der
urschnittlichen Alltglichkeit ls der nchsten Seinsart ds
Da-sems zum Thema weren. (2 ) Portanto, o mtodo parece
consistir em tomar um ponto de partida existencial, em oposi-
o a qualquer ponto de partida subs(is) ta(e) ncial, o qual
responsvel pelo facto de que, at agora, toda a ontologia das
Phnomen der Weltlichkeit ubersprmgt, salta o fenmeno
da mundialidade. Eis-nos aparentemente remetidos para um
conceito clssico de mtodo como deciso de princpio, atitude
fundamental em que algum se coloca, etc. A mesma apa-
rncia reforada pelo recurso, aqui bem manifesto, a um solo
primitivo anterior a qualquer elaborao j filosfica: efecti-
vamente, que mais recobre a expresso die nchste Seinsart
ds Dasemsl Este mais prximo significa correntemente:
que dado mais imediatamente, que se encontra ao alcance da
mo. Tratar-se-ia, portanto, de mudar apenas de horizonte
ontolgico em relao a qualquer metafsica, a fim de no
falhar um fenmeno fundamental que toda a tradio sal-
tou (o fenmeno do mundo) , e isto a partir de uma base
fenomenotlgica no sentido husserliano, ou seja, a partir da
base de um dado incontomvel e imediatamente acessvel.
(*) Sem una Zeit, 1 4, fim e 1 5 incio, p. 66. Apenas damos
neste pargrafo as referncias alems, sendo o que est em discusso
sempre o prprio tecido da escrita. Alm disso, as referncias como
JS no so, evidentemente, suficientes. S a se encontram para que
Possvel verificar o que citamos e tambm para que se possa
ur o prprio texto (na solicitao que dele faz a leitura) .
(" ) Sein und Zeit, 1 4, p. 66, 1.6-9.
167
O SCULO XX
Mas estas duas ltimas palavras detm-nos. Com efeito,
o imediatamente acessvel husserliano s o contudo no inte-
rior da reduo, isto , na reflexo absoluta, (reflexo - d a
conscincia e reflexo na conscincia: reflexo da conscincia
em si mesma, sendo o Bewusstsein, como em Hegel, simulta-
neamente o objecto, o sujeito e o elemento da reflexo) ( 1 ) .
Inversamente, a nd chste Seinsarte d s Daseins ignora absolu-
tamente a reduo conscincia e, por essa razo, tambm
no um simples dado imediatamente acessvel viso
fenomenolgica. O acesso, o- Zugang, to pouco imediato que
necessrio, primeiramente, conquist-lo (justamente na
sua rectido fenomenolgica, por qualquer coisa que o inverso
de um acesso: por uma Ausgang, por uma sada).
O que significa que nos encontramos novamente na cir-
cularidade. De faoto, o mtodo, a descrio do Umwelt como
o mundo mais prximo, mais imediato, o mundo> do Dasein
de todos os dias (2 ), esse mtodo que deve evitar que saltemos
o fenmeno do mundo e, desse modo, permitir uma efectiva
substituio de um horizonte ontolgico por um outro, o exis-
tencial pelo subs(is)ta(e)ncial, supe, por sua vez, que essa
substituio' tenha j sido operada, que tenha sido j encon-
trada a sada que rompe o horizonte de evidncia do ente
subsistente e, em primeiro lugar, o da conscincia.
O crculo , contudo aqui, com pouco de aparncia, simul-
taneamente ele mesmo (e assim o insucesso do pensamento)
e o circular orifcio de um desvio e de um recanto do pensa-
mento, a abertura da fenda. Conseguimos perceb-lo se obser-
varmos que o Um- , o Umherum que constitutiva para o
Umwelt perd eu too\ sentid o imed iatamente reconhecivel
ao perder o sentido espacial que anima os nossos conceitos
de meio, arredor cercania, ambiente, etc, (3). O que torna esses
P) Sobre o Absoluto e a Reflexo, cf. Hegel: Differenzschrift.
Reflexon ais instruments d s philasophierens, em particular Lasson, p. 17,
o desenvolvimento do tema. Dos absolut soll reftektiert werd en.
(- ) Die nchste1 "Welt d s alltaglichen Daseins ist ie Umwelt
(Sein und Zeit, loc. (At., p. 66).
(3) Der Ausruck Umwelt enthlt in em Um einen Hinweiss
auf Raumlichkeit. Das Umherum, .d as fiir ie Umwelt konstitutiv ist,
Hat jeoch keimen primar 'rumlichen' Sin (Sein und Zeit, loc. (At., p. 66).
Como se notou, rumlichen est escrito entre aspas. O que acontece
por designar aqui um sentido evidente da espacialidade, precisamente
aquele que deve a sua evidncia ao facto de o sentido do ser do espao
no ter sido interpretado aits d er Struktur d er Weltlichkeit, mas ser
tomado no horizonte da realidade natural. Neste sentido evidente, o
Umherum significa um uns Menschen e no esse Um do Um-
willenseiner do Da- sein na sua d iferena do Um zu, diferena que
a fonte do Entfernung descrita no |23, ele mesmo motor da Rumlichkeit
sob todos os seus aspectos.
168
MARTIN HEIDEGGER
conceitos habituais reconhecveis a referncia implcita mas
constante e evidente ao homem como realidade natural, ao
homem-no-mundo 0) como eixo da relao-ao-real em que, em-
bora se trate de uma relao, esse mesmo real imediata-
mente dado (e compreende em isi, por seu turno, tambm
imediatamente essa relao e o seu eixo). do crculo evidente
e absurdo da relao real-natural entre o real-natural e o
homem real-natural que nos faz sair, por uma sada feno-
menal justa, a perda de qualquer sentido imediatamente reco-
nhecvel para o Um- do Umwelt, o salto na sua estranheza.
Ao mesmo tempo que assim se realiza a inteno mais pro-
funda da fenomenologia husserliana na sua luta contra o hori-
zonte da atitude natural, o salto na Umwelt salta tambm por
sobre a infinitizao fenomenolgica ida conscincia. Com
efeito, esta no encontra uma sada fenomenal justa fora do
horizonte da subs(is)t()ncia, mas encerra-se no seu desa-
parecimento, isto , a obstruo negativa do mesmo horizonte
de evidncia. importante compreender que o Umwelt no
designa nada de comparvel noo husserliana, que Merleau-
-Ponty ir ainda por muito tempo prolongar, de ambiente, ou
seja, a disposio de uma srie de co-presenas intencional-
mente antecipadas (e, no entanto, no propriamente pre-
sentes) em torno do eixo da conscincia-de-coisa. Com a perda
de qualquer sentido imediato, isto , espacial, do prprio
Umhafte no Umwelt, o que desaparece nada menos do que
o prprio horizonte da presena, ou por outras palavras, nada
menos do que o sentido metafsico do ser.
Daqui derivam um certo nmero de consequncias. Em
primeiro lugar, a expresso: ontolgico, na frase: Die Wel-
tlichkeit d er Umwelt (d ie Umweltlichkeit) suchen wir im
Durchgang urch eine ontologische Interpretation d s nchst-
begegnenen wner-umweltlichen Seienden (2 ), no remete para
qualquer sentido conhecido do termo ontologia, embora onto-
logia tenha sido sempre um discurso sobre as condies-de-
-presena. Em seguida, resulta um ligeiro deslocamento da
dificuldade circular que h pouco se nos deparou, segundo a
qual a interpretao do mundo, embora forada a seguir um
caminho que passa pelo ente intramundano e seu ser, no
Podia, no entanto, tomar por ponto de partida um ente intra-
Humdano sob pena de perder definitivamente de vista o
1) Por consequncia, no o In- d er- Welt- sein, mas o clssico Ho-
mem-no-Universo, interrogado pela metafsica, de Pascal a Max Scheler,
a sua Stettung im Kosmos.
C) Sein und Zeit, loc. cit, p. 6.
169
o S C U L O xx
fenmeno do mundo 1). Este ligeiro deslocamento consiste
no facto de o caminho da interpretao ontolgica, isto , que
transuma do ente ao mundo, j no partir deste ente como
innerwltlich mas como irmer-umweltlich, deslocao' que
Heidegger sublinha pelo itlico. Atravs desta imperceptvel
transformao o crculo tornou-se o orifcio da fenda. Com
efeito, o wm/wettlich no de modo algum uma modificao
do innerwltlich. O U mwelt no pertence Innerweltlichkeit
mas o U mwelt die nchste Welto mais prximo' mundo
para o Dasein. A oposio da Welttichkeit no sentido existen-
cial (ou seja, como um carcter do prprio Dasein) Inner-
weltlichkeit (isto , ao horizonte d& subsistncia ou de pret-
sena) que era a oposio pura e simples entre o ente e o ser
em geral assim como a oposio da determinao metafsica
do sentido do ser e da sua determinao existencial, esta opo-
sio, que fazia andar volta o mtodo- da analtica, desa-
pareceu por completo graas a um ligeiro deslocamento e deu
lugar a outra dificuldade: ao difcil de uma diferena.
O que, de facto, agora se ope a Welttichkeit como
Weltlichkeit e a prpria Welttichkeit, mas como U m-Weltlich-
keit. Mas no se trata de uma oposio, visto que nenhum dos
sieus termos se encontra estabelecido: uma diferena (e
mesmo A Diferena) segundo a qual o Dasein quebrado (no
vem a quebrar-se, porque, antes desta quebra, ou de outro
modo, ele no a unidade que ) na sua estrutura funda-
mental de In-der-Welt-sein.
b) O Transcendenz schlechtm
Na realidade, tornasse necessrio saltar iate ao pargrafo
69 (que , de modo geral, o pargrafo recapitulativo e nodal
de todos os temas de S ein und Zeit) para ver aparecer a quebra
do Dasein em Welt e U m-welt, em U mwillenseiner e jeweiligen
U m-zu e para reconhecer a abertura ao ser no seu sentido
de Diferena (2 ).
Num sentido, ou antes, segundo uma verso, sobre uma
vertente, o mundo um existencial como pretendia o incio
do livro, que nisso apoiava o seu mtodo. A recapitulao
do pargrafo 69 realiza esta vontade, levando a dizer que
Dieses (o Dasein) ist existierend seine W<.
C1) Ver atrs, pp. 165-166.
(-) O comentrio que se segue o de todo o C do pargrafo 69.
Mais particularmente, a leitura da 2." alnea desta subdiviso C,
desde: Das Dasein existiert umwllen eines S einkonnenes seiner selbst,
at: Dieses ist existierend seine Wel. (S ein und Zeit, p. 364).
110
MARTIN HEIDEGGER
Mas a frase deve pelo menos ser compreendida como o
uma frase especulativa em Hegel. Neste sentido, ela entende
o ist como1 um ist~et (um sein-lassen) e pretende afirmar que
o Dasein no s o> seu mundo (como vulgarmente se diz e
imitando apenas um pensamento, que o homem a sua pro-
priedade ou que o capital), mas faz o mundo ser este, f-lo
ser na sua mundialidade. Assim, o mundo qualquer coisa do
Dasein, seu (seine Welt). da unidade original dos
modos de abertura, unidade que ele mesmo , que o Dasein
retorna sempre ao ente que se encontra e que s se encontra
porque est j-escoberto em e por esse retornar-dum-
-mundo (1).
No entanto, alguma coisa coloca a frase heideggeriana ao
abrigo da absolutizaco (isto , da permanncia inapreensvel
no desaparecimento) do horizonte da subsi(is)ta(e)nciali-
dade, horizonte que ainda engloba mesmo a frase especulativa
hegeliana, segundo um destino que se ir repetir exactamente
em Husserl. Algo impede que o mundo eomo< existencial no
seja ainda um avatar do> transcendental (a saber, O1 seu avatar
absoluto) e permite a Heidegger op-lo ao prprio horizonte
do transcendental nomeando-o o Transcendente (noutras
passagens: o Transcendente puro e simples).
O mundo chamado transcendente exactamente no sen-
tido em que o Dasein, ou ento o prprio S ein, so chamados
transcendentes. E, de facto, de uma nica e mesma trans-
cendncia de que se trata em cada um deles, como talvez
acabemos por compreender. Mas, de momento, o que nos soli-
cita a compreenso deste mesmo termo transcendncia
e a razo porque justamente ele que oposto a um termo
da mesma famlia (o transcendental).
Transcendental o termo que designa na filosofia o prprio
ser para alm da multiplicidade das suas determinaes cate-
goriais, por exemplo, como o uno ou o verdadeiro. Mas, nos
modernos, transcendental (particularmente em Kant, que foi
o nico a fazer a sua teoria explcita do ponto de vista do que
faz o prprio sentido do ser para os modernos: o Beivusst-sein)
significa que a unidade originria pr-categorial ainda pro-
curada e compreendida como um transcendere, que, desta
vez, o iber sich inhaus da conscincia. Wie kann das Bewus-
stsein ilber sich inhaus? a questo que leva ainda Husserl
ao desespero e no se diz que a fenomenologia tenha alguma
vez sido outra coisa do que o herosmo do triunfo sobre esta
(') Ekstatish halt sich die Zeitlichkeit schon in der Horieonten
ihrer Ekstasen und kommt, sich seitigen, auf das in das Da begegnende
S eiend zuruck (S ein und Zeit, loc. cit., p. 366).
171
O SCULO XX
questo no prprio sentido da questo e, por consequncia, no
interior do seu desespero.
Que significa o uber swh inhaus dos modernos? Que o
sujeito a transposio de si mesmo na posio objectiva de
qualquer ente, ou seja, que a subjectividade produo de si
como objectividade do objecto'. A subjectividade, ao ser assim
produo de si como prprio horizonte de qualquer a, priori
objectivo, permanece precisamente em si mesma: im-mcment.
A subjectividade transcendental o ser como' imanncia.
B precisamente ao transcendental no sentido ida questo: Wie
ko^mmt ein SubjeJct hinaus zu einem Objektf, ou seja, no sen-
tido da imanncia da subjectividade, que Heidegger ope o
mundo (ou o Dosem,, ou o ser) como transcendente 0).
Convm ainda ver que o mundo como transcendente,
isto , assim como o Dasein, se ope ao que ao mesmo tempo
origem e essncia da subjectividade transcendental como ima-
nncia, ou seja, imundialidade do sujeito. O mundo ope-se
ao weltlosem Subjekt. A questo reside portanto em saber o
que fora desde a origem O' sujeito Weltlosigkeit.
Sabe-se, bem entendidos que as coisas comearam assim
para os modernos (para nada dizer dessa aliud do ens que
j a anima-qucdammodoi-omnia de So Toms de Aquino,
nem desse Naus como Psuchs Nos no livro alfa da Meta-
fsica de Aristteles) pela travessia em linha recta da flo-
resta mundial na primeira Meditao at ao ponto de Arqui-
medes
''ou seja; o ponto, o que j no tomado em nenhuma
abertura e nenhuma pode engendrar, mas que apenas, se tomado
de uma infinita velocidade, como profetizava Pascal, engendra
a esfera terica moderna e assim ponto de Arquimedes: o
que permite o equilbrio da alavanca, o que permite que uma
fora terica que a de todos os conceitos do infinito e que
pesa ao infinito do mundo, contrabalance e levante o prprio
mundo, contenha (reduza e construa) o Mundus como Fabula
C1 ) Cf, toda a pgina 366. Em particular: Dass derc/leichen Sei-
enes mit em eigenen Da der Existens entdeokt ist, steht nicht im
Belieben ds Daseins. O Dass da descoberta, o Factum Veritatis , por
assim dizer, mais antigo que o Dasein (ainda que este seja o seu
nico e exclusivo Da,, o local e que se no trate de uma ordem das
coisas que englobasse o homem esse ente natural, ou essa criatura
mas apenas de que o homem no ele mesmo ainda algo de humano:
antes a anterioridade do Factum Veritatis, a berma do verdadeiro, o
orifcio, a fenda). O resto, isto , a oposio de um tal transcendente
i-mundialidade do sujeito e a dos a priori mundiais (Beeutsarrilceits-
-befjiige) ao Netzwerk von Formen... das einem Material ubergestulpt
wir,, da que deriva.
1 72
MARTIN HEIDEGGER
Mundi e, no entanto, se veja arrastado ao infinito na simples
tangncia deste contramundo e do mundo, problema das
tangentes ontolgicas do Apeiron e do Pras para o qual no
existe, desta vez, soluo moderna possvel, isto , soluo em
que inierventu infiniti finitum eterminatur
e sabe-se igualmente que as coisas acabaram exactamente
do mesmo modo, mas desta vez numa vontade consciente de si
mesma, pela separao da regio-mundo1 e da regio cons-
cincia atravs de Husserl e pela reconstruo total do
mundo como um ndice das formaes de conscincia, tarefa
infinita do trabalho fenomenolgico de que deve resultar, para
o mundo moderno, a produo da sua mundialidade, cuja au-
sncia at ao presente, e seja qual for o desenvolvimento da
matemtica, da cincia da natureza e da cultura modernas em
geral (incluindo o desenvolvimento da filosofia moderna como
Fabula transcendentalis) fez da Europa esse continente das
cincias, a ptria de A Crise
viso proftica: atravs das nossas crises (polticas e
culturais), atravs da vontade marxista de liquidao do ideo-
lgico, isto , de liquidao da produo in-finita (indeter-
minada e nunca comeada) do prprio, ou ainda liquidao
da sua apropriao im-prpria como propriedade em proveito
da apropriao prpria do prprio como tarefa finita (defi-
nida e comevel porque essencialmente completa);
atravs do antidiscurso que, retomando os materiais da
lingustica, da psicanlise e da matemtica, mas no provindo
deles (provindo ou do marxismo1 ou de parte nenhuma:
coragem de poca indeterminada e nua) ocupa o lugar, o buraco
vazio deixado pelo decepar da metafsica e procura a semear
uma semente que j no seja a da in-finidade;
em qualquer caso, atravs da destruio da conscincia
e do desejo de uma arquia que contenha, os sistemas de infini-
dade, em expanso formal contnua, de que se compe o uni-
verso do Esprito (do Cogito, do moderno Dasein), ao mesmo
modo que o mundo no' qual respiro no deixou de conter o
universo de Newton;
em qualquer caso, por consequncia, atravs da investiga-
o da escrita do materialismo (ou do materialismo da escrita),
a Europa de facto a ptria de A Crise, situao que suporta
inclusivamente na maneira de fazer face crise e de tentar
bastar-se a si mesma, visto que pode falhar novamente (e
mesmo num certo sentido no pode seno falhar) a interpre-
tao desse movimento historial que est em vias de nos
abalar a todos, no de qualquer modo, mas joeirando e sepa-
rando tudo o que pensamos e fazemos (no entretexto de todos
173
O SCULO XX
os textos e no lusco-fusco dos nossos dias) o que, por um
lado, obedece ainda ao infinito e o que, por outro, espera o
Levantamento da Finitude (espera sem esperar, espera ime-
diatamente, comea, ou antes, favorece: aragem boa nas nossas
palavras e algo de seguro nos gestos)
'Carncia que se assinala de vrios modos: em primeiro
lugar, no termo cincia (cincia marxista) escolhido para
recobrir (e que recobre efectivamente) esse esforo de escrita
finita; em seguida (e identicamente) numa ausncia de segu-
rana perante o prprio infinito, pronto a ser acolhido na
escrita, quer imaginando que esta se possa edificar sobre (ou
como, segundo as variantes) uma epistemologia (conceito que,
contudo, impossvel de arrancar metafsica), ou seja, ima-
ginando que o pensamento se pode demonstrar a partir da
cincia, quer (na face mais literria do empreendimento, mas,
na verdade, pouco importa que este seja concebido, com hesi-
tao, antes como literria ou antes como cientfica) libertando
a escrita para a re-inscrio indefinida, segundo um registo
igualmente indefinido de transformaes de todogi os textos
e de todas as prticas da tradio sem excepo-, em que o
centro continua flutuante (e -devendo permanec-lo, pelo
menos assim se pensa, por muito boas razes) como o lugar
nulo e no entanto no nulo de onde parte e aonde retorna
todo o movimento! do 'empreendimento
mas, com isso, teremos escrito o verdadeiro1 Ulisses,
a Rememorao, no dia Origem mas do Imemorial, num deli-
neamento onde j nada se trama, portanto na simples derrota
dos textos e no alargamento de uma imensa Amnsia Central,
que j s tem por oriente a desorientao regulada do ocidente,
mas por uma regra que funciona sozinha e que mais no
do que a maquinaria de um vazio, a menosi que seja (e ime-
diatamente) preenchida no seu vazio e substituda muito cal-
mamente pela maquinao de um ponto vermelho, e o oriente
tornado o Leste...
Sabe-se. Ou devia saber-se. Ou melhor, e em qualquer
caso: tudo o que se pode chamar contemporneo, formar poca
e definir uma gerao se rene .em torno do saber que a luta
por um mundo (por O Mundo) primeiramente e, em certo
sentido, nunca deixa de ser, a luta contra a Weltlosigkeit (da)
metafsica e, sobretudo, contra o weltlosem Subjekt dos mo-
dernos. no entanto intil tentar apoderar-se desse saber
e, mais ainda, tentar explor-lo por quaisquer espcie de em-
preendimentos de sucesso-da-metafsica, enquanto o pensa-
mento no for capaz de captar a origem e a forma desta
i-mundialidade (desta imundcie). Ora, esta origem, encon-
MARTIN HEWEGGER
tra-se no que constitui a essncia da metafsica, ou seja, na
produo da diferena do ser e do ente no esquecimento desta
diferena.
c) A Diferena
Na passagem de Sein und Zeit de que nos ocupamos, o
mundo como j aberto (s etwas wie erschlossene Welt...
schon ekstatisch erschlossen...) encontra-se implicado no que
torna possvel en ursprnglichen Zusammenhang der Um-zu-
-Bezuge mit em Um-willen (1). O conjunto' idos Traits-um-zu
o conjunto dos traos que sempre-j ligam a prxis do
ente, como ente disponvel, mundialidade, Weltlichkeit, mas
como Umweltlichkeit. Como Um-weltlichkeit, como circum-mun-
dialidade e circa-mundialidade (como sistema inaparente dos
arredores: (eircum) em que o ente praticado em vista de
(circa), a mundialidade anuncia-se apenas como o cerco' que
assedia do modo mais prximo1, isto , tambm do mais inaces-
svel, o Dasein; ou, de outro; modo, como o sistema de reata-
mento do ente que se retira enquanto totalidade ela mesma
e no deixa dis-cernir, no vislumbre deste retraimento, seno
os conjuntos-de-reataniento que no so (ainda)o mundo (ou:
que so (j) o no-ainda do mundo). A Um-weltlichkeit, como
obsesso do mundo, sempre a inaparncia do mundo ela
mesma em fuga & permitindo que nesta fuga ocorra o encon-
tro do ente como ente disponvel sob totalidades, B por isso
que a perseguio do fenmeno do- mundo' ao longo' da expo-
sio da Um-weltlichkeit por seu lado uma srie de reto-
madas onde se propaga o mesmo insucesso': assim, a reto-
mada anunciada no 16, que repete a retomada anunciada no
15 e repetida na retomada anunciada no 17 (2 ).
A que se deve esta particularidade da Um-weltlichkeit que
faz com que, embora seja die nchste Welt (ou por o ser), s
na retomada ou no insucesso deixa 'aproximar a Weltlichkeit?
A que, no conjunto dos Traits-um-zu, o Dasein est entregue
ao ente (an Seiendes uberantwortet), ou, dito de outro modo,
est abandonada no horizonte do presente (Das horizontale
Schema der Gegenwart wird bestimmt durch das Um-zu).
C) Sein und Zeit, loc. cit., p. 365.
(2 ) No 15, a retomada implicada na insatisfao das questes
que a ltima alnea coloca (Aber mag auch... ein Weg zur Aufweisung
ds Weltphnomens?), p. 72. Do mesmo modo, o 16 concludo pelas
Questes que fazem ressaltar a prablematicidade do fenmeno do mundo e
remetem parai uma anlise mais concreta, p. 76. Por fim, as trs
ultirnas linhas do 17 terminam ainda pela re-abertura da mesma questo,
P- 83.
1 1 1 5
O SCULO XX
certo que este 'abandono o abandono longe do ser, isto ,
para o Dosem longe do Um^willen seiner, mas significa, no
entanto, que comear pelo ente incluindo comear a ontologia
pelo ente, como sempre fez a metafsica, comeando sempre
na evidncia do presente, ou seja, subs(is)ta(e)ncialmente e no
ex(i)stencialmente e, por conseguinte, comear, continuar e
acabar por falhar o mundo, no uma aventura a evitar.
Trata-se mesmo de uma aventura onde nos empenharmos: se,
pelo\ pretendermos elevarrno-no verdadeiramente es-
cuta do mundo. Este, com efeito, no mais do que a diferena
da Weltlichkeit como Um-weltlichkeit e como [/m-weltli-
chkeit.
Embora no pargrafo, mas tambm em toda a obra, a
Weltlichkeit propriamente dita parea encontrar-se do lado
do Dasein, do lado do Um-witten, por conseguinte do lado da
existenciaidade, ou seja, afinal, do lado do prprio ser, no
entanto (pelo menos na anfractuosidade do 69, mas, por via
indirecta, na anfractuosidade de toda a obra, seccionada em
uma anlise do Um-zw, que se concentra na determinao da
Sorge, e numa retomada mais propriamente ontolgica que
se concentra a onde nos encontramos, isto , no problema
temporal da transcendncia do mundo, que uma anlise do
Umwillen) torna-se cada vez mais manifesto, para quem no
l um texto sem os seus desvios e os seus recantos, que a
Weltlichkeit apenas se anuncia na unidade do Um-zu e do
Umwillen. Ou seja, na unidade do presente (ou antes, da Gegen-
wart, da viglia no em vo) e do balanceamento da consu-
mao e da futurao (Ge-wesenheit e Zn-kunft). Ou, ainda
por outras palavras, a unidade do horizonte do ente mas dora-
vante mais esvaziada de coisas-presentes do que as extremi-
dades de uma tarde abandonada apenas ao limite de um fim
perfeito e do cruzamento', de onde precisamente ela finda, do
fechado do ser e do aberto do> ser, firmamento da histria intei-
ramente acima do> nosso olhar a que, no entanto e unicamente,
o cuidado faz face como uma rbita vazia a outra.
A espera (a Wart da Gegen-wart) descobre, afirma efecti-
vamente o texto, aquilo com que se preocupa, no retorno ou
no prprio cruzamento da consumao (se, decididamente,
assim traduzirmos o Ge-wesen) e da fruio, ou futurao, ou
A-venida (zu-kunft) do mundo como tal, que aqui o nome
do ser que o seria, se mundo no fosse o conjunto desta
diferena. A dificuldade reside em seguir aqui um duplo retrai-
mento e uma dupla pre-cedncia. O futuro e o passado (digamos
agora assim, para todavia avanarmos) que eles mesmos no
so seno no seu. desvio, tm certamente, se se pode arriscar
176
MARTIN HEIDEGGER
semelhante ingenuidade, a primeira precedncia: so o que
exorbita a espera e incessantemente esvazia o em-face a que
ela faz face, tendo sempre tornado j impossvel no s que
tudo comece na distribuio de um sujeito e dos seus objec-
tos, mas mesmo no vorhanden que o horizonte de possibili-
dade dessa distribuio e mesmo no zuhanden. Weder vor-
handen noch zuhanden, esta caracterstica do prprio mundo
vale tambm mesmo para o modo como o ente encon-
trado. O que significa que o ente encontrado no cerco de uma
deciso imemorial, cujo gume agiu per todo o lado e de todo
o lado se retirou, abertura que silenciosamente o encerra. Estar
ele mesmo aberto para esse gume no mais do que uma possi-
bilidade para o Dasein, deixado em pousio pela mais imensa
parte do que se chama, portanto erradamente, a histria uni-
versal dos povos, porque iso apenas se produziu nos Gregos
e, a partir deles, aps esta possibilidade ter ficado sem her-
deiros por vrias vezes na cultura ocidental, s se reproduz
plenamente (melhor que nos gregos si hoc ici fas est) nos
nossos dias.
O que significa tambm que apenas nos nossos dias se
torna novamente possvel a contra-espera de um presente,
se torna possvel a precedncia de um cuidado, ou seja ainda,
a precedncia do ente nos trabalhos de reatamento a tota-
lidades que sejam as do no-ainda de um mundo. afinal
seriamente que o recruzamento acima do nosso olhar (mas no
da nossa escuta nem da nossa escrita) do passado e do futuro
se difere para deixar ser ainda uma vez um presente, com
poderes, coisas-a-fazer e uma fora to inexpugnvel como a
da pura infelicidade: a esperana.
Concluso
A questo ltima , efectivamente, a do retraimento e a
da fecundidade. Levantar aqui essa questo, onde mais no
fizemos do que iniciar a leitura da primeira obra heideggeriana,
j com mais de quarenta anos, pode parecer ilegtimo. Seria
necessrio ter em co-nta a vintena de livros que se lhe segui-
ram e que fazem frente no s ao conjunto dos textos da
metafsica mas tambm essncia da poca que vivemos (numa
questo da tcnica incessantemente retomada). Seria neces-
srio mostrar que e como este pensamento o primeiro que
no forado a repetir a excluso platnica da poesia e da
arte, o primeiro que desloca o prprio fundamento das questes
sobre a teologia na sua relao com a filosofia, Em suma,
seria preciso toma-lo na sua amplitude j desenvolvida, to
177
O SCULO XX
manifesta que se impe mesmo aos seus adversrios, para
poder interrog-lo sobre a sua fecundidade. E, certamente,
num sentido banal que no podemos dispensar, isso que acon-
tece. Mas a questo que, para terminar, queremos colocar no
toma exactamente a fecundidade num sentido banal: liga-a
expressamente ao retraimento e pode, nessa qualidade, ser
levantada simplesmente a partir de Sem und Zeit.
Em primeiro lugar, esse primeiro livro encontra-se ele
mesmo em retraimento em relao a toda a obra que se seguiu.
No s porque a linguagem que ainda fala (ou seja, a da meta-
fsica) acabou por ser abandonada cada vez mais resoluta-
mente, mas tambm, e sobretudo, porque o conjunto dos textos
posteriores se inscreve, apesar desta ruptura em Sein imd Zeit
e porque qualquer livro de Heidegger deve ser primeiramente
entendido como uma parte de Sein und Zeit.
Esta estranha relao do anterior e do posterior, do
incio e do seguimento, deve-se ela mesma, evidentemente, a
que o horizonte da metafsica no se abandona pura e simples-
mente, nem a custo de uma resoluo ou de uma revoluo.
Nisso, Heidegger, a quem todos devemos a luz que podemos
possuir sobre o que figura o nosso destino, isto , sobre o fecho
da filosofia ocidental, foi talvez o nico a encontrar ainda essa
luz obscura e a no a confundir com um facto de cultura.
Quando todos passaram a outra coisa, ele mergulha ainda
no entrecruzamento dos prprios fechado e aberto. Mergulha
no retraimento e procura a realizao do retraimento.
O que se assemelha, bem entendido, a um retraimento.
Durante esse tempo presume-se, no entanto, que se faz
todos os dias o que se presume ser a histria e intima-se o
pensamento a mostrar-se presente e, assim, justificado, no
meio destes acontecimentos importantes. Mas ele no est a:
no possvel surpreender Heidegger nem nos congressos, nem
nas semanas, nem nos manifestos, nem nos tribunais da
intelligentsia europeia. Onde se encontra ele? Na oficina de
Sein und Zeit, na oficina que re-abre ainda e ainda a inter-
-rupo de Sein und Zeit e Zeit und Sein.
Mas no perdido na sua obra, pelo contrrio: traba-
lhando e trabalhando sozinho, para manter abertas no retrai-
mento em que se encontram, a histria e a escrita que para
qual, entretanto, se tornaram simples instrumentos ao servio
de diversos empreendimentos (e pouco importa que estes sejam
mais ou menos cristos ou mais ou menos marxistas). Neste
retraimento que, inversamente, nada empreende e de que nem se-
quer se pode extrair uma filosofia de Heidegger (por ausn-
cia de qualquer problema do conhecimento, de qualquer
178
MARTIN HEIDEGGER
moral, de qualquer esttica, etc.,), o pensamento que per-
segue a questo sobre o sentido do ser ignora tambm qualquer
espcie de retraimento. H j muito que esses conceitos, que
assentam na determinao metafsica da aco e do tempo,
perderam a cor frente a ela.
Mas esta descolorao supe que a prpria histria, que
a do ser como mundo, se no confunda com o lugar nulo e no
nulo que serve de centro terico s inscries reversveis em que
a inteligncia contempornea se joga. A, onde est, mantm um
vcuo, executa uma ltima infinitizao, confunde o mundo do
jogo com o jogo do mundo, Heidegger conserva a unicidade e
a plenitude de uma maturao do ser que o seu sentido de dife-
rena tornou to completo como na palavra de Parmnides.
precisamente por isso que a questo sobre o ser um escn-
dalo para a poca, que mesmo capaz de exprimir a sua rejei-
o em termos heideggerianos, pois, de facto, compreende-se
mal como algo como a unicidade do ser enquanto histria do
mundo poderia ser pensado sem que reine que venha a rei-
nar o sentido metafsico do ser, ou seja, a divina, paternal,
lgica e capitalista presena. E, no entanto, isso que se
passa: a Diferena tomou as suas prprias precaues acima de
ns (apesar de ser apenas no Dasein que ela est) e a obe-
dincia, a finitude que ela inscreve na sua fenda, onde falta,
necessria O), de facto, a presena.
INDICAES BIBLIOGRFICAS
(N. B. Estas indicaes em. nada constituem, uma bibliografia
heideggeriana, ainda que sumria. Limitam-se aos textos que nos pare-
cem indispensveis para a compreenso das Observaes que propu-
semos).
1. Textos de M. Heidegger e tradues francesas:
a) Sobre a relao Husserl/Heidegger:
Sein una Zeit (Jahrbunch fiir Philosophie und phnomenologische
Forschung, vol. VIII, Niemeyer Verlag, Tubingen, 1927). Trad. f r. L'tre
et l Temps, por R. Boehm. e A. de Waelhens, Gallimard, Paris, 1964
(tomo I).
Lettre Richardson e Mon chemin de pense et Ia phnomno-
logie, trad. fr. de Jean Lauxerois e Claude Roeis, in Ls tudes philoso-
, n." l, Janeiro-Maro de 1972 (P. U. F.).
O) No original, /cm. (N. do E.)
179
O SCULO XX
b) Sobre a Diferena:
Erileitung eu Was ist Metaphysikf, vorangestellt 1949, der 5.
Auflage ds Vortrages. Trad. fr. de R. Munier, in Questione I, Gallimard,
Paris, 1968: Introduction : L retour au fondement de Ia Mtaphysique.
Wass heisst Denken? Niemeyer, Tbingen, 1954. Trad. francesa
de G. Granel e A. Becker: Qu'appelle-t-on penserf, col. Epithme,
P. U. F., Paris, 1959.
Zur Seinsfrage (Vittorio Klostermann, Frankfurt/Main, 1956).
Trad. f r., de G. Granel in: Question I, Gallimard, Paris, 1968.
Die onto-theo-logische Verfassung der MetaphysiJc (G. Neske,
Pfiillingen, 1957). Trad. f r. de A. Prau in: Questions I, Gallimard, Paris,
1968: La constitution onto-tho-logique de Ia Mtaphysique (segundo
texto de Identit et Diffrence).
2. Instrumentos e Estudos:
Feiek (Hildegard): Index zu Hedeggei"s Sen und Zeit, Niemeyer,
Tbingen, 1961, 2.a edio, 1968.
Granel (G,): Edmund Husserl, artigo da Encyclopaedia Universalis
(vol. VIII) retomado em: Traditionis tradltio, Gallimard, Paris, 1972.
Remarques sur l rapport de iSein und Zeit et de Ia phnam-
nologie husserlienne (in: Durchblicke, obra colectiva de homenagem a
M. Heidegger por ocasio do seu 80. aniversrio. V. Klostermann, Frank-
furt/Main, 1970) retomado in: Traditionis traditio, Gallimard, Paris,
1972).
V
OS EXISTENCIALISMOS
por Christian Descamps
O existencialismo no um pensamento unificado. O termo,
vago, permite agrupamentos prematuros. O que haver de
comum entre o muito cristo Gabriel Mareei, signatrio de um
manifesto a favor da Arglia francesa, e Sartre?
Para falar com propriedade (mas talvez seja um mito, o
falar propriamente), seria preciso situar a corrente filosfica
que se inspirou na fenomenologia de Husserl.
O prprio Lukcs, em Existencialismo ou Marxismo, esse
panfleto grosseiro e violento, caracteriza essa corrente como o
desenvolvimento das filosofias antiprogressistas, como a iluso
de uma terceira via entre o pensamento burgus e o marxismo.
Esse juzo, rpido e apressadamente sociolgico, bem pouco
marxista, em nada o honra.
conhecida, de facto, a rvore que Emmanuel Mounier
estabelece em Introduction aux existencialismes. Scrates, os
Esticos, Santo Agostinho so as suas razes. O trono rene
Pascal, Maine de Biran, Kierkegaard e a fenomenologia (Hegel).
O primeiro ramo suporta Nietzsche, Heidegger e Sartre. O se-
gundo, Jaspers, Gabriel Mareei e o personalismo. Mounier acres-
centa (omitindo-se) toda a tradio espiritualista: Pguy, Blon-
del, Bergson.
Este panteo est longe de ser exaustivo. De facto, Mer-
leau-Ponty est dele ausente e Pguy pouco tem a ver com os
temas mais importantes do existencialismo. Alargar a Des-
cartes esta lista dar provas de um laxismo exagerado na pro-
cura das cenas originrias filosficas. Mas esse trabalho intil;
u se alarga de tal modo a noo de existncia que qualquer
romancista de segunda ordem pode nela figurar, ou nos refe-
181
O SCULO XX
rimos a uma classificao dita filosfica onde Gabriel Mareei
figura.
Tentaremos situar historicamente o existencialismo incin-
dindo sobre os seus dois pensadores mais importantes: Sartre
e Merleau-Ponty.
1. Jean-Paul Sartre
Durante vinte anos, a fenomenologia triunfou na sua ver-
so sartriana.
Foi o triunfo, com uma mistura de autocrtica, da filosofia
existencialista O). Desde h dez anos que um estruturalismo
difuso passa sob as pontes do saber filosfico. J no se fala em
termos de conscincia, de sujeito, mas de regra, de cdigo, de
estrutura. J no se pensa que o homem faz o sentido mas que
o sentido advm. O existencialismo tem o vento pela proa. As-
sim, Sartre faz figura de av excludo de uma nova gerao
de filsofos como Foucault ou Deleuze: um dos seus denomina-
dores consiste em no o mencionar na batalha que hoje se trava
contra um certo estruturalismo. Mas a influncia de Sartre nunca
se limitou ao domnio exclusivamente universitrio. Promovido
a chefe de fila da gerao sada da resistncia, a que apertava
at sangrarem os amanhs para os obrigar a cantar ( 2 ), Sartre
foi entronizado grande chantre das caves de Saint-Germain.
Traidor sua classe, foi atacado pelos comunistas por no
ser do Partido. O animal perigoso, escreve Kanapa em
1947; criticado igualmente pela ultra-esquerda como compa-
nheiro de estrada do Partido (3), foi alvo da reaco bem-pen-
sante. Pierre de Boisdeffre escreve numa revista com um ttulo
prometedor, lbert e 1'Esprit, que os pacficos sonhadores de
Esprit ( 4), inflamados por um progressismo incontrolvel e
beato, olham com inveja para os lados do caf de Flore e so-
nham, noite, com Simone de Beauvoir. O sucesso de O Segundo
Sexo entre os invertidos e os excitados de toda a espcie impede
Domenach de dormir. Perante este prurido de psicanlise moda
anglo-saxnica, comeamos a ter saudades das velhas brejei-
rices franceses...
O) estranho que alm-Mancha Sartre e Merleau-Ponty sirvam
actualmente dei cavalos de batalha contra a escola neo-positivista de
Oxford.
( 2 ) Prefcio a Anden Arbie, de Nizan.
( 3) Os ataques mais coerentes provieram do grupo Socialismo
ou Barbrie.
(* ) Mistura Ls Temps Modernes e Esprit.
182
OS EXISTENCIALISMOS
Significar isso que essas tempestades se passam num
copo de gua, que o sucesso de Utre et l Nant se deve ao
facto de pesar uma libra, medida prtica numa poca em que a
manteiga tinha um peso' paralelo? Por certo que no, mas no
se pode desligar uma filosofia do empenhamento do seu peso
real na histria, mesmo, e sobretudo se esses laos esto longe
de serem evidentes entre o ensaio de ontologia fenomenolgica e
as suas bases.
Encontramos, com o sartrismo, o caso de uma filosofia
cujo impacto foi multiplicado pelas actividades conexas do fil-
sofo: poltica, vida militante, teatro, jornalismo...
Sartre arranjou grandes antepassados: Santo Agostinho,
Kierkegaard, Husserl e Heidegger foram sucessivamente con-
vocados ao tribunal da histria filosfica para outorgarem os
diplomas de paternidade ontolgica. Mas inegavelmente o
ltimo par desta cena fantasmtica o que profundamente mar-
cou Sartre, sendo o terceiro parceiro o prprio Hegel.
Filosofia fla Conscincia
Sartre constri, desde La Transcenance de VEgo, uma
filosofia da conscincia. Nessa obra, procura demonstrar que o
Ego no est nu conscincia mas no exterior, no mundo, onde
encontra o seu lugar de existncia.
A o Eu aparece em perigo no mundo e, embora Sartre
pretenda superar a dualidade sujeito-objecto, o Mundo e o Eu
continuam a ser ob-jectos para a conscincia absoluta, fonte
ltima de existncia.
Assim, a existncia que se encontra colocada no centro
da sua filosofia. J no se parte de Deus ou do mundo, cons-
tata-se essa evidncia primeira: Eu existo. E Sartre lana-se
numa investigao sistemtica de todos os pontos de vista pos-
sveis sobre a existncia. O seu acto primeiro aceitar a preg-
nncia do real; permanecer-lhe- fiel.
Simone de Beauvoir descreve Sartre em Montparnasse:
Aron apontou o seu copo: Vs, se fores fenomenlogo podes
falar desse cocktail e isso filosofia. Sartre empalideceu de
emoo, era o que desejava: falar das coisas tal como as tocava
e que isso fosse filosofia...
Sartre, como se sabe, recusa a ideia da natureza humana,
fundamento slido de qualquer humanismo. A existncia precede
3- esscia cada acto humano inscreve uma ideia de humanidade.
A- conscincia no se define como modalidade particular do pen-
samento, mas como a exploso do ex-istente para um mundo. Tra-
183
O SCULO XX
OS EXISTENCIALISMOS
ta-se de uma ideia prxima da intencionalidade husserliana; a
conscincia acto de exteriorizao de si. O que mantm a cons-
cincia a certeza reflexiva do cogita, estilhaado certo, mas
tranquilizado por se provar na sua facticidade. Eu sou, aqui
e agora.
Porqu eu, sem justificao, absurdo, estou a mais para
toda a eternidade, suspira Roquentin, o anti-heri de A Nu-
sea. Abandonado- num universo sem perspectiva, a contingncia
desemboca naquilo a que Heidegger chama derrelico, o ser
abandonado, sem recursos.
Mas, com o tema da angstia, do absurdo, a descrio da
existncia torna-se a questo do Ser. O estilhaamento desse
nada absurdo que a conscincia de existir no mundo coloca
a questo de Utre et l Nant.
Sartre pergunta: Haver uma conduta que possa revelar-
-me a relao do homem com o mundo?; e responde: No,
semelhante conduta no existe. Somos, portanto, remetidos
para o facto transcendente da no existncia de tal conduta.
Eu 0) experimenta-se como impossibilidade de se justi-
ficar pelas suas tarefas. Eu o fundamento de tudo o que ele
v, do que vive, visa, mas no ele mesmo a expresso de um
pro-jecto que justificasse a sua contingncia. Sartre indica que,
senhores de Lyon, os operrios do Croix-Rousse no sabem que
fazer da sua vitria. Os seus infortnios parecem-lhes naturais;
eles so, eis tudo. Sofrer e ser uma unidade, a infelicidade no
se encontra distncia, contemplada, dada como anulvel. S
a separao de si cria a possibilidade da aco. na relao a
si, tanto como na relao com o mundo, que o existente toma
conscincia da sua liberdade.
A liberdade abre-se em torno de rnim como campo de aco.
Existir superar a existncia em direco impossvel essn-
cia, mas esse movimento tambm transcendncia. A minha
liberdade a minha presena na profuso de ser, a transmuta-
o do no sentido em sentido. A liberdade no simples escolha
entre diversos possveis, manifestao criadora do cogito.
O Eu descobre-se nela como centro de sentido. A nusea
era apenas o inverso da liberdade: a liberdade escolha de
mim mesmo no mundo e, simultaneamente, descoberta do
mundo o que permite, observa candidamente Sartre, evitar
o obstculo do inconsciente ( 2 ).
No entanto, esta iluminao no serena e radiosa. H
algo de irreconcilivel entre a liberdade da existncia e o ser
No original, J e (N. do E.).
Z/jStre et Ze Nant. Voltaremos a este ponto.
compacto das coisas. A recusa de se reconhecer marca o exis-
tente; a liberdade vai a par com a m-f.
o que se passa com a clebre mulher seduzida de Utre
et l Nant. Ela vai a um encontro, conhecendo perfeitamente
as intenes que o homem que lhe fala alimenta a seu respeito.
Mas vai desarmar todo o discurso, vai recusar o fundo sexual
da sua linguagem. Ainda que se possa supor que o puro respeito
a no satisfaria e que o desejo cru a humilharia ainda mais,
sensvel ao desejo que inspira. Ela s quer reconhecer o desejo
quando dirigido ao seu esprito; mas eis que lhe seguram a mo.
Vai adiar o mais possvel o instante da deciso. Sem se aper-
ceber, abandona a sua mo. Por acaso, totalmente esprito
nesse momento, realiza na sua carne o divrcio da alma e do
corpo. no interior de si mesmo que a dissonncia se move, na
raiz do acto que a impersonalizao se instala.
A conscincia pode portanto desempenhar a aco, con-
fundir o seu ser no mundo com um ser no meio do mundo.
o que se passa com o> criado de caf, andante da anlise feno-
menolgica. Tem o gesto vivo e carregado, demasiado preciso,
demasiado rpido ( . . . ); inclina-se com demasiada prontido...
tentando imitar no seu modo de andar o inflexvel rigor de um
qualquer autmato... Em resumo, ele faz-se criado de caf
como o actor se faz Hamlet, executando mecanicamente os ges-
tos tpicos do seu estado. Utre et l Nant reproduz aqui
Ulmaginaire: Acontece neste caso uma transformao seme-
lhante que indicmos no sonho: o actor tragado, inspirado
inteiramente peto irreal. No a personagem que se realiza no
actor, o actor que se irrealiza na sua personagem.
No entanto, a m-f remete para uma f. Eu faz-se ser
por si, projecto que se introduz pelos interstcios do mundo.
O Eu no esprito desencarnado, est em situao, mas e
essa a tese central de Sartre ele que confere o valor.
conhecido o paradoxo sartriano da liberdade no meio das
cadeias, paradoxo de tradio estica. Podem aprisionar-me,
no podem arrancar-me a minha liberdade; o actor no se iden-
tifica totalmente com o seu papel, no se empenha nele intei-
ramente.
Goldsmith salienta o tema estico do comprometimento
descomprometido na obra literria de Sartre C1 ). O heri dos?
Caminhos da Liberdade ponderado, desembaraado, em
acordo consigo prprio. Ele est chateado, mas isso permane-
ce-lhe exterior. No interior, sente-se em casa.
0) In L Systme stoicien et VIde de temps.
185
O SCULO XX
OS EXISTENCIALISMOS
No entanto, o que se visa o comprometimento, proporcio-
nando-me a tecedura do meu ser no mundo a escolha entre exer-
cer at ao fim o meu papel de pequeno burgus ou tentar jun-
tar-me luta revolucionria, Encontramos o termo kierkegaar-
dano de comprometimento como existncia autntica. O meu
comprometimento implica que a minha liberdade no seja ape-
nas imaginria, embora tenha sido no Imaginrio que a des-
cobri. Qualquer interrogao implica a possibilidade de uma
resposta negativa; do- mesmo modo, a inegatividade encontra-se
no cerne dos esforos da conscincia. Mas esta negatividade no
relativismo ligado ao ponto de vista, funda ontologicamente
o ser da conscincia. Em termos sartrianos, o por si anula-se
para se recuperar para alm do; agregado das coisas, no estilha-
amento perptua que o caracteriza.
O olhar e o corpo
Outrem para mim, eu sou para outrem. Sartre entende
o olhar como o sentido que, menos modificando o agregado das
coisas, se revela o rgo da subjectividade. Ele segue, aqui, a
tradio, clssica. Critica os fisiologistas por terem escolhido o
ponto de vista da exterioridade para estudar o tema da viso.
Eles consideraram um olho morto no meio do mundo
visvel para justificar a visibilidade. O ponto de vista cientfico
no pode nunca justificar esse fenmeno real: eu vejo. No h
unio possvel entre o corpo objectivo da fisiologia e a minha
subjectividade. No entanto, a interioridade absoluta de Sartre
levanta problemas.
Porque, se eu existo o meu corpo*, s com o aparecimento
de outrem tenho a revelao do meu ser objecto. O meu corpo
est a, no apenas com o ponto de vista que eu sou, mas como
um ponto de vista sobre que se tomam pontos de vista que eu
nunca poderei tomar 1).
Se o meu corpo me escapa porque existe em mim um eu
que no ele. Sartre, recusando pensar o inconsciente, encon-
tra-se perante uma dificuldade; ele, que recusa a dissociao
sujeito-objecto, reintrodu-la aqui. O ver princpio de funciona-
mento do conhecimento. Ver receber. A viso resolve o enigma
( J ) Este tema do corpo uma das chaves de Sartre. O Mathieu
dos Caminhos da Liberdade revela o fantasma sartriano. Era preciso
estar em todo o lado. Considerou tristemente a ponta do seu cigarro...
Em todo o lado, sem isso, -se enganado. Este desejo de uma percepo,
no situado, de ubiquidade, aponta para a perspectiva de um comporta-
mento e de uma poltica da totalizao.
186
de uma relacionao sem contacto. O visto oferece-se-me como
uma totalidade que (me) escapa; o ver, esse, activo. A viso
actua aqui como modelo idealista da recusa do objecto. Ver
um quadro seria desdobr-lo, geo-domin-lo. A relao com o
quadro como relacionao de um ver e de uma matria neste
caso impensvel na medida em que torna ilusria a noo de
domnio.
Constata-se ainda a pregnncia do ver na anlise sartriana
do corpo de Outrem.
O corpo de outrem est mascarado pelas pinturas, pelos
movimentos 1). Nada h menos despido do que uma bailarina,
ainda que nua. O desejo , portanto, tentativa para despir o
corpo dos seus movimentos. O olhar torna-se aqui en-carnao
do corpo de outrem. A carcia est, tambm ela, submetida
realeza do cogito., vai fazer existir uma carne, dar-lhe forma.
Ao acariciar outrem, fao nascer a sua carne atravs da minha
carcia.
A carcia traz a carne ao ser; do mesmo modo que, em
Descartes, o olhar fundamento do pedao de cera.
A carcia no se distingue de nenhum modo do desejo:
acariciar com os olhos ou desejar a mesma coisa... o meu
corpo de carne que d origem carne de outrem. A dificuldade
torna-se flagrante. Como que a minha carcia, o meu olhar
levam a coisa a ser? Se a descobre, porque ela j l est. O
meu olhar no pode ser a essncia da coisa se esta j estiver
constituda; no seria o cogito a raiz suprema?
Ausncia do inconsciente
Em Utre et l Nant, Sartre no consegue abandonar
uma problemtica do cogito, o que revela o desconhecimento
profundo de Freud na tentativa de psicanlise existencial. Lendo
a psicanlise como sistema de chaves, censura-a por falhar a
histria concreta dos indivduos. Acusa Freud de utilizar o
incompreensvel concerto de inconsciente. Actualmente, Sartre
abandonou uma crtica to superficial da psicanlise. Mas, na
Medida em que as suas posies sobre a conscincia no va-
riaram, a questo continua a ser importante.
Em 1966, Sartre declara ainda: Freud atribui ao sujeito
um. lugar ambguo. Apertado entre o ia e o superego, o sujeito
do psicanalista um pouco como De Gaulle entre a U. R. S. S.
e os E. U. A. O ego no tem existncia em si ( 2 ) ; construdo
1) L'tre et l Nant.
C) i O que Sartre deplora, claro est.
187
O SCULO XX
OS EXISTENCIALISMOS
e o seu papel permanece puramente passivo. No actor. O ana-
lista no pede ao seu paciente para agir mas, pelo contrrio,
para se deixar agir, abandonando,-se s associaes livres. No
nos parece oportuno, aqui, mostrar as contraverdades psicana-
lticas que esta declarao contm (de facto, o analista no pede
nada ao paciente...). Contentemo-nos com realar a perma-
nncia de uma filosofia da conscincia que se perpetua desde
Utre et l Nant. O que Sartre, de facto, recusa, que se ela-
bore sentido fora da conscincia. O ia da psicanlise no uma
natureza, mas o plo pulsional da personalidade P). O sujeito
da psicanlise est barrado, no tem soberania a reconquistar;
no h sequer soberania. A psicanlise (2 ) existencial rejeita
o postulado do inconsciente; o facto psquico , por si, co-
-extensivo conscincia. Tudo se encontra dito. No h qual-
quer enigma por adivinhar, como supem os freudianos (que
Sartre inventa), l est tudo, luminoso, a reflexo usufrui de
tudo, capta tudo, os mistrios da luz plena no resistem
conceptualizao' bulmica do cogito. Na realidade, o debate
foi encerrado antes de ter sido aberto, o sujeito deve
(pode) reinar sobre si e os outros. Ele pode conhecer-se, recupe-
rar as suas alienaes, reconstruir-se como pura liberdade sem
ser perturbado. O sujeito (no duplo sentido do termo) sobe-
rano na ordem do juzo soberano sobre o corpo; submetido s
regras da verdade, considera-se a liberdade fundamental. No
entanto, o sujeito sartriano recusa ser subjugado, o seu sistema
rejeita a serenidade do sage.
Este sujeito apropriador, cada um tenta prender o outro,
no infinito conflito das conscincias. O campo de esqui igual-
mente, descrito em termos de luta. V-lo j possu-lo. Pra-
ticar esqui vai ser possuir integralmente esse campo de neve.
Deslizar a apropriao desse em si pelo sujeito. As metforas
sartrianas revelam do combate (s). Como no campo fechado
das conscincias (o famoso inferno), o facto de domar, de
vencer, de dominar, assinala que se trata de estabelecer entre
a neve e eu a relao do senhor com o escravo. Assim, a quinta a
que o pirmano lanou fogo realiza, no mundo da destruio,
essa apropriao no aniquilamento. A destruio realiza a
apropriao porque o objecto destrudo j a no est para se
mostrar impenetrvel.
A anlise existencial tem assim por objectivo a elucidao
da relao do eu (4) com o outro, na permuta das nossas objec-
(* ) Sartre escreve em As Palavras: Eu no tenho superego.
(* ) Que de psicanlise apenas tem o nome.
(5 )i Assiste-se a uma naturalizao da luta hegeliana.
(4 ) No original, mi. (N. do E.}
tivaes em alvo ao perptuo retorno das subjectividades. Utre
et l Nant conclui-se assim pelo dualismo irreconcilivel do Ser
e da Conscincia. A bela totalidade sempre bloqueada antes da
sua ltima fase, o eterno ontem de um belo hoje nunca
atingido.
Encontro da histria
Em Utre et l Nant Sartre ignorava o marxismo. A esse
respeito ele prprio se explicou longamente (J ). Simone de Beau-
voir descreve a sua situao da poca: Anticapitalistas mas
no marxistas, exaltvamos os poderes da pura conscincia e,
no entanto, ramos anti-espiritualistas. Contudo, em La Cri-
tique de Ia Raisan dialectique, trata-se do mesmo pensamento
que se repensa pelo contacto da histria. O prprio Sartre
tenta ultrapassar o debate, mal colocado por L/ukcs, entre o
existencialismo e o marxismo. Para Sartre, trata-se de com-
preender de que modo a multiplicao das conscincias concre-
tas, em situao e tomadas nas suas intersubjectividades cons-
tri uma histria. Trata-se no j de captar o mundo das coisas
como realidade objectai, mas como matria trabalhada numa
estrutura econmica.
Assim, o que a prxis individual? Em Utre et l Nant,
a conscincia captada do interior como relao de si e do Ser.
Agora, a relao pensada como ligao do organismo neces-
sidade; esta privao (primeira negao) para o organismo
que o nega (segunda negao), superando^, para sobrevi-
ver (2 ). A prxis negao da negao, reorganizao que passa
pela mediao da interioridade. (O movimento dialctico ori-
ginal totalizao em curso). A omnipresena do sentido (3)
inseparvel da noo metodolgica de mediaes. So estas
que asseguram a unidade na negao das diferenas. Tudo
significante, literatura e filosofia so fenomenologias hist-
ricas generalizadas. Aventuras do sentido atravs da prxis hu-
mana e suas alienaes. A posio de Sartre varia entre o engen-
dramento do sentido pela liberdade (idealismo do cogito) e a
existncia do sentido no objectivo do Ser a situao). Ele de-
fine, alis, a dialctica como totalizao das prxis significantes,
sendo a relao dos indivduos com a histria definida a partir
<io modelo da expresso (4 ). A ideia do todo expressivo que per-
(') Homenagem a Merieau-Ponty.
C) Reconhecemos a trindade-trilogia hegeliana da negao.
C) Sartre pensa-se como caador do sentido.
C) lateriorizao do exterior e exteriorizao do interior.
188
189
O SOVLO XX
mite a coexistncia do sentido nas diversas instncias do pre-
sente , como se sabe, uma ideia cara ao mestre de Heidelfoerg.
Assim, o movimento dialctico original totalizao em curso.
A srie, lei das coisas, impe aos homens o estatuto de indiv-
duos separados. o aparecimento da grupo que vem espicaar
a paralisia serial.
Dialctica dos grupos
Sigamos rapidamente a anlise de Sartre. A dialctica do
grupo extrai o seu modelo da Fenomenologia do Esprito, do
captulo consagrado ao Contrato Social e Revoluo Francesa.
Em Sartre esta perspectiva choca com um universo humano no
interior do qual os objectos O) provenientes da prxis humana
se transformam em ordem prtico-inerte. A srie a forma
de um conjunto humano que recebe do exterior a sua unidade.
Na fila de espera do autocarro, a srie funda a serialidade. Se a
srie disperso, massificao, o grupo totalizao. A fora
da actividade dialctica provm da tenso entre serializao
e totalizao. O grupo mais puro o grupo em fuso. Sartre ana-
lisa, com a vivacidade que se lhe conhece, a tomada da Bastilha.
preciso combater, salvar Paris, ir buscar as armas onde elas
se encontrarem... A Bastilha torna-se o interesse comum na
medida em que pode e deve ser simultaneamente desarmada,
tornando-se fonte do aprovisionamento em armas, e possibili-
dade de ser virada contra os inimigos do Oeste.
Sartre analisa a tomada da Bastilha diferenciando-a dos
motins de Abril contra o abjecto industrial Rveillon, que
eram violncias seriais. De incio, no houve sequer violncias
e viu-se os operrios a atravessarem Paris em grupos de qui-
nhentos ou seiscentos homens. Nesses regimentos da fome adivi-
nha-se j a unidade como determinao negativa do todo ( 2 ),
mas, ao mesmo tempo, so sempre ajuntamentos de inrcia; no
h nem estruturao nem aco comum (3). Sartre introdziu
aqui o tema da rareza; faltavam armas, claro. Mas, acres-
centa: faltava tempo, o inimigo podia chegar a qualquer mo-
mento. Num tal grau de generalidade, o conceito de rareza perde
qualquer pertinncia. Encontramos o tique metafsico quando
1) O termo coisa seria, na sua generalidade, mais indicado.
(-) Quem adivinha? O historiador, a posteriori? Sartre faz-se grande
totalizador da histria.
( 3 ) O que Sartre deplora. Sartre revela-se incapaz de pensar uma
aco pontual sem a referir a uma totalizao posterior ou a um modelo
de direco poltico.
190
OS EXISTENCIALISMOS
Sartre escreve: Os vencedores da Bastilha esto unidos por
um acto gravado no ser ).
A rareza tenso original com a natureza. Assim, homens
esfomeados poderiam simplesmente disputar alimentos como
ces; o que constitui o grupo sentir ern comum a necessidade
individual. Na tarde de 14 de Julho, o grupo a cidade, cada
pessoa o grupo. Na aco, algum, mostrando com olhos
comuns um abrigo, evitou a debandada. F-lo sem posio de
chefe, marco de sinalizao1 do que se impunha. Nesse instante,
cada um tem conscincia da sua solidariedade com todos os ma-
nifestantes. Todos so responsveis ( 2 ). Cada um ao mesmo
tempo mediador e mediado. J no se trata como em Utre
et l Nant de transcender o outro ou de se deixar transcen-
der ( 3 ). O Ns pensado como diferente de uma coleco de
eus. A unidade do grupo em fuso prtica e no ontolgica.
Sem chefe, a revolta a liquidao da servido do prtico-
-inerte. Mas o grupo tende para a disperso. Para se manter,
instaura o ritual do juramento. A f raternidade-orgulho define-se
por um conjunto de obrigaes recprocas. Pelo acto do jura-
mento, ns somos os nossos prprios filhos, a nossa inveno
comum.
A linchagem mantm a fraternidade-terror do grupo. Es-
tamos perante um poder jurdico difuso, o poder cerimonial (ves-
turio, estereotipia dos actos, objectos de venerao) que ex-
prime simultaneamente a unidade e a liberdade-poder.
A organizao do grupo a passagem a uma fase supe-
rior; supe que o grupo se faz grupo fazendo-se continua-
mente (4). A organizao supe a diferenciao das tarefas
Sartre pensa que esta diferenciao nada tem em comum com
C) Que acto, por mais irrisrio que seja, no est gravado no ser?
Somos aqui tentados pela crtica de Carnap, que declara que a frase
o Nada anula destituda de sentido, que no mais do que pura
substantificao gramatical de no sentido.
P) o ns somos todos judeus alemes de 68.
( 3 ) Oh! Freud!
( 4) Aqui Sartre indica parcialmente a compreenso da burocrati-
zao. Quando um partido, organizado para transformar a sociedade,
torna os seus prprios interesses como objectivos (deputados, por exem-
Pl0), a ideia de revoluo torna-se secundria. o deslocamento dos
fins. No podemos desenvolver aqui esse problema. Recordemos que Sar-
tre sempre censurou a Trotsky o no ter em considerao a eficcia da
burocracia estalinista, o pensar que ela se desmoronaria sob o peso de
Crimes historicamente ineficazes. Pensamos que Trotsky se enganava
luando considerava a burocracia ineficaz. Esta apreciao remete para
^ fti objectivo: o comunismo, que no em nada o objectivo da burocracia.
~lla , pelo contrrio, perfeitamente eficaz quanto consolidao e
extenso do seu poder.
191
O SCULO XX
o aparecimento do comando O) , mas que remete para a fun-
o. No caso de uma equipa de futebol, escreve Sartre, este
movimento, aquela passagem, essa finta, no podem, contudo,
separar-se da prpria funo. A aco um irredutvel: s
possvel compreend-la se se conhecerem as regras do jogo.
Parece-nos, no entanto, que o que caracteriza um grupo de
insurrectos, que Sartre analisa a partir deste modelo, pre-
cisamente a sua capacidade de modificar, de inventar novas
regras. No essa a opinio de Sartre que escreve que esses
grupos tm em comum O' facto de a aco de cada um encon-
trar a sua objectivao real numa prtica comum. A integra-
o real numa prtica comum realiza uma integrao que no
alienao ( 2 ) . A ' aco especfica do grupo organizado a
sua reorganizao perptua e a funo define-se aqui como
tarefa a realizar. Os conflitos remetem para a indeterminao
das tarefas ( s) .
A fase seguinte a organizao estrutural. Embora rejeite
uma ontologia gestaltista no recusa o estudo estrutural. Como
que o grupo pode produzir em comum aces individuais?
O agitador de 89 no chefe. Se d uma ordem num momento
crucial que o grupo se reconstitui em torno dele na frater-
nidade-terror. Sartre, rejeitando a perspectiva de Daniel Gurin
em La Lwtte ds Classes sau$ Ia Ire Republique, recusa consi-
derar como radicalmente diferentes as aces da base e as da
hierarquia. uma das suas dificuldades. Quando escolhe os
seus exemplos na histria do movimento operrio, observa:
No se trata aqui de Blanqui, de Jaurs, de Lnine, de Rosa
Luxemburgo, de Estaline ou de Trotsky. Para alm de qual-
quer poltica, o modo de organizao no diferente consoante
se trate de uma centralizao por cima ou de uma organizao
pela base ( * ) .
Assim, o agitador mediao prtica e o chefe , por seu
lado, indicao de mediao. O grupo organizado no reproduz
o organismo, melhora-o. Um grupo em quadrado tem olhos
em toda a volta da cabea, tem braos nas costas. A violncia
(1) Sartre no analisa o mecanismo de diviso do poder. A diviso
do poder funda-se numa prtica que insuficiente considerar como
pura deciso tcnica ou mesmo tecnolgica.
(2) O facto de a alienao remeter para uma natureza, deformada de
seguida, no parece causar problemas a Sartre.
( " ) Parece-nos, pelo contrrio, que o formalismo do grupo que,
excluindo o maior nmero de decises reais, provoca conflitos. Mas Sar-
tre no toma aqui em considerao a diviso entre dirigente e executante.
( 4 ) Trata-se de uma reduo, bem na tradio da epoch husser-
liana, que mascara a verdadeira questo de qualquer poltica, a da or-
ganizao.
192
OS EXI8TENCIALI8MOS
interna ao grupo necessria, permite pr a questo em todos
os seus sentidos, permite realizar o devir questo do grupo.
Existncia sem essncia, ele trabalha-se e (e depois?) trabalha.
O grupo est obsecado pelo fantasma de atingir a bela
totalidade unificante do indivduo comum. Mas o desejo do
crculo quadrado, pois formado de indivduos e de comum.
A sua interioridade mais profunda no , de facto, mais do
que a sua exterioridade mais abstracta. A organizao forma-
_se em hierarquia, o juramento origina a instituio 0).
de lamentar que ele no preste mais ateno ao tipo
de poder que este tipo de hierarquia particular cria.
a integrao Terror, cada um tornou-se instrumento do
grupo. A instituio fora de inrcia considervel tem
origem na impossibilidade do grupo se manter como actividade
prtica por estar corrodo pela alteridade. No grupo, a repar-
tio das tarefas efectua-se no Aqui e Agora, na instituio,
o futuro est marcado desde a origem. Eu naso com certos
ritos de iniciao, um servio militar, um tipo de consumo (de
funo signo) que se inscreve como observa Baudrillard
como lgica de classe. O chefe apenas se desenvolve no seio
da instituio, a mediao fixada. Totaliza e congela a cir-
culao da informao. O Estado o paradigma da instituio.
Ele realiza a extrema serialidade, Sartre serve-se do exemplo
do concurso de jornal em que cada pessoa deve estabelecer a
lista tipo de acontecimentos, de vedetas, etc. O vencedor
aquele que, realizando a lista tipo, mais perfeitamente se fez
Outro. O exterocondicionamento vem de si prprio, eis o indi-
vduo massificado. Podemos reflectir no paradoxo da moda.
Como cada pessoa se adorna com signos distintivos, estes tor-
nam-se os de toda a gente. A alta costura apossa-se da tnica
afeg do hippy que, imitada, se massifica ( 2 ) .
O modelo terminal, a figura soberana das desventuras da
dialctica a burocracia. Sartre no estuda as circunstncias
histricas da burocratizao do poder. Embora constate que
na U. R. S. S. a burguesia foi h muito destruda, observa
igualmente que a ditadura do proletariado era uma noo
optimista fabricada apressadamente ( 3) , enquanto a ditadura
real era (porqu o imperfeito?) a de um grupo reproduzindo-se
a si mesmo e exercendo o seu poder sobre a classe burguesa
O Sartre no traa aqui uma gnese histrica mas um forma-
lismo estrutural.
(-) Riesman observa que ao Innerdirecte que tem por objectivo
distinguir sucede o other directe que procura conformar.
( 3 ) Sartre corajoso ao rejeitar as suas anlises sumrias de 1952.
193
O SCULO XX O8 EXISTENCIALISBfOS
em vias de liquidao, sobre a classe camponesa, sobre a pr-
pria classe operria.
Lamentamos que Sartre no analise mais profundamente
a burocracia como nova formao economico-social, que a no
caracterize como classe social com especificidade prpria.
Ficam outras questes em suspenso no fim desta anlise
de grupos. O que a serialidade original? No remeter para
o mito de uma origem em que a pureza do den primitivo se
perderia na alienao da confuso dos sentidos? A conscincia
filosfica aqui acrescida duma conscincia moral 1). O ho-
mem (a srie) nunca est s e o mesmo se passa com p
locutor. Assim, no h linguagem por haver necessidade indi-
vidual do falar, mas linguagem como sistema, contempornea
da noo de sentido.
O pequeno grupo sartriano insuficiente para explicar a
passagem sociedade global. Assim, a sua anlise da buro-
cracia vaga na medida em que se recusa a pens-la como
classe dominante. As instituies (o Exrcito, o Partido, o
Sindicato) perderam de facto a vida real que atravessava
o grupo, mas Sartre esbarra na dificuldade do funcionamento
da vida burocrtica.
Concluso
Abordmos em parte, portanto parcialmente, alguns pon-
tos do pensamento de Sartre. No falmos do imenso trabalho
que o seu Flaubert (2 ). No falmos do seu teatro, de peas
como Nekrassm), que revelam o admirvel talento cmico de
Sartre (3). Por fim, pouco falmos da sua coragem poltica,
da sua generosidade, em todos os sentidos do termo. Notvel
de lucidez na crtica do seu prprio perodo estalinista, Sartre
mostra-se inflexvel nos juzos que emite sobre si mesmo. Con-
tudo, esteve sempre frente do combate contra o colonialismo,
foi sempre um modelo de coerncia na sua recusa das honra-
rias (*). Unindo a sua actividade filosfica vida militante,
(J ) La Critique de Ia raison dialectique o verdadeiro tratado de
moral poltica que Sartre prometia no fim de L'tre et l Nant.
(-) Nele encontramos, na personagem de Flaubert que entrou
na literatura contra a cincia, os grandes temas sartrianos.
(3) Lamentamos que Sartre no tenha aderido s procuras do tea-
tro contemporneo, abandonando, no seu temor de ser recuperado como
teatro de qualidade, as suas peas liturgia tradicional.
(4 ) Assim, a sua recusa do prmio Nobel recusa da inautenti-
cidade.
aceitou a responsabilidade jurdica de jornais como La Cause
du peuple ou como Tout. Sacrificando dinheiro e a sua pessoa,
participa, na rua, no combate revolucionrio.
Se continua, a meu ver, marcado por uma filosofia do
sujeito, o que apenas podemos esboar rapidamente falhando
a complexidade dum pensamento rico em cambiantes, fez
sua a frmula de Marx que prope a superao da filosofia
na sua realizao.
2. Maurice Merleau-Ponty
A obra de Maurice Merleau-Ponty deriva de uma descon-
fiana para com a cincia. Por detrs da seca explicao dos
fenmenos, ele quer encontr-los no estado nascente, na sua
primitividade. O filsofo quer-se filho do espanto, ingnuo.
Procura justificar o subjectivo sem por isso fundar uma filo-
sofia do sujeito. O ser est votado ao sentido, sujeito entre-
meado no mundo. E este sentido vai dar-se na experincia que
o filsofo realiza com o mundo; o pensador no um sujeito
transcendental, puro, tecido no universo que o rodeia, na
textura do mundo que habita.
A primeira obra de Merleau-Ponty, La Structure du com-
portement, concluda em 1938 e publicada em 1942, inicia-se
com o problema do corpo. atravs da fenomenologia de
Husserl e das obras da Gestalt Theore que Merleau-Ponty
aborda os problemas! do mundo. A sua obra, singularmente di-
versa, interroga-se sobre a percepo, sobre a esttica, sobre
a poltica, para acabar por abrir-se, no limite da poesia e da
filosofia, ao universo da natureza que a f perceptiva oferece.
A filosofia estabelece como tarefa o reaprender a ver o mundo.
Mas no de empirismo que se trata. O homem est votado
ao mundo como ser significante e, como ser significado, a
outrm pelo seu corpo. H uma profunda unidade da experin-
cia humana. Tudo dado, tudo se d num acto nico original:
a-s coisas, o corpo, a conscincia. O esprito 1) est sempre
presente na sua intencionalidade motriz. Assim, a filosofia deve
unir o extremo objectivismo ao extremo subjectivismo. O ho-
nrem ser ao mesmo tempo eu corporal e sujeito pensante.
O ser indivisivelmente corpo e pensamento. O pensamento
(*) Mesmo descentrado, privao do sujeito e sujeito da privao
visvel e no invisvel.
195
o S C U L O xx
O S EXIS TENC IAL IS MO S
nunca este separado das suas razes sensveis, corporais. O corpo
prprio, esse corpo vivido do interior, est incrustado de inten-
es, carregado de significaes (estas remetem mais para o
elemento no sentido grego do que para uma substncia).
Anteriormente a qualquer reflexo, encontramos uma signifi-
cao imanente aos nossos actos, aos nossos pensamentos es-
pontneos. O vivido e o irreflectido precedem e fundam o
reflectido. O nosso filsofo tenta formular uma experincia
do mundo, um contacto com o que precede qualquer pensa-
mento sobre este. A filosofia encontrar-se- na interaco do
homem e do universo; no se ir erigir em absoluto. Ela quer-
-se conscincia da racionalidade na contingncia.
O itinerrio do sentido: orma e estrutura
L a S trwcture du comportement introduz a utilizao das
noes de forma e estrutura. O conhecimento j no resulta
de uma combinao de elementos simples, assim como o com-
portamento no redutvel a uma soma de reflexos e de refle-
xos condicionados entre os quais no se admitiria qualquer
conexo interna. A partir da simples percepo da tarefa, en-
contramo-nos na intersepo de dois universos. O universo da
cincia, inteiramente exterior a mim, encontra a oposio do
universo da conscincia. O organismo no um teclado sobre
que se exerceriam os estmulos exteriores, modelando a sua
forma prpria ao constitu-lo. Estamos perante um fenmeno
de interaco^; as propriedades do objecto misturam-se com as
intenes do sujeito para formar um todo novo. Apoiando-se
nos trabalhos de Koffka e de Weber, Merleau-Ponty constata
que a excitao nunca o registo passivo de uma aco exte-
rior mas uma elaborao dessas influncias. A noo de est-
mulo remete, com efeito, para a actividade original pela qual
o organismo recolhe as excitaes dispersas.
A teoria dos reflexos condicionados no mais do^que
uma teoria construda a partir de postulados, tomo da anlise
real. Eis-nos remetidos para um universo de coisas.
certo que o condicionamento de uma reaco pela que
a precede permite compreender fragmentos do real, mas no
poderia tornar possvel a adaptao das partes uma s outras.
Se tomarmos o exemplo das leis de aprendizagem, perce-
beremos que aprender nunca repetir o mesmo gesto, mas
fornecer situao uma resposta adaptada. Para o behavio-
rismo, a reaco adquirida relaciona-se com a essncia da
situao; depois admite um limiar de variaes em torno do
tema fundamental. Ora os objectos, as coisas, encontram-se na
196
experincia ingnua dos seres perceptivos; oferecem-se sem
interposto meio, s se revelam a pouco e pouco e nunca total-
mente. O discurso sobre a coisa vai tentar apreend-la mas
nunca a cerca, ladeia-a. Mas o ltimo limiar, o ponto de apoio,
o fundear das nossas intenes o corpo. O corpo no uma
massa material inerte, instrumento exterior, o invlucro vivo
das nossas actividades, habita o mundo. Este mundo o mundo
da vida; ope-se radicalmente ao universo do filsofo em
meditao de Rembrandt, atravessado por uma luz oblqua
e parcial.
O conhecimento a captao de um dado que sempre j
estrutura. Os momentos do conhecimento so, em ltima an-
lise, fundados num modo de conscincia mais originrio. O su-
jeito encontra-se afectado pela presena ntima dos objectos
e a filosofia no mais do que um inventrio da conscincia
como meio de universo. Sucumbem ento os problemas da
alma e do corpo. O corpo no um mecanismo fechado em si
sobre o qual a alma agiria do exterior como um motor. O corpo
define-se como um funcionamento que pode admitir todos os
graus de integrao. Se observarmos a obra de Greco, aper-
ceber-nos-emos de que a forma dos corpos das personagens
permanece, por uma anomalia da viso do pintor, singular-
mente fisiologista.
Quando uma particularidade corporal est integrada no
conjunto da experincia do sujeito, deixa de ser simples causa.
Transmutada pelo gnio do artista, a anomalia assume uma
significao universal. O acidente da constituio exerceu o
papel de revelador. Em vez de ser suportado, torna-se um
meio de multiplicao. A perturbao visual de Greco foi por
ele conquistada, integrada na sua maneira de pensar, de per-
ceber; aparece como uma expresso necessria do seu ser muito
mais do que como uma particularidade imposta do exterior.
Greco era tanto astigmtico por produzir corpos alongados
como pelo inverso. A liberdade de Greco justificou o acaso
da natureza encarnado no corpo. Ultrapassando a enfermidade
sensria!, o artista aumentou o campo da viso e da percepo
forjando um novo instrumento. Os problemas da alma e do
corpo permanecem opacos enquanto forem abordados abstraindo
o corpo como um fragmento de matria e no como meio.
O esprito no utiliza o corpo, faz-se atravs dele transferindo-o
Para o exterior do espao fsico. O comportamento, bem longe
de existir em si, um conjunto significativo. A alma s tem
sentido atravs do corpo; se perde o seu sentido deixa imedia-
tamente de ser uni corpo vivo para tornar a cair na condio
c*6 massa fisico-qumica.
197
O SSCULO XX
Existe um grande ausente nesta obra: o inconsciente.
A obra ulterior conceder-lhe- um lugar cada vez maior para
nele se centrar na sua ltima fase.
A abertura perceptiva
A filosofia tem por tarefa descrever e no explicar ou
analisar.
A cincia no poderia ser uma explicao, apenas uma
simples descrio. essa a meditao da Phnomnotogie de
Ia perception.
Trata-se, portanto, de regressar s prprias coisas, a esse
mundo que precede o conhecimento e de que o conhecimento
fala sempre.
A percepo assim o fundo de onde as nossas aces se
desprendem. No h homem interior, o homem est no mundo
e nele se conhece, nele se encontra como unidade primordial.
O mundo permanece opaco, no se manifesta como animado
de parte a parte por uma srie de apercepes que a filosofia
deveria reconstituir a partir do seu resultado. Mas h um solo
comum que nos suporta a todos, h uma significao mundo
anterior existncia de Pedro e Paulo. O mundo est a antes
de qualquer anlise que dele possa fazer. na percepo, na
descoberta de outrem do alter ego que se abre a minha pers-
pectiva de viso de outrem como a da sua viso de mina. O ego
e o alter so definidos pela sua situao e a filosofia no se
conclui pelo retorno ao eu. No instante do cogito, no sou
ainda mais do que uma conscincia entre as conscincias.
O cogito descobre-me em situao e s nessa condio a subjec-
tividade se pode expandir em intersubjectividade. Aperceber
o mundo recus-lo por momentos, recusar-lhe a nossa cum-
plicidade. Ento, reencontramos o espanto perante o mundo.
A filosofia instaura essncias, distncias, para abandonar a
sua captura pelo mundo. Necessita do campo da idealidade para
conquistar a sua facticidade. Na realidade, eu viso e percebo
um mundo. E se sou capaz de separar o imaginrio do realce
porque descubro essa distino anteriormente a qualquer an-
lise. Tudo dado, a evidncia a experincia da verdade, fi a
reabilitao da aparncia que toda a tradio considera enga-
nadora. Estamos perto de Proust que escreve: Era intil
jantar fora, no via os convivas porque no momento em que
julgava olh-los estava a radiograf-los... O encanto aparente
dos seres escapava-me porque no possua a faculdade de nele
me deter. Constatamos que como em Merleau-Ponty o
excesso de penetrao falseia a percepo. O olhar cientfico,
OS EXISTBNCIALISMOS
cromtico, quebra sempre o aveludado desta cor. (Ser a
fenomenologia, pergunta Deleuze em La Logique u sens, essa
cincia rigorosa dos efeitos de superfcie?)
\, no devo tanto procurar o que torna possvel a
minha experincia mas o significado dessa experincia.
Ora, toda a conscincia conscincia de alguma coisa; ela
plena, enredada no mundo. No existe percepo interior,
interna; o mundo antecipado como conscincia da minha uni-
dade. Eu sou unidade da imaginao e do entendimento. Na
experincia do belo realizo o acordo entre o sensvel e o con-
ceito. Ensaio um acordo ele prprio sem conceito. J no
ento o juzo esttico mas o conhecimento que ganha corpo.
J no se trata de duplicar o pensamento humano por um
pensamento absoluto mas de reconhecer a conscincia como
projecto do mundo, de um mundo para o qual se dirige sempre,
que invade e por quem invadido. Compreender ser ento
readquirir a inteno total. Em cada civilizao, devemos en-
contrar a ideia no sentido hegeliano, ou seja, a frmula de um
nico comportamento para com a Natureza, de um comporta-
mento de base, tronco comum de um perodo, de uma viso
do mundo. esse comportamento que o historiador deve reve-
lar-se capaz de retomar e de assumir. A histria da filosofia
no se desvenda, percebe-se, situa-se, produz-se, e a partir de
elementos exteriores ao seu campo.
Na histria, tudo tem um sentido, cada acontecimento
produz, segrega sentido. No se trata tanto de um sentido un-
voco de um sentido da histria determinista que retiraria
aco o seu valor ltimo como de sentidos. Aderir ao sen-
tido, verificar que a ele estamos condenados. A psicanlise
revela o sentido daquilo que passava por o no ter; a histria
s pode ser barulho e fria, caos, desenrolando situaes imar
ginrias que devemos examinar. O mundo do fenmeno no
a explicao de um ser prvio, a sua prpria fundao.
A superficialidade, a aparncia esto carregadas de verdade.
A mancha que percebo est sempre rodeada de outra coisa,
faz parte de um campo; s a posso captar se a reintegrar. Cada
qualidade suporta as significaes que a habitam. Este ver-
rnelho lanoso, esse tecido furta-cores. Os desenhos da expe-
rincia de Muller-Lyer (< *\o so nem iguais nem desi-
guais. So esses dois possveis simultaneamente. A igualdade
depende do mundo da cincia, a sua desigualdade do mundo
da minha percepo, do meu corpo.
No posso, em nome de um conhecimento verdadeiro, muti-
lar essa percepo. Assim, o sol estar e no estar a duzentos
Passos.
198 199
O SCULO XX OS EXISTENCIALISMOS
Esforar-se por respeitar os dois aspectos de uma mesnla
realidade reencontrar a ambiguidade de qualquer percebido.
No existe vermelho puro, apenas existe um vermelho pra
estes sentidos. O conhecimento por puro conceito iluso.
Percebe-se, inicialmente, um conjunto como um todo e, ' em
seguida, analisa-se. S neste todo possvel descobrir o ovo
da adivinha. As construes cientistas so falsas; no so mais
do que molduras vazias para olhos mortos. Recordemos o lema
de Sartre, dos tempos da Escola Normal: A Cincia pele
de baila, a Moral buraco de bala.
Perceber no recordar-se ou associar, descobrir sen-
tido. Esse pr-existente , para a criana, o som-linguagem das
vozes familiares, o seu (pr) nome j est, desde sempre.
O conjunto do mundo sempre j est. O empirista no
compreende que necessitamos de saber o que procuramos sem
o que o no procuraramos, do mesmo modo que o intelectuai-
lista no percebe que necessitamos de nos encontrar na ins-
cineia, sob pena de no procurarmos. A partir da ateno
criamos uni campo perceptivo ou mental que podemos dominar.
Assim, durante os seus primeiros nove meses, a criana s
globalmente distingue o colorido e o acrcmtico e atravs da
distino entre cores frias e cores quentes que pode perceber
as cores. Prestar ateno vai ser configurar o que s aparecia
como horizonte. A ateno esquematizou o que se oferecia
como horizonte de indeterminaes. Para a percepo, a cera
deixa de existir quando as suas propriedades sensveis desa-
parecem, a cincia que supe qualquer matria que se con-
serva. Ver julgar, de imediato, sem rodeios. A caixa maior
percebida como a caixa mais pesada.
A anlise reflexiva descreve, ela toda percepo como
uma inteleco confusa.
No qualidades mortas, mas propriedades activas. A cha-
ma s repelente para a criana que nela se queimou. O objecto
da cincia no mais do que o entrelaamento de propriedades
gerais. A reflexo nunca tem sob o seu olhar a totalidade do
mundo e a pluralidade das mnadas desenvolvidas e objecti-
vadas. No dispe de mais do que uma viso parcial e de
poder limitado. A Natureza est aberta a uma pluralidade de
sujeitos pensantes, procura infinita do mundo nico, aberto
a vrios eus empricos. O eu transcendental tanto o de
outrem como o meu. Para fazer uma filosofia radical preciso
reflectir sobre a nossa reflexo, compreender a situao na-
tural. O centro da filosofia o perptuo comear da reflexo.
200
O pensamento do corpo
: A casa no nenhuma das minhas vises; ver situar-se
em algum lado e essencial que me falte uma parte do objecto.
A perspectiva esconde-mo, mas pensar a casa capt-la de
todos os lados simultaneamente, submergir-me nela. O meu
corpo, que o meu ponto de vista sobre o mundo, um dos
objectos desse mundo.
O membro fantasma, esse membro que existe para o doente,
depende ao mesmo tempo do mundo da terceira pessoa, do da
cincia, mas depende tambm da primeira pessoa, da histria
individual do doente. O amputado continua a sentir a sua
perna fantasma, do mesmo modo que Proust constata a morte
da sua av sem a, perder ainda, pois continua a conserv-la no
horizonte da sua vida. O membro fantasma um presente
antigo que no se decide a tornar-se passado. Essa perturbao
no psquica ou somtica, situa-se no encontro fortuito da
ordem das causas e dos fins.
O corpo no um objecto, est comigo e no perante mini,
no nos deixa, Pode tocar-se tocando e nunca est totalmente
constitudo. Ele esse atravs do que h objectos.
Eu sinto o meu corpo numa espacialidade que no tanto
de posio como de situao. Eu sinto (eu estou) em cada
instante onde est o meu corpo. O meu corpo existe para as
tarefas que viso; o esquema corporal o meu corpo que habita
o espao e no sobre, sob ou ao seu lado. Isso pode verificar-se
se se observar o doente que s pode realizar a aco total.
Tem necessidade do prego e do martelo para bater. Tem neces-
sidade de se colocar na situao quase efectuada a que pretende
corresponder. Quem efectua a saudao militar irrealiza-se,
pelo contrrio, nesse gesto. Ele joga com o seu prprio corpo.
Paz de soldado do mesmo modo que o comediante insinua o
seu corpo no grande fantasma. Assim, vemos que os dois
corpos, aquele que para mim assim como aquele que para
outrem, se unem num mesmo corpo no campo fenomenal. No
que se refere ao doente, ele organiza a sua vida como um
sentido.
Czanne obtm este acto de posse do motivo aps horas
de meditao. Ele germina e, depois, tudo vem bem equili-
brado.
A conscincia apoia-se num mundo pensamento ante-
riormente construdo. A viatura que conduzo um espao que
habito, que prolonga o meu corpo como a vara prolonga a
amplitude do meu tacto.
201
O SCULO XX OS EXISTENCIALISMOS
A percepo da coisa e a percepo do espao no so
distintas; a experincia do corpo prprio ensina-nos o enraiza-
mento do espao na existncia.
O corpo pode ser comparado obra de arte na medida
em que no nos possvel economizar a sua presena, o seu
contacto.
Atravs do desejo o outro existe para ns. Eros quem
anima a pulso 0). A percepo ertica no cogitao atra-
vs de um corpo, visa outro corpo.
A sexualidade poder de aderir; a frigidez analisa-se atra-
vs da recusa do orgasmo como desprendimento do mundo.
O histrico simulador mas, sobretudo, para consigo prprio,
pois anteriormente a qualquer conscincia que o sintoma se
elabora.
O corpo transforma as ideias em coisas. A sexualidade
remete sempre para outra coisa que no ela mesma, o que se
procura possuir no um corpo mas um corpo animado de
uma conscincia. A sexualidade , assim, coextensiva vida.
O corpo o entrecruzamento modelado pelo trabailho do desejo;
esse corpo o absoluto contrrio do pseudocorpo, da publici-
dade, esse suporte indiviso da conscincia.
ainda o corpo que nomeia. Nomear um corpo subtrair-
-se ao que ele tem de individual e de nico. O doente preci-
samente aquele que perdeu o poder de subordinar. A superao
do empirismo o encontro do sentido da palavra. O pensa-
mento expresso; sem nome, mesmo o objecto mais familiar
indeterminado. No h pensamento sem linguagem. A deno-
minao no posterior ao reconhecimento, o prprio reco-
nhecimento. Os sons no so os signos da sonata, so a prpria
sonata. Tambm o gesto quebra o silncio. O gesto de outrem
desenha um objecto intencional. A carcia abre-me o universo
sexual que j l estava, Mas assimiliar uma lngua viv-la.
O japons, quando encolerizado, sorri. A fala sedimenta uma
aquisio intersubjectiva, A linguagem no instrumento,
revela o ser ntimo.
O corpo habita sempre um espao em que toma posio.
O cubo nunca por si mesmo. No existe geometria natural
mas uma conexo viva comparvel que existe entre as partes
do meu corpo e do universo. Assim, o vermelho, o azul, tm
( * ) A pulso aparece, em Freud, como um conceito corpo-alma. A
carne , em Merleau-Ponty, uma massa trabalhada interiormente.
Merleau-Ponty supera as filosofias da conscincia mas no fundou ( no
teve tempo?) uma filosofia do inconsciente. Alis, o corpo ainda pensado
como uma totalidade.
202
uma significao que o doente integra. Mas essa significao
preexiste a qualquer reflexo.
Um doente do cerebelo mostra que o vermelho indutor.
Perante esse vermelho o brao do doente ergue-se antes de
qualquer pensamento, antes de qualquer sentido. O vermelho
tem sentido antes que eu lhe confira um e esta viso pr-
-pessoal. Encontro sentido antes de eu mesmo o ter conferido.
A experincia que fazemos do mundo no a de uma rede
de relaes que determinariam cada acontecimento, mas a de
uma totalidade aberta cuja sntese no pode ser concluda.
Trata-se, portanto, de encontrar o fundamento da subjectivi-
dade e do objecto em estado nascente nessa camada primordial
em que nascem tanto as ideias como as coisas.
O cego tambm estrutura um espao; eu efectuo a expe-
rincia com a totalidade do meu corpo. o corpo fenomenal
que realiza a sntese dos objectos, A coisa perpetuamente
visada. Totalmente atingida, a coisa dissipar-se-ia, gota de
orvalho tocada pela mo. Se a minha conscincia constitusse
o mundo que percebe, no haveria entre eles qualquer distncia,
qualquer afastamento possvel. Assim, o sujeito nunca confere
um sentido a signos que dele seriam desprovidos. Tomado na
pregnncia da significao, rompe a problemtica do fundante-
-fundado, introduzindo o cruzamento visvel ao lado da invi-
svel reversibilidade.
Mas estamos perante objectos inesgotveis. Cada percepo
retoma uma aquisio anterior a qualquer conscincia, O sujeito
da percepo tem sempre uma espessura histrica. A nossa
vida em relao ao espao encontra sempre algo j constitudo.
Posso reconhecer uma fisionomia transformada desde que
tenha um ponto de referncia. O homem que percebo a duzen-
tos metros no nem mais pequeno nem maior do que o meu
vizinho, ocupa em menor grau o meu campo visual. Perceber
esperar que a nossa profundidade se organize. Somos ns que
olhamos a costa e o barco. O movimento no apenas objec-
tivo. Num comboio a paisagem que se desenrola perante ns.
O espao est sempre organizado. A esquerda, o lado nefasto,
s tem sentido em relao a um solo cultural, esse arbitrrio
que o nosso espao objectivo.
Se o fenomenlogo recusa o espao geomtrico no para
se^ voltar para o solipsismo do doente. Mesmo a conscincia
mtica subordina qualquer experincia a um universo. Como
encontrar o espao, diferenciar o pensamento adequado da
iluso?
Eu percebo correctamente em que momento o meu corpo
tem uma apreenso precisa do espectculo do mundo. a minha
203
O SCULO XX
adeso ao mundo que compensa as oscilaes do cogio-des-
centrado.
Assim, sou uma conscincia que investe o mundo e por
ele investida. O meu olhar faz-se experincia. Ele contm quase
o odor da paisagem. O esforo de Caanne captar esse ser
ante-predicativo que est antes de qualquer 'conscincia. A coisa
no bloco mas fluxo de aparncia, no dada mas perpetua-
mente retomada. Os surdos e os cegos tm ser a decifrar.
A civilizao em que estou embebido d-se com evidncia.
O primeiro dos objectos culturais o corpo de outrem. Este
outro em si e por si. nesta experincia que me apercebo de
que no poderia constituir o mundo, pois no haveria ento
lugar para outra conscincia. O cogito de outrem destrona o
meu, faz-lhe perder a sua lealdade, a sua segurana. A lingua-
gem esse terreno em que se efectua o meu encontro com
outrem. Anteriormente a qualquer tomada de posio, estou
situado num mundo intersubjectivo. O mundo fsico e social
funciona sempre como estmulo das minhas reaces, quer elas
o admitam quer o contestem. Mesmo a recusa supe algo de
recusado em relao ao qual o sujeito se distancia. A recusa
de comunicar ainda comunicao. Eu comunico sempre com
a histria. A sociedade ateniense encontra-se marcada algures
nos confins da minha prpria histria. Waterloo no nem
a percepo de Fabrice, nem a de Chateaubriand, nem a do
Imperador; o que sucede nos confins de todas estas perspec-
tivas. A Revoluo descobre o latente que a nao ou a classe
apenas percebiam como vago estmulo.
Se o cogito constitusse, eu seria Deus. Ora, sair da dvida,
fazer reencontrar a resistncia do mundo. eu penso
equivalente e coextensivo ao eu sou. A aquisio um
fenmeno irredutvel; eu sou, definitivamente, aquele que viu
um quadro do Tintoreto. A razo tem a sua prpria histria.
No h percepo cultural que no seja construda sem
invisvel cultural. Bachelard mostra bem, em L Nouvel
Esprit scientifique, que a descrio nunca respeita as regras
da s vulgaridade: Subitamente ressoa em ns uma palavra,
encontra um prolongado eco nas nossas antigas e queridas
ideias; uma imagem ilumina-se e convence-nos com brusqui-
do. O objecto nunca natural por estar fixo por traos pr-
-cientficos a ncleos inconscientes. Euclides um solo hist-
rico, verdadeiro-falso conforme a minha perspectiva. A razo
encontra toda uma histria sedimentada. No poderia haver
outro mundo porque limitaria (ladearia) este e faria, portanto,
parte dele.
A temporalidade a forma ntima do sujeito. O tempo
204
OS EXISTENCIALISMOS
no uma sucesso de agoras, por ns vivido antes de qual-
quer diviso do tempo. O sujeito est presente em inteno
tanto no passado como no futuro. A cada instante surge o meu
fazer futuro que modifica o momento precedente. O tempo
no uma linha mas uma rede de intencionalidades. No pode-
ria haver mundo- antes do temporal. Unida ao mundo por uma
confuso inextricvel, a noo de situao afasta a liberdade
absoluta. ao viver o meu tempo que posso compreender os
outros tempos. Exterior, de imediato, a mim, aberto ao mundo,
eu no sou liberdade mas projecto. Nesse instante a filosofia
destri-se como momento separado.
A arte, ancoragem no cerne do mundo
pela frequentao de obras de arte que se inicia a medi-
tao potica de UCEil et 1'Esprit. A cincia desencarna o
objecto, absolutiza a situao de conhecimento do cientista;
mas encontra sempre o h prvio. S essa toalha de sentido
bruto que a arte nos restitui. O pintor aplica o seu corpo,
alarga o campo da viso. O meu corpo vidente e visvel. V-se
vendo, toca-se tocando. Perante o quadro eu vejo com o pintor.
Os nossos olhos de carne so muito mais do que receptculos
de luz. O olho impressionado pelo impacto do mundo-, a mo
celebra o enigma da visibilidade desde Lascaux. A pintura
d corpo ao invisvel. O mundo passa pelo pintor, os olhos
deixam-no para passearem em redor. Klee declara: As rvores
olham-me, falam-me. Eu escuto, espero ser submergido, sepul-
tado. A inspirao literal, o pintor respira o Ser. A viso
pictural um nascimento contnuo.
Descartes preserva o modelo do tacto quando fala da viso.
A sua preferncia vai para as talhas suaves que resguardam
a forma; para ele, a cor no mais do que ornamento, o seu
espao no tem verdadeira profundidade. Descartes concebe
o espao tal como o veria uma terceira testemunha. (No pensa-
mento clssico, a sensibilidade ope-se inteligncia, a percep-
o sempre enganadora.) Czanne responde que o pintor
pensa em pintura, em cor. Czanne torna-se montanha. A pro-
fundidade que descobre torna-se terceira dimenso. O espao
e o contedo esto indissoluvelmente ligados. O pintor nasce
nas coisas assim como as coisas nascem ao pintor.
A pintura moderna no opta entre a linha e a cor nem
entre a figurao e os signos, multiplica os sistemas de equi-
valncia. Tanto a ma como o prado se formam vindos de
um mundo anterior pr-espacial. A cor no imita o visvel, ela
torna visvel (supervisvel no caso do hiper-realismo). Matisse
205
O SCULO XX
OS EXISTENCIALISMOS
ensina-nos a ver os contornos no de um modo fsico-ptico que
seria o da cincia, mas como nervuras, como eixo de um sis-
tema de actividade e de passividade carnal. A linha modu-
lao de uma espacialidade prvia. Os cavalos de Gricault,
os cavalos das bandas desenhadas, correm em posturas que os
cavalos em galope nunca tomam. que o quadro substitui o
instantneo fixo por uma apreenso da durao. A pintura no
restituio do visvel, ela anexa intensamente uma parte do
invisvel. A pintura desmultiplica a viso. O homo sapiens
homo pict&r. em Sens et Non Sens que a doutrina da comu-
nicao artstica se afirma,
Czanne utiliza as deformaes progressivas para criar a
impresso de uma ordem nascente. Os diversos contornos da
ma revelam-nos a sua intensidade, as suas reservas. Czanne
atinge as razes. O olho dilatado do artista germina perante
a paisagem. Solda umas s outras todas as vistas parciais.
A obra elabora-se fazendo^se, no resulta de uma concepo.
Palavra lanada sem se saber se ser mais do que um grito,
elabora-se num pequeno mundo aberto para o mundo. C-
zanne liberta o sentido dos objectos, faz-lhes dizer o que que-
riam dizer. no mundo, sobre a tela, com as suas cores que
Czanne se realiza. Liberta uma poesia mvel que adoa as
leis inexorveis da geometria. O pintor revela o invisvel pre-
sente no cerne de todo o visvel.
Se as coisas encontrassem a sua autenticidade num quadro
preestabelecido no conseguiramos compreender como a sua
pregnncia resistiria desinsero que a metamorfose em pin-
tura exige. O gesto pictural, a actividade filosfica so, por-
tanto, perptuo nascimento. Acabou o mundo grego da Odisseia
circular; a filosofia actividade cujo centro est em todo o
lado e a circunferncia em parte nenhuma.
Teremos de reconhecer um dia a imensa contribuio de
Merleau-Ponty para a filosofia ao introduzir nela a lingustica:
esses signos privilegiados da comunicao. o que ele realiza
particularmente em Sinais. A linguagem est habitada por
presena corporal. O silncio impossvel visto que estamos
presos no insupervel entrelaamento de signos e de sentido
que remete imediatamente para o extralingustico. O filme
dobrado perde o seu sabor, a conversa gravada carece de ges-
tos, de fisionomia, j no essa improvisao contnua. A pin-
tura, a escultura, a arquitectura so esses signos, essa lingua-
gem, que nos falam. Cada artista reabre a historicidade da
arte, retoma, relana e ressuscita o empreendimento artstico
total.
206
O museu , tal como a biblioteca, um lugar duvidoso. O
museu mata a veemncia da pintura, coloca-a numa retros-
pectiva, do mesmo modo que a biblioteca transforma os escritos
em mensagem. A historicidade da pintura o pintor no tra-
balho.
Tanto para o pintor como para o escritor no existe um
alm da linguagem e, no entanto, a obra no pode ser reduzida
ao lingustico. O Mallarm que escreve renuncia ao grande
Livro que tudo devia dizer. Mas a linguagem no est apenas
ao servio do sentido. No existe lao de subordinao. A lingua-
gem relao ao sentido. A lngua reencontra a sua unidade pelo
sujeito falante. A f enomenologia da linguagem esclarece o ser
de fala sobre o ser de linguagem, une, reconciliando, os dois
nveis. A lngua faz existir o mundo assim como este a leva
a ser e sem que se possa indicar um ponto originrio de engen-
dramento. o meu corpo que modula a linguagem ao ailterar-
-Ihe a dico. descentrando-se em relao lngua que a lite-
ratura se cria. Falar virarmo-nos para o Lebenswlt, para
o mundo vivido. ( esse corpo vital que Artaud descobre, uni-
verso corporal do infra-sentido irredutvel ordem da lingua-
gem; ele no fala: grita.)
Por a, Merleau-Ponty pretende restituir a unidade da
filosofia e da sociologia. Compreender esse sistema de paren-
tesco no apenas possuir as suas frmulas, tambm insta-
larmo-nos na instituio, captar a sua estrutura pessoal e
impessoal de base. A filosofia deve considerar o social como
uma coisa a apreender sem preconceito mas como significao.
Mauss, por exemplo, que concebe o social como simblico, esta-
belece os meios de referenciar as realidades individuais, sociais,
de exprimir a variedade das culturas sem as tornar imperme-
veis umas s outras. Lvi-Strauss chama estrutura ao modo
como a troca est organizada na sociedade. Mas ela nada deve
retirar de espessura ou de peso sociedade. Os sistemas econ-
micos, lingusticos, de parentesco encontram-se em relaes
subtis e variveis. A sociedade como> estrutura passvel de
muitos objectivos. Trata-se, portanto, de substituir as antino-
niias por relaes de complementaridade. O socilogo no pre-
cisa de ter a razo do selvagem, mas de se instalar num terreno
601 que a inteligibilidade seja adquirida sem perdas.
Merleau-Ponty encaminhava-se para uma poltica sem
reduo tanto em Humanisme et Terreur p) como em Aven-
tures de Ia Dilectique. O absoluto de Deus para os cristos e
(' ) Embora este texto, produto da guerra fria, seja muito estali-
linista mas, nessa altura, as anlises de Socialisme ou Barbrie eram
Praticamente desconhecidas.
207
O SCULO XX
OS EXISTENCIALISMOS
o absoluto da histria para os comunistas do os problemas por
resolvidos. A histria uma relao entre pessoas encarnadas
nas coisas. Entre os outros e eu h o intermundo em que todos
estamos mergulhados. Ns continuamos, retomando-a, uma
partida comeada sem ns.
A histria no puro no sentido pois ento no seria
pensvel. Mas tambm no tem um sentido, como o rio.
Porque o sentido dessa histria iria destruir a minha aco
ao torn-la intil; ela tem sentido. A significao, os tipos
ideais que Weber introduz completam sem o esgotar o solo que
as anlises marxistas tornaram seco. Toda a histria ainda
aco, em aco; est perpetuamente suspensa do futuro. A his-
tria no pode ensinar-nos verdades, mas talvez apenas erros
a evitar. A poltica , com efeito, a arte da inveno. Em
Marx, o esprito faz-se coisa.
O sujeito pode reconhecer-se na tarefa de totalizao infi-
nita em que est empenhado. A homogeneidade capitalista a
da lei do valor generalizado. (Este relgio no o do meu av,
vale x horas de trabalho.,) Ela coloca o salariado, a explorao,
num mercado nico. Na histria, h menos um sentido do que
a eliminao do no sentido. As relaes entre homens so
construdas como relaes entre coisas; a reificao e a alie-
nao podem assim ser captadas como categorias. A filosofia
da histria que Lukcs desenvolve d-nos menos as chaves da
histria do que a restitui como interrogao incessantemente
renovada.
Lenine distinguiu a ttica em filosofia. Lukcs pretende
conservar as contradies (sem ltima instncia), quando quer
reconhecer a verdade das ideologias. Esta reivindicao da
autonomia relativa da arte remete para os clebres temas de
Marx sobre a eterna admirao dos templos gregos. Mas a
burocratizao da U. R. S. S., os processos de Moscovo, so
o dogma, a recusa dos Sovietes.
Encontramos este problema na anlise dos fins e dos meios.
Para Trotsky, o fim deve anunciar-se nos meios. Fins e meios
mudam constantemente de lugar. Para esse marxismo , por-
tanto, moral o meio de levar o proletariado ao poder, mas
como conservar esse poder? Merleau-Ponty vago...
Merleau-Ponty critica o ultrabolchevismo de Sartre (cf.
Sartre: trata-se, nesta poca, do Sartre companheiro de es-
trada do P. C.), que declara que a classe s pode existir
representada num partido, ainda quando ela no o controla.
o prprio Marx que no seu clebre eu no sou marxista
mostra que a aco est demasiado presente para aquele que
a realiza para admitir a ostentao da opo declarada, A cons-
cincia no puro poder de significar. O sujeito no pura
presena a si e ao objecto. Merleau-Ponty pretende conservar
as significaes abertas inacabadas.
sempre atravs da espessura do campo que se realiza
a minha apresentao a mim mesmo. Entre os homens e as
coisas h o intermundo, o simbolismo, a verdade a fazer, enfim,
a histria. o mesmo homem que produz a literatura, a pol-
tica, porque poltica e cultura renem-se ao terem ecos de
correspondncias, de indues. A filosofia um pensamento
que no constitui o todo mas que nele est situado. O universo
j no tem o seu centro no Sol filosfico. A vanguarda do
saber j no tem misso de re-centramento. Na multiplicidade
descentrada do mundo, o homem foi por fim expulso do que
por muito tempo pensou ser a sua casa, o universo da sua
real conquista.
Da ltima obra de Merleau-Ponty apenas possumos os
fragmentos de Vsble et 1'Invisible. Nela vamos encontrar a
meditao do sujeito vidente e visvel, tocado e tocando. L
Visible et flnmsible projecta a superao de uma filosofia da
conscincia, afirma claramente a sua no engendrabilidade.
O autor procura os sentidos brutos do ser selvagem dado que
ele no est perante mim mas em meu redor. Pretende cons-
truir uma ontologia do sensvel.
A cincia assenta numa f perceptiva, mas permanece fun-
damentalmente estranha questo do sentido. Confere a exis-
^tncia no quilo a que temos abertura mas quilo por que
"podemos operar. O objectivo e o subjectivo que o fsico separa
no so mais do que duas ordens apressadamente construdas
o cujo contexto na experincia total seria conveniente restituir.
A reflexo exige ao mesmo tempo que exclui um esforo inverso
da constituio. E exige-o porque, sem esse movimento centr-
fugo, teria de se confessar construo retrospectiva, mas
exclui-o porque, vindo por princpio aps uma experincia do
mundo que explicita, estabelece-se numa ordem do poste-
rior (> ) que no aquela em que o mundo se faz, (Assim, o
milagre grego depende da estrutura particular de uma lngua,
mas depende tambm dessas rupturas que, no seu tactear, Par-
innides, Plato ou Aristteles efectuam. A anlise do poste-
rior oblitera-o, dissimula os comeos diacrnicos. A irrupo
opera na ordem da fala e no na ordem da linguagem onde
tudo se d na simultaneidade.)
O olhar ele prprio incorporao do vidente no visvel.
Uma cor e, de modo mais geral, um visvel no so pedaos
P) No original, aprs-coup. (N. do E.)
208 209
O SCULO XX OS EXISTENCIALISMOS
de ser indivisveis, duros, dados novos para qualquer viso,
mas uma espcie de desfiladeiro entre horizontes sempre escan-
carados, algo que faz ressoar distncia determinadas regies
do mundo invisvel. Entre os visveis e as cores encontra-se o
tecido que os dobra, os sustenta, os alimenta e que possibi-
lidade, latncia, carne das coisas. A viso palpitao do olhar.
Assim, a espessura de carne entre o vidente e a coisa cons-
titutiva tanto da sua visibilidade como da sua corporeidade.
d corpo que nos une directamente s coisas por ontogenese,
soldando os dois esboos de que feito: a massa sensvel que
ele e a massa do sensvel onde nasce. O meu corpo , com
efeito, de imediato corpo fenomenal e corpo objectivo. O
quiasma a clivagem do sujeito uno e homogneo, santurio
da propriedade privada. (Assim, a nudez dos mass media pre-
tende reencontrar o corpo verdadeiro. Efectivamente, ela
olhd morto, passa ao lado do corpo. O sexo e o simblico no
dependem da evidncia naturista mas da ambivalncia do corpo
dividido.)
O nosso corpo coisa entre coisas e, alis, o que as v,
o que as toca: rene assim a sua dupla pertena ordem do
objecto e ordem do sujeito. O vidente encontra-se apanhado
em tudo o que ele v numa relao em que vidente e visvel so
recprocos. O meu corpo rene os tactos dos meus diferentes
olhos, das minhas mos, compe as flores dspares de todas
essas conscincias de num ramo subtendido pela unidade pr-
-objectiva de si mesmo. Assim, eu oio a minha voz com a
minha garganta. A carne que descobrimos no seno matria,
enrolamento do visvel sobre o corpo, do tangvel sobre o
tocante.
A percepo e o tacto instauram uma relao de usurpao
entre o sujeito e o objecto que os situa num campo de indis-
tino. A carne linguagem assim como a linguagem parte de
uma relao carnal. A arbitrariedade do signo trabalhada no
corpo (da letra) no sentido em que Freud trabalha o sonho.
(A operao de diviso de uma lngua apoia-se, na realidade,
no no dito do discurso.)
Proust d-nos a imagem da fixao das relaes do visvel
e do invisvel ao descrever uma ideia que no o contrrio
do sensvel mas o seu revestimento, a sua profundidade. Assim,
a ideia musical, a essncia do amor que a pequena frase trans-
mite a Swann, no se deixam destacar das aparncias sen-
sveis.
O meu corpo no nem coisa nem ideia, o que mede
as coisas. Quando eu penso, a ideia anima a minha fala interior
como a pequena frase possui o violinista. E como o meu
corpo s v por fazer parte do visvel em que se produz, o sen-
tido para que se abre a composio dos sons repercute^se nele.
Desse modo, o inconsciente remete para o corpo e, embora a
psicanlise se revele ser prtica da letra (no sentido de Le-
claire), nenhuma letra pode ser extrada do movimento libidi-
nal; este implica o corpo que a produz como marca, condio
de possibilidade da sua incrio numa carne.
Merleau-Ponty no fez escola. Foi, com frequncia, lido
como um filsofo do sujeito vivo, paradoxal fenomenlogo
da experincia misteriosa.
Companheiro de Sartre nas suas tomadas de posio pol-
ticas da Libertao (ele iniciou-o, contudo, num certo mar-
xismo), abandona esse campo aps 1956.
Na realidade, ele deseja desde La Prose du Monde, de
1952 fundar na descoberta do corpo uma teoria concreta
do esprito 1). Centra as suas investigaes na linguagem,
nesse sentido do texto que se elabora no exterior do que est
escrito. Ouve-se relinchar o inconsciente na viso dessa lingua-
gem composta de significaes quase corporais, gesto do
mundo. Incompleta, a obra de Merleau-Ponty permanece pre-
sena da ambiguidade. Puxada para um lado pela corrente
husserliana -o para outro por alguns freudianos. Optar, seria
obliterar a complexidade de uma obra polimorfa.
No entanto, a linguagem e o corpo permanecem os centros
da sua investigao e isso por remeterem para um exprimido
que no depende aperis do exprimvel mas tambm de um
mostrar. Se pensarmos no Wittgenstein do fim do Tractus:
H certamente algo de inexprimvel, ele mostra-se... ou nas
diatribes de Nietzche contra a cincia, esse pombal dos con-
ceitos, esse sepulcro dos desejos, talvez possamos anexar Mer-
leau-Ponty, Efectivamente, ele iniciou a subverso das filo-
sofias do cogito. Sem o seu desaparecimento, at onde teria
podido ir o programa que estabelece em L Visible et Vlnvisible:
O meu plano deve ser apresentado sem qualquer compromisso
com o humanismo, com o naturalismo nem, enfim, com a teo-
logia. .. Trata-se de mostrar que a filosofia j no pode pensar
segundo a clivagem Deus, o homem, as criaturas...?
(:) Ele , a este respeito, anticlssico, prximo de um Espinoza
<lue pergunta na tica: Que pode o corpo?
210
211
BIBLIOGRAFIA
1. Sartre
Textos:
La Transeendance e 1'Ego, Vrin, Paris, 1936.
L'Imaginaire, Gallimard, Paris, 1943.
L'tre et l Nant, Gallimard, Paris, 1943.
La Critique de Ia raison dialectique, Gallimard, Paris, 1960.
Situations (I a X), Gallimard, Paris de 1947 a 1972. [Edio
portuguesa: Situaes (volumes I. II. III, IV, V, VI, VII), Publicaes
Europa-Amrica, Lisboa (N. do T.)
L'Idiot de Ia famlia, Gallimard, Paris, 1973.
- Ls Mouohes (teatro), Gallimard, Paris, 1943.
Ls Troyennes (teatro), Gallimard, Paris, 1966.
Estudos
Beauvoir (S. de)L'Existentialisme et Ia sagesse ds nations,
Nagel, 1948. [Edio portuguesa: O Existencialismo e a Sabedoria das
Naes, Editorial Estampa, Lisboa, 1967 (N. do T.)]
Burnier (M. A.) Ls Existentialistes et Ia politique, col. Ides,
Gallimard, Paris, 1966.
Jeanson L problme moral et Ia pense de Sartre, Seuil, Paris
1947.
Lefort-Sartre Ls Temps Modernes, 1952-1953.
Veerstraten tue sur Sartre, 1972.
Wahl (Jean) Ls PMlosophies de 1'eafistence, Colin, Paris.
2. Merleau-Ponty
Textos:
Structure du comportement, P. U. F., Paris, 1942.
Phnomnologie e Ia perception, Gallimard, Paris, 1945.
Aventures de Ia Dialectique, Gallimard, Paris, 1945.
Sens et Non Sens, Nagel, Paris, 1948.
Signes, Gallimard Paris, 1960. [Edio portuguesa: Sinais,
Editorial Minotauro, Lisboa, 1962 (N. do T.)]
L'Oeil et VEsprit, Gallimard, Paris, 1961.
L Visible et VInvisible (texto estabelecido por Claude Lefort),
Gallimard, Paris, 1964.
Estudos:
Collin (Franoise)L corps impropre, in Maurice Blanchot et
Ia qustion de Vcriture, 1971.
Revue Internationale de Philosophie, Nmero sobre Merleau-
-Ponty, 1969.
. Ls Temps modernes, Nmero especial, 1961.
Artigos de Lacan, Pontalis, Lefort, J. Wahl, A. de Waelhens.
3. Existencialistas franceses
Beaufret: A props de Vexistencialisme, Confluence, Paris, 1945.
Desanti Phnomnologie et Praxis, ditions Sociales, Paris, 1963.
212
OS EXISTENCIALISMOS
Lavelle Trait ds valeurs, F. U. F., Paris, 1951.
Mareei (G.) tre et Avoir, Montaigne, Paris, 1933.
Mounier Introduction aux Existentialistes, Denoel, Paris, 1946.
RicoeurGabriel Mareei et Karl Jaspers, editions du 'Temps
prsent, Paris 1948.
Wahl Vers l concret, Vrin, Paris, 1932.
Trait de mtaphysique, Payot, Paris, 1955.
Outros estudos :-
Dufrenne Phnomnologie de l'exprience esthtique, Paris, 1953.
Janklvitch La Mauvaise Conscience, Paris, 1933.
Lvinas En dcouvrant Vexistence, Paris, 1949.
Lukcs Existentalisme ou Marxisme, Nagel, Paris, 1948. [Edi-
o portuguesa: Realismo e Existencialismo, Editora Arcdia, Lisboa.
(N. do T.)].
Tran Duc Thao Marxisme et Phnomnologie, Revue Interna-
cionale, 1946.
VI
OS MARXISMOS
por velyne Pisier-Kouchner
Em 1883, Marx morre; em 1889, criada a Segunda Inter-
nacional operria; em 1895, Engels, que ir desaparecer no
mesmo ano, fala, num Prefcio a uma reedio dos textos de
Marx consagrados Lwta e Classes em Frana e baseando-se
no crescimento poltico do Partido Social-democrata e no desen-
volvimento do sindicalismo na Alemanha, da possibilidade de
uma conquista do poder pela via parlamentar.
Para se compreender correctamente o que vir a acontecer,
necessrio recordar brevemente o que , nesta poca, o mar-
xismo. A atitude global tomada pelos seus fundadores, as pol-
micas ideolgicas e as lutas polticas que tiveram de travar,
os terrenos a que o seu aprofundamento terico as conduziu,
permitem que o marxismo, tal como ento se apresenta, possa
ser objecto de leituras diversas, todas, de certo modo, justifi-
cveis e, apesar de tudo, no concordes. Assinalemos as mais
caractersticas:
O marxismo pode ser entendido como uma filosofia
no sentido clssico do termo , ou seja, como um sistema
geral do Ser, do Devir e do Conhecimento. assim que, por
exemplo, foi interpretado na Unio Sovitica a partir de 1936,
sob o impulso de A. Jdanov. No centro deste sistema eneontrar-
-se-ia o materialismo dialctico teoria das leis da natureza
e da sociedade, o materialismo histrico aplicao dessas
leis histria, a poltica aplicao do materialismo his-
trico situao presente , a moral socialista idntica
aplicao conduta individual , o realismo socialista apli-
cao criao artstica e ao juzo esttico, etc,
O marxismo pode ser entendido como uma filosofia da
histria no sentido em que o augustinianismo e o hegelia-
215
O SCULO XX
nismo so filosofias da histria; mas seria uma filosofia da
histria materialista, pondo em evidncia a preeminncia da
determinao econmica, Como veremos, esta a concepo
subjacente Segunda Internacional. /
possvel pr a tnica na contribuio econmica de
Marx e Engels: nesse caso j no se trata de uma filosofia
geral mas de uma teoria econmica de conjunto cujo carcter
cientfico poder ou no ser reconhecido.
Podemos consider-lo essa uma posio corrente, em-
bora seja to confusa que j nada signifique como um
mtodo. Um mtodo para qu? Para analisar correctamente o
jansenismo ou a poesia de Baudelaire? Para guiar o fsico e o
bilogo nos seus trabalhos? Para fazer a revoluo? E, neste
caso, que revoluo?
possvel afirmar que o materialismo histrico uma
cincia a cincia da sociedade e das suas transformaes
cuja matriz o materialismo dialctico.
fi evidente que estas diversas leituras se confirmam, se
subrepem... Acontece que balizam o espao no seio do qual
se desenvolvem as tomadas de posio histricas que so ana-
lisadas neste captudo. Provavelmente, parecer que se no
lcito definir uma ortodoxia fcil determinar revises.
Os revisionismos tericos ou/ e prticos tm uma constante:
esquecer, voluntria ou involuntariamente, que o marxismo,
atravs da instituio de uma nova relao entre o terico e o
prtico, coloca a teoria como tal ao servio das foras
revolucionrias. A questo que seguidamente se pe a de
saber de que modo, e segundo que modalidades, se realiza his-
toricamente esta operao.
1. Do marxismo desfigurado ao marxismo transfigurado
A II Internacional ou, pelo menos, alguns dos seus chefes
histricos, pensa receber como herana o marxismo e afirma-se
doravante encarregada de capitalizar a contribuio chamada
cientfica. O marxismo constitudo, desde ento, como Peda-
gogia, donde se exclui a dialctica. revisionismo nasce desta
pretenso. Bernstein e Kautsky ilustram bem esta desfigurao
do marxismo no seio da II Internacional, mas a importncia
das correntes que alimentam no pode ser limitada a este
perodo histrico. Bernstein e Kautsky continuam a ter influn-
cia no Revisionismo moderno e podem ser considerados como
os seus principais fundadores.
OS MARXISTAS
Esta reviso do marxismo suscita violentas controvr-
sias que levam criao da III Internacional por Lenine.
O necessrio esquematismo da apresentao no deve, no
entanto, fazer esquecer que as querelas no so puras especula-
es intelectuais mas que se alimentam na Histria. A distin-
o, forosamente artifical, entre duas grandes tendncias, uma
revisionista, outra revolucionria, no deve, de igual modo,
dar azo a iluses: por um lado, o leninismo constitui um deslo-
camento da dialctica marxista que no deixa de dever algo
a Kautsky, por exemplo, de modo que, como escreve Lukcs,
a ideologia dos autores do Manifesto Comunista um mate-
rialismo dialctico e histrico enquanto, na poca em que se
situa a actividade de Lenine, o centro de gravidade se desloca
e a evoluo do pensamento vai, a partir de ento, centrar-se
num materialismo dialctico e histrico. Por outro lado, no
se deve esquecer que o Lenine de 1905 no , no pode resumir
antecipada ou inversamente, o leninismo da III Internacional.
No obstante, a prxis assegura-lhe a sua unidade enquanto,
pelo contrrio, do neo-kantismo de Bernstein ao neo-positivismo
de Kautsky, o revisionismo constitui efectivamente uma desfi-
gurao do marxismo.
A desfigurao revisionista
O revisionismo nasce da situao paradoxal da social-demo-
cracia e, em particular, da social-democracia alem no fim do
sculo xix: o capitalismo europeu tinha entrado numa fase
de expanso acompanhada de uma atenuao das suas crises
e de uma relativa elevao do nvel de vida da classe operria;
aps o esmagamento da Comuna de Paris, assiste-se ao desen-
volvimento e ao crescimento dos sindicatos e partidos oper-
rios; na Alemanha, a social-democracia recolhe os frutos da
sua adeso ao jogo democrtico: 21 milhes de votos nas elei-
es de 1898, 56 deputados correspondentes a 27 % dos sufr-
gios expressos; em Frana, embora denunciando o ministe-
rialismo de um Millerand, a social-democracia entrev a pouco
e pouco a possibilidade de uma passagem gradual e pacfica
para o socialismo.
Tomando conscincia da crescente contradio entre o
velho discurso revolucionrio e a prtica reformista da social-
-democracia, Eduard Bernstein, em 1899, em Os Pressupostos
do Soeiatismo, pede aos chefes do movimento operrio que
tenham a coragem de parecer o que na realidade so, de se
emancipar de uma fraseologia ultrapassada pelos factos e
aceitem ser um partido das reformas socialistas e democrti-
216
217
O SCULO XX
OS MARXISTAS
cs. Bernstein empreende uma tripla reviso, filosfica, econ-
mica e poltica do marxismo e tenta uma nova justificao
tica da marcha para o socialismo. Bernstein rompe, em
primeiro lugar, com a dialctica: O que Marx e Engels fizeram
de importante, no o fizeram graas a ela mas apesar dela.
O processo dialctico cede o lugar a uma evoluo gradual e
Bernstein quebra assim a totalidade histrica tal como Marx
a tinha concebido: o socialismo no deve surgir do agrava-
mento das condies objectivas mas de uma transformao do
capitalismo por meio da aco do partido social-democrata
inspirado por um ideal. teoria cientfica vem acrescentar-se
um complemento tico. O proletariado, sujeito portador de
reivindicaes e de valores, torna-se um elemento integrador,
tendo por misso estender progressiva e pacificamente ao corpo
social total os seus fins ticos comuns. Perante as capacidades
de adaptao do capitalismo que tornam improvvel qualquer
crise catastrfica, Bernstein atribui uma progressiva aco
socializante luta sindical e parlamentar. Verdadeira defesa
da via legal e parlamentar, o revisionismo de Bernstein faz da
Democracia simultaneamente o meio e o fim: Ela o meio
para estabelecer o socialismo, assim como a forma da sua
realizao. Basta que a classe operria tenha o direito de
voto universal e igual para que o princpio social que cons-
titui a condio fundamental da liberdade esteja adquirido.
Por consequncia, o fim do socialismo a tomada de poder
pelo proletariado importa menos que o movimento pelo qual
o proletariado avana na via das conquistas sociais.
Face a Bernstein, Kautsky representa, num primeiro
tempo, a resposta da ortodoxia marxista no seio da II Inter-
nacional. Nenhuma reviso do marxismo necessria: textos
como o Marxismo e o seu Crtico Bernstein ou A Poltica Agr-
ria do Partido Socialista pretendem responder ponto por ponto
aos argumentos avanados por Bernstein.
No entanto, Kautsky, rapidamente perde a sua influncia
e deixa de aparecer como o terico determinante do marxismo:
A Conceio Meterialista da Histria., em particular, objecto
de ataques virulentos por parte de Lenine e de Rosa Luxem-
burgo. De facto, do mesmo modo que Bernstein, Kautsky no
tem em conta a dalctica marxista. Para ele, esta reduz-se a
uma lei de evoluo muito geral tanto na Natureza como na His-
tria. Para Kautsky existe uma lei comum a que est submetida
tanto a evoluo humana como a animal e vegetal; isto , qual-
quer transformao, tanto das sociedades como das espcies,
deve ser atribuda a uma transformao do meio porque a
histria da humanidade no representa mais do que um caso
particular da histria dos seres vivos, possuindo as leis parti-
culares da Natureza viva. Esta concepo leva, como evi-
dente, negao de qualquer relao dialctica da conscincia
ao ser e da teoria prtica. A unidade da teoria e da prtica
reduz-se aos ensinamentos da histria passada para a histria
futura. A concepo materialista da histria tem, afinal, por
tarefa fornecer aos homens um conhecimento cientfico que lhes
permita orientarem-se num meio que os rodeia e oprime. Esta
concepo justificadamente considerada como aboslutamente
contraditria com a tese marxista segundo a qual no se trata
de interpretar o mundo (passivamente) mas de o transformar
(praticamente conscientemente) e como a outra face, o
reflexo terico e complemento sistemtico do revisionismo de
Bernstein.
Como semelhante atitude no pode originar qualquer pr-
tica revolucionria, o Kautskismo apresenta-se como uma es-
pcie de atitude de expectativa que remete para as foras imi-
nentes da Histria. certo que Kautsky no est convencido de
que o socialismo possa surgir progressivamente de uma simples
adio de reformas legalistas, mas deixa de acreditar na neces-
sidade de revoluo. Segundo ele, grandes movimentos de mas-
sas deveriam ser capazes de arrebatar o poder s classes diri-
gentes e rep-lo nas mos de uma maioria de trabalhadores:
postula assim que o exerccio da democracia pode permitir que
o capitalismo evolua para uma maturao das condies do
socialismo.
Por ocasio da primeira guerra mundial, a atitude chau-
vinista dos sociais-democratas que, em Frana e na Alemanha,
votam os crditos de guerra, dissipa qualquer ambiguidade: a
social-democracia j no um movimento revolucionrio.
A transfigurao pela prxls
Os mencheviques, Martov, Potressov, Axelrod, Vera Zassu-
lich e, mais tarde, Plekhanov, confiantes nos ensinamentos
kautskistas, esperam uma revoluo mais ou menos pacfica,
mais ou menos burguesa. Restabelecendo a unidade dialctica
da actividade terica e da actividade prtica, os bolcheviques
realizam a revoluo proletria na Rssia.
Do falhano da insurreio de 1905 ao triunfo da revoluo
bolchevique em 1917, elaborou-se uma teoria do Imperialismo,
definida nos escritos de Lenine: Europa Atrasada, sia Avan-
ada (1913), Teses sobre a Guerra (1914), Sobre a Palavra de
Ordem dos Estados Unidos da Europa (1915), A Revoluo 8o-
218
219
O SCULO XX
OS MARXISTAS
cialista e o Direita das Naes Autodeterminao (1916) e o
mais conhecido O Imperialismo, Fase Superior ao Capitalismo
(1917). O que o imperialismo? Cinco sries de factores contri-
buem para a sua definio:
Concentrao da produo e do capital num grau to ele-
vado que originou os manoplios, cujo papel decisivo na vida
econmica;
Fuso do capital bancrio e do capital industrial e cria-
o, com base no capital financeiro, de uma oligarquia finan-
ceira;
A exportao de capitais, ao contrrio da exportao de
mercadorias, adquire uma particular importncia;
Formao de unies internacionais capitalistas mono-
polistas que partilham o mundo;
Concluso da partilha territorial do globo pelas maiores
potncias capitalistas.
Esta concepo ope-se tese de Rosa Luxemburgo para
quem o imperialismo anuncia fatalmente a destruio do capi-
talismo pelas suas prprias contradies. Lenine considera no
haver fundamento para qualquer perspectiva de autodestruio
e pensa que convm no subestimar as possibilidades de adap-
tao dos Estados capitalistas, quaisquer que sejam os conflitos
armados para que forem arrastados.
Mas rejeita igualmente as prespectivas Kautskistas que
definem o imperialismo com uma tendncia das naes capita-
listas para anexar regies agrrias cada vez maiores. Essa
definio limitaria ao imperialismo a aquisio de colnias ca-
pazes de fornecer as matrias-primas e os produtos agrcolas.
Ora, segundo Lenine, o imperialismo caracteriza-se por uma
tendncia para anexar no s as regies agrrias mas tambm
as regies mais industriais (a Blgica cobiada pela Alema-
nha, a Lorena pela Frana). E isto por duas razes: em pri-
meiro lugar, porque, como a partilha do mundo j est con-
cluda, uma nova partilha fora a que se estenda a mo para
qualquer territrio e, em seguida, porque a prpria essncia do
imperialismo implica a rivalidade de vrias grandes potncias
para a hegemonia isto , a conquista de territrios no
tanto por si mesmo como para enfraquecer o poder do adver-
srio (a Blgica fundamentalmente necessria Alemanha
como ponto de apoio contra a Inglaterra; a Inglaterra necessita
de Bagdad sobretudo como ponto de apoio contra a Alema-
nha...).
Lenine critica igualmente a teoria do superimperialismo
de Kautsky por deixar entrever a abolio da concorrncia entre
os Estados imperialistas e, portanto, a garantia de uma paz
220
mundial. Para Lenine, s se pode conceber a partilha de zonas
de influncia atravs do uso da fora e, como as relaes de
fora variam necessariamente, as alianas interimperialistas
mais no so do que trguas entre a& guerras. A teoria de
Kautsky pois considerada como um logro das massas, fun-
damentalmente oportunista e reaccionria, incompatvel com
o marxismo. Lenine considera que tanto mais importante
combat-la quanto certo que enormes lucros monopolistas
permitem aos capitalistas corromper certas camadas de oper-
rios e, momentaneamente, uma minoria operria bastante im-
portante. Visto que a ideologia imperialista penetra igualmente
na classe operria, que no se encontra separada das outras
classes por uma muralha da China, a luta anti-imperialista
deve estar indissoluvelmente ligada luta contra o oportunismo
sem o que no passa de uma frase oca e enganadora.
a prpria natureza do imperialismo que permite explicar,
segundo Lenine, o processo revolucionrio na Rssia, sociedade
semifeudal no seio da qual as contradies imperialistas permi-
tem o aparecimento de uma industrializao fortemente concen-
trada. esta mesma natureza do imeprialismo, baseada na lei
do desenvolvimento desigual, que permite conceber que o prole-
tariado russo, aliado aos camponeses, possa fazer a economia
de uma revoluo burguesa. No entanto, -lhe necessrio adqui-
rir uma conscincia poltica revolucionria para a qual o instru-
mento essencial , segundo Lenine, o Partido.
Lenine ergue-se contra o oportunismo Kautskista nos ter-
mos do qual j no h lugar para a luta armada na soluo dos
conflitos de classe. Lenine est persuadido da actualidade da
revoluo, mas acrescenta: Sem teoria revolucionria no h
movimento revolucionrio. O movimento operrio incapaz
de elaborar por si mesmo uma ideologia revolucionria e qual-
quer desenvolvimento espontneo o submete ideologia bur-
guesa, de tal modo que a conscincia poltica de classe s pode
ser levada ao operrio do exterior, ou seja, do exterior da luta
econmica. Lenine insiste igualmente na necessidade de o Par-
tido ser composto pelos elementos mais conscientes para que
estes se entreguem a uma activa educao poltica das massas;
o Partido Bolchevique deve ser construdo a partir do modelo de
um centralismo* rigoroso implicando uma disciplina rgida. Es-
tas teses, desenvolvidas particularmente em Que fazer?, con-
serva um perfume Kautskista: Lenine parece to persuadido do
Poder inerente ao marxismo como saber cientfico, que no
receia imaginar o Partido como funcionamento semelhana de
U fti intelectual colectivo*, produzindo, dominando e distribuindo
0Verdadeiro. Mas a prxis tem tambm manifestaes felizes:
221
O SCULO XX
OS MARXISTAS
em Abril de 1917, contra a opinio do conjunto dos veteranos
do bolchevismo, Lenine toma partido pelos Sovietes.
Encontramos as mesmas oscilaes na sua concepo da
ditadura do proletariado e do desaparecimento gradual do Es-
tado.
O Estado, isto , o proletariado organizado em classe do-
minante, esta definio do Estado, observa Lenine, nunca foi
comentado pela literatura de propaganda nos partidos sociais-
-democratas. O que devido, sem dvida, a parecer inconcilivel
com o reformismo e a contradizer os pressupostos oportunistas
e ilusrios no que se refere evoluo pacfica da democracia.
O Estado burgus no pode evoluir progressivamente para
o socialismo: s o pode o Estado da ditadura do proletariado, na
medida em que a nica forma de estado adequada ao exerccio
da ditadura poltica do proletariado, na medida em que o
nico lugar em que se estabelecem as alianas que permitem
a unificao da classe operria em torno da sua vanguarda, na
medida em que permite conquistar a massa dos trabalhadores
para a estratgia poltica da Revoluo Socialista. ainda ao
Partido que compete, segundo Lenine, assegurar a transio
para o socialismo: a ditadura do proletariado , sobretudo, uma
ditadura poltica assegurada a partir de nvel poltico com o
objectivo de liquidar progressivamente as relaes de produo
capitalistas, a ideologia burguesa e a construo progressiva do
socialismo. Em Lenine, a ditadura do proletariado exercida
atravs de mltiplas formas organizacionais, mas o conjunto
deve permanecer estreitamente submetido estratgia poltica
revolucionria. Lenine recusa igualmente subscrever as teses
da oposio operria (Kollontai) que exige que o Estado seja
dirigido pelos sindicatos ou as de Trotsky, que reivindica, em
1920, a integrao dos sindicatos no Estado.
Mas esta natureza da ditadura do proletariado no deve
fazer esquecer a sua funo essencial, ou seja, que, desde a sua
fundao, o Estado da ditadura do proletariado inicia um pro-
cesso de desaparecimento. nas famosas Teses de Abril que
Lenine o recorda com maior vigor: apela por intermdio dos
sovietes supresso gradual do Estado, devendo um nmero
sempre crescente de cidados e, seguidamente, todos os cidados
sem excepo tomar parte directa e quotidiana na gesto do
Estado. certo que, para passar da sociedade capitalista para
a sociedade comunista, necessrio um Estado de transio
implicando uma ordem rigorosa e mesmo o uso da violncia
para reprimir sem piedade todas as tentativas da contra-revo-
luo; mas esta forma de estado radicalmente diferente das
que a precederam. O contedo fundamental da diferena entre
o aparelho de Estado proletrio e o aparelho de Estado burgus
consiste no facto de o primeiro no estar separado das ma-
sas, de lhes estar subordinado, o que implica e permite o seu
desaparecimento como Estado. Mas quando, no X Congresso
do Partido, em 1921, Lenine orienta o poltica econmica no
sentido de um novo curso, a NEP, no esconde que se trata
de um longo desvio estratgico no caminho para o socialismo.
Por outro lado, desde 1920 que Lenine receia que o Estado
sovitico apresente uma deformao burocrtica: foi esse o
triste rtulo que fomos forados a pr-lhe. Eis a transio em
toda a sua realidade. Uma ruptura entre o aparelho de Estado
e as massas torna cada vez mais difcil a efectiva participao
das massas oprimidas e exploradas na, gesto dos interesses
pblicos. Reactiva no seio das massas o preconceito prejudi-
cial, enraizado desde h sculos, segundo o qual a gesto do
Estado uma arte particular que necessita de privilegiados:
essa a essncia do burocratismo. E, enquanto os capitalistas
no tiverem sido expropriados, enquanto a burguesia no tiver
sido derrubada, inevitvel uma certa burocratizao dos pr-
prios funcionrios do proletariado. O seu ltimo texto, Vale
mais Menos mas Melhor (1923), procura recordar que a dita-
dura do proletariado no a mesma coisa do que a ditadura do
Partido. Efectivamente, era contra isso que Rosa Luxemburgo
tentava, h vrios anos, preveni-lo.
Rosa Luxemburgo e o movimentto spartakista
Rosa Luxemburgo, chefe de fila do movimento spartakista
ou ala esquerda da social-democracia alem, pode ser conside-
rada como um dos fundadores, juntamente com Karl Liebk-
necht, do Partido Comunista Alemo. o esmagamento da
insurreio spartakista, em 1918, comparado com o triunfo da
insurreio leninista em 1917, que vai justificar por muito
tempo o isolamento das ideias luxemburguistas. Actualmente,
desenha-se, inversamente, uma corrente que procura regressar
s fontes do luxemburguismo naquilo em que se ope, pelo me-
nos em algumas anlises fundamentais, a Lenine.
Segundo Rosa Luxemburgo, o imperialismo deriva da im-
possibilidade de realizar a mais-valia no interior dum sistema
composto exclusivamente por capitalistas e operrios (baixa
tendncia! da taxa de lucro). Assim, para o capital h necessi-
dade de penetrar e destruir as formaes econmicas pr-capi-
talistas, de modo a que lhes sirvam de mercado e fornecedor de
ttiatrias-primas. O capitalismo tende a alargar ao mundo in-
O SCULO XX
teiro o seu domnio absoluto mas, ao mesmo tempo, precipita a
sua prpria runa pois faz entrar no seu prprio sistema as
ltimas formaes que lhe poderiam servir de esferas de acumu-
lao. De qualquer modo, a guerra ou a Revoluo iro provocar
o seu desabamento antes que tenha deparado com esses limites
mecnicos. A contradio fundamental provm do facto de
quanto mais a produo capitalista subtituir os modos de pro-
duo mais atrasados, mais estreitos se tornam os limites do
mercado criados pela procura do lucro em relao s necessi-
dades de expanso das empresas capitalistas existentes.
para se opor s implicaes das teorias revisionistas que
Rosa Luxemburgo tenta demonstrar que a prpria universali-
zao das contradies do processo de acumulao conduz o capi-
talismo a uma ltima convulso. Embora as preocupaes pol-
ticas (combater o revisionismo) sejam idnticas em Lenine e
Rosa Luxemburgo, a anlise do fenmeno imperialista bem
diferente e implica, em particular, um desacordo sobre a questo
nacional. De facto, Rosa Luxemburgo recusa qualquer carcter
revolucionrio s aspiraes nacionais dos povos da Europa e
da Rssia. Para ela, o nacionalismo" no mais do que o molde
vazio onde cada perodo histrico e as relaes de classe em
cada pas vertem um contedo material particular.
Rosa Luxemburgo tenta ainda opor-se soluo leninista
da Organizao: constatando que s o proletariado tem voca-
o revolucionria, Rosa Luxemburgo pretende que o Partido
intervenha apenas no movimento espontneo da classe operria
a fim de se assegurar a permanncia do objectivo final. certo
que essa confiana no movimento vivo das massas pode custar
caro, mas a classe operria... reclama resolutamente o direito
de ela prpria aprender a dialctica da Histria... e os erros
cometidos pelo movimento operrio verdadeiramente revolucio-
nrio so, historicamente, infinitamente mais preciosos e fecun-
dos do que a infalibilidade da melhor Comisso Central. tam-
bm nesta perspectiva que o papel do sindicalismo vai ser ana-
lisado, porque a luta poltica e a luta econmica mais no so do
que as duas faces entremeadas da luta de classe proletria.
O que, segundo Rosa Luxemburgo, provoca a sua decisiva uni-
dade a greve de massa. Esta no poder ser uma palavra de
ordem poltica lanada do exterior pelas instncias de um par-
tido. a pulso viva da Revoluo, o modo de movimentao
da massa proletria, a forma de manifestao da luta proletria
na Revoluo. Rosa Luxemburgo nunca deixar de se preo-
cupar com alguns aspectos da teoria leninista. Embora saudando
com entusiasmo o sucesso da Revoluo Russa, Rosa Luxem-
burgo pe-a de sobreaviso contra uma certa concepo da dita-
2 2 %
OS MARXISTAS
dura do proletariado, que no poder apresentar-se como a
tentativa desesperada de uma minoria para modelar pela fora
o mundo segundo o seu ideal. Ditadura de classe e no ditadura
de Partido, dever identificar-se com a mais ampla Democracia:
Sim, sim, ditadura! mas esta ditadura consiste na maneira de
aplicar a democracia e no na sua abolio! Em. Janeiro de
1919, Rosa Luxemburgo morre assassinada por ter escolhido
permanecer em Berlim sitiada: No se faz a histria mundial
sem grandeza espiritual, sem gestos nobres, tinha ela escrito
com essa misteriosa fulgurao com que Gramsci a designa.
Gramsci
O fundador do Partido Comunista Italiano, o primeiro
marxista italiano verdadeiro, completo consequente, ir morrer
nos calabouos mussolinianos aps longos e trgicos anos de
encarceramento. Gramsci deixa uma obra importante de que se
deve salientar, pelo menos, dois aspectos particularmente origi-
nais: um referente dimenso cultural da revoluo prole-
tria, o outro institucionalizao dos conselhos de fbrica.
O conselho de fbrica, lugar de sntese entre infra-estrutura eco-
nmica e superstrutura poltica, permite ao proletariado cons-
ciente exercer espontaneamente a sua ditadura democrtica a
partir da prpria instncia em que se situam as contradies
especficas do Estado burgus. Cabe a Gramsci o mrito de ter
sublinhado a imperfeio das anlises simplificadoras respei-
tantes a esse Estado burgus e de ter tentado reintroduzir-lhe
o papel ideolgico e j no apenas poltico que nele exer-
cem os grupos sociais. O que permite compreender que a bur-
guesia se pode manter no poder mesmo que as instituies
polticas se encontrem enfraquecidas graas sua hegemonia
cultural no seio da Sociedade civil. Esta ideologia difundida
por intermdio de organizaes privadas com a Igreja, a Es-
cola, etc. No termo dessa anlise Gramsci reabilita a funo
de intelectual. Com efeito, como qualquer classe social em vias
de hegemonia, o proletariado possui uma vanguarda constituda
por intelectuais orgnicos: cada grupo social que nasce no
terreno original de uma funo essencial no mundo da produo
econmica, cria ao mesmo tempo uma ou vrias camadas de
intelectuais que lhe conferem a sua homogeneidade e a cons-
cincia da sua prprio, funo, no apenas no domnio econ-
mico mas tambm no domnio poltico e social... a este novo
bloco histrico que Gramsci atribui a misso de realizar a
revoluo proletria e cultural.
2 2 5
O SCULO XX
OS MARXISTAS
Se a teoria gramsciana inseparvel de uma autntica pr-
tica revolucionria, a do hngaro Lukcs no possui os mesmos
prolongamentos. A sua obra mais importante, Histria e Cons-
cincia de Classe (1923), uma tentativa de redefinio da dia-
lctica por meio dos conceitos de totalidade e de identidade do
sujeito e do objecto de conhecimento no processo histrico. Esta
concepo, que ele ope concepo mecanicista da dialctica,
vir a ser respeitada pela ortodoxia marxista. A autocrtica de
Lukcs e a sua posterior adeso> ao estalinismo iro contradizer
o projecto filosfico. Sero testemunho do terror policial do
novo regime estalinista, usurpador do marxismo.
2. Do revisionismo estalinista desestalinizao revisionista
As concepes de Estaline sobre o socialismo e sobre a fase
de transio constituem uma reviso radical do marxismo-leni-
nismo: com a teorizao do socialismo num s pas que se
opera a primeira ruptura, que levaria Estaline a afirmar, a
partir de 1936, que a sociedade socialista estava realizada na
Rssia, que as classes tinham sido abolidas mas que, no entanto,
o Estado sobrevivia como estrutura de defesa contra os inimi-
gos exteriores. Em Princpios do Leninismo, Estaline afirma a
possibilidade de construir o socialismo num s pas. Posterior-
mente, em Questes do Leninismo, faz desta tese a garantia
principal contra a interveno exterior. A ideia segundo a qual,
graas ao trabalho obstinado dos povos da U. R. S. S. e aos
excepcionais recursos do seu territrio, seria possvel construir
uma autntica sociedade socialista, torna o desenvolvimento das
foras produtivas na U. R. S. S., custa do proletariado interna-
cional, o factor principal da vitria da revoluo socialista.
A partir de ento, a estratgia estalinista subordina a luta
do proletariado necessidade de inflectir a poltica internacio-
nal da sua burguesia, para que esta no ponha em perigo a
edificao do socialismo na U. R. S. S.. Nos pases pr-indus-
triais, sob dominao imperialista, trata-se, sobretudo, de se
apoiar nos movimentos nacionalistas burgueses democrticos
submetendo-os ou impedindo a emergncia de movimentos na-
cionais revolucionrios. Em Dezembro de 1925, no XIV Con-
gresso do Partido Comunista bolchevique, Estaline declara-se
convencido de que o Kuomintang poder exercer o mesmo papel
(que o P. C. B. na U. R, S. S.) na sia e destruir assim os fun-
damentos da dominao imperialista. Todos sabemos o que
sucedeu e o que foi o massacre de Xangai e de Nanquim por
Chan-Kai-chek (1927).
226
Convencido da possibilidade de uma vitria definitiva do
socialismo exclusivamente no territrio da U. R. S. S., Estaline
decide-se, nos anos Trinta, a iniciar um processo de industriali-
zao acelerado. Inspira-se directamente numa tese relativa
acumulao socialista primitiva: para permitir a industrializa-
o necessrio, segundo os prprios termos de Estaline, lanar
um verdadeiro tributo sobre o campesinato. Para tal, recorre
colectivizao forada dos campos a par de uma represso ma-
cia contra o conjunto do campesinato (deskulakizao). A
agricultura sovitica vir a ter dificuldade em recompor-se
disso. A proletariado no poupado pelas medidas repressivas.
Perante o aumento dos preos dos gneros de grande consumo,
reage pela indisciplina.
O Partido replica pela represso sistemtica: sistema de
condenaes progressivas para os trabalhadores absentistas,
instaurao, em 1923, da caderneta de trabalho que acorrenta
o operrio empresa e direco, introduo do estacanovismo
que refora a concorrncia entre os operrios... nesta atmos-
fera, quando comea a rebentar a vaga dos grandes processos,
que Estaline 'anuncia, em 1936, que a fase de transio se encon-
tra praticamente concluda e que a edificao da fase ulterior,
o comunismo, vai ser iniciada. Por um lado, segundo Estaline,
a vitria do sistema socialista em todas as esferas da economia
social um facto j assente; por outro lado, a estrutura de
classe da U. R. S. S. modifica-se igualmente. Ela presenciou o
aparecimento de operrios, de camponeses e de intelectuais no-
vos e as fronteiras entre essas classes, as excluses e as con-
tradies desaparecem.
No entanto, embora se diga que, em 1936, a sociedade socia-
lista est realizada, nem por isso o Estado desaparece. Torna-se
necessrio, pelo contrrio, promulgar uma constituio do Es-
tado dos operrios e dos camponeses. Estaline, no seu relatrio
ao XVIII Congresso do P. C. U. S. em Maro de 1939, defende
que a Histria criou uma situao totalmente nova, que tornou
possvel a sobrevivncia e mesmo o reforo do Estado na socie-
dade socialista: como o socialismo foi realizado na U. R. S. S.
e no no resto do mundo, o Estado serve assim de escudo socie-
dade socialista contra os inimigos exteriores. Deste modo, a tese
de Engels em Anti-Duhring, fica invalidada: Nessa passagem,
Engels no examina este ou aquele Estado socialista, este ou
aquele pas especfico., mas encara o desenvolvimento do Estado
socialista em geral. S esse carcter geral e abstracto do pro-
blema permite explicar a razo por que, sobre a questo do
Estado socialista, Engels abstrai completamente de um factor
conio as condies internacionais, como a situao internacio-
227
O SCULO XX
OS MARXISTAS
nal. Do mesmo modo, Estaline acaba por afirmar que o Estado
existir durante o perodo do comunismo se o cerco capitalista
no for liquidado, se no se eliminar o perigo de agresso ar-
mada do exterior. Perigo tanto mais evidente quanto, no mo-
mento em que Estaline toma o poder, aps a morte de Lenine
em 1924, diminuem as esperanas de uma revoluo ocidental:
desastre da linha Spartakus na Alemanha e derrota da comuna
hngara de Bela Kun em 1919, aniquilamento dos sovietes da
Alemanha e da Bulgria em 1920 e 1923 e, posteriormente, dos
conselhos operrios de Turim.
Mas, para Estaline, que tenta liquidar a Oposio no seio
do Partido Bolchevique, o perigo vem tambm do interior, dos
grupos pequeno-burgueses a soldo> do Estrangeiro. O terico
da revoluo permanente, o fundador do Exrcito Vermelho,
Leon Trotsky, , sem dvida, o mais representativo dos opo-
nentes de esquerda; Bukharine, aliado' momentneo de Esta-
line e, por fim, eliminado, faz parte da oposio de direita.
O caso de Trotsky exemplar da obstinao de Estaline.
Aps ter sido excludo do Partido e, em seguida, expulso da
U. R. S. S., aquele que tinha declarado: Em ltima anlise, o
Partido tem sempre razo porque o nico instrumento histrico
que a classe operria possui para solucionar os seus proble-
mas..., ser finalmente assassinado mesmo sem a mascarada
de um grande processo de Moscovo.
Trotsky ope s anlises de Estaline a teoria da revoluo
permanente, apoiada na lei do desenvolvimento desigual e com-
binado: o desenvolvimento do capitalismo escala interna-
cional, assinalado pelo aparecimento de um mercado mundial
e de uma diviso internacional do trabalho, sobredetermina as
condies de desenvolvimento de uma formao social parti-
cular. O carcter imediatamente internacional da luta de classes
tem como consequncia o facto de o problema das condies
objectivas da revoluo no se colocar j pas por pas, de o seu
desencadear neste ou naquele pas no resultar do crescimento
numrico do proletariado correspondente ao desenvolvimento das
foras produtivas, mas do carcter de elo fraco da cadeia
imperialista que, num determinado momento, esta ou aquela
parte do globo pode apresentar. Trata-se de uma compreenso
do afrontamento no quadro nacional como parte integrante de
uma luta de classes escala internacional entre o proletariado
e a burguesia. Trata-se igualmente de uma concepo da extenso
internacional necessria da Revoluo: ela inicia-se no terreno
nacional, desenvolve-se na, cena internacional e concluiu-se na
cena mundial... a Revoluo torna-se permanente no sentido
novo e mais lato do termo: s se conclui pelo triunfo definitivo
da nova sociedade em todo o planeta. Para Trotsky, as mesmas
condies que fundam o carcter internacional da revoluo
socialista (diviso internacional do trabalho, interdependncia
dos pases no que se refere s tcnicas e s matrias-primas...)
tornam impossvel a construo de uma sociedade socialista iso-
lada. Pretender submeter o desenvolvimento da revoluo
internacional realizao da sociedade socialista integral num
pas no pode apresentar mais do que um carcter reaccionrio.
Assim, Trotsky ope-se categoricamente frmula do bloco
das quatro classes e concepo etapista da revoluo de-
fendidas por Estaline e, de modo mais geral, ideia de que a
burguesia nacional dos pases subdesenvolvidos possa exercer
um papel revolucionrio. De facto, como no pode basear-se num
desenvolvimento ulterior normal do capitalismo, a democracia
, nesses pases, menos do que em qualquer outro lado, um fim
em si e constitui o prlogo imediato da Revoluo socialista.
Seria absurdo, afirma Trotsky, pensar que nunca possvel
saltar as etapas: o curso vivo dos acontecimentos histricos
salta sempre etapas... Pode-se afirmar que a capacidade de reco-
nhecer e utilizar esses momentos o que distingue essencial-
mente o revolucionrio do vulgar evolucionista. Para assegurar
a realizao das tarefas democrticas, a fora dirigente da Re-
voluo no pode ser constituda pela mdia ou pequena burgue-
sia, que so incapazes de exercer no processo revolucionrio um
papel independente como classes e menos ainda um papel diri-
gente. Compete pois ao proletariado, atravs do seu partido,
aplicar a sua estratgia nas diferentes camadas da populao e
dirigir as massas populares no processo revolucionrio. O pro-
cesso 'apresenta, portanto, um carcter permanente. A prpria
tomada do poder no instaura, afirma Trotsky, a ordem pro-
letria, mas abre um perodo de transformao revolucionria.
A conquista do poder no o termo da revoluo, apenas
a inaugura. A construo di socialismo s concebvel na base
da luta de classes escala nacional e internacional. Trotsky
afirma o carcter permanente da prpria revoluo socialista
quer se trate de um pas atrasado que acaba de realizar a revo-
luo democrtica quer de um velho pas capitalista que passou
j por um longo perodo de democracia e parlamentarismo.
Trotsky funda a ditadura do proletariado na necessidade
de quebrar a resistncia das antigas classes exploradoras (e at
ao seu desaparecimento: guerra civil) e de lutar contra o cerco
capitalista (tomando, inclusivamente, a ofensiva: guerra revo-
lucionria). Mas, a partir de 1925, acentua um elemento deci-
sivo, o da burocratizao e da possibilidade de reconstituio
228
229
O SCULO XX
OS MARXISTAS
de uma nova camada exploradora no prprio interior do Estado
de ditadura do proletariado.
Em 1923, a origem do burocratismo reside, para ele, na
crescente concentrao da ateno e das foras do partido sobre
as instituies e aparelhos governamentais e na lentido do de-
senvolvimento da indstria. A soluo que ento preconiza
a introduo da democracia viva e activa no interior do Par-
tido. Trotsky trata a burocracia como um fenmeno de degene-
rescncia que atinge as organizaes polticas, partidos, sindi-
catos, aparelhos de Estado. Quando, em 1938, se entrega
a uma anlise crtica da U. R. S. S. estalinista, distingue cuida-
dosamente a raiz econmica que determina a existncia de uma
classe social e as tcnicas polticas caractersticas da sua deno-
minao. Assim, os caracteres da camada burocrtica sovitica
relacionam-se, na sua essncia, com a tcnica poltica de domi-
nao de classe. A presena da burocracia, com todas as diferen-
as das suas formas e do seu peso especfico, caracteriza qual-
quer regime de classe. A sua fora um reflexo. A burocracia,
indissoluvelmente ligada classe economicamente dominante,
alimentada pelas suas razes, mantm-se e cai com ela. Trotsky
recusa qualificar a burocracia estalinista de nova classe diri-
gente: trata-se no de uma explorao de classe mas de um
parasitismo social... Mesmo consumindo improdutivamente uma
enorme parte do rendimento nacional, a burocracia sovitica,
pela sua prpria funo, est simultaneamente interessada no
desenvolvimento econmico e cultural do pas... No entanto,
sobre o fundamento social do Estado sovitico, a ordem econ-
mica e cultural deve minar as prprias bases da dominao
burocrtica.
Na prpria Unio Sovitica, foi preciso esperar pelo XX
Congresso para que se iniciasse a crtica dos dogmas estali-
nistas. Sob a forma oficial da desestalinizao, esta crtica
foi uma operao muito limitada, destinada ia lanar sobre Esta-
line a responsabilidade de alguns erros evidentes.
Desde a proclamao de Estaline em 1936, segundo a qual
j no haveria classes antagonistas na U. R. S. S. at afir-
mao de Kruchtchev de que a ditadura do proletariado deixou
de ser uma necessidade na U. R. S. S. e que o Estado que
nasceu como Estado da ditadura do proletariado tornou-se no
perodo actual um Estado de todo o povo, existe uma conti-
nuidade que encontra a sua base terica na exaltao do reforo
do Estado. No XXII Congresso do P. C. U. S., Kruchtchev
anuncia que a democracia s se pode desenvolver verdadeira-
mente e transformar-se em uma democracia de todo o povo,
se se abolir a ditadura do proletariado, se o Estado deixar de
ser o Estado de ditadura de uma determinada classe. Krucht-
chev aqui inovador em relao a Marx, que apenas teria
tratado o perodo da passagem do capitalismo para a primeira
fase do comunismo e no para a sua fase superior. Para Kru-
chtchev, a ditadura do proletariado pode deixar de ter razo
de ser antes que o Estado desaparea e, nessa fase, trata-se
de um estado de todo o povo. As consequncias dessa pro-
posio so fundamentais: a partir do XX Congresso, acentua-
-se a possibilidade duma passagem pacfica para o socialismo
atravs da via parlamentar. No seu relatrio, Kruchtchev
insiste na ideia de que, se o proletariado de certo nmero de
pases capitalistas ou de antigos pases colonizados conseguir
conquistar uma maioria parlamentar estvel, isso equivale a
realizar a transformao socialista da sociedade.
Esta possibilidade de passar ao socialismo sem revoluo
violenta resulta, segundo Kruchtchev, de condies histricas
novas e, em particular, do facto de a guerra j no ser consi-
derada como inevitvel apesar do carcter sempre agressivo
do imperialismo.
A partir de 1946, o economista Varga tinha tentado esta-
belecer, no contexto de um capitalismo estabilizado, a eventua-
lidade de reformas socialistas sem revoluo na Europa e a
possibilidade de evitar as guerras entre os dois sistemas. Esta-
line retoma, na sua ltima obra terica, as concluses de Varga
referentes no inevitabilidade das guerras. Embora teori-
camente continuassem a ser mais fortes do que as contradies
interimperialistas, na prtica, a luta dos pases capitalistas
pela posse dos mercados e o desejo de asfixiar os seus concor-
rentes mostraram-se mais fortes do que as contradies entre
o campo do capitalismo e o campo do socialismo.
Desta teoria da no inevitabilidade das guerras entre os
dois campos derivava logicamente a possibilidade duma teoria
de coexistncia pacfica e essa proposio demonstra a inexis-
tncia de ruptura de anlise entre estalinismo e desestalini-
zao. A poltica de coexistncia pacfica constitui, a partir
do XX Congresso, a pedra angular da poltica internacional da
U. R. S. S. No que se refere ao antagonismo entre os povos
colonizados e o imperialismo1, acaba por se integrar na com-
petio econmica a que os dois modos de produo diferentes
e concorrentes se entregam. A partir de ento, a coexistncia
pacfica torna-se o melhor meio para auxiliar o movimento ope-
rrio internacional a alcanar os seus objectivos de classe fun-
damentais e a vitria do socialismo na competio econmica
equivaler a aplicar um golpe esmagador em todo o sistema
de relaes capitalistas.
230
231
O S8CULO XX
OS MARXISTAS
Os comunistas europeus e, em particular, o P. C. P., adop-
tam estes princpios tentando justific-los teoricamente; o
raciocnio , com frequncia, estranho: a luta pela coexis-
tncia pacfica situa-se no ponto de encontro da luta revolu-
cionria e da tradio humanista. Prossegue, aprofundando-a,
esta herana humana... Do mesmo modo que Marx, que previu
o socialismo sem que ele tivesse jamais existido, como Lenine,
que descobriu o elo mais fraco antes que se tivesse quebrado,
a Declarao de Moscovo (1960) prev a possibilidade da paz
definitiva antes da queda total do capitalismo. isso que cons-
titui o seu valor terico.
O XX Congresso consagra igualmente a tese da diversi-
dade de vias para o socialismo.
assim que Kruchtchev salienta que, na Repblica Popu-
lar Federativa da Jugoslvia, onde o poder pertence aos traba-
lhadores e onde a sociedade se funda na propriedade social dos
meios de produo, estabelecem-se formas originais e concretas
de direco da economia e da organizao do aparelho adminis-
trativo no curso da edificao socialista. Convm recordar
que, em 1948, Estaline acusava Tito de no praticar uma pol-
tica marxista-leninista e de diluir o Partido na Frente Popular.
A excluso do Kominform e a campanha hostil que se seguiu,
levaram os dirigentes jugoslavos a formular uma orientao
caracterizada pela procura de novas formas de descentrali-
zao da Administrao, de modo a permitir uma crescente
participao dos cidados pela autogesto. Esta tentativa, no
entanto, no parece ter impedido a constituio dessa nova
classe dirigente de que fala Djilas, no interior dos prprios
rgos de autogesto. Seja como for, a desestalinizao tem
apenas consequncias muito limitadas no que se refere diver-
sidade das vias na Europa de Leste, como o indica, por exemplo,
a poltica de normalizao forada na Checoslovquia. No
conjunto dos pases de Leste, o burocratismo tem sido objecto
de anlises crticas cuja expresso mais firme se encontra na
Carta, Aberta dirigida, em 1963, por Modzelewski e Kuron
ao Partido Operrio Polaco.
Na Europa de Oeste, a Togliatti, dirigente1 do Partido
Comunista Italiano, que se deve a primeira formulao da
teoria do policentrismo. No que respeita Itlia, trata-se de
modificar progressivamente o equilbrio interior e a estrutura
do Estado para impor o aparecimento de novas classes na
direco do Estado, no seguimento de uma poltica de reformas
moderadas apoiada numa estratgia de alianas entre uma
pluralidade de partidos. Aps ter, por algum tempo, combatido
essas teses, o P. C. F. procura actualmente as bases de uma
democracia avanada. Atravs dessa estratgia, o P. C. F.
articula uma mais larga aliana de classes, incluindo a classe
operria e camadas pequeno-burguesas. Esta aliana elimina
o objectivo poltico especificamente proletrio: em nenhum
momento, nas suas teses, o P. C. F. coloca concretamente o
problema da destruio do Estado ou o da ditadura do prole-
tariado. Elimina igualmente o objectivo social do proletariado:
a expropriao do capital. Reduz a luta dei classes a uma luta
contra o grande capital, o que permite, ao nvel da aco pol-
tica, mobilizar a pequena burguesia no contra o capitalismo
sob a direco da classe operria, mas apenas contra os mono-
plios, como se estes no fossem o produto necessrio do
modo de produo capitalista. Neste quadro, o terreno eleitoral
e parlamentar tornou-se o terreno privilegiado das lutas
polticas.
Estas teses e prticas suscitam uma oposio chamada
esquerdista tanto na Frana como em Itlia (em particular
Lotta Continua e II Manifesto) que recusa essas vias pac-
ficas tanto no nvel nacional como no plano internacional onde
se desencadeia uma Revoluo permanente e cultural.
3. A revoluo permanente e cultural
O progressivo deslocamento do centro de gravidade da
revoluo para pases no europeus constitui um dos traos
mais surpreendentes e incontestveis da histria do mundo
desde h meio sculo. Esse no , alis, mais do que um aspecto
particular de uma corrente mais vasta impelida pela reivindi-
cao dos povos da sia e frica de deixarem de ser os objectos
de uma histria feita pelas naes europeias e de se tornarem
sujeitos activos, senhores do seu destino.
A Zona das Tempestades
Abandonemos esta Europa que no cessa de falar no
homem, embora o massacre onde quer que o encontre, em todos
os cantos das suas prprias ruas, em todos os cantos do
mundo... Frantz Fanon, psiquiatra francs de origem marti-
niquesa e arauto da revoluo argelina, apela para o Terceiro
Mundo, a fim de que no macaqueando nenhuma Europa,
nem socialista nem capitalista, crie um homem novo. Confere
O SCULO XX
violncia uma dupla funo, psicolgica e poltica. Face
colonizao e, depois, deseolonizao, o Negro s pela vio-
lncia se conseguir libertar pois apenas ela pode permitir
que se des-reifique, que recupere a sua humanidade: a coisa
colonizada torna-se homem no prprio processo em que se
liberta... Para o colonizado, a violncia representa a prxis
absoluta. As Naes africanas que nascem do ilusrio pro-
cesso de descolonizao apenas instituem burguesias nacio-
nais e mesmo raciais que perpetuam a opresso procurando
por vezes a sua salvaguarda num simulacro de socialismo e o
Partido nico no a mais do que a forma moderna da dita-
dura sem mscara, sem disfarces, sem escrpulos, cnica.
Quanto s reivindicaes de negritude, no so seno a outra
face do colonialismo, a expresso de uma ideologia conserva-
dora: A luta de libertao no restitui cultura nacional o
seu valor e contornos antigos. Esta luta, que visa uma redis-
tribuio fundamental das relaes entre os homens, no pode
deixar intactos nem as formas nem os contedos culturais
desse povo. Ideologicamente corrompido pelo seu estreito con-
tacto com a potncia colonial, o proletariado urbano no tem
o seu lugar na luta, no constitui mais do que a clientela mais
fiel dos partidos nacionalistas e pelo lugar privilegiado que
ocupa no sistema colonial a fraco burguesa do povo colo-
nizado. A massa camponesa, pelo contrrio, preservou rela-
tivamente a sua subjectividade da imposio colonial e, para
Frantz Fanon, parece claro que, nos pases coloniais, s o
campesinato revolucionrio.
Suscitar no seio da massa camponesa a centelha revolu-
cionria ainda o projecto da teoria castro-guevarista. Te-
rico da revoluo cubana, Che Guevara prega a luta anti-
-imperialista sob a sua forma mais radical: o imperialismo
um sistema mundial e necessrio bat-lo num grande
afrontamento mundial. preciso saber superar o egosmo das
fronteiras e das causas nacionais. B necessrio criar dois, trs,
muitos Vietnames: a frase resume uma estratgia e Guevara
recorda aos pases socialistas que tm o dever moral de liqui-
dar a sua cumplicidade tcita com os pases exploradores de
Oeste. O guevarismo tem, alm disso, vocao continental:
em nome do velho sonho de Bolvar, a cordilheira dos Andes
ser a Sierra Maestra do continente americano; a terra dos
focos. Contra a atitude expectante dos partidos comunistas
ortodoxos, Guevara afirma a prioridade da luta armada, ex-
cluindo categoricamente qualquer possibilidade de via pacfica:
Caso se conseguisse apoderar formalmente da superstrutura
burguesa do poder, a transio para o socialismo desse governo
2 3 %
OS MARXISTAS
chegado ao poder formal nas condies da legalidade burguesa
estabelecida deveria fazer-se tambm no curso de uma luta
extremamente violenta contra todos os que tentassem, de uma
maneira ou de outra, impedir a sua progresso para novas
estruturas sociais. O foco, composto por uma minoria de
homens resolutos e armados, contribuir para acelerar as con-
dies da revoluo, conduzindo uma guerra de guerrilha essen-
cialmente instalada no campo. Tanto na ordem da construo
do socialismo como na da conquista do poder, a teoria gueva-
rista acentua as condies objectivas, o papel das vanguardas
conscientes: A conscincia dos homens de vanguarda de deter-
minado pas, baseado no desenvolvimento geral das foras pro-
dutivas, pode encontrar as vias convenientes para levar vit-
ria uma revoluo socialista mesmo que, no seu nvel, no
existam ainda as contradies objectivas necessrias entre o
desenvolvimento das foras produtivas e as relaes de pro-
duo. Por outro lado, a preocupao em aumentar a pro-
duo no deve fazer esquecer ou retardar o fim essencial do
socialismo que continua a ser o de criar um homem novo.
A luta contra a alienao econmica no deve adiar a liber-
tao do indivduo em relao a todas as outras formas de
alienao, quer se trate de dinheiro, da burocracia, ou do pre-
tenso realismo socialista. Ferido d feito prisioneiro aps um
combate na Bolvia em 1967, Che Guevara foi abatido: com
acentos luxemburguistas, tinha aceitado a sua morte como o
supremo sacrifcio mas bem-vindo, desde que outros homens
se ergam para entoar os cantos fnebres no crepitar das
metralhadoras e de novos gritos de guerra e de vitria.
Segundo Mo Tse-tung, s uma anlise das contradies
mundiais permite a elaborao de uma estratgia revolucio-
nria. Assim, existiriam quatro tipos de contradies: entre
o campo socialista e o campo imperialista, entre os prprios
pases imperialistas, entre os pases imperialistas e as naes
oprimidas e, nos pases capitalistas, entre a burguesia e o pro-
letariado, entre os diferentes grupos monopolistas, entre a bur-
guesia monopolista e a pequena e mdia burguesia. Estas
contradies reagem entre si, esto ligadas umas s outras e
nenhuma pode ser considerada isoladamente. O ponto de
convergncia das contradies no fixo. Desloca-se em funo
das flutuaes da luta escala internacional e da conjuntura
revolucionria. A contradio principal encontra-se actual-
mente entre o) imperialismo sovitico e americano, e os pases
da frica, da Amrica Latina e da sia. A causa revolucionria
do proletariado internacional depende do resultado da luta tra-
vada pelos povos da Zona das Tempestades. O resultado vito-
2 3 5
O SCULO XX
OS MARXISTAS
rioso da sua luta repercutir-se- na Amrica e na Europa oci-
dental e poder desde logo provocar um deslocamento da
contradio principal. Estas contradies assim definidas so,
por natureza, antagonistas e, por consequncia, engendram
aces violentas. Para no enganar os povos, preciso no
deixar que se creia que a cooperao internacional e a paz
geral so possveis no mundo tal como . Mo recorda que a
noo de coexistncia pacfica foi definida por Lenine com
uma significao bem diferente da que os Soviticos lhe do.
A afirmao, em relao ao Estado socialista, dos princpios
da coexistncia pacfica significa que o Estado socialista
fundamentalmente pacfico, que no tem qualquer razo para
atacar os seus vizinhos e que, finalmente, a revoluo no se
pode exportar pela fora, Mas de modo nenhum desaparece
o antagonismo entre o socialismo e o imperialismo. O Estado
socialista deve manter uma vigilncia constante face ao impe-
rialismo, cuja natureza agressiva indesmentvel. Por outro
lado, no pode fazer da coexistncia pacfica o princpio activo
da sua poltica exterior quando o internacionalismo proletrio
impe o apoio s lutas revolucionrias no mundo. A luta pela
paz e a luta revolucionria no so lutas separadas mesmo
que no sejam idnticas. A nica paz duradoura passa pela
derrota do imperialismo. No que se refere guerra mundial,
s h, no fundo, duas possibilidades: ou a guerra que provoca
a Revoluo ou a revoluo que consegue evitar a guerra.
E por isso que falso querer alargar a coexistncia s naes
oprimidas, cuja nica tarefa lutar pelo derrube do impe-
rialismo.
O tema da revoluo ininterrupta e por etapas constitui
um tema muito importante tanto para a compreenso do con-
flito sino-sovitico como para a compreenso do processo revo-
lucionrio chins. Em germe, desde 1937, nos primeiros escritos
de Mo, diz sobretudo respeito s fases da passagem para a
revoluo democrtica e, posteriormente, para a revoluo pro-
letria. Foi precisado aps a tomada do poder e, nomeadamente,
por volta dos anos 1957-1958.
Durante os anos vinte, um vivo debate sobre a China e o
papel respectivo dos operrios e dos camponeses agita a Inter-
nacional. Mo afirma que necessrio distinguir entre o carc-
ter de classe de uma etapa definida pelo carcter das trans-
formaes sociais na ordem do dia e o papel das classes nesta
etapa, entre a fora dirigente da revoluo e a fora principal
(isto , as classes que fornecem o essencial das suas tropas):
assim, a revoluo deve ser feita sob a hegemonia do prole-
tariado. Mas, por outro lado, necessrio insistir na necessi-
dade de um trabalho poltico prioritrio no campesinato. Deste
modo, o proletariado requer a direco do processo revolucio-
nrio. No pode, contudo, conduzi-lo sozinho e deve concluir
alianas e unir o povo numa Frente Unida.
Para Mo, o povo no uma noo vaga ma um conceito
cientfico: em cada uma das suas etapas, a luta cristaliza-se
em torno duma contradio principal que ope esta ou aquela
classe e o povo ento constitudo por todas as classes que se
encontram do mesmo lado da contradio principal com o pro-
letariado. A contradio principal assim uma contradio
antagonista que s pela luta pode ser resolvida. Mas h con-
tradies em cada um dos campos opostos e, em particular,
contradies no seio do povo: no antagonistas, devem ser
resolvidas pela discusso e persuaso. Confundir os dois tipos
de contradies equivale a cair ou no oportunismo (tomar um
inimigo do povo por um membro do povo) ou no sectarismo
(tomar um membro do povo por um inimigo^ do povo). As rela-
es no seio da Frente Unida devem basear-se em dois prin-
cpios: a unio contra o adversrio principal e a luta no inte-
rior da Frente Unida. De uma etapa para outra, a contradio
principal desloca-se e, em consequncia disso, pode variar o
contedo da noo de povo. O que importa, isegundo Mo, no
queimar as etapas: A revoluo democrtica a preparao
necessria da revoluo socialista e a revoluo socialista a
tendncia inevitvel de desenvolvimento da revoluo demo-
crtica. S aps se ter compreendido as diferenas entre revo-
luo democrtica e revoluo socialista e, ao mesmo tempo,
as ligaes que entre elas existem que se pode dirigir correc-
tamente a revoluo na China. necessrio' pois entre duas
etapas da Revoluo considerar a primeira como uma condio
prvia da segunda e, simultaneamente, esfoarmo-nos por
encontrar a melhor forma para a transio da primeira para
a segunda. procura desta melhor forma, o partido prole-
trio no deve em nenhum caso substituir a revoluo pela
luta parlamentar. O principal ensinamento das revolues
realizadas desde o fim da segunda guerra mundial que a
revoluo violenta uma lei geral da revoluo proletria.
Para efectuar a passagem ao socialismo, o proletariado deve
conduzir a luta armada, quebrar a velha mquina de Estado
e instaurar a ditadura do proletariado. Terico da guerra do
Povo, Mo, quaisquer que sejam os seus desenvolvimentos rela-
tivos organizao militar, conservar constantemente o prin-
cpio essencial da primazia do aspecto poltico: o poder poltico
est na ponta da espingarda, mas o nosso princpio que
236
O SCULO XX
o partido dirige as espingardas e nunca que as espingardas
dirijam os partidos.
Esta recordao sumria dos traos principais da dou-
trina maosta permite compreender as crticas feitas ao mar-
xismo sovitico e, em particular, ao pseudocomunismo de
Kruchtchev. Para Mo, a lei universal da natureza e da,
sociedade humana, ou seja, a unidade e a luta dos contrrios,
aplica-se igualmente sociedade socialista. Nenhuma etapa
do desenvolvimento social pode ser absoluta, todas tm o seu
prprio contrrio. Em consequncia, as contradies de classes
continuam a subsistir na sociedade socialista. Estaline tinha-o
esquecido, quando proclamava que, aps a realizao da colec-
tivizao agrcola na Unio Sovitica, j no h classes anta-
gonistas. Acentuando a unidade da sociedade socialista, aca-
bava por considerar que a possibilidade de restaurao do
capitalismo provinha unicamente do ataque armado do impe-
rialismo internacional. O que falso, afirma Mo, tanto em
teoria como na prtica. Para Mo, a tomada do poder e a
abolio da propriedade privada dos meios de produo mais
no so do que as condies necessrias mas no suficientes
da transformao socialista. claro que as foras produtivas
e a base econmica tm geralmente a funo principal, decisiva.
Mas, em certas circunstncias, sucede que as relaes de pro-
duo assim como a teoria ou a superstrutura podem ter uma
funo de primeiro plano. A Revoluo Cultural representa um
esforo para condenar a pseudoteoria das foras produtivas:
reduzir o conjunto do desenvolvimento social ao desenvolvi-
mento das foras produtivas, isto , a um nico dos dois aspec-
tos da contradio fundamental entre desenvolvimento actual
das foras produtivas e relaes burguesas de produo, equi-
vale a considerar as transformaes nos outros nveis como
simples consequncias do que se produz no nvel econmico.
Do mesmo modo que no modifica de imediato o conjunto das
relaes de produo, o aparecimento da ditadura do proleta-
riado no transforma de imediato a superstrutura ideolgica
que permanece largamente burguesa. Para Mo, uma classe
s se torna dominante se conseguir tornar a sua ideologia uma
ideologia dominante e, assim, para consolidar a ditadura do
proletariado deve levar a cabo a sua revoluo socialista no
s na frente econmica mas tambm na frente ideolgica e
cultural e exercer em todos os domnios a sua ditadura sobre
a burguesia no nvel da superstrutura, incluindo os diversos
sectores da cultura. A posio maosta assenta pois na prpria
anlise das contradies no seio da sociedade de transio:
a luta no deve ser conduzida apenas contra os restos das
238
OS MARXISTAS
antigas classes exploradoras mas tambm contra o prprio
processo de reconstituio das classes no seio da sociedade de
transio. Embora as antigas classes tenham perdido o poder
poltico, conservam foras nos meios culturais. Assim, o pro-
letariado deve transformar os aparelhos ideolgicos de Estado,
as instituies que elaboram e difundem a ideologia sob todas
as suas formas e, em particular, a Escola. A Revoluo Cultural
atacou uma Escola que no se limitava a espalhar um ensino
de contedo burgus, mas que realizava na sua prpria estru-
tura as relaes sociais burguesas, destacando, por seleco,
uma minoria de intelectuais desligados do trabalho e das
massas e que, sob pretexto de possurem cincia e competncia,
se apoderavam das alavancas de comando em todos os sectores
da vida social.
Na sua famosa carta relativa Opera de Pequim, Mo
recorda que o povo, criador da Histria, deve ocupar igual-
mente a cena literria e artstica, que os escritores e os artistas
no devem constituir um punhado de especialistas privilegia-
dos mas partir das massas para retornar! s massas, Assim,
o tema da Revoluo Cultural apresenta-se finalmente como
o prolongamento de outro tema, o da democracia proletria.
A Revoluo Cultural no receia atacar a prpria organizao
do Partido. Quaisquer que sejam as razes de conjuntura pol-
tica, o facto justificado teoricamente pela ideia de que no
h contradio entre a funo de direco do Partido e o prin-
cpio das massas s massas. O carcter proletrio do Partido,
embora dependente das formas de organizao do Estado,
assenta sobretudo na existncia de relaes democrticas pro-
letrias entre o Partido e as massas: devemos considerar-
-nos como uma parte integrante da fora revolucionria e
simultaneamente considerar-nos constantemente como um alvo
da Revoluo.
Este desenvolvimento das lutas no Terceiro Mundo, o
agravamento do conflito sino-sovitico justificam a formao
no Ocidente de uma nova oposio radical que, em nome de
uma revoluo permanente e cultural, tenta sacudir as seque-
las do estalinismo.
Are-leitura ocidental
Nos Estados Unidos, na Alemanha, em Itlia, na Frana,
assiste-se ascenso de movimentos esquerdistas ou de
ultra-esquerda cuja pretenso revolucionria acompanhada
Pr uma contestao mais geral de todas as formas da ideo-
239
O SSCULO XX
logia dominante. Denunciando as vias legalistas em que os
partidos comunistas ortodoxos se atolam, assim como os seus
mtodos burocrticos internos, esses movimentos, seja qual for
a diversidade das suas fontes, tentam uma reavaliao do mar-
xismo atravs da convergncia pelo menos de anlises crticas
do conceito de alienao.
Em Frana, os trabalhos de Louis Althusser exercem uma
influncia determinante, influncia que no poltica, pois
permanece membro do P. C. F. enquanto as correntes que ins-
pira so, no seu conjunto, resolutamente hostis prtica do
P. C. F., mas cientfica. Com efeito, o que aqui importa a
pretenso de cientificidade na medida em que incita a precau-
es contra as deficincias tericas do empirismo, fontes de
oportunismo poltico. O conceito de sobredeterminao, por
exemplo, encontra-se no centro de uma releitura (Lire l Ca / p i-
tc Powr Ma ne) do marxismo procurando assentar as suas
bases epistemoilgicas e restabelecer a ideologia no seu papel
de instncia constitutiva de qualquer sociedade e de forma
necessria de qualquer luta social. Para Althusser, de facto,
pode dizer-se que o conjunto das formaes complexas de
noes-representaes-imagens por um lado, e de montagens-
-comportamentos-condutas-atitudes-gestos por outro, funciona
como normas prticas que governam a atitude e a tomada de
posio concreta dos homens.
O filsofo Henri Lefebvre entrega-se antes a uma crtica
da vida quotidiana, tendo sido excludo do P. C. F. em 1958.
Para Lefebvre, no possvel aceitar que se fixem dogmatica-
mente os conceitos essenciais do marxismo. necessrio, pelo
contrrio, 'actualizar o seu contedo concreto a fim de conse-
guir analisar a sociedade ocidental contempornea. Fazer da
alienao um conceito essencialmente econmico empobrecer
o marxismo, privar-se de uma compreenso da natureza actual
da explorao capitalista que caracteriza o terrorismo ideol-
gico da modernidade... Este conceito de modernidade designa,
na obra de Lefebvre, o conjunto dos instrumentos ideolgicos
que mantm a alienao no quotidiano, presses e represses
que se exercem a todos os nveis, a todos os instantes, em todos
os planos. Mas se o quotidiano deste modo o lugar real da
represso e da alienao, tambm o lugar privilegiado de uma
revoluo cultural permanente.
Estes temas, retomados e desenvolvidos pela Interna-
cional Situacionista de Estrasburgo, esto bastante prximos
dos que inspiram os escritos de Herbert Mareuse, filsofo ale-
mo que vive nos Estados Unidos e a quem se atribui a pater-
nidade das revoltas estudantis. Mareuse tenta uma recuperao
OS MARXISTAS
do freudismo e vai buscar a Freud alguns conceitos, tais como
o de princpio da realidade, a fim de operar a sua transposio
para a anlise das chamadas sociedades de abundncia, termo
que designa as sociedades tecnologicamente avanadas, ou
seja, tanto a U. R. S. S. como os Estados Unidos da Amrica.
O princpio de realidade princpio de rendimento. A hiper-
trofia tecnolgica, a sobrerrepresso criaram o homem
unidimensional, eufrico na infelicidade, j incapaz de uma
crtica activa da ordem estabelecida. O proletariado j no
uma classe revolucionria, a sua progressiva integrao explica-
-se por j no estar isento dessas necessidades repressivas
que reforam a alienao.
Os dois campos
A realidade contempornea sofreu tais transformaes que
a chamada teoria dos dois campos que se encontra no
fundamento terico e poltico do marxismo se tornou mais
complexa. Na segunda metade do sculo xix, a configurao
ideolgica e social da luta de classes relativamente simples.
Na Europa ocidental, a oposio entre o proletariado e a bur-
guesia constitui a contradio poltica principal; seguem-se
contradies ideolgicas relativamente claras, como a do mate-
rialismo e do idealismo.
A mundializao da sociedade industrial, dsto , o impe-
rialismo, o aparecimento de Estados que se reclamam do socia-
lismo, o crescimento das estruturas burocrticas, o poder
sempre crescente das cincias e das tcnicas, as desordens das
sociedades, vtimas das ideias de lucro, de produtividade e de
consumo, originam outros tipos de opresso, introduzem uma
rede de contradies cada vez mais complexas e enredadas. Se
o marxismo pretende realmente pr a teoria ao servio das
lutas revolucionrias deve interessar-se pela complexidade desta
anlise, tendo em conta que o terico no apenas um produto
mas tambm uma fora de interveno. Pensar, por exemplo,
que a soluo do problema da famlia na Europa ocidental deve
aguardar a instaurao do socialismo rejeitar no inessencial
o que actualmente se pe em questo na educao, na instruo,
no ensino que tem uma fora revolucionria.
Assinalemos, entre outros exemplos, trs problemas que o
marxismo no poder iludir:
O do poder socialista: a experincia da Unio Sovitica
prova suficientemente que a abolio da propriedade privada
meios de produo no resolve correctamente a questo da
241
O SCULO XX
OS MARXISTAS
autoridade, da legalidade, do direito, da administrao dos
homens (enquanto no alcanamos a administrao das
coisas).
' O da organizao econmica socialista: a experincia
a que acabamos de nos referir mostra igualmente que existe
um peso terrvel da ordem industrial como tal; que necessrio
reflectir sobre a funo cientfico-tcnica e dos seus agentes
(do puro cientista ao engenheiro); que a autogesto pelo
menos tanto uma interrogao como um programa...
O da posio da cultura: contra as simplificaes eco-
nomicistas ou sociologizantes, a revoluo cultural chinesa
acentuou a necessidade de compreender os desejos no movi-
mento ininterrupto de edificao da sociedade nova. Onde nos
encontramos, nas nossas releituras ocidentais? No ser altura
de terminar com a falsa dialctica revolta/revoluo?
A histria do marxismo surpreendente. De cada vez que,
aqui, ele cai, terica e praticamente, no especulativo e no buro-
crtico, renasce acol na constncia da aco revolucionria,
definindo formas e foras combatentes originais. Esta con-
tradio a prova dei que no h meio de a revoluo socia-
lista desaparecer...
BIBLIOGRAFIA
I. Bernstein (Eduard)Socialisme thorique et Social-dmocracie
pratique (1899), trad. f r., 1900; traduo conforme com o ttulo original,
Ls Prsupposs du Socialisme, iQ TJ f [Edio portuguesa: Os Pressupostos
do Socialismo e as Taref as da Social-emocracia, Publicaes Dom Qui-
xote, Lisboa. (N. do E.)~\y (Karl ) La Q uestion Agraire (1899), trad. fr., 1900.
[Edio portuguesa A Q uesto Agrria, Portucalense Editora, Porto.
(N. do T.,)]
L Marxisme et son critique Bernstein (1899), trad. fr. 1901.
L Ghemin du pouvoir (1909), trad. f r., 1970.
La Rvolution proltarienne et son programme (1922), Bruxe-
las, J925.
L Bolchevisme dans 1'impsse, Paris, 1931.
II. Gramsci (Antnio)Lettres de Prison, trad. fr. 1953.
Oeuvres choisies, ditions Sociales, Paris, 1959 [Edio por-
tuguesa: Obras Escolhidas, Editorial Estampa, Lisboa. (N. do T.)].
Lnine (W. I.) Oeuvres choi-sies, 4 vol., ditions Sociales, Paris,
1950.
Luxembourg (Rosa)L'Accumulation du capital (1913), trad. fr.,
1969.
Oeuvres, 2 vol., Maspero, Paris, 1969.
Estaline (Jos) Oeuvres, 5 vol., Editions sociales, Paris, 1955.
Q uestions du Lninisme, Editions Sociales, Paris, 1952.
L marxisme et ls problmes de Ia linguistique, Bditions so-
ciales, Paris, 1950.
Trotsky (Lon) Ma vie, 3 vol., 1930.
Histoire de Ia Rvolution russe, 2 vol., Paris, 1950.
Vie de Lnine, Rieder, Paris, 1936.
Stattne, Grasset, Paris, 1948.
Entre l'invperialisme et Ia rvolution, 1922.
La Rvolution trahie, Grasset, Paris, 1937.
Leur morale et Ia ntre, 1939.
La Rvolution permanente, Rieder, Paris, 1932.
L'Internationale communiste aprs Lnine, 1930.
III. Castro (Fidel) La Rvolution cubaine, 2 vol., Maspero, Paris, 1967.
Guevara (Che)Oeuvres, 4 vol., Maspero, Paris, 1968.
Fanon (Frantz)Ls Damns de Ia terre, Maspero, Paris, 1972.
Mo Tse-tung Oeuvres choisies, 4 vol., Maspero, Paris, 1969.
IV. Althusser (Louis)Pour Marx, Maspero, Paris, 1965.
Lire l Capital, Maspero, Paris, 1965.
Rponse J ohn Lewis, Maspero, Paris, 1973. [Edio portuguesa:
Resposta a J ohn Lewis, Editorial Estampa, Lisboa, 1973. (N. do T.)].
Castoriadis La Bureaucratie, I, 10/18, Paris, 1973.
Chtelet (Franois) Logos et Praxis, Sedes, Paris, 1961.
Cohn-Bendit (Daniel)L Gauchisme, remede Ia maladie snile
du Communisme, Paris, 1969.
Kuron (J.) e Modzelewski (K.)Lettre ouverte au Parti ouvrier
polonais (1964), tra. fr., 1969.
Lefrebvre (Henri) La Somme et l reste, em La Nef de Paris, 1959.
Lefebvre (Henri) e Guterman (Norbert)La Conscience mysti-
f ie, N. R. F,, Paris, 1936.
Marcuse (Herbert) -Eros et civilisation, Boston, 1955, Paris, 1963.
L Marxisme sovitique (1958), trad. fr., N. R. F., 1963.
L'Homme unidimensionnel (1964), trad. f r,, 1968.
Raison et Rvolution (1967), trad. f r., 1969.
La f in de 1'utopie, Paris, 1968. [Edio portuguesa: O Fim da
Utopia, Moraes Editores, Lisboa, 1969. (N. do T.)]
Vers Ia Liberation, Paris, 1969.
Poulantzas (Nicos) Pouvoir politique et classes sociales, Mas-
pero, Paris, 1968.
Fascisme et dictature, Maspero, Paris, 1970.
243
vn
COMO RECONHECER O ESTRUTURALISMO ?
Por Gilles Deleuze
Perguntava-se no h muito o que o existencialismo?.
Agora pergunta-se: o que o estruturalismo? Estas questes
tm um vivo interesse se forem actuais, se se referirem a obras
em preparao. Estamos em 1967. No se pode, portanto, invocar
o carcter inacabado das obras para evitar uma resposta, pois
apenas esse carcter que confere um sentido questo. Assim
O que o estruturalismo? deve sofrer algumas transforma-
es. Em primeiro lugar, quem estruturalista? Mesmo no mais
actual h hbitos. O hbito designa, afere, com ou sem razo:
um linguista como R. Jakobson; um socilogo como C. Lvi-
-Strauss; um psicanalista como J. Lacan; um filsofo que renova
a epistemologia como M. Foucault, um filsofo marxista que
retoma o problema da interpretao do marxismo como L. Al-
thusser; um crtico literrio como R. Barthes; escritores como
os do grupo Tel Qul... Uns no recusam a palavra estrutura-
lismo e empregam estrutura, estrutural. Outros preferem
o termo saussuriano sistema. Pensadores muito diversos e de
diferentes geraes, alguns exerceram uma real influncia. Mas
o mais importante a extrema diversidade dos domnios que ex-
ploram. Encontram problemas, mtodos, solues com relaes
de analogia, como que participando de um livre ar do tempo, de
um esprito do tempo, mas que se avalia pelas descobertas e cria-
es singulares em cada um desses domnios. As palavras em
-temo so, neste sentido, perfeitamente fundadas,
E correcto atribuir lingustica a origem do estruturalismo:
no s Saussure mas tambm a escola de Moscovo, a escola de
praga. E, embora o estruturalismo se v posteriormente estender
a outros domnios, j no de analogia que se trata: no ape-
245
O SCULO XX
nas para instaurar mtodos equivalentes aos que, inicialmente,
foram bem sucedidos na anlise da linguagem. Na verdade, s
h estrutura do que linguagem, mesmo que se trate de uma
linguagem esotrica ou no verbal. S h estrutura do incons-
ciente na medida em que o inconsciente fala e linguagem. S
h estrutura dos corpos na medida em que se considera que os
corpos falam com uma linguagem que a dos sintomas. As pr-
prias coisas s tm estrutura por possurem um discurso silen-
cioso que a linguagem dos signos. Ento a questo O que o
estruturalismo? transforma-se novamente. E melhor pergun-
tar: como reconhecer aqueles a quem se chama estruturalistas?
E o que que eles prprios reconhecem? De tal modo verdade
que s se reconhece as pessoas, de maneira visvel, atravs das
coisas invisveis e insensveis que eles, a seu modo, reconhecem.
Como fazem os estruturalistas para reconhecer uma linguagem
em qualquer coisa, a linguagem prpria de um domnio? O que
que encontram nesse domnio? Propomo-nos, portanto, salien-
tar apenas alguns critrios formais, os mais simples, de reconhe-
cimento, invocando sempre o exemplo dos autores citados seja
qual for a diversidade dos seus trabalhos e projectos.
1. Primeiro critrio: o simblico
Estamos habituados, quase condicionados, a uma certa dis-
tino ou correlao entre o real e o imaginrio. Todo o nosso
pensamento mantm um jogo dialctico entre essas duas noes.
Mesmo quando a filosofia clssica fala da inteligncia ou do
entendimento puros, trata-se ainda de uma faculdade definida
pela sua aptido em captar o real no seu fundo, o real em ver-
dade, o real tal como , por oposio, mas tambm por relao,
aos poderes da imaginao. Citemos movimentos criadores total-
mente diferentes: o romantismo, o simbolismo, o surrealismo...
Ora se invoca o ponto transcendente em que o real e o imaginrio
se penetram e se unem; ora se invoca a sua fronteira aguada
como o gume da sua diferena. De qualquer modo, permanece-se
ou na oposio ou na complementaridade do imaginrio e do real
pelo menos na interpretao tradicional do romantismo, do
simbolismo, etc. Mesmo o freudismo interpretado na perspec-
tiva de dois princpios: princpio de realidade, com a sua fora
de decepo, princpio de prazer com a sua capacidade de satisfa-
o alucinatria. Com maior razo, mtodos como os de Jung e
Bachelard se inscrevem totalmente no real e no imaginrio, no
quadro das suas relaes complexas, unidade transcendente e
tenso liminar, fuso e corte.
COMO RECONHECER O ESTRUTURALISMO?
Ora, o primeiro critrio do estruturalismo a descoberta
e o reconhecimento de uma terceira ordem, de um terceiro reino:
o d^ simblico. a recusa em confundir o simblico tanto com
o imaginrio como com o real que constitui a primeira dimenso
do estruturalismo. Mais uma vez, tudo comeou pela lingustica:
para alm da palavra na sua realidade e nas suas partes sonoras,
para alm das imagens e dos conceitos associados s palavras, o
linguista estruturalista descobre um elemento de natureza com-
pletamente diferente, objecto estrutural. E talvez seja neste ele-
mento simblico que os romancistas do grupo Tel Qut preten-
dam instalar-se, tanto para renovar as realidades sonoras como
as narrativas associadas. Para alm da histria dos homens e
da histria das ideias, Michel Foucault descobre um solo mais
profundo, subterrneo que constitui o objecto daquilo a que ele
chama arqueologia do pensamento. Aqum dos homens reais
e das suas relaes reais, aqum das ideologias e das suas rela-
es imaginrias, Louis Althusser descobre um domnio mais
profundo como objecto de cincia e de filosofia.
J tnhamos, em psicanlise, muitos pais: em primeiro lugar
um pai real, mas tambm imagens de pai. E todos os nossos dra-
mas se passavam nas relaes tensas do real e do imaginrio.
Jacques Lacan descobre um terceiro pai, mais fundamental, pai
simblico ou Nome-do-pai. No apenas o real e o imaginrio, mas
tambm as suas relaes e as perturbaes dessas relaes,
devem ser pensadas como o limite de um processo em que eles se
constituem a partir do simblico. Em Lacan, e tambm noutros
estruturalistas, o simblico como elemento da estrutura encon-
tra-se no princpio de uma gnese: a estrutura encarna-se nas
realidades e nas imagens segundo sries determinveis; mais
ainda, ela constitui-os encarnando-se, mas no deriva deles pois
mais profunda, subsolo' de todos os solos do real e de todos os
cus da imaginao. Inversamente, catstrofes prprias da or-
dem simblica estrutural justificam perturbaes aparentes do
real e do imaginrio: assim, no caso de O Homem ao lobos, tal
como Lacan o interpreta, por o tema da castrao permanecer
no simbolizado (forcluso) que ressurge no real, sob a forma
alucinatria do dedo cortado O).
Podemos numerar o real, o imaginrio e o simblico: l, 2, 3.
Mas, provavelmente, estes nmeros tm tanto um valor cardinal
como ordinal. Com efeito, o real em si mesmo no separvel
de um certo ideal de unificao ou de totalizao: o real tende
Para um, um na sua verdade. A partir do momento em que
vemos dois em um, em que desdobramos, o imaginrio aparece
C) Cf. J. Lacan, Bcrits, pp. 386-389.
O SCULO XX
em pessoa mesmo que a sua aco se exera no real. Por exemplo,
o pai real um ou pretende s-lo segundo a sua lei; mas a ima-
gem de pai sempre dupla em si mesma, clivada segundo uma lei
de dual. Ela projectada pelo menos sobre duas pessoas, assu-
mindo uma o pai de brincadeira, o pai-cmico e a outra o pai de
trabalho e de ideal: tal o princpio de Gales em Shakespeare, que
passa de uma imagem de pai para outra, de Falstaff coroa.
O imaginrio define-se por jogos de espelhos, de desdobramento,
de identificao e de projeco invertidas, sempre no modo do
duplo C 1 ) . Mas talvez, por seu lado, o simblico seja trs. No
apenas o terceiro para alm do real e do imaginrio. Existe
sempre um terceiro a procurar no prprio simblico; a estru-
tura pelo menos tridica sem o que no circularia terceiro
simultaneamente irreal e, no entanto, no imaginvel.
Veremos porqu; mas, desde j, o primeiro critrio consiste
no seguinte: a posio de uma ordem simblica, irredutvel
ordem do real, ordem do imaginrio e mais profunda do que
ambas. No sabemos ainda em que consiste esse elemento sim-
blico. Podemos, pelo menos, afirmar que a estrutura corres-
pondente no tem qualquer relao com uma forma sensvel, com
uma figura da imaginao ou com uma essncia inteligvel. Nada
tem a ver com uma forma: com efeito, a estrutura no se define
de modo nenhum por uma autonomia do todo, por uma pregnn-
cia do todo sobre as partes, por uma Gestlt que se exerceria no
real e na percepo; a estrutura define-se, pelo contrrio, pela
natureza de certos elementos atmicos que pretendem justificar
simultaneamente a formao dos todos e a variao das suas
partes. Do mesmo modo, nada tem a ver com figuras da imagi-
nao, embora o estruturalismo se encontre inteiramente pene-
trado de reflexes sobre a retrica, a metfora e a metonmia;
de facto, mesmo essas figuras implicam deslocamentos estrutu-
rais que devem dar conta quer do prprio quer do figurado.
Nada tem a ver, por fim, com uma essncia; na realidade, tra-
ta-se de uma combinatria incidindo sobre elementos formais
que no tm por si mesmos nem forma, nem significao, nem
representao, nem contedo, nem realidade emprica dada, nem
modelo funcional hipottico, nem inteligibilidade por detrs das
aparncias; ningum melhor do que Louis Althusser estabeleceu
o estatuto da estrutura como idntico prpria Teoria e o
simblico deve ser entendido como a produo do objecto terico
original e especfico.
1 ) J. Lacan , sem dvida, o que vai mais longe na anlise original
da distino entre imaginrio e simblico. Mas esta distino encontra-se
igualmente, sob formas diversas, em todos os estruturalistas.
248
COMO RECONHECER O ESTRUTURALISMO?
Por vezes o estruturalismo agressivo: quando denuncia o
desconhecimento generalizado desta ltima categoria simb-
lica, para alm do imaginrio e do real. Outras vezes interpre-
tativo: quando renova a nossa interpretao das obras a partir
desta categoria e pretende descobrir um ponto original em
que a linguagem se faz, as obras se elaboram, as ideias e as
aces se enredam. Romantismo, simbolismo, mas tambm freu-
dismo, marxismo, tornam-se assim objecto de reinterpretaes
profundas. Mais ainda: a obra mtica, a obra potica, a obra
filosfica, as prprias prticas que esto sujeitas interpre-
tao estrutural. Mas esta reinterpretao s tem qualquer vali-
dade na medida em que animar obras novas como as de hoje,
como se o simblico fosse uma fonte, inseparavelmente, de inter-
pretao e de criao vivas.
2. Segundo critrio: local ou de posio
Em que consiste o elemento simblico da estrutura? Sen-
timos a necessidade de avanar lentamente, de, em primeiro
lugar, dizer e tornar a dizer o que no . Distinto do real e do
imaginrio, no pode definir-se nem por realidades preexis-
tentes para que remeteria e que designaria, nem por contedos
imaginrios ou conceptuais que implicaria e que lhe confeririam
uma significao. Os elementos de uma estrutura no tm nem
designao extrnseca nem significao intrnseca. O que resta?
Como recorda, com rigor, Lvi-Strauss, apenas tm um sentido ;
um sentido que necessariamente e unicamente de posi-
o ( J ) . No se trata de um stio numa extenso real nem de
lugares em espaos imaginrios, mas de stios e de lugares num
espao propriamente estrutural, isto , topolgico. O que es-
trutural o espao, mas um espao inextenso, pr-extensivo,
puro spatiutn constitudo gradualmente como ordem de vizi-
nhana, em que a noo de vizinhana tem precisamente, em
primeiro lugar, um sentido ordinal e no uma significao na
extenso. Ou ento em biologia gentica: os genes fazem parte
de uma estrutura na medida em que so inseparveis de loci,
lugares capazes de mudar de relaes no interior do cromos-
soma. Em suma, os stios num espao puramente estrutural so
primeiros em relao s coisas e aos seres reais que os vm
ocupar e tambm em relao aos papis e aos acontecimentos
sempre um pouco imaginrios que necessariamente surgem
quando eles so ocupados.
Cf. Esyrit, Novembro de 1963.
249
O SCULO XX
A ambio cientfica do estruturalismo no quantitativa
mas topolgica e relacional: Lvi-Strauss supe constantemente
este princpio. E quando Althusser fala de estrutura econmica
precisa que os verdadeiros sujeitos no so aqueles que vm
ocupar os stios, indivduos concretos ou homens reais, do
mesmo modo que os verdadeiros objectos no so os papis que
assumem e os acontecimentos que se produzem, mas, em pri-
meiro lugar, os stios num espao topolgico e estrutural defi-
nido pelas relaes de produo O). Quando Foucault define
determinaes como a morte, o desejo, o trabalho, o jogo, no
as considera como dimenses da existncia humana emprica
mas, primeiramente, como a qualificao de stios ou de posi-
es que tornaro mortais e moribundos, ou desejantes, ou tra-
balhadores, ou jogadores aqueles que os vierem ocupar, mas que
apenas secundariamente os viroi ocupar, desempenhando os
seus papis segundo uma ordem de vizinhana que a da pr-
pria estrutura. por isso que Foucault pode propor uma nova
repartio do emprico e do transcendental em que este se en-
contra definido por uma ordem de lugares independentemente
dos que, empiricamente, os ocupam ( 2 ) . O estruturalismo no
separvel de uma nova filosofia transcendental em que os
lugares so mais importantes do que quem os preenche. Pai,
me, etc., so, em primeiro lugar, lugares numa estrutura; e
se somos mortais entrando na fila, chegando a determinado
lugar, marcado na estrutura segundo essa ordem topolgica das
vizinhanas (mesmo quando passamos frente da nossa vez).
No apenas o sujeito mas os sujeitos tomados na sua
intersubjectividade que entram na fila... e que modelam o seu
prprio ser no momento que os percorre da cadeia signif icante...
O deslocamento do significante determina os sujeitos nos seus
actos, no seu destino, nas suas recusas, nas suas cegueiras, nos
seus sucessos e na sua sorte, no obstante os seus dons inatos
e a sua aquisio social sem considerao pelo carcter ou
sexo ( s) ... No possvel dizer-se melhor que a psicologia em-
prica se encontra no s fundada mas tambm determinada
por uma topologia transcendental.
Vrias consequncias derivam deste critrio local ou posi-
cionai. Em primeiro lugar, se os elementos simblicos no tm
designao extrnseca nem significao intrnseca mas apenas
um sentido de posio, necessrio estabelecer em princpio que
o sentido resulta sempre da combinao de elementos que no
(* ) L. Althusser, in Lire l Capital, t. II, p. 157.
( 2 ) M. Foucalt, Ls mots et ls choses, pp. 329 e segs.
( J ) J. Lacan, Ucrits, p. 30.
COMO RECONHECER O ESTRUTURALISMO?
so eles prprios significantes 1). Como afirma Lvi-Strauss
na sua discusso com Paul Ricoeur, o sentido sempre um resul-
tado, um efeito: no s um efeito como produto, mas tambm
um efeito de ptica, um efeito de linguagem, um efeito de posi-
o. H, profundamente, um no sentido do sentido de que o
prprio sentido resulta. No que assim se retorne ao que foi
chamado filosofia do absurdo. Com efeito, para a filosofia do
absurdo , essencialmente, o sentido que falta. Para o estrutu-
ralismo, pelo contrrio, h sempre demasiado sentido, uma so-
breproduo, uma sobredeterminao do sentido, sempre produ-
zido em excesso pela combinao de lugares na estrutura. (De
onde a importncia, por exemplo em Althusser, do conceito de
sobredeterminao.) O no sentido no , de modo nenhum, o
absurdo ou o contrrio do sentido, mas o que o faz valer e o
produz circulando na estrutura. O estruturalismo nada deve
a Camus mas deve muito a Lewis Carrol.
A segunda consequncia o gosto do estruturalismo por
determinados jogos e por certo teatro, por certos espaos de
jogo e de teatro. No por acaso que Lvi-Strauss frequente-
mente se refere teoria dos jogos e d tanta importncia s
cartas de jogar. E Lacan, a metforas de jogos que so mais do
que metforas; noi s o furo que corre na estrutura como o
lugar do morto que circula no bridge. Os jogos mais nobres,
como o xadrez, so os que organizam uma combinatria de luga-
res num puro spatium infinitamente mais profundo do que a
extenso real do tabuleiro de xadrez e a extenso imaginria de
cada figura. Ou ento Althusser interrompe o seu comentrio
de Marx para falar de teatro, mas de um teatro que no nem
de realidade nem de ideias, puro teatro de lugares e de posies
cujo princpio ele v em Brecht e que talvez encontre actual-
mente a sua expresso mais desenvolvida em Armand Gatti. Em
resumo, o prprio manifesto do estruturalismo deve ser pro-
curado na frmula clebre, eminentemente potica e teatral:
pensar lanar os dados.
A terceira consequncia que o estruturalismo no sepa-
rvel de um novo materialismo, de um novo atesmo, de um novo
anti-humanismo. De facto, se o lugar primeiro em relao
quele que o ocupa, certamente que no suficiente colocar o
homem no lugar de Deus para mudar de estrutura. E se este
lugar o lugar do morto, a morte de Deus significa tambm a
do homem, em favor, esperamo-lo, de qualquer coisa a vir, mas
que s pode vir na estrutura e pela sua mutao. Assim aparece
(') C. Lvi-Strauss, cf. Esprit, Novembro de 1963.
250
251
O SCULO XX
o carcter imaginrio do homem (Foucault) ou o carcter ideo-
lgico do humanismo (Althusser).
3. Terceiro critrio: o diferencial e o singular
Em que consistem, afinal, estes elementos simblicos ou
unidades de posio? Regressemos ao modelo lingustico. Cha-
ma-se fonema quilo que simultaneamente distinto das partes
sonoras e das imagens e conceitos associados. O fonema a
mais pequena unidade lingustica capaz de diferenciar duas pala-
vras de significao diversa: por exemplo, canto e manto.
claro que o fonema se encarna em letras, slabas e sons, mas que
a isso se no reduz. Mais ainda, as letras, as slabas e os sons
conferem-lhe uma independncia, enquanto em si mesmo ele
C
inseparvel da relao fontica que o une a outros fonemas: .
m
Os fonemas no existem independentemente das relaes em
que entram e pelas quais se determinam reciprocamente.
Podemos distinguir trs tipos de relaes. Um primeiro
tipo estabelece-se entre elementos que gozem de independncia
2
ou de autonomia: por exemplo 3 -f- 2, ou mesmo . Os elemen-
3
tos so reais e essas relaes devem chamar-se tambm reais.
Um segundo tipo de relaes, por exemplo x- -f- y3 R* O,
estabelece-se entre termos cujo valor no especificado mas
que devem, no entanto, em cada caso, ter um valor determinado.
Essas relaes podem chamar-se imaginrias. Mas o terceiro
tipo estabelece-se entre elementos que no possuem qualquer
valor determinado e que contudo se determinam reciprocamente
dy x
na relao: assim ydy -\- xdx O, ou = . Essas rela-
dx y
coes so simblicas e os elementos correspondentes so fixados
numa relao diferencial. Dy totalmente indeterminado em
relao a y, x totalmente indeterminado em relao a x: ne-
nhum deles tem existncia, valor ou significao. E, contudo,
dy
a relao totalmente determinada, os dois elementos deter-
dx
minam-se reciprocamente na relao. este processo de uma
determinao recproca no seio da relao que permite definir
natureza simblica. Chega-se a procurar a origem do estrutu-
ralismo do lado da axiomtica. E certo que Bourbaki, por
252
COMO RECONHECER O ESTRUTURALISMO?
exemplo, emprega a palavra estrutura. Mas, parece-nos, num
sentido muito diferente do do estruturalismo. Pois, trata-se de
relaes entre elementos no especificados, mesmo qualitativa-
mente, e no de elementos que se especifiquem reciprocamente
em relaes. A 'axiomtica, neste sentido, seria ainda imagin-
ria e no propriamente simblica. A origem matemtica do
estruturalismo deve antes ser procurada do lado do clculo dife-
rencial e, precisamente, na interpretao que lhe deram Weiers-
trass e Russel, interpretao esttica e ordinal, que liberta defi-
nitivamente o clculo de qualquer referncia ao infinitamente
pequeno e o integra numa pura lgica de relaes.
As determinaes das relaes diferenciais correspondem
singularidades, reparties de pontos singulares que caracteri-
zam as curvas ou as figuras (um tringulo, por exemplo, tem
trs pontos singulares). Assim, a determinao das relaes
fonemticas prprias de uma dada lngua designa as singula-
ridades em cuja vizinhana se constituem as sonoridades e as
significaes da lngua. A determinao recproca dos elementos
simblicos prolonga-se desde logo na determinao completa
dos pontos singulares que constituem um espao correspondente
a esses elementos. A noo capital de singularidade, tomada
letra, parece pertencer a todos os domnios em que haja estru-
tura. A frmula geral pensar lanar os dados remete ela
prpria para as singularidades representadas pelos pontos bri-
lhantes dos dados. Qualquer estrutura apresenta os dois aspec-
tos seguintes: um sistema de relaes diferenciais segundo as
quais os elementos simblicos se determinam reciprocamente,
um sistema de singularidades correspondendo a essas relaes
e traando o> espao da estrutura. Qualquer estrutura uma
multiplicidade. A questo: h estrutura em qualquer domnio?
deve portanto ser precisada do seguinte modo: possvel, neste
ou naquele domnio, destacar elementos simblicos, relaes dife-
renciais e pontos singulares que lhe sejam prprios ? Os elemen-
tos simblicos encarnam-se nos seres e objectos reais do dom-
nio considerado; as relaes diferenciais actualizam-se nas rela-
es reais entre esses seres; as singularidades so outros tantos
lugares na estrutura que distribuem os papis ou as atitudes
imaginrias dos seres que os vm ocupar.
No se trata de metforas matemticas. Em cada domnio
necessrio encontrar os elementos, as relaes e os pontos.
Quando Lvi-Strauss inicia o estudo das estruturas elementares
do parentesco, no considera apenas pais reais numa sociedade
Bem as imagens de pais que se desenvolvem nos mitos desta
sociedade. Pretende descobrir verdadeiros fonemas de paren-
tesco, isto , parentemas, unidades de posio que no existem
253
O SCULO XX
independentemente das relaes diferenciais em que entram e
se determinam reciprocamente. assim que as quatro relaes
irmo marido pai tio materno
-, -, -, - , formam a estrutura mais
irm mulher filho filho da irm
simples. E a esta combinatria das designaes de parentesco
correspondem, mas sem semelhana e de modo complexo, ati-
tudes entre pais que efectuam as singularidades determinadas
no sistema. Tambm se pode proceder de modo inverso: partir
das singularidades para determinar as relaes diferenciais en-
tre elementos simblicos ltimos. assim que, a respeito do
exemplo do mito de dipo, Lvi-Strauss parte das singularida-
des da narrativa (dipo casa com a me, mata o pai, imola a
Esfinge, chamado p-inchado, etc.) para deles induzir as rela-
es diferenciais entre maternas que se determinam reciproca-
mente (relaes de parentesco sobrestimadas, relaes de pa-
rentesco subestimadas, persistncia da autoctonia, negao da
autoctonia (a). Em todos os casos, so sempre os elementos
simblicos e as suas relaes que determinam a natureza dos
seres e dos objectos que os vm efectuar, enquanto as singulari-
dades formam uma ordem dos lugares que determina simulta-
neamente os papis e as atitudes desses seres na medida em
que os ocupam. A determinao da estrutura conclui-se assim
por uma teoria das atitudes que exprimem o seu funcionamento.
As singularidades correspondem aos elementos simblicos
e suas relaes mas no se lhes assemelham. Talvez seja melhor
dizer que simbolizam com eles. Derivam deles, pois qualquer
determinao de relaes diferenciais implica uma repartio de
pontos singulares. Mas, por exemplo, os valores de relaes dife-
renciais encarnam-se em espcies enquanto as singularidades se
encarnam nas partes orgnicas que correspondem a cada esp-
cie. Umas constituem variveis, outras funes. Umas consti-
tuem, numa estrutura, o domnio das designaes, as outras o
das atitudes. Lvi-Strauss insistiu no duplo aspecto, de deriva-
o e, contudo, de irredutibilidade, das atitudes em relao s
designaes (2 ). Um discpulo de Lacan, Serge Leclaire, mostra
num outro domnio como os elementos simblicos do incons-
ciente remetem necessariamente para movimentos libidinais
do corpo, encarnam as singularidades da estrutura neste ou na-
quele lugar (3). Qualquer estrutura , neste sentido, psicosso-
mtica ou, melhor, representa um complexo categoria-atitude.
(J) C. Lvi-Strauss, Anthropologie structnrle, pp. 235 e sg.
(2 ) Ibid., pp. 343 e sg.
(3) S. Leclaire, Compter avec Ia psychanalyse, in Cahiers pour
1'analyse, n. 8.
2 5 J f
COMO RECONHECER O ESTRUTURALISMOf
Consideremos a interpretao do marxismo por Althusser
e seus colaboradores: primeiramente, as relaes de produo
so determinadas como relaes diferenciais que se estabelecem
no entre homens reais ou indivduos concretos mas entre objec-
tos e agentes que tm sobretudo um valor simblico (objecto
da produo, instrumento de produo, fora de trabalho, no
trabalhadores imediatos, tal como so tomados em relaes de
propriedade e de apropriao 1). Cada modo de produo carac-
teriza-se assim por singularidades que correspondem aos valo-
res das relaes. E, embora seja evidente que homens concretos
vm ocupar os lugares e efectuar os elementos da estrutura,
assumido o papel que o lugar estrutural lhes designa (por exem-
plo, o capitalista) e servindo de suportes s relaes estrutu-
rais: de modo que os verdadeiros sujeitos no so esses ocupan-
tes e esses funcionrios... mas a definio e a distribuio
desses lugares e dessas funes. O verdadeiro sujeito a pr-
pria estrutura: o diferencial e o singular, as relaes diferen-
ciais e os pontos singulares, a determinao recproca e a deter-
minao completa.
4. Quarto critrio: o diferenciante, a diferenciao
As estruturas so necessariamente inconscientes em vir-
tude dos elementos, relaes e pontos que as compem. Qualquer
estrutura uma infra-estrutura, uma micro-estrutura. De certa
maneira, elas no so actuais. O que actual o que na estru-
tura se encarna, ou antes, o que ela constitui encarnando-se.
Mas em si mesma no nem actual nem fictcia; nem real nem
possvel. Jakobson coloca o problema do estatuto do fonema:
este no se confunde com uma letra, slaba ou som actuais e
tambm no uma fico, uma imagem associada (2 ). Talvez
a palavra virtualidade designe exactamente o modo da estru-
tura ou o objecto da teoria. Com a condio de eliminar toda a
indefinio; com efeito, o virtual tem uma realidade que lhe
prpria mas que no confunde com nenhuma realidade actual,
com nenhuma actualidade presente ou passada; tem uma idea-
lidade que lhe prpria mas que se no confunde com qualquer
imagem possvel, com qualquer imagem abstracta. Sobre a es-
trutura, diremos: real sem ser actual, ideal sem ser* abstracta.
por isso que Lvi-Strauss apresenta frequentemente a estru-
(' ) L. Althusser, Lire l Capital, t. II, pp. 152-157 (cf. tambm
Balibar, pp. 205 e sg.)
(= ) R. Jakobson, Essais de linguistique gnrale, cap. VI.
2 5 5
O SSCULO XX
tura como uma espcie de reservatrio ou de repertrio ideal,
onde tudo coexiste virtualmente mas onde a actualizao se faz
necessariamente segundo direces exclusivas, implicando sem-
pre combinaes parciais e opes inconscientes. Destacar a
estrutura de um domnio determinar toda uma virtualidade
de coexistncia que preexiste aos seres, aos objectos e s obras
desse domnio. Qualquer estrutura uma multiplicidade de
coexistncia virtual. L. Althusser, por exemplo, mostra, neste
sentido, que a originalidade de Marx (o seu anti-hegelianismo)
reside no modo como o sistema social definido por uma coexis-
tncia de elementos e de relaes econmicas sem que eles pos-
sam ser sucessivamente engendrados segundo a iluso de uma
falsa dialctica C 1 ).
O que que, na estrutura, coexiste? Todos os elementos,
todas as relaes e valores de relaes, todas as singularidades
prprias ao domnio considerado. Semelhante coexistncia no
implica qualquer confuso, qualquer indeterminao: so rela-
es e elementos diferenciais que coexistem num todo perfeita e
completamente determinado. Acontece que esse todo no se
actualiza como tal. O que se actualiza, aqui e agora, so deter-
minadas relaes, determinados valores de relaes, determi-
nada repartio de singularidades; outras actualizam-se noutro
local ou em outros tempos. No h lngua total, encarnando
todos os fonemas e relaes f onemticas possveis; mas a tota-
lidade virtual da linguagem actualiza-se segundo direces
exclusivas em lnguas diversas, onde cada uma encarna certas
relaes, certos valores de relaes e certas singularidades. No
h sociedade total, mas cada forma social encarna certos ele-
mentos, relaes e valores de produo (por exemplo, o capi-
talismo). Devemos, portanto, distinguir a estrutura total de
um domnio como conjunto de coexistncia virtual e as subes-
truturas que correspondem s diversas actualizaes no dom-
nio. Sobre a estrutura, como virtualidade, devemos dizer que
ainda indiffrencie, embora seja total e completamente
diffrenie (2 ). Devemos dizer, sobre as estruturas que se
encarnam nesta ou naquela forma actual (presente ou pas-
sada), que se diffrencient e que actualizar-se , para eles,
precisamente se diffrencier. A estrutura inseparvel deste
(' ) L. Althusser, Lire l Capital, t. I, p. 82; t. II,. p. 44.
(!) Intraduzvel para portugus. Diffrentiation (diferenciao):
conjunto das diferenas numa estrutura, a nvel vertical, fora do espao
e do tempo. Diffrentiation (diferenciao): esse conjunto actualizado
num dado espao e tempo da estrutura. (N. do T.)
256
COMO RECONHECER O ESTRUTURALISMO ?
duplo aspecto ou deste complexo que se pode designar pelo
termo diffreniation, onde constitui a relao fonem-
c c
tica universalmente determinada.
Qualquer diferenciao, 1 ) qualquer actualizao se faz
segundo duas vias: espcies e partes. As relaes diferenciais
encarnam-se em espcies qualitativamente distintas enquanto
as singularidades correspondentes se encarnam em partes e
figuras extensas que caracterizam cada espcie. Assim, as esp-
cies de lnguas e as partes de cada uma delas na vizinhana
das singularidades da estrutura lingustica; os modos sociais
de produo especificamente definidos e as partes organizadas
correspondentes a cada um dos seus modos, etc. Deve ser
notado que o processo de actualizao implica sempre uma tem-
poralidade interna, varivel consoante o que se actualiza. No
s cada tipo de produo social tem uma temporalidade global
interna mas tambm as suas partes organizadas tm ritmos
particulares. A posio do estruturalismo sobre o tempo ,
assim, muito clara: o tempo sempre um tempo de actualizao
segundo o qual se efectuam, a ritmos diversos, os elementos
de coexistncia virtual. O tempo vai do virtual ao actual, isto ,
da estrutura s suas actualizaes e no de uma forma actual
a outra. Ou, pelo menos, o tempo concebido como relao de
sucesso de duas formas actuais contenta-se com exprimir abs-
tractamente os tempos internos da estrutura ou das estruturas
que se efectuam em profundidade nessas duas formas e as
relaes diferenciais entre esses tempos. E, precisamente por-
que a estrutura no se actualiza sem se diferenciar no espao
e no tempo, sem diferenciar1 por isso mesmo espcies e partes
que a efectuam, devemos dizer, nesse sentido, que a estrutura
produz essas espcies e essas partes. Produ-las como espcies
e partes diferenciadas. De tal modo que deixa de ser possvel
opor o gentico ao estrutural, o tempo estrutura. A gnese,
como o tempo, vai do virtual ao actual, da estrutura sua
actualizao; as duas noes de temporalidade mltipla interna
e de gnese ordinal esttica so., neste sentido, inseparveis
do jogo das estruturas (2 ).
(' ) Diffrenciation, no original. (N. do T.)
C) O livra de Jules Vuillemin, Philosophie de 1'algbre (P. U. F.,
1960), prope uma determinao das estruturas em matemticas. Insiste
na importncia, a este respeito, de uma teoria dos problemas (seguindo
0 matemtico Abel), e de princpios de determinao (determinao rec-
Proca, completa e progressiva segundo Galois). Mostra como, neste sen-
tidot as estruturas fornecem os nicos meios de realizar as ambies de
Um verdadeiro mtodo gentico.
257
O SCULO XX
necessrio insistir neste papel dif erenciador. A estrutura
em si mesma um sistema de elementos e de relaes diferen-
ciais 0); mas diferencia C) igualmente as espcies e as partes,
os seres e as funes em. que se actualiza. diferencial em si
mesma e diferenciadora peto seu efeito. Comentando Lvi-
-Strauss, Jean Pouillon definia o problema do estruturalismo:
ser possvel elaborar um sistema de diferenas que noi con-
duza nem sua simples justaposio nem sua supresso arti-
ficial? ( 2 ) A este respeito a obra de Georges Dumzil exem-
plar, mesmo do ponto de vista do estruturalismo': ningum
analisou melhor as diferenas genricas e especficas entre
religies e tambm as1 diferenas de partes e de funes entre
deuses de uma mesma religio. que os deuses de uma religio
por exemplo, Jpiter, Marte, Quirino, encarnam elementos e
relaes diferenciais e simultaneamente encontram as suas ati-
tudes e funes na vizinhana das singularidades do sistema
ou das partes da sociedade considerada: so, portanto, dife-
renciados essencialmente pela estrutura que neles se actualiza
ou se efectua e que os produz ao actualizar-se. certo que
cada um deles, considerado apenas na sua actualidade, atrai
e reflecte a funo dos outros de tal modo que nos arriscamos
a j nada encontrar dessa diferenciao originria que os pro-
duz do virtual ao actual. Mas precisamente aqui que passa
a fronteira entre o imaginrio e o simblico: O ' imaginrio
tende a reflectir e a agrupar em cada termo o efeito' total de
um mecanismo de conjunto enquanto a estrutura simblica
assegura a diferenciao (3) dos termos e a diferenciao (3)
dos efeitos. O que provoca a hostilidade do estruturalismo para
com os mtodos do> imaginrio: a crtica de Jung por Lacan,
a crtica de Bachelard pla nova crtica. A imaginao des-
dobra e reflecte, projecta e identifica, perde-se em jogos de
espelhos mas, tanto as distines que faz como as assimilaes
que opera so efeitos de superfcie que ocultam os mecanismos
diferenciais, alis subtis, de um pensamento simblico*. Comen-
tando 'Dumzil, Edmond O rtigues afirma 'com razo': Quando
nos aproximamos da imaginao material a funo diferencial
diminui, tendemos para equivalncias; quando nos aproxima-
mos dos elementos formadores da sociedade, a funo diferen-
cial aumenta, tendemos para valncias distintivas ( *).
(') No original, respectivamente, diffreniels e diffrencie
(N. do T.)
( 2 ) Cf. Ls Temps Modernes, Julho de 1956.
( 3 ) No original, respectivamente, diffrenfiation e diffrencia-
tion. (N. do T.)
C) E. O rtigues, L Discours et l Symbale, Aubier, p. 197. O rtigues
258
COMO RECONHECER O ESTRUTURALISMO f
As estruturas so inconscientes, encontrando-se necessa-
riamente recobertas pelos seus produtos ou efeitos. Uma estru-
tura econmica nunca existe pura, mas recoberta pelas relaes
jurdicas, polticas, ideolgicas em que se encarna, S se pode
ler, encontrar, reencontrar as estruturas a partir desses efeitos.
O s termos e as relaes que as actualizam, as espcies e as
partes que as efectuam so tanto interferncias como expres-
ses. por isso' que um discpulo de Lacan, J. A. Miller, forma
o conceito duma causalidade metonmica ou Althusser o de
uma causalidade propriamente estrutural, para dar conta da
presena muito particular de uma estrutura nos seus efeitos e
do modo como ela diferencia esses efeitos ao' mesmo tempo
que estes a 'assimilam, e integram 1). O inconsciente da estru-
tura um inconsciente diferencial. Poder-se-ia pensar que, por
isso, o estruturalismo retorna a uma concepo pr-freudiana:
no concebe Freud o inconsciente como o conflito das foras
ou oposio dos desejos enquanto' j a metafsica leibniziana
propunha a ideia de um inconsciente diferencial das pequenas
percepes? Mas, mesmo em Freud, existe todo' um problema
da origem do inconsciente, da sua constituio1 como' lingua-
gem, que ultrapassa o- nvel do desejo, das1 imagens associadas
e das relaes de oposio. Inversamente, o inconsciente dife-
rencial no feito de pequenas percepes do real e dei passa-
gens do limite, mas de variaes de relaes diferenciais num
sistema simblico em funo de reparties de singularidades.
Lvi-Strauss afirma com razo que o inconsciente no incons-
ciente nem de desejos nem de representaes, mas que se encon-
tra sempre vazio, consistindo apenas nas leis estruturais
que impe tanto s representaes como aos desejos ( 2 ).
O inconsciente sempre um problema. No no sentido em
que a sua existncia pudesse ser duvidosa. Mas forma ele
mesmo os problemas e as questes que apenas se resolvem na
medida em que a estrutura correspondente se efectuar e que
se resolvem sempre consoante o modo como' ela se efectua.
Com efeito, um problema tem sempre a soluo que merece
consoante o modo como colocado e o campo simblico de que
se dispe para o colocar. Althusser pode apresentar a estrutura
econmica de uma sociedade como o campo de problemas que
coloca, que determinada a colocar, e que resolve segundo
os seus prprios meios, isto , conforme as linhas de diferen-
assinala igualmente a segunda diferena entre o imaginrio e o simblico:
carcter dual ou especular da imaginao, por oposio ao Terceiro,
ao terceiro termo que pertence ao sistema simblico.
1) L. Althusser, Lire l Capital, t. II, pp. 169 e segs.
(!) C. Lvi-Strauss, Anthropologie structurale, p. 224.
259
_ ._
O SCULO XX
ciao segundo as quais a estrutura se actualiza. No esque-
cendo as absurdidades, ignomnias e crueldades que essas
solues comportam em razo da estrutura. Do mesmo modo,
Serge Leclaire, na peugada de Lacan, pode distinguir as psi-
coses e as neuroses e as neuroses entre si, menos por tipos
de conflitos do que por modos de questo que encontram sem-
pre a resposta que merecem em funo do campo simblico
em que so colocadas: assim, a questo histrica no a do
obcecado O). Em tudo isto, probemas e questes no designam
um momento provisrio e subjectivo na elaborao do nosso
saber mas, pelo contrrio, uma categoria perfeitamente objec-
tiva, objectidades plenas e inteiras que so as da estrutura.
O inconsciente estrutural diferencial, problematizante, ques-
tionante. , finalmente, como veremos, serial.
5. Quinto critrio: Serial
No entanto, tudo isto parece ainda incapaz de funcionar.
que apenas podemos def inir metade da estrutura. Uma estru-
tura s se pe em movimento, s se amima se lhe restituirmos
a outra metade. Efectivamente, os elementos simblicos que
anteriormente definimos, tomados nas suas relaes diferen-
ciais, organizam-se necessariamente em srie. Mas, como tais,
relacionam-se com outra srie, constituda por outros elemen-
tos simblicos e por outras relaes: esta referncia a uma
segunda srie explica-se facilmente se nos lembrarmos que as
singularidades derivam dos termos e relaes da primeira mas
que se no contentam com reproduzi-los ou. reflecti-los, Orga-
ndzam-se portanto elas mesmas noutra srie capaz de um desen-
volvimento autnomo ou, pelo menos, relacionam necessaria-
mente a primeira com outra srie determinada. o que se
passa com os fonemas e os morfemas. Ou ento com a srie
econmica e outras sries sociais. Ou com a tripla srie de
Foucault, lingustica, econmica e biolgica, etc. A questo
de saber se a primeira srie forma uma base e em que sentido,
se significante sendo as outras apenas significadas, uma
questo complexa cuja natureza no nos ainda possvel pre-
cisar. Podemos apenas constatar que qualquer estrutura
serial, multisserial e que sem essa condio no funcionaria,
n."
(') S. Leclaire, La mort dana Ia vie de 1'obsd, La Psychanatyse,
2, 1956.
260
COMO RECONHECER O ESTRUTUBALISMOf
Quando Lvi-Strauss retoma o estudo do totemismo, mos-
tra at que ponto o fonema mal compreendido enquanto for
interpretado em termos de imaginao. Porque a imaginao,,
seguindo a sua lei, concebe necessariamente o totemismo como
a operao pela qual um homem ou um grupo se identificam
com um animal. Mas, simbolicamente, trata-se de uma coisa
totalmente diferente: no a identificao imaginria de um
termo a outro mas a homologia estrutural de duas sries de
termos. Por um lado, uma srie de espcies animais tomadas
como elementos de relaes diferenciais, por outro, uma srie
de posies sociais apanhadas simbolicamente nas suas pr-
prias relaes: a confrontao faz-se entre esses dois sistemas
de diferenas, essas duas sries de elementos e de relaes O).
O inconsciente, segundo Lacan, no nem individual nem
colectivo, mas intersubjectivo. O que equivale a dizer que im-
plica um desenvolvimento em sries: no s o significante e
o significado mas, no mnimo, duas sries organizam-se de
maneira muito varivel consoante o domnio considerado. Um
dos mais clebres textos de Lacan comenta A Carta Roubada
de Edgar Pe, mostrando como a estrutura pe em cena
duas sries cujos lugares so ocupados por sujeitos variveis:
rei que no v a carta-rainha que se alegra por a ter escondido
tanto melhor que a deixou vista-ministro que v tudo e que
pega na carta (primeira srie); polcia que nada encontra em
casa do ministro; ministro que se alegra por ter escondido a
carta tanto melhor que a deixou vista-Dupin que v tudo
e que retoma a carta (segunda srie) (2 ). J num texto prece-
dente, Lacan comentava o caso de O Homem o< s Ratos na base
duma dupla srie, paternal e filial, onde cada uma punha em
jogo quatro termos em relao segundo uma ordem de lugares:
dvida-amigo, mulher rica-mulher pobre (3).
evidente que a organizao das sries constitutivas de
uma estrutura supe uma verdadeira encenao e exige em
cada caso avaliaes e interpretaes rigorosas. No h regra
regrai; encontramo-nos no ponto em que o estruturalismo im-
plica quer uma verdadeira criao quer uma iniciativa e uma
descoberta isentas de riscos. A determinao de uma es-
trutura no se faz apenas atravs de uma escolha de
elementos simblicos de base e de relaes diferenciais em que
entram; nem por uma repartio de pontos singulares que lhes
correspondam; mas ainda pela constituio de uma segunda
C) C. Lvi-Strauss, L Totmisme aujourd'hiii, p. 112.
(z) J. Lacant Bcrts, p. 15.
(* ) J. Lacan, L Mythe Individuel u Nvros.
261
O SCULO XX
srie, pelo menos, que mantm relaes complexas com a pri-
meira. E se a estrutura define um campo problemtico, um
campo de problemas, no sentido em que a natureza do pro-
blema revela a sua objectividade prpria nessa constituio
serial, que faz com que o estruturalismo seja por vezes sentido
quase como uma msica. Philippe Sollers escreveu um romance,
Draime, ritmado pelas expresses Problema e Falhado, no
decurso do qual as sries tateantes se elaboram (um enca-
deamento de recordaes martimas passa pelo seu brao
direito... a perna esquerda, pelo contrrio, parece trabalhada
por agrupamentos minerais). Ou ento a tentativa de Jean-
-Pierre Faye em Analagues, relativa a uma coexistncia serial
dos modos de narrativas.
Ora, o que que impede que as duas sries se reflictam
simplesmente uma outra e que, assim, identifiquem os seus
termos um a um? O conjunto da estrutura tornaria a cair no
estado de uma figura da imaginao. A razo que esconjura
tal risco aparentemente estranha. Com efeito, os termos de
cada srie so em si mesmos inseparveis dos afastamentos
e deslocamentos ai que so forados em relao aos termos da
outra; so, portanto, inseparveis da variao das relaes
diferenciais. Atravs da carta roubada, o ministro, na segunda
srie, passa a ocupar o lugar que a rainha tinha na primeira.
Na srie filial de O Homem dos Ratos, a mulher pobre que
ocupa o lugar do amigo em relao dvida. Ou ento, numa
dupla srie de pssaros e de gmeos, citada por Lvi-Strauss,
os gmeos, que so- pessoas de cima em relao s pessoas
de baixo, vm ocupar necessariamente o lugar dos pssaros
de baixo e no dos pssaros de cima 0). Este deslocamento
relativo das duas sries no de modo algum secundrio; no
vem afectar um termo do exterior e secundariamente como
para lhe fornecer uni disfarce imaginrio. Pelo contrrio, o
deslocamento propriamente estrutural ou simblico: pertence
essencialmente aos lugares no espao da estrutura e acciona
assim todos os disfarces imaginrios dos seres e dos objectos
que vm secundariamente ocupar esses lugares. por isso que
o estruturalismo concede tanta ateno metfora e meto-
nmia. Estas no so de modo nenhum figuras da imaginao
mas isobrerbudo factores estruturais. So mesmo os dois factores
estruturais, no sentido em que exprimem os dois graus de
liberdade do deslocamento, de uma srie a outra e no> interior
de uma mesma srie. Longe de serem imaginrios, impedem
as sries que animam de confundir ou desdobrar imaginaria-
(' ) C. Lvi-Strauss, L Totmisme aujourd'hui, p. 115.
262
COMO RECONHECER O ESTRUTURALISMO?
mente os seus termos. Mas o que so afinal estes deslocamentos
relativos, se fazem em absoluto parte dos lugares na estru-
tura?
6. Sexto critrio: A casa vazia
Parece que a estrutura envolve um objecto ou elemento
perfeitamente paradoxal. Consideremos o caso da carta na
histria de Edgar Pe tal como Lacan a comenta; ou o caso
da dvida em O Homem dos Ratos. evidente que este objecto
eminentemente simblico. Mas dizemos eminentemente por-
que no pertence a nenhuma srie em particular: no entanto,
a carta est presente nas duas sries de Edgar Pe; a dvida
presena nas duas sries de O Homem dos Ratos. Um objecto
como esse est sempre presente nas sries correspondentes,
percorre-as e move-se nelas, no cessa de circular nelas e de
uma a outra com uma extraordinria agilidade. Dir-se-ia que
ele a sua prpria metfora e a sua prpria metonmia. As
sries, em cada um dos casos, so constitudas por termos sim-
blicos e relaes diferenciais; mas ele parece de outra natu-
reza. De facto, em relao a ele que a variedade dos termos
e a variao' das relaes diferenciais so, em cada caso, deter-
minadas. As duas sries de uma estrutura so sempre diver-
gentes (em virtude das leis da diferenciao). Mas este objecto
singular 01 ponto de convergncia das sries divergentes como
tais. eminentemente simblico mas precisamente porque
imanente s duas sries simultaneamente. Como o denominar,
seno Objecto = x, Objecto de adivinha ou grande Mbil?
Podemos, contudo, ter dvidas: o que J. Lacan nos convida
a descobrir nos dois casos, o papel particular de uma carta ou
de uma dvida, ser um artifcio, a rigor aplicvel a estes casos,
ou um mtodo verdadeiramente geral, vlido para todos os
domnios estruturveis, critrio para qualquer estrutura, como
se uma estrutura se no definisse sem a designao de um
objecto = x que incessantemente percorra as sries? Como se
a obra literria, por exemplo, ou a obra de arte ou ainda
outras obras, as obras da sociedade, as da doena, asi da vida
em geral, envolvessem esse objecto muito' particular que go-
verna a sua estrutura. E como se se tratasse sempre de descobrir
que H ou de descobrir um x envolvido na obra. B o que se
passa com as canes: o refro relativo a um objecto = x
enquanto as estrofes formam as sries divergentes em que este
263
O SCULO XX
circula. por isso que as canes apresentam verdadeira-
mente uma estrutura elementar.
Um discpulo de Lacan, Andr Green, assinala a existncia
do leno que circula em Otlo, percorrendo todas as sries da
pea 1). Referimo-nos tambm s duas sries do prncipe de
Gales, Falstaff ou o pai-bobo, Henrique IV ou o pai real, as
duas imagens de pai. A coroa o objecto = x que percorre
as duas sries, com termos e sob relaes diferenciais; o mo-
mento em que o prncipe experimenta a coroa, quando o seu pai
ainda no morreu, assinala a passagem de uma srie para
outra, a alterao dos termos simblicos e a variao das rela-
es diferenciais. O velho rei moribundo zanga-se e julga que
o seu filho pretende identificar-se prematuramente consigo;
no entanto, o prncipe sabe responder e mostrar, num espln-
dido discurso, que a coroa no o objecto de uma identificao
imaginria mas, pelo contrrio, o termo eminentemente sim-
blico que percorre todas as sries, a srie infame de Falstaff
e a, grande srie real e que permite a passagem de uma para
outra no seio da mesma estrutura. Havia, como vimos, uma
primeira diferena entre o imaginrio e o simblico: o papel
diferenciador do simblico em oposio ao papel assimilador
reflector, desdobrante e redobrante do imaginrio. Mas a se-
gunda fronteira aparece aqui com maior nitidez: contra o
carcter dual da imaginao, o Terceiro que (intervm essen-
cialmente no sistema simblico, que distribui ias sries, que as
desloca relativamente, que as faz comunicar, embora impedindo
que uma passe imaginariamente para a outra.
Dvida, carta, leno ou coroa, a natureza deste objecto vai
ser precisada por Lacan: ele est sempre deslocado em relao
a si mesmo. Tem como propriedade no se encontrar onde
procurado mas, em contrapartida, de ser encontrado onde no
est. Diremos que ele falta no seu lugar (e, por isso, no
algo de real). Do mesmo modo, que falta na sua prpria seme-
lhana (e, por isso no uma imagem) que falta na sua
prpria identidade (e, por isso no um conceito). O que est
oculto sempre o que falta no seu lugar, como se exprime a
ficha de procura de um volume que se perdeu na biblioteca.
E este poderia estar escondido na seco ou na casa ao lado,
por mais visvel que se encontrasse. Porque, letra, s se pode
dizer que isto falta no seu lugar a respeito do que pode mudar-
-se, isto , do simblico. Porque, para o real, qualquer desordem
que nele possa ser provocada j a se encontra sempre, leva-a
(*) A. Green, L'objet (a) de J. Lacan, Cahiers pour 1'anatyse,
n. 3 , p. 3 2 . -. ../, ,v. , _ . , . , .,, . , , , . . , , . . . . ,
COMO RECONHECER O ESTRUTURALISMO?
colada a si, sem nada conhecer que o force a abandon-la (a).
Portanto, se as sries que o objecto = x percorre apresentam
necessariamente deslocamentos relativos uma em relao
outra porque os lugares relativos dos seus termos na estru-
tura dependem sobretudo do lugar absoluto de cada um, em
cada momento, em relao ao objecto = x sempre circulante,
sempre deslocado em relao a si mesmo. neste sentido que
o deslocamento e, mais geralmente, todas as formas de troca,
no forma um carcter acrescentado do exterior mas a proprie-
dade fundamental que permite definir a estrutura como ordem
dos lugares sob a variao das relaes. Qualquer estrutura
movida por esse Terceiro originrio mas que falta tambm
na sua prpria origem. Ao distribuir as diferenas em toda
a estrutura, ao fazer variar as relaes diferenciais com os
seus deslocamentos, o objecto = x constitui o diferenciante da
prpria diferena.
Os jogos tm necessidade da casa vazia sem o que nada
poderia avanar ou funcionar. O objecto = x no se distingue
do seu lugar mas compete a esse lugar deslocar-se constante-
mente assim como casa vazia mudar incessantemente. Lacan
invoca o lugar do morto no bridge. Nas admirveis pginas
que iniciam As Palavras e as Coisas, onde descreve um quadro
de Velasquez, Foucault invoca o lugar do rei, em relao ao
qual tudo se desloca e desliza, Deus, depois o Homem, sem
nunca o preencher (2 ). No h estruturalismo sem este grau
zero. Philippe Sollers e Jean-Pierre Faye gostam de invocar
o ponto cego, como designando esse ponto sempre mvel que
comporta a cegueira mas a partir do qual a escrita se torna
possvel porque nele se organizam as sries como verdadeiros
literemas. J. A. Miller, no seu esforo para elaborar um con-
ceito de causalidade estrutural ou metonmico, vai burcar a
Frege a posio de um zero, definido como ausente na sua pr-
prpria identidade e que condiciona a constituio serial dos
nmeros (3 ). E mesmo Lvi-Strauss, que sob certos aspectos
o mais positivista dos estruturalistas, o menos romntico,
e menos inclinado a colher um elemento fugaz, reconhecia no
man ou nos seus equivalentes a existncia de um signifi-
cante flutuante, de um valor simblico zero circulando na
estrutura (4 ). Atingia assim o fonema zero de Jakobson, que
( > ) J. Lacan, Bcrits, p. 25.
(:) M. Foucault, As Palavras e as Coisas, cap. I.
(3 ) J. A. Miller, La Suture, Cahiers pour 1'analyse, n." 1.
( 4 ) C. Lvi-Strauss, Introduction 1'oeuvfe de Mareei Mauss,
Pp. 45-59 (in Mareei Mauss, Sociologie et Anthropologie, P. U. F., Paris).
265
O SCULO XX
no comporta por si mesmo qualquer carcter diferencial ou
valor fontico, mas em relao ao qual todos os fonemas se
situam nas suas prprias relaes diferenciais.
Se certo que a crtica estrutural tem por objecto deter-
minar na linguagem as virtualidades que preexistem obra,
a prpria obra estrutural quando se prope exprimir as suas
prprias virtualidades. Lewis Carrol e Joyce inventavam pala-
vras-mala ou, de modo mais geral, palavras esotricas, para
assegurar a coincidncia das sries verbais sonoras e a simul-
taneidade de sries de histrias associadas. Em Finnegcm's
Wake ainda uma letra que Cosmos e que rene todas as
sries do mundo. Em Lewis Carrol, a palavra-mala conota pelo
menos duas sries de base (falar e comer, srie verbal e srie
alimentar) que se podem ramificar: o que se passa com o
Snark. um erro afirmar que essa palavra tem dois sentidos;
de facto, ela de uma ordem diferente das palavras com dois
sentidos. o no sentido' que anima pelo menos duas sries
mas que as dota de sentido circulando atravs delas. ela,
na sua ubiquidade, no seu perptuo deslocamento, que produz
o sentido em cada srie e de uma srie para outra, no cessando
de deslocar ias duas sries. a palavra = x na medida em que
designa o objecto = x, o objecto' problemtico. Como pala-
vra = x, percorre uma srie determinada como a do signifi-
cante; mas, ao mesmo tempo, como objecto = x percorre a
outra srie determinada como a do significado. No cessa de
aprofundar e preencher simultaneamente o hiato' entre as duas
sries: Lvi-Strauss mostra-o a propsito do man que assi-
mila s palavras coiso ou coisa. , de facto, desse modoi,
como vimos, que oi no sentido no ausncia de significao
mas, pelo contrrio1, excesso de sentido ou o que dota de sentido
o significado e o significante. O sentido aparece aqui como o
efeito de funcionamento da estrutura, na animao das suas
sries componentes. E, sem dvida, que as palavras-nala no
so mais do que um processo entre outros para assegurar esta
circulao. As tcnicas de Raymond Roussel, tal como Foucault
as analisou, so de natureza diferente: so fundadas em rela-
es diferenciais fonemticas ou em relaes ainda mais com-
plexas 0). Em Mallarm, encontramos sistemas de relaes
entre sries e mbeis que os animam, de tipo ainda diferente.
O nosso objectivo no analisar o conjunto dos processos que
fizeram e fazem a literatura moderna, manejando* toda uma
topografia, toda uma tipografia do livro futuro, mas apenas
(') Cf. M. Foucault, Raymond Roussel.
266
COMO RECONHECER O ESTRUTURALISMO?
assinalar em todos os casos a eficcia desta casa vazia de dupla
face, simultaneamente palavra e objecto.
No que consiste este objecto = x? Ser e dever perma-
necer o objecto perptuo duma adivinha, o perpetuum mobile?
Isso seria um modo de lembrar a consistncia objectiva que
assume a categoria de problemtica no seio das estruturas.
E, por fim, convm que a questo' como reconhecer o estrutu-
ralismo? conduza posio de qualquer coisa que no reco-
nhecvel ou identificvel. Consideremos a resposta psicanaltica
de Lacan: o objecto = x determinado como fato. Mas esse
falo no nem o rgo real nem a srie das imagens associadas
ou associveis: o falo simblico. No entanto, de facto de
sexualidade que aqui se trata e no de outra coisa, contraria-
mente s piedosas tentaes, sempre renovadas em psicanlise,
de renunciar ou de minimizar as referncias sexuais. Mas o
falo aparece no como um dado sexual ou como a determinao
emprica de um dos sexos, mas como o rgo simblico que
funda a [sexualidade na sua totalidade como sistema ou estru-
tura e em relao; ao qual se distribuem os lugares ocupados
de modo varivel pelos homens e pelas mulheres e tambm as
sries de imagens e de realidades. Ao designar o objecto = x
como falo, no se trata de identificar este objecto, de conferir
a este objecto uma identidade que repugna sua natureza;
porque, pelo contrrio, o- falo simblico o que est ausente
da sua prpria identidade, sempre encontrado onde no est,
pois no est onde procurado', sempre deslocado em relao
a si, do lado dai me. Neste sentido, ele de facto a carta e a
dvida, o leno ou a coroa, o Snark e o man. Pai, me, etc.,
so elementos simblicos tomados em relaes diferenciais, mas
o falo outra coisa, o objecto- = x que determina o lugar rela-
tivo dos elementos e o valor varivel das relaes, tornando
a sexualidade na sua totalidade uma estrutura, em funo
dos deslocamentos ido objecto = x que as relaes variam,
como relaes entre pulses parciais constitutivas da sexua-
lidade.
O falo no , evidentemente, uma ltima resposta.
mesmo o lugar de uma questo, de uma demanda que carac-
teriza a casa vazia da estrutura sexual. Tanto as questes como
as respostas variam conforme a estrutura considerada, mas
nunca dependem das nossas preferncias nem de uma ordem
de causalidade abstracta. B evidente que a casa vazia de uma
estrutura econmica, como troca de mercadorias, deve ser deter-
minada de modo completamente diferente; consiste em qual-
quer coisa que no se reduz nem aos termos da troca nem
prpria relao de troca, mas que forma um terceiro emi-
261
O SCULO XX
nentemente simblico em perptuo deslocamento e em funo
do qual se vo definir as variaes de relaes. Tal o valor
como expresso de um trabalho em, geral, para alm de
qualquer qualidade empiricamente observvel, local da questo
que atravessa ou percorre a economia como estrutura O).
Daqui deriva uma consequncia mais geral, relativa s
diferentes ordens. No convm, na perspectiva do estrutu-
ralismo, ressuscitar o problema: existe uma estrutura que
determine todas as outras em ltima instncia? Por exemplo,
o que est primeiro, o valor ou falo, o fetiche econmico ou
o fetiche sexual? Por vrias razes estas questes no tm
sentido. Todas as estruturas so infra-estruturas. As ordens
de estruturas, lingustica, familiar, econmica, sexual, etc.,
caracterizam-se pela forma dos seus elementos simblicos, pela
variedade das suas relaes diferenciais, pela espcie das suas
singularidades, finalmente e sobretudo pela natureza do ob-
jecto =x que preside ao seu funcionamento. Ora, s podera-
mos estabelecer uma ordem de causalida.de linear de uma estru-
tura a outra se conferssemos ao objecto =x, em cada caso,
o gnero de identidade que essencialmente lhe repugna. Entre
estruturas, a causalidade s pode ser um tipo de causalidade
estrutural. certo que, em cada ordem de estrutura, o
objecto =x no de nenhum modo um incognoscvel, um puro
indeterminado; perfeitamente determinvel, inclusive nos
seus deslocamentos, e pelo modo de deslocamento que o carac-
teriza. Simplesmente, no designvel: ou seja, no fixvel
num lugar, identificvel num gnero ou numa espcie. que
ele mesmo constitui o gnero ltimo da estrutura ou o seu
lugar total: s tem, pois, identidade, por estar ausente dessa
identidade e lugar por se deslocar em relao a qualquer lugar.
Assim, o objecto x , para cada ordem da estrutura, o lugar
vazio ou perfurado que permite que esta ordem se articule com
as outras num espao que comporta tantas direces como
ordens. As ordens de estrutura no comungam num mesmo
local mas comunicam todas pelo seu lugar vazio ou objecto =x
respectivo. por isso que, apesar de algumas pginas apres-
sadas de Lvi-Strauss, no reclamaremos qualquer privilgio
para as estruturas sociais etnogrficas, remetendo as estru-
turas sexuais psicanalticas para a determinao emprica de
um indivduo mais ou menos dessooializado. Mesmo as estru-
turas da lingustica no podem passar por elementos simblicos
C 1 ) C f. Lre l Capital, t. I, pp. 242 e segs.: a anlise que Pierre
Macherey faz da noo de valor, mostrando que este est. sempre desni-
velado em relao troca em que aparece.
268
COMO RECONHECER O E8TRUTURALI8MO?
ou significantes ltimos: precisamente na medida em que as
outras estruturas no se contentam com aplicar por analogia
mtodos trazidos da lingustica, mas descobrem por sua conta
verdadeiras linguagens, mesmo no verbais, comportando sem-
pre os seus significantes, os seus elementos simblicos e rela-
es diferenciais. Foucaut, levantando por exemplo o problema
das relaes etnografia-psicanlise, afirma com razo: elas
cruzam-se perpendicularmente; porque (a cadeia signif icante por
meio da qual se constitui a experincia nica do indivduo
perpendicular ao sistema formal a partir do qual se constituem
as significaes de uma cultura. A cada instante, a estrutura
prpria da experincia individual encontra nos sistemas da
sociedade certo nmero de opes possveis (e de possibilidades
excludas); inversamente, as estruturas sociais encontram em
cada um dos seus pontos de opo um certo nmero de indiv-
duos possveis (e outros que no o so) ( 1 ) .
E, em cada estrutura, o objecto =x deve ser susceptvel
l justificar: 1) o modo como se subordina na sua ordem s
itras ordens da estrutura, que s intervm como dimenses
Ie actualizao; 2) o modo como ele prprio est subordinado
outras ordens na sua (e j no intervm seno na sua
prpria actualizao); 3) o modo como todos os objectos =x
e todas as ordens da estrutura comunicam entre si, definindo
cada ordem uma dimenso do espao em que ele absoluta-
mente primeiro; 4) as condies em que, neste momento da
histria ou naquele caso, uma dimenso correspondente a uma
determinada ordem da estrutura no se desenvolve por si
mesma e permanece submetida actualizao de outra ordem
(o conceito lacaniano de forcluso teria aqui mais uma vez
importncia decisiva).
ltimos critrios: do sujeito prtica
W J.
Num certo sentido, os lugares s so preenchidos ou
cupados por seres reais na medida em que a estrutura estiver
^actualizada. Mas, num outro sentido, podemos dizer que os
jgares j esto preenchidos ou ocupados pelos elementos
^imblicos no nvel da prpria estrutura; e so as relaes
liferenciais desses elementos que determinam a ordem dos
O) M. Foucaut, Ls Mota et ls Choses, p. 392. [Edio portuguesa:
is Palavras e as Coisas, p. 494, Portuglia Editora, Lisboa, 1968.
do T.;]
- 269
O SCULO XX
lugares em geral. H, portanto, um preenchimento simblico
primrio, anterior a qualquer preenchimento ou qualquer
ocupao secundria por seres reais. Somente, encontramos o
paradoxo da casa vazia; porque este o nico lugar que no
pode nem deve ser preenchido, mesmo por um elemento simb-
lico'. Deve conservar a perfeio do seu vazio para se deslocar
em relao a si mesmo e para circular atravs dos elementos
e das variedades de relaes. Simblica, deve ser para si mesma
o seu prprro smbolo e privar-se eternamente da sua prpria
metade que seria susceptvel de a vir ocupar. (No entanto, este
vazio no um no ser; ou, pelo menos, este no ser no o
ser do negativo, o ser positivo da problemtica, o ser
objectivo de um problema e de uma questo.) por isso que
Foucaoilt pode dizer: J no se pode pensar seno no vazio
do homem desaparecido. Porque esse vazio n o> in stitui uma
carn cia, n o prescreve uma lacun a a preen cher. Ele , nem
mais nem menos, o desdobramento de um espao onde, enfim,
se torna possvel pensar de novo 1).
Ora, se o lugar vazio no preenchido por um termo, no
deixa de ser acompanhado por uma instncia eminentemente
simblica que segue todos os seus deslocamentos: acompanhada
sem ser ocupada nem preenchida. E ambos, a instncia e o
lugar, no cessam de faltar uma ou outro e de se acompanhar
desse modo. O sujeito precisamente a instncia que segue
o lugar vazio: como diz Lacan, menos sujeito do que sujei-
tado' casa vazia, sujeitado ao falo e aos seus deslocamentos.
A sua agilidade incomparvel ou devia s-lo. Tambm o
sujeito essencialmente intersubjectivo. Anunciar a morte de
Deus ou mesmo a morte do> homem no nada. O que interessa
o como. Nietzsche mostrava j que Deus morre de vrios
modos; e que os deuses morrem, mas de riso, ao ouvirem um
deus afirmar que o nico. O estruturalismo no de modo
algum um pensamento que suprime o sujeito, mas uni pensa-
mento que o esboroa e o distribui sistematicamente, que con-
testa a identidade do sujeito, que o dissipa e o faz passar de
lugar em lugar, sujeito sempre nmada, feito de individuaes,
mas impessoais, ou de ssingularidades mas pr-individuais.
neste sentido que Foucault fala de disperso; e Lvi-
-Strauss s pode definir uma instncia subjectiva como depen-
dente das condies de objecto sob as quais sistemas de ver-
dade se tornam convertveis e, portanto, simultaneamente
aceitveis para vrios sujeitos ( 2 ).
(1) M. Foucault, Ls Mots et ls choses, p. 353. [As Palavras e
as Coisas, p, 445. (N. do T.)]
(2) C. Lvi-Strauss, L Cru et l cuit, p. 19.
270 . , . . . . . . ' / ' AV ; V . ,
COMO RECONHECER O ESTRUTURALISMO f
A partir daqui, possvel definir dois grandes acidentes
da estrutura. Ou a casa vazia e mvel j no acompanhada
por um sujeito nmada que sublinha o seu percurso; e o seu
vazio torna-se uma verdadeira carncia, uma lacuna. Ou ento,
pelo contrrio, ela preenchida, ocupada por aquele que a
acompanha e a sua mobilidade perde-se no efeito de uma pleni-
tude sedentria ou coagulada. Poder-se-ia tambm dizer, em
termos lingusticos, tanto que o significante desapareceu,
que a ondulao do significado j no encontra elemento signi-
ficante que o mea, tanto que o significado se dissipou, que
a cadeia do significante j no encontra significado que a per-
corra: os doisi aspectos patolgicos da psicose ( 1 ) . Seria ainda
possvel dizer, em termos teo-antropolgicos, que, tanto Deus
faz crescer o deserto e cava na terra uma lacuna, quanto o
homem a preenche, ocupa o lugar e, nesta v permuta, nos faz
passar de um acidente a outro: por isso o homem e Deus so
as duas doenas da terra, ou seja, da estrutura.
O importante saber sob que factores e em que momentos
esses acidentes so determinados nas estruturas desta ou da-
quela ordem. Consideremos de novo as anlises de Althusser
e seus colaboradores: por um lado, mostram como, na ordem
econmica, as aventuras da casa vazia (o V alor como ob-
jecto = x) so definidas pela mercadoria, pelo dinheiro, pelo
fetiche, pelo capital, etc,, que caracterizam a estrutura capi-
talista. Por outro lado, mostram como desse modo nascem
contradies na estrutura. Finalmente, como o real e o imagi-
nrio, ou seja, os seres reais que vm ocupar os lugares e as
ideologias que exprimem a imagem que fazem de si prprios,
so estreitamente determinados pelo jogo dessas aventuras
estruturais e das contradies que dele derivam. No que
as contradies sejam imaginrias: elas so propriamente
estruturais e qualificam os efeitos da estrutura no tempo
interno que lhe prprio. No diremos portanto que a contra-
dio aparente, mas que derivada: deriva do lugar vazio
e do seu devir na estrutura. Regra geral, o real, o imagi-
n rio e as suas relaes s o sempre en gen drados secun daria-
men te pelo fun cion amen to da estrutura, que comea por ter
os seus efeitos primrios em si mesma. por isso que aquilo
a que h pouco chamvamos acidentes no chega de modo
algum do exterior estrutura. Trata-se, pelo contrrio, de uma
P) Cf. o esquema proposto por S. Leclaire, na sequncia de Lacan,
in A Ia recherche cTune psychotrapie ds psychoses, L'volution
psychiatrique, 1958.
271
O SCULO XX
tendncia imanente (l ). Trata-se de acontecimentos ideiais
que fazem parte da prpria estrutura e que afectam simboli-
camente a casa vazia ou o sujeito. Chamamos-lhe acidentes
para melhor marcar, no um carcter de contingncia ou de
exterioridade, mas esse carcter de acontecimento muito espe-
cial, interior estrutura na medida em que esta nunca se reduz
a uma essncia simples.
Desde logo, coloca-se um conjunto de problemas complexos
ao estruturlismo, relativos s mutaes estruturais (Fou-
cault) ou s formas de transio de uma estrutura para outra
(Althusser). B sempre em funo da casa vazia que as relaes
diferenciais so susceptveis de novos valores ou de variaes,
e as singularidades capazes de novas distribuies, constituti-
vas de outra estrutura, ainda necessrio que as contradies
se encontrem resolvidas, ou seja, que o lugar vazio se encon-
tre livre dos acontecimentos simblicos que o ocultam ou o
preenchem, que seja restitudo ao sujeito que o deve acompa-
nhar por novos caminhos sem o ocupar ou abandonar. Tambm
h um heri estruturalista: nem Deus nem o homem, nem
pessoal nem universal, no tem identidade, feito que de indi-
viduaes no pessoais e de sigularidades pr-individuais.
Assegura o estilhaar de uma estrutura afectada de excesso
ou de defeito, ope o seu prprio acontecimento' ideal aos acon-
tecimentos ideais que acabmos de definir (2 ). A capacidade
de uma nova estrutura no recomear aventuras anlogas s
da antiga, no fazer renascer contradies mortais, depende
da fora resistente e criadora desse heri, da sua agilidade em
seguir e salvaguardar os deslocamentos, do seu poder de fazer
variar as relaes e redistribuir as singularidades, lanando
sempre os dados. Este ponto de mutao define precisamente
uma prxis, ou melhor, o prprio local em que a prxis se
deve instalar. Com efeito, o estruturlismo no apenas inse-
parvel das obras que cria mas tambm de uma prtica em
relao aos produtos que interpreta. Que esta prtica seja
teraputica ou poltica, ela designa um ponto de revoluo
permanente ou de permanente transferncia.
Estes ltimos critrios, do sujeito prxis, so os mais
obscuros critrios do futuro. Atravs dos seis caracteres pre-
(J ) Sobre as noes marxistas de contradio e de tendncia,
cf. as anlises de E. Balibar, Lire l Capital, t. II, pp. 296 e segs.
(2) Cf. Michel Foucaulf, Ls Mots et ls choses, p. 230. [^s Pala-
vras e as Coisas, p. 286. (N. do T.)]. A. mutao estrutural se deve
ser analisada e minuciosamente, no pode ser explicada ou sequer reco-
lhida numa palavra nica; um acontecimento radical que se reparte
por toda a superfcie visvel do saber e de que se pode seguir passo
a passo os sinais, os abalos, os efeitos.
COMO RECONHECER O ESTRUTURLISMO?
cedentes mais no pretendemos do que recolher um sistema de
ecos entre autores muito independentes uns dos outros, explo-
rando domnios muito diversos. E, igualmente, a teoria que eles
prprios propem destes ecos. Nos diferentes nveis da estru-
tura, o real e o imaginrio, os seres reais e as ideologias, o
sentido e a contradio, so efeitos que devem ser compreen-
didos no fim de um processo, de uma produo diferenciada
propriamente estrutral: estranha gnese esttica de efeitos
fsicos (pticos, sonoros, etc.). Os livros contra o estrutur-
lismo (ou contra o novo romance) no tm estritamente
qualquer importncia; no podem impedir que o estruturlismo
tenha uma produtividade que a da nossa poca. Nenhum
livro contra o que quer que seja tem importncia; s os livros
por algo de novo e que o sabem produzir tm; interesse.
BIBLIOGRAFIA
Esprit, Novembro de 1963, Seuil.
Cahiers Pour 1'analyse, n. 9, 1968, Seuil.
Qu'est-ce que l structuralisme ?, 1968, Seuil.
Musique en jeu, n. 5, 1971, Seuil.
Saussure (F. de) Cours de Linguistique gnrale, Lausanne, 1915.
[Edio portuguesa: Curso de Lingustica Geral, Publicaes Dom Qui-
xote, Lisboa, 1971. (N. do T.)}
Troubetskoi (N. S.) Prncipes de Phonologie, 1939.
Jakobson (R.) Essais de Linguistique gnrale, ditions de Mi-
nult, 1963.
Lvi-Strauss (C.) Ls Structures lmentaires de Ia Parente,
1947, 2.' ed.t Mouton, 1967.
Anthropologie structurale, 1958, Plon.
Mythologiques, 4 volumes, Plon, 1964-1972.
Lacan (J.) Ecrits, 1966, Seuil.
Althusser (L.) Pour Marx, 1965, Maspro.
Lire l Capital, obra colectiva, 2 volumes, 1965, Maspro.
Foucaultj (M.) Ls Mots et ls Choses, 1966, Gallimard. [Edio
portuguesa: As Palavras e as Coisas, Portuglia Editora, Lisboa, 1968.
(N. do T.n
273
1
'
'
PARA NO CONCLUIR
O leitor deste volume assim como dos precedentes sabe
que em tais assuntos no possvel concluir. Com efeito, qual-
quer pretenso de concluir, de fazer o ponto ou, o que acaba
por ser o mesmo, de prever, , de certo modo, sempre da
competncia da filosofia da histria. Alm disso, o efeito dos
textos filosficos de natureza tal que a ideia de fazer uma
verificao de analisar a situao presente ou de traar
planos para o futuro absurda. preciso decidirmo-nos:
embora exista ainda um gnero filosfico caracterizado pela
crtica constante duma das tradies fundadoras do mundo
contemporneo, embora exista uma maneira filosfica
que se dedica a pr em questo as instituies e as prticas
sociais, as actividades tcnico-cientficas, as produes arts-
ticas, j no h propriamente filosofias doutrinais.
Ora, paradoxalmente, precisamente nesta situao que
o estudo superficial julga descobrir escolas e multiplica as
palavras em -4smo. Actualmente, essas denominaes tranqui-
lizadoras do reudismo ao estruturalismo so ilus-
rias. A tomada de posio em filosofia no se satisfaz com
este gnero de classificao: pensa-se, graas a ela, progredir
melhor, mas d-se um extravio. O problema tal, alis, que
se acaba por perguntar se mesmo a referncia ao nome dum
autor basta para balizar um campo que permita estabelecer
uma coerncia na leitura. Se existe uma ordem que pode
ser totalmente desordenada , ela imposta pelas prticas.
A interveno dos textos, sempre simplificadora, por vezes
decisiva, sempre pontual: por mais que se inscreva como
acontecimento figurando como elemento de uma constelao
de acontecimentos de outra ordem, constelao que logo se
transforma e modifica, de sbito, o alcance e a funo de cada
um dos elementos.
Observemos, para precisar, alguns exemplos extrados da
actual configurao filosfica em Frana. Por exemplo, o apa-
recimento, nas discusses filosficas, em 1965, das teses de
L. Althusser: como tomada de posio de historiador incidindo
275
O SCULO XX
na formao do pensamento de Marx e Engels e do marxismo,
trata-se de uma contribuio original, frutuosa e discutvel, que
permite eliminar certo nmero de banalidades relativas
inverso materialista da dialctica hegeliana e acentuar o
facto de que Marx e Engels no nasceram marxistas, que
a elaborao do materialismo histrico se fez com dificuldade
e atravs de uma (ou uma srie de) ruptura (s). Mas essas
teses intervm tambm como tomada de posio filosfica:
denunciam uma concepo laxista. do marxismo que, em nome
de uma confusa metafsica do proletariado, est pronta a acei-
tar qualquer compromisso e a estender a mo nas mais diversas
direces; a este respeito, recordam a importncia da frmula
de Lenine: Sem teoria revolucionria no h prtica revolu-
cionria. Simultaneamente, estas teses, que acentuam a fun-
o do terico, reforam o estatuto do terico e podem ser
interpretadas como uma insistncia para exaltar o papel do
dirigente (poltico), do intelectual, do burocrata instalado no
seio da instituio revolucionria, confiante nos seus conhe-
cimentos e nas suas possibilidades em rapidamente mobilizar
um aparelho ideolgico de partido contra iniciativas popu-
lares de que demasiado fcil afirmar que so aventurei-
ristas...
A interveno dos textos assinados por L. Althusser est
presente pelo menos nestes trs registos; para quem acredita
na fora crtica da filosofia viva, actualmente, eles podem e
devem ser libertos da sua aparente coerncia, retomados e
desviados, extrados do projecto do seu autor; utilizados em
detrimento dele. Assinalvamos no Prefcio do presente volume
no s que a filosofia j no tem objecto, mas tambm que no
previsvel qualquer passagem de testemunho. O que significa,
para quem quizer entender, que j no h sujeito filosfico;
que h escritores filosficos de profisso, de escrita, de
gnero, de maneira que apenas dizem algo de srio a partir
do momento em que os seus escritos se oferecem a esquarte-
lamento, disjuno. As oposies doutrinais ou nominais so
irrisrias: mais ainda do que para o passado, importa insistir
nas ideias, mesmo rompendo unidades doutrinais superficiais.
O que no significa de modo algum que no haja conflitos
e que os conceitos se distribuam ecleticamente num sistema
malevel de diferenas onde tudo, afinal, se torna interessante.
Pelo contrrio: as oposies so mais rudes, as fracturas mais
vivas. Em Frana, a disperso dos discpulos de Althusser
indica, ao que parece, o facto de a mesma doutrina poder
ter, precisamente devido ao seu triplo empenhamento, efeitos
contraditrios e conduzir, com a mesma lgica, sobresti-
216
PARA NO CONCLUIR
mao ou ao abandono do terico, para o lado da afirmao
da cincia (e do seu corolrio: a burocracia) ou para o lado
do desfraldamento das foras at ento reprimidas (e do seu
corolrio: o espontanesmo'). Perante esta racionalidade
fragmentada, as colagens, as junturas, os remendos operados
pelas cincias sociais so ineficazes: tambm elas esto apa-
nhadas, sem o saberem bem, por estas mesmas contradies.
Se considerarmos o destino histrico de outra iluso, a
psicanlise, calcularemos a prodigiosa importncia da devas-
tao: construda sobre uma metafsica em runa, sobre uma
medicina positivista e sobre uma esttica tradicional, a dou-
trina freudiana produziu simultaneamente uma concepo revo-
lucionria das relaes sociais, uma renovao profunda da
relao teoria/prtica, uma instituio repressiva articulada
com a ordem psiquitrica e uma tcnica de normalizao social.
Freud nunca se viu forado a negar . como Galileu o que
2onhecia, no seu domnio, como verdadeiro. Vejamos no que se
1 :>rnou o freudismo: campo mal fechado de incertos afronta-
lentos onde, simultaneamente, a paixo de curar (e de ser
curado) e a paixo de saber entram em contradio, actual-
mente utilizado para fins mltiplos e opostosi para estabelecer
diversas instituies que se inscrevem todas nos sistemas
sociais ou, na melhor das hipteses, nas suas diferenas dos
sistemas sociais.
A prpria psicanlise assim como o marxismo filos-
fico no aceita facilmente a falncia da ideia clssica de
razo; o seu desenvolvimento encontra-se a isso hipotecado.
No certo que a tranquilidade aparente do positivismo lgico
dos Anglo-Saxes esteja protegida de semelhantes turbilhes.
O captulo II deste ltimo volume mostra claramente que, por
detrs das discusses tcnicas relativas ao estatuto da propo-
sio e da atribuio, se impe a questo da linguagem; e que
esta no redutvel nem lingustica, nem psicologia, nem
sociologia, nem a uma qualquer metafsica da comunicao;
que ela tem de captar o que acontece o acidente quando
se diz uma frase e que a sua explicao no entra nas nomen-
claturas habituais. Talvez se deva assim compreender o per-
curso de Wittgenstein que, num lapso de tempo, agente de
uma organizao lgica, tudo reps em questo?
A epistemologia, a cincia das cincias, que, por mo-
mentos, foi tomada pela nova filosofia, no est, hoje em
dia, mais favorecida. Discurso sobre a cincia, conseguiu cons-
truir-se, pela definio de um melhor ponto de vista, como
discurso da cincia. Mas, no decurso desta operao e na pr-
pria medida do seu xito formal, transformou-se em legiti-
277
O SCVLO XX
mao da instituio cientfica na sua totalidade. Desde logo,
entra em contenda com um terrvel problema: separar, nas
prticas cientficas, o que compete ao trabalho de inteligibili-
dade e o que do domnio da sociedade e dos seus imperativos
polticos. A cincia atravessada, de parte a parte, pela pol-
tica: ela revela o que a cincia no deixou de ser durante mais
de trs sculos: um instrumento de dominao. Assim, do
mesmo modo que no h cincia pura, no h epistemologia
pura que assumisse, serenamente, a mudana da filosofia.
O que se disse igualmente correcto para as cincias
sociais: o volume precedente j mostrou claramente que os
desenvolvimentos da psicologia, da sociologia, da etnologia, da
histria, da geografia, da lingustica, so inseparveis do mo-
vimento das sociedades e das suas contradies. Por essa razo,
o que a filosofia clssica tinha institudo como seu objectivo:
crtica da opinio, do erro, da paixo, da iluso, transforma-se,
A ideia especulativa de crtica substituda pela ideia, mais
forte, de irrespeito.
A prtica do irrespeito caracteriza a filosofia activa de
hoje; digamos, com maior rigor, que a anlise sria passa pelo
manuseamento sistemtico do irrespeito, no s para com as
ideias feitas, para com os hbitos, para com aquilo a que
se chama actualmente, de modo simplista, a ideologia domi-
nante, mas tambm para com as instituies que as tornam
possveis e eficazes. Se existe uma fora irreprimvel nos textos
mesmo que fundamentalmente contestveis (em nome de que
juiz transcendente?) de Freud, de Wittgenstein, de Heideg-
ger, por procederem a uma destruio da ordem conceptual da
metafsica clssica. Convidam-nos meticulosamente, cientifi-
camente a pr luto por eles; a seguir de fato preto, mas
com um jbilo intenso o cortejo fnebre da Famlia, da Pala-
vra, do Ser.
Louis Althusser irrespeitoso, de modo diferente e mais
rigoroso, quando deita abaixo do seu pedestal a filosofia da his-
tria; Georges Canguilhem -o quando mostra as incertezas da
noo de normalidade; Michel Foucault, que passa a pente
fino o asilo, a polcia, a priso; Jacques Derrida, quando se inter-
roga sobre a natureza do seu prprio poder: o livro; Pierre Bour-
dieu e Jean-Claude Passeron, que pem duplamente em questo
a sua profisso: a de professor e de socilogo; Michel Serres,
praticante da epistemologia irnica; Gilles Deleuze, que contra-
diz a contradio e que, com Flix Guattari, desarticula o trin-
gulo edpico. Isto no mais do que a conjuntura em Frana.
Noutros pases, a evoluo anloga: testemunham-no, entre
outras, a atitude de Noam Chomsky nos E. U. A., a dos antipsi-
278
PARA NO CONCLUIR
quiatras britnicos e italianos, a dos paladinos de II Manifesto,
a dos pensadores heterodoxos dos Estados ditos socialistas,
a de todos os franco^atiradores de lngua anglo-saxnica que, no
exterior ou no seio do cdigo do positivismo lgico se interro-
gam sobre o que possvel fazer com um material conceptual
acanhado...
Na realidade, este sculo XX, na sua segunda metade, faz
surgir um novo lance do combate filosfico que no deixa de lem-
brar a luta que se travou no tempo da Enciclopdia. A filosofia
morta a das doutrinas sabe o que quer; dispe, pela sua po-
sio na instituio, de poderes que asseguram a sua difuso e
o seu sucesso social; joga modernidade, mas conferindo4he
uma significao administrativa; infatigavelmente, reconstri
mausolus, panteos, quadros de honra, livros definitivos, rpli-
cas caricaturais da Bblia... A filosofia activa inscreve-se num
outro registo: no estabelece, no critica; nem sequer se preo-
cupa em destruir. Desloca. Se o consegue, nem sempre tem
xito, mas o que tenta j decisivo , porque ela mesma se
encontra completamente deslocada: completamente na ordem
(social) e, por essa razo, completamente desordenada.
Esta filosofia activa sabe perfeitamente que a sua inveno
um produto; que incessantemente ameaada pela recada no
discurso doutrinal e pela instalao de prticas institucionais;
que, no fundo, nada pretende quanto a Durkheim, a Weber, a
Husserl, a Bergson ou a Estaline em Materialismo Dialctico e
Materialismo Histrico, que no pode deixar de falar da mesma
maneira que eles e que a referncia a Lewis Carrol e a Jules
Verne tem, em si, mais valor do que lgebra de Boole ou
psicologia de Brentano. Sabe apenas que, precisamente, no h
valor; que o importante, no combate derivado da filosofia, a
derrota do velho dolo: o Saber. A estratgia que implicitamente
constri acumulando conhecimentos verificados e pondo-os
em prtica, sempre que possvel tem por objectivo libertar o
pensamento da hipoteca que constitui o tribunal da Verdade.
Desde que h Estado da Cidade grega s burocracias con-
temporneas, a ideia de verdade voltou-se sempre, afinal,
para o lado dos poderes (ou foi por eles recuperada como o tes-
temunha, por exemplo, a evoluo do pensamento francs do
sculo xvin ao xix). Logo, a contribuio especfica da filoso-
fia que se pe ao servio da liberdade, de todas as liberdades,
minar, pelas anlises que opera e pelas aces que desencadeia,
as instituies repressivas e simplificadoras: quer se trate da
, cincia, do ensino, da traduo, da investigao, da medicina, da
' famlia, da polcia, do facto carcerrio, dos sistemas burocr-
279
O SCULO XX
ticos, o que importa fazer aparecer a mscara, desloc-la,
arranc-la...
An-arquia no significa de modo algum ausncia de organi-
zao, de conhecimentos controlados, mas sim recusa de qual-
quer ypx7'' de qualquer princpio reconhecido imediatamente
como legtimo soberano. O futuro.? Marx aconselhava, h mais
de um sculo, a no ir beber nas suas tascas. O conselho
tanto mais judicioso quando se trata de filosofia, actividade de-
rivada. A nica previso possvel de ordem formal. Podemos
pensar que, por um lado, em funo do reforo das ordens buro-
crticas e estatais, os corpos doutrinais fundados numa nova
ou antiga tradio se iro desenvolver, endurecer e tornar
ainda mais flagrantes das sociedades contemporneas, as filo-
sofias activas iro operar deslocamentos cada vez mais estra-
nhos, renovar o seu passado e sofrer transformaes inesperadas.
Ser isso realmente uma novidade? Ser a procura de uma
tradio numa outra conjuntura? retomando as anlises que
constituem esta Histria da Filosofia que se poder responder
a esta questo.
Franois Chtelet
280
CRONOLOGIA DOS PRINCIPAIS TEXTOS DO SCULO XX
COM IMPORTNCIA FILOSFICA
1900
Deniker Os Povos e as Raas da Terra.
Freud A Interpretao dos Sonhos.
L Bon (G.) A Psicologia das Multides.
Sorel ( G. ) Ref l ex es sobre a Violncia.
1900-1902
Royce (J.) O Mundo e o Indivduo.
1900-1913-1921
Husserl Investigaes Lgicas.
1901
Publicao dos fragmentos de Nietzsche sob o ttulo A Vontade de
Poder.
Weber (M.) A tica Protestante e o Esprito do Capitalismo.
Tarde A Opinio e a Multido.
1901-1902
James (W.) Variedades da Experincia Religiosa.
1902
Cohen (H.) Lgica do Conhecimento Puro.
Kautsky A Revoluo Social.
Lenine Que Fazer f
Polncar A Cincia, e a Hiptese.
1902-1903
Mauss Teoria Geral da Magia.
1903
Bergson Introduo Metafsica.
Binet Estudos sobre a Inteligncia.
Lvi-Bruhl Moral Terica e Cincia dos Costumes.
Pavlov Comunicao, em Madrid, sobre os reflexos condicionados.
Rauh A Experincia Moral.
Vidal de Ia Blache Quadro Geogrfico da Frana,
! 1904
Cohen (H.) Btica da Vontade Pura.
Freu Psicopatologia da Vida Quotidiana. [Edio portuguesa de
Estdios Cor, Lisboa (N. do E.)].
Lenine Um Passo em Frente, Dois Passos Retaguarda.
Trotaky As Nossas Tarefas Polticas.
281
.
O SCULO XX
CRONOLOGIA
1905
Publicao de Consideraes sobre a Histria Universal, de Buckhardt
Couturat Os Princpios das Matemticas.
Freud Dora...; Trs Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade; O Dito
de Espirito.
Lenine Duas Tcticas.
Titchener A Psicologia Experimental.
Trotsky 1905.
1905-1908
Reclus (E.) O Homem e a Terra.
1906
Cassirer O Problema do Conhecimento.
Duhem A Teoria Fsica.
Luxemburgo (R.) Greve de Massas, Partido e Sindicatos.
Poincar O Valor da Cincia.
Trotsky Balano e Perspectivas.
1906-1911
Saussure Curso de Lingustica Geral. [Edio portuguesa de Publi-
caes Dom Quixote, Lisboa (N. do E.)].
1907
Bergson A Evoluo Criadora.
Preud ... Gradiva...
Hamelin Ensaio sobre os Elementos Principais da Representao.
Ratzel Geografia Poltica.
1908
Publicao de Ecce homo de Nietzche. [Edio portuguesa de Guima-
res Editores, Lisboa. (N. do E.)]
Bougl Ensaio sobre o Regime das Castas.
Boutroux Cincia e Religio.
Adler (A.) A Pulso Agressiva...
Mac Dougall Introduo Psicologia Social.
Lenine Materialismo e Empiriocriticismo.
Mayerson (E.)-Identidade e Realidade.
Simmel Sociologia.
1909
Croce filosofia da Prtica.
Ferenczi Introjeco e Transferncia.
Freud O Pequeno Hans; O Homem dos Ratos.
Pavlov As Cincias Naturais e o Crebro.
Poincar Cincia e Mtodo.
Van Gennep Os Ritos de Passagem.
Vou Uexkull Umwelt e Innenwelt dos Animais.
Cassirer O Conceito de Substncia e o Conceito de Funo.
Freud Leonardo Da Vinci.
Hilferding O Capitalismo Financeiro.
Lvi-Bruhl As Funes Mentais nas Sociedades Inferiores.
Lukcs A Alma e as Formas.
Natorp Fundamentos Lgicos das Cincias Exactas.
1910-1913
Russel e Whitehead Principia Mathematica.
1911
Freud- Um Caso de Parania (Schreber).
Boas O Esprito do Homem Primitivo.
Abraham (R.) A Psicose Manaca Depressiva.
1912
1913
1909-1921
Bally Tratado de Estilstica.
1909-1925
Martonne Tratado de Geografia Fsica.
1910
Brtmhes Geografia Humana.
Adler ( A. ) O Temperamento Nervoso.
Brunschvicg1 As Etapas da Filosofia Matemtica,
Cohen (H. )A Esttica do Sentimento Puro.
Durkheim-As Formas Elementares da Vida Religiosa.
Febvre (L.) Filipe II e o Franco-Conado.
Halbwachs Classes Operrias e Nveis de Vida.
Jung As Metamorfoses da Alma e os Smbolos.
Russel Os Problemas da Filosofia. [Edio portuguesa de Armnio
Amado, Sue., Coimbra, com traduo e prefcio de Antnio Sr-
gio (N. do E.)l.
FreudTotem, e Tabu.
Husserl Ideias para uma Fenomenologia Pura.
Lenine A Europa Atrasada e a sia Avanada.
Sorre Os Pirenus M^iterrnicos (Geografia Biolgica).
Watson A Psicologia tal como o Behaviorismo a .Concebe.
1913-1917
Duhem O Sistema do Mundo.
Scheler (M.) Sobre o Formalismo em tica..
1914
Lenine Caderno sobre a Dialctica de Hegel.
Estaline O Marxismo e a Questo Nacional.
1915
1916
1917
282
Cohen (H.) O Conceito de Religio.
Freud As Pulses e seus Destinos; o Recalcamento; o Inconsciente;
o Amor de Transferncia.
Saussure Curso de Lingustica Geral.
Gentile O Acto Puro.
Lenine O Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo. [Edio por-
tuguesa de Edies Avante, Lisboa (N. do E.)].
Pareto Tratado de Sociologia Geral.
Camet (L.)Investigao sobre o Desenvolvimento do Pensamento
Jurdico e Moral na Grcia.
283
o S C U L O xx
C RO NO L O GIA
Kohler A Inteligncia dos S mios S uperiores.
Lenlne O Estado e a Revoluo.
Simmel Questes Fundamentais de S ociologia.
1918
Freud-O Homem dos L obos.
Goblot Tratado de L gica.
Kautsky A Ditadura do Proletariado.
Lenlne A Revoluo Proletria e o Renegado Kautsky.
R. Luxemburgo A Revoluo Russa.
Melllet L ingustica Geral.
Sapir A L inguagem.
1918-1919
Frege Investigaes L gicas.
1919
A. Gramsci funda, em Itlia, O rdine Nuovo.
Keyserling Dirio de Viagem.
Scheler Sobre a Inverso dos Valores.
1920
Publicao das C artas de Priso, de B. Luxemburgo.
Alain Propsitos.
Bergson A Energia Espiritual.
Freud Para Alm do Principio do Prazer.
Kohler As Formas Fsicas...
Lenine A Doena Infantil do C omunismo. [Edio portuguesa de
Edies Avante, Lisboa (N. do ?.)]
Trotsky Terrorismo e C omunismo.
Whitehead O C onceito da Nature/sa.
'
1920-1922
Spengler O Destino do O cidente.
Kohler, Kof-
1920-1925
Psychologische Forschung (Revista do
fka, Lewin...).
1921
Campbell (N. R.) O Que B a C incia?
Freud Psicologia C olectiva e Anlise do Ego.
Meyerson (E.) S obre a Explicao nas C incias.
Russel Anlise Ao Espirito.
Vidal de Ia Blache Princpios e Geografia Humana. [Edio por-
tuguesa de Edies Cosmos, Lisboa. (N. do BJ]
Wittgenstein Tratactus logico-pjiilosophicus.
1922
Bergson Durao e S imultaneidade.
Bukharine A Teoria do Materialismo Histrico.
Brunschvicg A Experincia Humana e a C ausalidade Fsica.
Febvre e Bataillon A Terra e a Evoluo Humana. [Edio portu-
guesa includa no Panorama da Geografia, 3 volumes, Edies
Cosmos, Lisboa. (N. do E.)' ]
Lvy-Bruhl A Mentalidade Primitiva.
Malinovski Os Argonautas do Pacfico O cidental.
Radex As Vias da Revoluo Russa.
Weber Ensaios sobre a Teoria da C incia.
923
Freud O Ego e o Id.
Klein (M.) A Anlise Precoce.
Korsch Marxismo e Filosofia.
Lukcs Histria e C onscincia de C lasse.
Piaget-A L inguagem e o Pensamento.
Scheler Natureza e Forma da S impatia.
Trotsky C urso Novo.
1923-1924
Dumas -
Mauss -
1923-1929
Cassirer
- Tratado de Psicologia.
Ensaio sobre o Dom.
-Filosofia das Formas S imblicas.
1924
K v; V !/;^j4.(ii.i;-';
,.V"W:.iV>t
>S' ' i' ,Vvf :-V?,' -' ' < ?0' J.)
,>'tyvy.v;. -, -,'J| H . /VJ'>!
' ' W' - ' :M^'4ii'fc,^-.'.',
''\>.'. ' J .!,w'V:t-}. '
' ;):,.... r/,;.-j.;.,'...if .
' l - .!,;(!. '
' ..M' .' / A-.
Primeiro Manifesto do S urrealismo. [Edio portuguesa de Moraes
Editores, Lisboa, com prefcio de Jorge de Sena. (N. do E.)].
Desenvolvimento da escola de psicologia gentica de Piaget.
Jespersen Filosofia da Gramtica.
Lefebvre (G.) Os C amponeses do Norte durante a Revoluo Fran-
cesa.
Estaline Os Princpios do L eninismo.
Westermarck A O rigem e o Desenvolvimento das Ideias Morais.
1925
Freud Inibio, S intonia e Angstia.
H albwachs Os Quadros S ociais da Memria.
H artmann (N.) Princpios de uma Metafsica do C onhecimento.
1926
Fundao do Crculo Lingustico de Praga (Jakobson, Troubetzkoi).
Janet Da Angstia ao xtase.
Reich A Funo do O rgasmo.
Rostovsef A Vida Econmica e S ocial sob o Imprio Romano.
Estaline As Questes do L eninismo.
1927
284
Bridgman (P. W.) A L gica da Fsica Moderna.
Brunschvicg Os Progressos da C onscincia na Filosofia O cidental.
Freud O Futuro de uma Iluso.
H eidegger O S er e o Tempo.
Kautsky A C oncepo Materialista da Histria.
Lvy-Bruhl A Alma Primitiva.
Malinovski A S exualidade e a sua Represso nas S ociedades Pri-
mitivas.
Mo Ts-tung O Movimento C ampons na Provncia de Hu-Nan.
Spaier O Pensamento da Quantidade.
Spearman As C apacidades do Homem.
285
O SCULO XX
1927-1929
Trotsky Revoluo Desfigurada.
1928
Baohelard Ensaio sobre o Conhecimento Aproximado.
Carnap A Estrutura Lgica do Mundo.
Mead (M.) Trabalhos sobre a Educao nas Ilhas Samoa.
Politzer Crtica dos Fundamentos da Psicologia.
1928-1931
Trotsky - A Revoluo Permanente.
1929
Fundao dos Annales d'Histoire conomique et sociale (M. Bloch,
L. Febvre).
Carnap Compndio de Logstica.
Freud Mal-estar na Civilizao.
Heidegger Sobre a Essncia do Fundamento.
Husserl Lgica Formal e Lgica Transcendental.
Lalande As Teorias da Induo e da Experimentao.
Mannheim Ideologia e Utopia.
Reich Materialismo Dialctico e Psicanlise.
Whitehead A Cincia e o Mundo Moderno.
1929-1930
Husserl Meditaes Cartesianas.
CRONOLOGIA
1934
Bachelard O Novo Esprito Cientfico.
Benedlct (R.)Padres de Civilizao. [Edio portuguesa de Livros
do Brasil, Lida., Lisboa. (N. do E.)]
Goldstein A Estrutura do Organismo.
Granet O Pensamento Chins.
Leenhardt Gentes de Terra Firme.
Moreno Os Fundamentos da Sociometria.
1934-1938
Freud - Moiss e o Monotesmo.
1935
1930
Adler (M.) Democracia Social e Democracia Poltica.
1931
Bloch (M.) Os Caracteres Originais da Histria Rural em Frana.
Frobenius O Destino das Civilizaes,
Meyerson ( E. ) A Marcha do Pensamento.
1932
Bachelard O Pluralismo Coerente da] Qumica Moderna.
Bergson As Duas Fontes da Moral e da Religio.
Cassirer A Filosofia das Luzes.
Klein ( M. ) A Psicanlise de Crianas.
Radcliffe-Brown A Organizao Social das Tribos Australianas.
Simiand O Salrio, a Evoluo Social e a Moeda.
Thorndike Os Princpios da Aprendisagem.
Trotsky A Revoluo Permanente.
1933
Bloomfield A Linguagem.
Labrousse . . . o Movimento dos Preos e dos Rendimentos em
Frana no Sculo XVIII.
Reich A Anlise Caracterial.
Psicologia de Massas do Fascismo. [Edio portuguesa de Publi-
caes Dom Quixote, Lisboa. (N. do E.)].
Wallon As rigens do Carcter.
1933-1935
Wittgenstein redige o Caderno Azul e o Caderno Castanho.
286
Benedict ( R. ) A Mitologia Zuni.
Carnap A Lgica da Cincia.
Koffka Os Princpios da Psicologia da Forma.
Lewin (K.) Teoria da Personalidade (recolha de
Gourou Os Camponeses do Delta de TonJcin.
Husserl A Crise das Cincias Europeias.
Keynes Teoria Geral do Emprego...
Lacan A Fase do Espelho.
Leroi-Gourhan A Civilizao da Rena.
Mo Ts-tung Os Problemas Estratgicos da Guerra Revolucion-
ria na China.
Sombart A Sociologia,, o Que S, o Que Deve Ser.
1937
Carnap Sintaxe Lgica da Linguagem.
Lautman Ensaio sobre as Noes de Estrutura e de Existncia em
Matemticas.
Mo Ts-tung Sobre a Prtica.
Sobre a Contradio.
Meillet...estudo comparativo das lnguas indo-europeias.
Pirenne Maom e Carlos Magno. [Edio portuguesa de Publica-
es Dom Quixote, Lisboa. (N. do .E J]
Parsons (T.) A Aco Social.
Estaline Materialismo Dialctico e Materialismo Histrico.
Trotsky A Revoluo Trada.
1937-1941
Sorokin (P. )Como a Civilizao se Transforma.
1938
Aron ( R. ) Introduo Filosofia da Histria.
Bachelard A Formao do Esprito Cientfico.
Cavaills Mtodo Axiomtico e Formalismo.
A Formao da Teoria Abstracta dos Conjuntos.
Griaule Jogos Dogons.
Mscaras Dogons.
Lewin (K. )Experi nci as sobre as Atmosferas
Democrticas.
Sartre A Transcendncia do Ego.
Skinner O Comportamento dos Organismos.
287
O SCULO XX
1939
Bloch ( M. ) A Sociedade Feudal.
CailloisO Homem e o Sagrado.
Freud Publicao de Moiss e o Monotesmo.
Husserl Experincia e Juzo.
Kardiner O Indivduo na Sociedade.
Koyr Estudos Galilaicos.
Sartre Esboo de uma Teoria das Emoes. [Edio portuguesa
de Editorial Presena, Lisboa. (N. do E.)]
Estaline Histria do P. C. da U. R. S. S.
Troubetzkoi Edio dos Princpios de Fonologia.
1940
1941
Bachelard A Filosofia do No. [Edio portuguesa de Editorial
Presena, Lisboa, (N. do E.)']
Evans-Pritchard Sistemas Polticos Africanos.
Gesell Os Cinco Primeiros Anos da Vida.
Mo Tse-tung A Democracia Nova na China.
Russel Significao e Verdade.
Sartre - O Imaginrio.
Znaniecki Papel Social do Homem de Conhecimento.
Dresch Investigaes sobre a Evoluo.
Dumzil Jpiter, Marte, Quirno.
Rostotsef Histria Econmica e Social do Mundo
Wallon A Evoluo Psicolgica.
1942
Carnap Introduo Semntica.
Demangeon Problemas de Geografia Humana.
Nadei Binando Negro.
.
1943
Canguilhem O Normal e o Patolgico.
Hjelmslev Protegmenos a uma Teoria da Linguagem.
A Linguagem.
Hull Os Princpios do Comportamento.
Labrousse A Crise da Economia Francesa no Final do Antigo
Regime e no Incio da Revoluo.
Sartre O Ser e o Nada.
Stoetzel-Estudo Experimental das Opinies.
1943-1952
Sorre Os Fundamentos da Geografia Humana.
1944
Malinovski Uma Teoria Cientfica da Cultura.
Neumann e Morgenstern Teoria dos Jogos...
1945
Blum ( L. ) A Escala Humana.
Gesell Embriologia do Comportamento.
Merleau-Ponty Fenomenologia da Percepo.
CRONOLOGIA
1946
Benedict (R.) O Sabre e o Crisntemo.
Friedmann Problemas Humanos do Maquinismo Industrial.
Gurin (D. A Luta das Classes em Frana sob a I Repblica.
Mounier O que o Personalismo f
SartreO Existencialismo B um Humanismo? [Edio portuguesa
de Editorial Presena, Lisboa, (N. do E.)]
Materialismo e Revoluo.
1947
l$tii
fe'
Braudel O Mediterrneo ... no tempo de Filipe II.
Guillaume A Formao dos Hbitos.
Klossowski Sade, Meu Prximo. [Edio portuguesa de Moraes
Editores, Lisboa. (N. do E.) l
Kojve Introduo Leitura de Hegel.
Leenhardt Do Kamo.
Mauss ... Manual de Etnografia.
Merleau-Ponty Humanismo e Terror.
Sartre Publicao de Situaes I (dez volumes at 1972). [Edio
portuguesa de Publicaes Europa-Amrica, Lisboa. (N. do
Lukcs O Jovem Hegel.
Existencialismo e Marxismo.
Gourou Os Pases Tropicais.
Griaule Deus de Agua.
Temples A Filosofia Bantu.
Wiener Ciberntica.
Bachelard O nacionalismo Aplicado.
Bloch (M.) Apologia do Oficio de Historiador (pstumo). [Edio
portuguesa com o ttulo de Introduo Histria, Publicaes
Europa-Amrica, Lisboa. (N. do E.)~\ Einleitung zu Was ist Metaphysik ?
Lefevbre ( H. ) O Materialismo Dialtico.
L Lannou A Geografia Humana.
Lvi-Strauss As Estruturas Elementares do Parentesco.
Lvy-Bruhl Cadernos (pstumo).
Mo Tse-tung Sobre a Ditadura, Democrtica Popular.
1950
Mauss Sociologia e Antropologia.
Riesman A Multido Solitria.
Roheim Psicanlise e Antropologia.
Estaline Sobra o Marxismo em Lingustica.
Weil (E.)Lgica da, Filosofia.
1951
288
Bachelard A Actividade Racionalista da Fsica Contempornea.
De Castro (J.) Geopoltica da Fome.
Dieterlen Ensaio sobre a Religio Bambara.
Francastel Pintura e Sociedade.
George Introduo ao Estudo Geogrfico da Populao no Mundo.
O SCULO XX
Harris Mtodos em Lisgustca Estrutural.
Parsons ( T. ) O Sistema Social.
Tran Duc Thao Fenomenologia e Materialismo Dialctico.
CRONOLOGIA
1957
1952
George A Cidade.
Jakobson ... Preliminares Anlise da Fala.
Lewin Teoria do Campo nas Cincias Sociais. (Recolha pstuma
de artigos.)
Radcliffe-Brown Estrutura e Funo nas Sociedades Primitivas.
Estaline Oa Problemas Econmicos do Socialismo na U. R. 8. S.
Barthes O Grau Zero da Escrita. [Edio portuguesa de Edies
70, Lisboa. (N. do E.)~\o ( F. ) A Histria Me Absolver. [Edio portuguesa de
Prelo Editora, Lisboa. (N. do E.) ]
Deleuze Empirismo e Subjectividade.
Febvre Combates pela Histria.
Garaudy Teoria Materialista do Conhecimento.
Hyppolite Lgica e Existncia.
Kroeber A Antropologia Actual.
Lacan Funo do Campo da Fala e da Linguagem no Campo
Psicanaltico.
Osgood Mtodo e Teoria em Psicologia Experimental.
Sklnner Cincia, e Comportamento Humano.
Wahl (J. )Tratado de Metafsica.
Wittgenstein Investigaes Filosficas.
1954
Balandier Sociologia da frica Negra.
Dumont A Economia Agrcola no Mundo.
Friedmann-Para onde Vai o Trabalho Humano?
Heidegger Was heisst Denkenf
Michotte A Percepo da Causalidade.
1955
Berque As Estruturas Sociais do Alto-Atlas.
Blanchot O Espao Literrio.
Canguilhem A Formao do Conceito de Reflexo nos Sculos
XVII e XVIII.
Chesneaux Histria da Nao Vietnamita.
Lazarsf eld A Linguagem da Cincia Social.
Lvi-StraussTristes Trpicos. [Edio portuguesa de Portuglia
Editora, Lisboa. (N. do E.)]
Liou-Chao-Chi Para Ser um Bom. Comunista.
Marcuse Eros e Civilizao.
Martinet Economia das Transformaes Fonticas.
1956
Bastide (R.) As Religies Actuais do Brasil.
Chaunu Sevilha e o Atlntico (1504-1650).
Heidegger A Questo do Ser.
Mo Tse-tung Sobre a Experincia Histrica da Ditadura do
Proletariado.
Romano Comrcio e Preo do Trigo em Marselha no Sculo XVII.
290
Balandier frica Ambgua.
Bataille A Literatura e o Mal. [Edio portuguesa de Moraes
Editores, Lisboa. (N. do E.)]
Chomski As Estruturas Sintcticas.
Djilas A Nova Classe Dirigente.
Heidegger Die onto-theologische Verfassung der Metaphysik.
Koyr Do Mundo Fechado ao Universo Infinito.
Mo Tse-tung Sobre a Justa Soluo das Contradies no Seio
do Povo.
Moraz Os Burgueses Conquista do Mundo. [Edio portuguesa
de Edies Cosmos, Lisboa. (N. do EJ1.
Gaiibrath A Sociedade da Abu\iAncia. [Edio portuguesa de
S da Costa, Lisboa. (N. do E.)~\s Antropologia Estrutural.
Ayer Positivismo Lgico.
Hjelmslev Ensaios Lingusticos.
Nougier Geografia Humana Pr-histrica.
Penfield e Robert Linguagem e Mecanismos Cerebrais.
Popper Lgica da Descoberta Cientfica.
Cavaills Sobre a Lgica e a Teoria da Cincia. (Pstumo.)
Goubert Cem Mil Provincianos no Sculo XVII.
Martinet Elementos de Lingustica Geral. [Edio portuguesa de
Moraes Editores, Lisboa. (N. do E.)}
Merleau-Ponty Sinais. [Edio portuguesa de Minotauro, Lisboa.
(N. do E.n
Sartre A Crtica da Razo Dialctica, I.
Zahan Sociedades de Iniciao Bambara.
Zazzo Os Gmeos, o Par, a Pessoa.
Foucault Histria da Loucura na Era Clssica.
Leach Repensar a Antropologia.
Nagel (E.) A Estrutura da Cincia.
Richefort O Trabalho na Siclia* Estudo de Geografia Social.
Togliatti O Partido Comunista Italiano.
Publicao, na Hungria, dos discursos de Bela Kun.
Aron (R.)Dezoito Lies sobre a Sociedade Industrial.
Deleuze Nietzsche e a Filosofia.
Fanon Os Condenados da Terra. [Edio portuguesa de Edies
Ulisseia, Lisboa. (N. do E.)]
Guevara A Guerra de Guerrilha.
L Goff A Idade Mdia.
Leroi-Ladurie Camponeses do Languedoc.
Lvi-Strauss O Pensamento Selvagem.
O Totemismo Hoje.
Mac Luhan A Galxia Gwtenberg.
O SCULO XX
Reuchlin Os Mtodos Quantitativos em Psicologia.
Vllar A Catalunha na Espanha Moderna.
Vuillemin A Filosofia da lgebra.
CRONOLOGIA
1967
1963
Dugrand Cidades e Campo do Baixo-Languedoc.
Foucault Nascimento da Clnica.
Guiart Estrutura da Chefferie na Melansia.
Jakobson Ensaios de Lingustica Geral (traduo francesa de
textos anteriores).
Marcuse O Marxismo Sovitico.
SchefflerThe Anato my o f Inquiry.
Wolff (E.) Os Caminhos da Vida.
1963-1966
Fraisse e Piaget- - Tratado de Psicologia Experimental.
1968
1964
Barthes Ensaios Crticos.
Berque A Desapossesso do Mundo.
Bourdieu e Passeron Os Herdeiros.
Deleuze Proust e os Signos.
Katz e PostalUma Descrio Integrada das Teorias Lingusticas.
Lvque e Vidal-Naquet Clistenes, o Ateniense.
Meillassoux Antropologia Econmica dos Gouro da Costa do
Marfim.
Sebag (L.) Marxismo e Estruturalismo.
Althusser Para Marx.
Althusser, Balibar, Macherey, Rancire Ler o Capital.
Bettelheim A Construo do Socialismo em Cuba.
Canguilhem O Conhecimento da Vida.
Chomsky Aspectos da Teoria da Sintaxe.
Dvereux A Psicanlise Aplicada Histria de Esparta.
Fureti e Richet A Revoluo.
Hempel Aspectos da Explicao Cientfica.
Labasse A Organizao do Espao.
Mendel (E.)Trat ado de Economia Marxista.
Marcuse O Homem. Unidimensional.
Merton (R. K.) Teoria Social e Estrutura Social.
Ricoeur Sobre a Interpretao.
1969
1966
Benveniste Problemas de Lingustica Geral.
Carnap Os Fundamentos Filosficos da Fsica.
Chomsky A Lingustica Cartesiana.
Foucault As Palavras e as Coisas. [Edio portuguesa de Portu-
glia Editora, Lisboa. (N. do E.)]
George Sociologia e Geografia.
Lacan Escritos.
Leclaire e Laplanche O Inconsciente: um Estudo Psicanaltico.
Lvi-Strauss Do Mel s Cinzas.
Poulantzas Poder Poltico e Classes Sociais.
Aron (R.) As Fases do Pensamento Sociolgico.
Bataille A Parte Maldita.
Deleuze-Apresentao de Sacher Masoch.
Derrida A Vos e o Fenmeno.
Da Gramatologia.
Galbraith O Novo Estado Industrial. [Edio portugusa de Publi-
caes Dom Quixote, Lisboa. (N. do E.)']
Glucksmann O Discurso da Guerra.
Laplanche e PontalisO Vocabulrio de Psicanlise. [Edio por-
tuguesa de Moraes Editores, Lisboa. (N. do E.)"\n Investigaes Lgicas.
Universais in linguistics Theory, sob a direco de Harris.
Boudon Para que Serve a Noo & Estrutura.
Bourdieu, Chamboredon, Passeron A Profisso de Socilogo.
Claval Regies, Naes, Grandes Espaos.
Derrida A Farmcia de Plato.
Desanti As Idealidades Matemticas.
George A Aco Humana.
Lyons Linguistica, Geral.
Mandrou Magistrados e Feiticeiros no Sculo XVIII.
Nidditch A Filosofia da Cincia.
Serres Hermes ou a Comunicao.
Althab Opresso e Libertao no Imaginrio.
Balandier Antropologia Poltica.
Blanchot A Conversa Infinita.
Deleuze Diferena e Repetio.
Lgica do Sentido.
Foucault A Arqueologia, do Saber.
Meynier Histria do Pensamento Geogrfico em Frana.
Terray O Marxismo perante as Sociedades Primitivas.
1970
II Manifesto, apresentado por Rossana Rossanda.
Barthes S/Z.
Gratiot, Alphandery, Zazzo Tratado de Psicologia da Ciana.
Granel Observaes sobre a Relao entre Sein una Zeit e a
Fenomenologia Husserliana.
Jacob (F.) A Lgica da Vida. [Edio portuguesa de Publicaes
Dom Quixote, Lisboa. (N. do E.)}
No era possvel dedicar notas1 biogrficas a todos os autores aqui
analisados. Preferimos, portanto, suprimir essa rubrica neste volume.
O leitor poder reportar-se aos volumes VI & VII para as notas biogr-
ficas de pensadores como Bachelard, Freud, Wittgenstein.
Do mesmo modo, o leitor dos volumes precedentes notar que, nos
dois! ltimos volumes, VII e VIII, renuncimos a traar um quadro dos
autores citados. A justificao que o contedo dos diversos captulos
tal que as referncias encontram-se dispersas, que as questes doutri-
nais se fragmentam e que o nome dos autores tem menos importncia
do que as ideias propostas.
293
S-ar putea să vă placă și
- História Da Filosofia - Volume 6Document515 paginiHistória Da Filosofia - Volume 6Victor Hugo Vieira100% (4)
- Introducao A Filosofia Martin Heidegger SUBLINHADO PDFDocument267 paginiIntroducao A Filosofia Martin Heidegger SUBLINHADO PDFfabioingenuo80% (5)
- HEGEL - Diferença Entre Os Sistemas Filosóficos de Fichte e de SchellingDocument143 paginiHEGEL - Diferença Entre Os Sistemas Filosóficos de Fichte e de SchellingOswaldo Martins100% (1)
- GILSON, Etienne. A Filosofia Na Idade MédiaDocument484 paginiGILSON, Etienne. A Filosofia Na Idade MédiaProfFaria1100% (10)
- Giovanni Reale e Dario Antiseri - História Da Filosofia - Volume 6 - Ano 2006Document514 paginiGiovanni Reale e Dario Antiseri - História Da Filosofia - Volume 6 - Ano 2006Daniel Willians100% (1)
- Eclipse Da RazãoDocument98 paginiEclipse Da Razãocarlos100% (5)
- O método cético de oposição na Filosofia ModernaDe la EverandO método cético de oposição na Filosofia ModernaEvaluare: 5 din 5 stele5/5 (1)
- Gilles Deleuze - Nietzsche A Filosofia PDFDocument174 paginiGilles Deleuze - Nietzsche A Filosofia PDFhelio_bac100% (1)
- ZIZEK, Slavoj (Org) - Um Mapa Da Ideologia PDFDocument81 paginiZIZEK, Slavoj (Org) - Um Mapa Da Ideologia PDFAluana Guilarducci86% (7)
- BORNHEIM, Gerd A. Os Filósofos Pré-SocráticosDocument64 paginiBORNHEIM, Gerd A. Os Filósofos Pré-Socráticosleoluizp88% (8)
- CHÂTELET, François. Hegel. (Em Português)Document108 paginiCHÂTELET, François. Hegel. (Em Português)Jonison Santos100% (1)
- 1 - Negotiation A Mafia Love Story - R. E. SaxtonDocument144 pagini1 - Negotiation A Mafia Love Story - R. E. Saxtonh.juninho67% (3)
- A ontologia em debate no pensamento contemporâneoDe la EverandA ontologia em debate no pensamento contemporâneoEvaluare: 5 din 5 stele5/5 (1)
- História Da Filosofia Moderna DiagramadaDocument39 paginiHistória Da Filosofia Moderna DiagramadaThiago Albertin100% (2)
- (5 e 6 ) Exercício Operação InversaDocument1 pagină(5 e 6 ) Exercício Operação InversaProfGilvan92% (12)
- Em defesa da educação pública, gratuita e democráticaDe la EverandEm defesa da educação pública, gratuita e democráticaEvaluare: 5 din 5 stele5/5 (1)
- Repouso no Espírito: uma experiência poderosa de cura e renovaçãoDocument24 paginiRepouso no Espírito: uma experiência poderosa de cura e renovaçãoPaulo SilvaÎncă nu există evaluări
- O império do sentido: A humanização das ciências humanasDe la EverandO império do sentido: A humanização das ciências humanasEvaluare: 5 din 5 stele5/5 (1)
- Edoc - Pub - Regis Jolivet As Doutrinas Existencialistas PDFDocument183 paginiEdoc - Pub - Regis Jolivet As Doutrinas Existencialistas PDFRenato DeákÎncă nu există evaluări
- A Descoberta Do FluxoDocument5 paginiA Descoberta Do Fluxoluisc2015Încă nu există evaluări
- Agnes Heller em PerspectivaDocument150 paginiAgnes Heller em PerspectivaRafael Fanni100% (3)
- Pensamento alemão no século XX: grandes protagonistas e recepção das obras no BrasilDe la EverandPensamento alemão no século XX: grandes protagonistas e recepção das obras no BrasilÎncă nu există evaluări
- Sidur MessianicoDocument11 paginiSidur MessianicoZachary Reese0% (1)
- Hegel - Cartas de e para HegelDocument218 paginiHegel - Cartas de e para HegelJosé Luís NevesÎncă nu există evaluări
- Ensaio sobre a historia da sociedade civil: Instituições de filosofia moralDe la EverandEnsaio sobre a historia da sociedade civil: Instituições de filosofia moralÎncă nu există evaluări
- MUTSCHLER, Hans-Dieter. Introdução À Filosofia Da NaturezaDocument211 paginiMUTSCHLER, Hans-Dieter. Introdução À Filosofia Da NaturezaPhilipe Pimentel100% (6)
- Martin Heidegger - Conferências e Escritos FilosóficosDocument296 paginiMartin Heidegger - Conferências e Escritos FilosóficosMaria Helena Freitas100% (3)
- BOYER, Alain (Et Al.) Por Que Não Somos Nietzscheanos São Paulo, Editora Ensaio, 1993Document150 paginiBOYER, Alain (Et Al.) Por Que Não Somos Nietzscheanos São Paulo, Editora Ensaio, 1993rvfortesÎncă nu există evaluări
- Châtelet Duhmel Pisier - Dicionário Das Obras PolíticasDocument1.299 paginiChâtelet Duhmel Pisier - Dicionário Das Obras PolíticasJoão Batista Santos100% (2)
- O Fascismo Eterno - Umberto Eco PDFDocument12 paginiO Fascismo Eterno - Umberto Eco PDFVitor Henrique Sanches100% (1)
- A Sociedade de Consumidores e a Perversão do Animal Laborans: uma análise de Hannah Arendt sobre nossos tempos sombriosDe la EverandA Sociedade de Consumidores e a Perversão do Animal Laborans: uma análise de Hannah Arendt sobre nossos tempos sombriosÎncă nu există evaluări
- Introdução à Fenomenologia de HegelDocument288 paginiIntrodução à Fenomenologia de HegelVlademir RamosÎncă nu există evaluări
- Émile Bréhier, A Teoria Dos IncorporaisDocument14 paginiÉmile Bréhier, A Teoria Dos Incorporaiscristina pescuma100% (1)
- Nicos Poulantzas - Fascismo e Ditadura - A III Internacional Face Ao Fascismo - Vol. IDocument146 paginiNicos Poulantzas - Fascismo e Ditadura - A III Internacional Face Ao Fascismo - Vol. IDavid Cunha86% (7)
- Segunda consideração intempestiva: Da utilidade e desvantagem da história para a vidaDe la EverandSegunda consideração intempestiva: Da utilidade e desvantagem da história para a vidaEvaluare: 4 din 5 stele4/5 (66)
- Heidegger - Sobre A Essência Da VerdadeDocument10 paginiHeidegger - Sobre A Essência Da Verdadeagameno100% (2)
- Abrir a história: Novos olhares sobre o século XX francêsDe la EverandAbrir a história: Novos olhares sobre o século XX francêsÎncă nu există evaluări
- BADIOU, Alain - São Paulo PDFDocument143 paginiBADIOU, Alain - São Paulo PDFJuliana Pereira100% (1)
- ANPOF - Associação Nacional de Pós-Graduação em FilosofiaDocument431 paginiANPOF - Associação Nacional de Pós-Graduação em FilosofiaOtávioÎncă nu există evaluări
- LÍRICA TROVADORESCA Cantiga de Amigo Sedia-Me Eu Na Ermida..Document2 paginiLÍRICA TROVADORESCA Cantiga de Amigo Sedia-Me Eu Na Ermida..Nuno Barros100% (2)
- DERRIDA, J. Adeus A Emmanuel Lévinas PDFDocument71 paginiDERRIDA, J. Adeus A Emmanuel Lévinas PDFLélia Vilela100% (1)
- Do Estruturalismo Ao Culturalismo: A Filosofia Das Formas Simbólicas de Ernst CassirerDocument26 paginiDo Estruturalismo Ao Culturalismo: A Filosofia Das Formas Simbólicas de Ernst CassirerJanie Lidia Maia CunhaÎncă nu există evaluări
- A aventura da filosofia francesa no século XXDocument16 paginiA aventura da filosofia francesa no século XXRafaelSilva33% (3)
- Charles Taylor Identidade - Juliano OliveiraDocument125 paginiCharles Taylor Identidade - Juliano OliveiraWalin Jose de Paula100% (1)
- Wilhelm Dilthey e a autonomia das ciências histórico-sociaisDe la EverandWilhelm Dilthey e a autonomia das ciências histórico-sociaisÎncă nu există evaluări
- O problema da tolerância na filosofia política de John RawlsDocument21 paginiO problema da tolerância na filosofia política de John RawlsHelena PinelaÎncă nu există evaluări
- O lúdico na educação infantilDocument7 paginiO lúdico na educação infantiljose ozildo dos santosÎncă nu există evaluări
- CHÂTELET, François. Hegel PDFDocument108 paginiCHÂTELET, François. Hegel PDFDanilo Lucena Mendes100% (1)
- Goldschimidt, Victor - A Religião de Platão PDFDocument79 paginiGoldschimidt, Victor - A Religião de Platão PDFWilliam Chinaski83% (6)
- Futuro na Filosofia da História de G. W. F. HegelDe la EverandFuturo na Filosofia da História de G. W. F. HegelÎncă nu există evaluări
- Uma História Da Razão - ChâteletDocument80 paginiUma História Da Razão - ChâteletRegina Stori100% (1)
- Treinamento e desenvolvimento de recursos humanosDocument22 paginiTreinamento e desenvolvimento de recursos humanosd_furlan155550% (2)
- Medicina Dos Afectos - Correspondência de Descartes e Elizabeth PDFDocument89 paginiMedicina Dos Afectos - Correspondência de Descartes e Elizabeth PDFLucas MoraesÎncă nu există evaluări
- Quadro-Resumo Escolas LiteráriasDocument2 paginiQuadro-Resumo Escolas LiteráriasMaria Cristina Cristina100% (1)
- Wilhelm D I LT H e Y-Filósofo Da Vida e Clássico Da Filosofia Hermenêutica PDFDocument7 paginiWilhelm D I LT H e Y-Filósofo Da Vida e Clássico Da Filosofia Hermenêutica PDFCyntia Regina Oliveira YamauchiÎncă nu există evaluări
- Marilena Chaui o Trabalho e A Obra: História e Engajamento Filosófico-Político - UnBDocument7 paginiMarilena Chaui o Trabalho e A Obra: História e Engajamento Filosófico-Político - UnBHenrique XavierÎncă nu există evaluări
- Poly-Universe metodologia de ensino matemáticaDocument17 paginiPoly-Universe metodologia de ensino matemáticaHelena PinelaÎncă nu există evaluări
- Husserl Conferencias de ParisDocument44 paginiHusserl Conferencias de ParisJuan Juan67% (3)
- MEMORIAS - HANS JONAS-desbloqueado e ProcessdoDocument475 paginiMEMORIAS - HANS JONAS-desbloqueado e ProcessdoBruno Xavier100% (3)
- Brasil: Terra da Contrarrevolução – Revolução Brasileira e Classes Dominantes no Pensamento Político e SociológicoDe la EverandBrasil: Terra da Contrarrevolução – Revolução Brasileira e Classes Dominantes no Pensamento Político e SociológicoÎncă nu există evaluări
- Mestrado Carpintaria NavalDocument151 paginiMestrado Carpintaria NavalcauesousaÎncă nu există evaluări
- Avaliação neuropsicolinguística: aspectos conceituais e avaliativosDocument19 paginiAvaliação neuropsicolinguística: aspectos conceituais e avaliativosThiago Primo CantisanoÎncă nu există evaluări
- Vida e Liberdade: Entre a ética e a políticaDe la EverandVida e Liberdade: Entre a ética e a políticaEvaluare: 5 din 5 stele5/5 (1)
- Pensamento Pós-Metafísico. Estudos FilosóficosDocument269 paginiPensamento Pós-Metafísico. Estudos FilosóficosMarina MarinaÎncă nu există evaluări
- CURRÍCULO PARA ALÉM DA PÓS-MODERNIDADE - Maria Aparecida SilvaDocument17 paginiCURRÍCULO PARA ALÉM DA PÓS-MODERNIDADE - Maria Aparecida SilvaRafael Castello Branco CiarliniÎncă nu există evaluări
- Entrevistas LÍDIAJORGEe TEOLINDAGERSÃODocument6 paginiEntrevistas LÍDIAJORGEe TEOLINDAGERSÃOHelena PinelaÎncă nu există evaluări
- Filosofia e Ge Nero Outras Narrativas So PDFDocument255 paginiFilosofia e Ge Nero Outras Narrativas So PDFHelena PinelaÎncă nu există evaluări
- Heidegger e o Exercício EcfrásticoDocument14 paginiHeidegger e o Exercício EcfrásticoHelena Pinela100% (1)
- Fernando Pessoa e A Consciencia InfelizDocument20 paginiFernando Pessoa e A Consciencia InfelizHelena PinelaÎncă nu există evaluări
- Biscoitos de Aveia e MelDocument1 paginăBiscoitos de Aveia e MelHelena PinelaÎncă nu există evaluări
- Texto - Bachelard.Poética Do EspaçoDocument17 paginiTexto - Bachelard.Poética Do EspaçoHelena Pinela100% (1)
- Notadeleitura Sobre "O Que É Um Texto" (RICOEUR, 1989)Document7 paginiNotadeleitura Sobre "O Que É Um Texto" (RICOEUR, 1989)Helena PinelaÎncă nu există evaluări
- Um Vazio de Direito PaperDocument10 paginiUm Vazio de Direito PaperHelena PinelaÎncă nu există evaluări
- ArquivopessoaDocument5 paginiArquivopessoaHelena PinelaÎncă nu există evaluări
- A HERMENÊUTICA DA CONDIÇÃO HUMANA de Paul RicoeurDocument44 paginiA HERMENÊUTICA DA CONDIÇÃO HUMANA de Paul RicoeurRocha JessicaÎncă nu există evaluări
- Uma Filosofia Do Cogito Ferido - Paul Ricoeur - GagnebinDocument12 paginiUma Filosofia Do Cogito Ferido - Paul Ricoeur - GagnebinÉrico FumeroÎncă nu există evaluări
- As seis definições modernas de hermenêuticaDocument5 paginiAs seis definições modernas de hermenêuticaHelena Pinela100% (1)
- Rosa Jose Trindade Teologia Pol Tica PDFDocument24 paginiRosa Jose Trindade Teologia Pol Tica PDFHelena Pinela100% (1)
- Pires Edmundo Balsemao Teoria Critica Moral PDFDocument30 paginiPires Edmundo Balsemao Teoria Critica Moral PDFHelena PinelaÎncă nu există evaluări
- Marcus Aurelius's Meditations - Philosophy, Coimbra University (2012)Document10 paginiMarcus Aurelius's Meditations - Philosophy, Coimbra University (2012)Helena PinelaÎncă nu există evaluări
- O Bom Uso Das Feridas Da MemoriaDocument4 paginiO Bom Uso Das Feridas Da MemoriaClara RohemÎncă nu există evaluări
- Filosofia e Universidade PDFDocument32 paginiFilosofia e Universidade PDFHelena PinelaÎncă nu există evaluări
- Aristoteles Met-V PDFDocument20 paginiAristoteles Met-V PDFHelena PinelaÎncă nu există evaluări
- Dialnet InfluenciaDoEstoicismoSobreMarcoTulioCiceroEOPensa 3754261 PDFDocument12 paginiDialnet InfluenciaDoEstoicismoSobreMarcoTulioCiceroEOPensa 3754261 PDFHelena PinelaÎncă nu există evaluări
- Teologia Política-Dicionário Alexandre Franco SáDocument10 paginiTeologia Política-Dicionário Alexandre Franco SáAna Suelen Tossige GomesÎncă nu există evaluări
- Curso Jesuíta ConimbricenseDocument292 paginiCurso Jesuíta ConimbricenseHelena Pinela100% (1)
- Cicero Sobre o DestinoDocument17 paginiCicero Sobre o DestinoSusana PaisÎncă nu există evaluări
- Hegel e As Patologias Da Ideia PDFDocument25 paginiHegel e As Patologias Da Ideia PDFHelena PinelaÎncă nu există evaluări
- Materiais Sobre o Programa de OntologiaDocument76 paginiMateriais Sobre o Programa de OntologiaHelena PinelaÎncă nu există evaluări
- Fichte, Dourina Da CiênciaDocument11 paginiFichte, Dourina Da CiênciaHelena PinelaÎncă nu există evaluări
- A função do sentimento estético segundo KantDocument29 paginiA função do sentimento estético segundo KantHelena PinelaÎncă nu există evaluări
- Modos de Inscricao Do CorpoDocument14 paginiModos de Inscricao Do CorpoHelena PinelaÎncă nu există evaluări
- AV2 MA14 2014 Com Gabarito PDFDocument3 paginiAV2 MA14 2014 Com Gabarito PDFbrsdiveÎncă nu există evaluări
- Habitação e Cidade: o Programa Minha Casa Minha Vida em Russas - CearáDocument96 paginiHabitação e Cidade: o Programa Minha Casa Minha Vida em Russas - CearáNael Nunes PereiraÎncă nu există evaluări
- As Estatísticas Da Educação Profissional e Tecnológica - Silêncios Entre Os Números Da Formação de TrabalhadoresDocument54 paginiAs Estatísticas Da Educação Profissional e Tecnológica - Silêncios Entre Os Números Da Formação de TrabalhadoresShilton RoqueÎncă nu există evaluări
- Educação Da Superalma Sete - Parte InicialDocument52 paginiEducação Da Superalma Sete - Parte InicialatentoempazÎncă nu există evaluări
- Resgate Dos Valores Cívicos e Morais - Trabalho de Filosofia Do Grupo #01 - Por Aristides.Document15 paginiResgate Dos Valores Cívicos e Morais - Trabalho de Filosofia Do Grupo #01 - Por Aristides.orinel100% (1)
- Curso Psicologia Social Defensoria SPDocument26 paginiCurso Psicologia Social Defensoria SPVivian Prado PereiraÎncă nu există evaluări
- Resumo Do Cap1 Texto e Textualidade Do Livro Redação e Textualidade de Costa ValDocument2 paginiResumo Do Cap1 Texto e Textualidade Do Livro Redação e Textualidade de Costa ValJhulyanna RodriguesÎncă nu există evaluări
- Métodos Fspecíficos Das Ciências SociaisDocument3 paginiMétodos Fspecíficos Das Ciências SociaisMarília NunesÎncă nu există evaluări
- Capa Monografia AlineDocument6 paginiCapa Monografia AlineAnonymous 6e09P5LFoh100% (1)
- As Bronte e o ColonialismoDocument282 paginiAs Bronte e o ColonialismoCarla Cristina Garcia100% (1)
- Tratamento Possivel Das Toxicomanias - Capitulo 1Document22 paginiTratamento Possivel Das Toxicomanias - Capitulo 1soledadtorresscÎncă nu există evaluări
- KENYATTA, Jomo. Sistema de Casamento PDFDocument10 paginiKENYATTA, Jomo. Sistema de Casamento PDFsilasÎncă nu există evaluări
- Educação, Cultura e Etnodesenvolvimento - Saberes em Diálogo (LIVRO)Document134 paginiEducação, Cultura e Etnodesenvolvimento - Saberes em Diálogo (LIVRO)EdilsonAlvesdeSouzaÎncă nu există evaluări
- Falácia Do EspantalhoDocument6 paginiFalácia Do Espantalho84tchr787kÎncă nu există evaluări
- Cap 03 - 3.3 GriffithsDocument2 paginiCap 03 - 3.3 GriffithsValter DantasÎncă nu există evaluări
- mondOLFO Rodolfo História Do Pensamento Antigo AristótelesDocument33 paginimondOLFO Rodolfo História Do Pensamento Antigo AristótelesÉsio SalvettiÎncă nu există evaluări
- Falácias criacionistas e a evoluçãoDocument35 paginiFalácias criacionistas e a evoluçãoanaliceeeÎncă nu există evaluări
- Orientação sexual na escolaDocument8 paginiOrientação sexual na escolaRegiane RuschelÎncă nu există evaluări