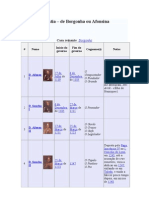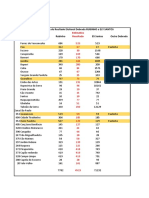Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Extermínio Cultural Como Violação de Direitos Humanos: o Contexto Criminal Do Etnocídio e Se Desenvolvimento No Campo Do Saber Jurídico-Penal
Încărcat de
gjcorreia7368Titlu original
Drepturi de autor
Formate disponibile
Partajați acest document
Partajați sau inserați document
Vi se pare util acest document?
Este necorespunzător acest conținut?
Raportați acest documentDrepturi de autor:
Formate disponibile
Extermínio Cultural Como Violação de Direitos Humanos: o Contexto Criminal Do Etnocídio e Se Desenvolvimento No Campo Do Saber Jurídico-Penal
Încărcat de
gjcorreia7368Drepturi de autor:
Formate disponibile
PONTIFCIA UNIVERSIDADE CATLICA DO RIO GRANDE DO SUL
PROGRAMA DE PS-GRADUAO EM CINCIAS CRIMINAIS
MESTRADO EM CINCIAS CRIMINAIS
Gustavo Jos Correia Vieira
EXTERMNIO CULTURAL COMO VIOLAO DE DIREITOS HUMANOS: O CONTEXTO
CRIMINAL DO ETNOCDIO E SEU DESENVOLVIMENTO NO CAMPO DO SABER
JURDICO-PENAL
Porto Alegre
2011
PONTIFCIA UNIVERSIDADE CATLICA DO RIO GRANDE DO SUL
PROGRAMA DE PS-GRADUAO EM CINCIAS CRIMINAIS
MESTRADO EM CINCIAS CRIMINAIS
Gustavo Jos Correia Vieira
EXTERMNIO CULTURAL COMO VIOLAO DE DIREITOS HUMANOS: O CONTEXTO
CRIMINAL DO ETNOCDIO E SEU DESENVOLVIMENTO NO CAMPO DO SABER
JURDICO-PENAL
Dissertao apresentada perante a Banca Examinadora do Programa de Ps-Graduao em Cincias Criminais da Pontifcia Universidade Catlica do Rio Grande do Sul como requisito parcial
para a obteno do ttulo de Mestre em Cincias
Criminais.
Orientador(a): Prof. Dr. Jos Carlos Moreira
da Silva Filho
Porto Alegre
2011
V658e
Vieira, Gustavo Jos Correia
Extermnio cultural como violao de direitos humanos: o contexto criminal do etnocdio e seu desenvolvimento no campo do
saber jurdico-penal. / Gustavo Jos Correia Vieira. Porto Alegre, 2011.
225 f.
Dissertao (Mestrado em Cincias Criminais) Faculdade de
Direito, Pontifcia Universidade Catlica do Rio Grande do Sul PUCRS.
Orientao: Prof. Dr. Jos Carlos Moreira da Silva Filho.
1. Direito Humanos. 2. Etnocdio. 3. Identidade Cultural.
4. Direitos Humanos. I. Silva Filho, Jos Carlos Moreira da.
II. Ttulo.
CDD 341.1511
Bibliotecria responsvel
Cntia Borges Greff - CRB 10/1437
GUSTAVO JOS CORREIA VIEIRA
EXTERMNIO CULTURAL COMO VIOLAO DE DIREITOS HUMANOS: O
CONTEXTO CRIMINAL DO ETNOCDIO E SEU DESENVOLVIMENTO NO
CAMPO DO SABER JURDICO-PENAL
Dissertao apresentada perante a Banca Examinadora do Programa de Ps-Graduao em Cincias Criminais da Pontifcia Universidade Catlica do Rio Grande do Sul como requisito parcial
para a obteno do ttulo de Mestre em Cincias
Criminais.
Aprovado em: ____de__________________de________.
BANCA EXAMINADORA:
______________________________________________
Prof. Dr. Jos Carlos Moreira da Silva Filho
______________________________________________
Prof. Dr. Antnio Carlos Wolkmer
______________________________________________
Prof. Dr. Ricardo Timm de Souza
Porto Alegre
2011
AGRADECIMENTOS
A Deus, fonte de vida e sabedoria.
minha famlia e minha companheira, pelo apoio e dedicao.
Ao professor Jos Carlos Moreira Filho, pela orientao e ateno.
Destruir las huellas, las inscripciones culturales de un grupo humano, sus
cimientos terrestres, es parte integrante de lo que anima todo proyecto genocida,
que consiste en destruir no slo a los vivos sino, con ellos, su pasado, para que,
faltos de apoyo terrestre, no puedan encontrar lugar, ni en la palabra ni en la memoria colectiva. (Hlne Piralian, Genocdio y transmisin. Mxico: Fondo de
cultura economica, 1994)
RESUMO
O estudo a seguir trata sobre o tema do etnocdio, forma de violncia que possui caractersticas prprias. Em resumo, trata-se de buscar inserir em uma discusso jurdico-penal e
sob a tica dos direitos humanos como esta prtica se materializa, bem como o que ela visa
eliminar. No decorrer deste estudo, so considerados como base determinados conceitos antropolgicos para a compreenso deste fenmeno, principalmente em torno da concepo de
identidade cultural, que se vincula com a corporalidade e responsvel pela produo, reproduo e desenvolvimento da vida humana, em um mbito comunitrio. Igualmente se considera a sua relao com o colonialismo, alm de traar uma anlise das condies de vulnerabilidade e de vtima em potencial, caractersticas presentes na consecuo do etnocdio. Por
fim, o estudo ora proposto se desenvolve em um mbito jurdico, de comparao do etnocdio
com outras formas de violao de direitos humanos, resultando ao final uma abordagem sobre
a importncia do direito dos povos e seus elementos (tica, memria e reconhecimento) como
parmetro de preveno ao etnocdio.
Palavras-chave: Direitos humanos. Etnocdio. Identidade cultural. Direito dos povos.
ABSTRACT
The following study addresses about the ethnocide, a form of violence that has its own
characteristics. In short, it is seeking to enter into a discussion and legal-criminal from the
standpoint of human rights how this practice is materialized, and what it seeks to eliminate.
Throughout this study, are considered as certain basic anthropological concepts to understand
this phenomenon, mainly around the concept of cultural identity, which is linked with corporeality and is responsible for production, reproduction and development of human life, on a
community level. Also it considers it its relationship with colonialism, but also traces an analysis of the conditions of vulnerability and potential victim characteristics present in the
achievement of ethnocide. Finally, the study proposed here is developed in a legal context, in
comparison of ethnocide with other forms of human rights violation, resulting in an approach
on the importance of the right of the people and its elements (ethics, memory and recognition)
as a parameter for the prevention of ethnocide.
Keywords: Human rights. Ethnocide. Cultural identity. Right of peoples.
SUMRIO
INTRODUO .................................................................................................................... 9
CAPTULO I PERSPECTIVA HISTRICO-ANTROPOLGICA......................... 14
1.1 SOBRE CULTURA E IDENTIDADE CULTURAL...................................................... 14
1.1.1 Notas sobre cultura .................................................................................................. 14
1.1.2 Notas sobre identidade cultural ............................................................................... 28
1.2 O ETNOCDIO NAS RAZES DA MODERNIDADE: O PROCESSO DE
ENCONBRIMENTO DO OUTRO A PARTIR DA CONQUISTA DA AMRICA ............ 35
1.2.1 Modernidade, colonialidade e a conquista da Amrica .......................................... 35
1.2.2 O processo de encobrimento do Outro .................................................................... 46
1.3 A IDENTIDADE CULTURAL E SUA VINCULAO COM A CORPOREIDADE
HUMANA ............................................................................................................................ 51
1.3 1 Sobre a corporeidade ............................................................................................... 51
1.3.2 A relao entre corporeidade e identidade cultural ................................................ 55
CAPTULO II PERSPECTIVA SOCIOLGICA....................................................... 65
2.1 RISCO SOCIAL E HOMOGENEIZAO .................................................................... 65
2.1.1 Sobre a sociedade do risco: notas gerais................................................................. 68
2.1.2 Homogeneizao: a produo da igualdade totalizadora ....................................... 73
2.2 COLONIALISMO E VIOLNCIA ................................................................................ 80
2.2.1 O colonialismo e o fenmeno do etnocdio .............................................................. 80
2.2.2 Privao de direitos e destruio da vida humana: a violncia como instrumento do
etnocdio ............................................................................................................................ 99
2.3 A CONDIO DE VULNERABILIDADE E DE VTIMAS EM POTENCIAL ........ 108
2.3.1 A condio de vulnerabilidade ............................................................................... 108
2.3.2 A condio de vtimas em potencial ....................................................................... 111
CAPTULO III PERSPECTIVA JURDICO-FILOSFICA .................................. 114
3.1 HISTRICO, DESENVOLVIMENTO E CARACTERSTICAS DO ETNOCDIO .. 114
3.1.1 Histrico e desenvolvimento .................................................................................. 114
3.1.2 Caractersticas do etnocdio .................................................................................. 117
3.2 ETNOCDIO, GENOCDIO, CRIMES CONTRA A HUMANIDADE E APARTHEID:
PRINCIPAIS DISTINES............................................................................................... 133
3.2.1 Genocdio e etnocdio............................................................................................. 135
3.2.2 Etnocdio e crimes contra a humanidade ............................................................... 145
3.2.3 Etnocdio e apartheid ............................................................................................. 150
3.3 CARACTERSTICAS PRINCIPAIS DO ETNOCDIO NO MBITO JURDICOPENAL................................................................................................................................ 157
3.4 TICA, MEMRIA E RECONHECIMENTO S VTIMAS COMO IMPERATIVO
DE OBSERVNCIA AOS DIREITOS HUMANOS DOS POVOS .................................. 163
3.4.1 Uma tica libertadora como princpio produo, reproduo e desenvolvimento
da vida humana na sua dimenso corpreo-cultural...................................................... 172
3.4.2 Uma justia anamntica como antdoto repetio da barbrie .......................... 180
3.4.3 O reconhecimento como prtica tico-jurdica ..................................................... 189
CONSIDERAES FINAIS ........................................................................................... 207
REFERNCIAS ............................................................................................................... 212
INTRODUO
O contexto social o qual a humanidade vivencia retrata que sua dinmica, suas transformaes, so compostas de prticas oriundas de relaes de poder. A sociedade na forma
como est sendo estruturada foi uma resultante de uma srie de prticas de relaes de poder,
estabelecidas principalmente pela colonizao, e com a imposio de vises de mundo que
destruram modos de vida distintos do imaginrio e do objetivo dos conquistadores, sejam
eles provenientes do passado ou do tempo atual.
Para esclarecer qual a relao entre o poder e a colonizao e o inserirmos no enfoque
do estudo ora proposto, faz-se necessrio tecer algumas consideraes sobre a ideia de relao
de poder em Michel Foucault1. Para Foucault, o poder exercido, e s existe em ato, em uma
relao de fora. Este exerccio deve ser compreendido em dois aspectos: primeiro, a partir
dos mecanismos de represso; o mecanismo do poder a represso (seja da natureza, dos
instintos, dos indivduos). Segundo, se o poder o emprego e a manifestao de uma relao
de fora, deve-se analis-lo em termos de combate, de enfrentamento, de guerra; o poder como guerra continuada por outros meios2. E este segundo aspecto do poder como guerra
continuada significaria trs coisas:
a) Que as relaes de poder tm como ponto de ancoragem uma relao de fora estabelecida em um dado momento, historicamente preciso, na guerra e pela guerra; o poder poltico reinsere perpetuamente essa relao de fora, atravs de uma guerra silenciosa e inserida
nas desigualdades econmicas, na linguagem, e at mesmo nos corpos de uns e outros;
b) Que no interior da paz civil, as lutas polticas, as relaes de fora, tudo isto deve
ser interpretado como continuao da guerra;
c) A deciso final s pode vir da guerra, ou seja, uma prova de fora em que as armas sero os juzes; o fim do poltico seria a derradeira batalha, ou seja, a batalha suspenderia
o exerccio do poder como guerra continuada.
Nesse sentido, Foucault leciona que a partir do momento em que se pretende se desvincular da ideia dos esquemas econmicos de anlise do poder, nos encontramos diante de
1
Nesse sentido, vide FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade. So Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 21-25.
Trata-se do estudo de Foucault sobre o problema da guerra, a fundao da sociedade civil e a temtica da raa.
2
Ibidem, p. 21-25.
10
duas hipteses: primeiro, o mecanismo de poder como represso; segundo, o fundamento da
relao de poder como enfrentamento das foras. E tais hipteses seriam conciliveis, considerando que a represso seria uma conseqncia poltica da guerra3.
Nesse sentido, Foucault ressalta ainda que poderamos contrapor dois grandes sistemas
de anlise do poder4: o primeiro, denominado contrato-opresso (sculo XVIII), em que se
entende o poder como um direito que se cede, e a opresso seria um abuso do poder dentro do
contrato estabelecido, sob o ponto de vista jurdico; o segundo, denominado guerrarepresso, ou dominao-represso, em que o poder visto como efeito de uma relao de
dominao; a represso seria o efeito desta relao de dominao e o emprego, no interior
desta pseudopaz, solapada pela guerra contnua, de uma relao de fora perptua, havendo
uma oposio entre luta e submisso5.
No curso ministrado entre os anos de 1975 e 1976, Foucault, partindo destes fundamentos sobre os sistemas de anlise do poder, busca analisar o problema da guerra. Em que
medida a guerra, a luta, o enfrentamento de foras, pode ser identificado como o fundamento
da sociedade civil, a um s tempo o princpio e o motor do poder poltico6. Isto significa, a
partir da concepo apresentada, que a questo da luta e submisso est no mago da sociedade, conflito este que para Foucault seria um estado de guerra contnua, guerra esta no entendida somente pelas formas convencionais, em que existem exrcitos que se enfrentam. Para
Foucault, trata-se de uma guerra por representao, um embate de foras no campo poltico,
em que persiste o conflito entre luta e submisso (podem-se referir como exemplificao as
questes entre grupos polticos, tnicos, etc).
3
Ibidem, p. 24.
Ibidem, p. 24.
5
Cabe destacar que Foucault, na sua trajetria acadmica, no se limita a analisar o poder a partir da idia de
represso. Na aula de 7 de janeiro de 1976, o autor menciona que embora tenha trabalhado muito no campo do
esquema da luta-represso, a temtica da histria da sexualidade, do poder psiquitrico e da histria do direito
penal teriam mecanismos empregados muito diferentes da represso, e em todo caso, maiores que o emprego da
represso. Assim, esta noo seria insuficiente para caracterizar os mecanismos e efeitos do poder naqueles campos. Na histria da sexualidade, por exemplo, Foucault demonstra que o poder no pode ser apenas explicado
pela represso, pela proibio (mbito negativo), mas tambm pela produo de efeitos positivos. Ao contrrio
do pensamento religioso (a partir da Reforma), em que a carne considerada raiz de todos os pecados, no sculo
XVIII h uma incitao contnua e crescente a se falar de reproduo, no contexto sexual. Este tema passa a
integrar um sistema de utilidade, uma questo de administrao, como parte do problema econmico e poltico
da populao. necessrio analisar a taxa de natalidade, os nascimentos, etc. Nesse sentido, haveria uma espcie
de controle-estmulo, produzindo um estmulo no indivduo, de forma positiva. Portanto, o poder no seria somente inserido no mbito negativo, pela represso, mas tambm pelo seu aspecto positivo, pelo estmulo, produzindo prazeres, induzindo saberes, discursos. Caso entendssemos o poder somente no seu efeito negativo, proibitivo, teramos apenas uma concepo puramente jurdica do poder. Portanto, a represso no seria suficiente
para dar conta do funcionamento histrico do poder. Nesse sentido, vide FOUCAULT, Michel. Em defesa da
sociedade, op. cit., p. 25; e CASTRO, Edgardo. Vocabulrio de Foucault. Belo Horizonte: Autntica Editora,
2009, p. 384-386.
6
FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade, op. cit., p. 26.
4
11
Com efeito, a partir desses fundamentos de Foucault, pode-se elaborar uma relao
com a temtica das relaes de poder, a partir da guerra, da luta, da represso, da dominao e
do enfrentamento de foras (estritamente vinculados ao colonialismo), com a temtica do etnocdio (genocdio cultural, ou extermnio cultural), objeto de estudo neste trabalho.
Partindo desses pressupostos, o enfoque proposto, portanto, vem abordar uma prtica
que ocorreu em muitos episdios da Histria, e que ainda repercute na atual sociedade globalizada: o domnio, o estabelecimento de uma relao de dominao (ou de poder) atravs do
controle e da destruio do corpo, visando o extermnio de traos culturais responsveis pela
perpetuao de um grupo humano, que pode levar extino de uma etnia. E nesse campo se
insere a questo relativa ao etnocdio, tambm denominado genocdio cultural, tema principal
a ser analisado. Eis o tema central a ser analisado neste estudo.
Ainda, deve-se destacar a metodologia utilizada nesta exposio. Em sntese, o estudo
ora apresentado surgiu a partir de sucessivos estudos anteriores. A ideia de se realizar a abordagem sobre a questo do etnocdio como forma de violncia e inserido na temtica jurdicopenal iniciou-se com trabalhos pretritos desenvolvidos sobre o tema do totalitarismo (em
especial no contexto do III Reich) e crimes internacionais, realizados no Grupo de Pesquisa de
Filosofia do Direito da FARGS (Faculdades Rio-Grandenses). Neste trabalho foram estudadas
as questes jurdicas, polticas, sociais e filosficas do tema.
Posteriormente, em pesquisas realizadas junto ao Supremo Tribunal Federal, constatou-se que em agosto de 2006 foi reconhecido oficialmente o primeiro caso de genocdio por
aquele Tribunal. Tratava-se do caso do massacre de Haximu, o qual ocorreu em uma condio
de conflitos entre o povo Yanomami e exploradores do garimpo na regio da fronteira com a
Venezuela, culminando na morte de 12 (doze) indgenas integrantes da tribo, em julho de
1993. Na poca, o caso repercutiu de forma significativa no plano nacional e internacional,
sendo divulgadas amplamente na mdia as condies do massacre e do povo indgena como
um todo, devido s epidemias. A partir de tais investigaes precedentes, continuou-se na
realizao de pesquisas com enfoque especial na questo relativa ao etnocdio, suas condies
histrico-poltico-sociais, antropolgicas e seu tratamento jurdico-penal, resultando neste
estudo ora apresentado.
Cabe salientar que a utilizao do termo saber jurdico-penal, exposto no ttulo do
trabalho proposto, se insere na ideia de saber compreendida por Foucault7, que o entende co-
FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. So Paulo: Forense Universitria, 2005, p. 199-208.
12
mo um conjunto de elementos formados por uma prtica discursiva, e indispensveis constituio de uma cincia, apesar de no se destinar necessariamente a lhe dar lugar. O saber
uma prtica discursiva especificada a partir dos seguintes elementos: a) o domnio dos diferentes objetos que iro adquirir ou no um status cientfico (no caso, o saber jurdico-penal se
formar a partir da observao da violncia, da ideia de crime e punio, de condutas proibidas pelo corpo poltico-social, etc); b) do espao em que o sujeito pode tomar posio para
falar dos objetos de que se ocupa em seu discurso (no caso, na situao de agente pblico,
jurista, pesquisador e especialista da rea jurdica, etc); c) do campo de coordenao e de subordinao dos enunciados em que os conceitos aparecem, se definem, se aplicam e se transformam (no caso, o conjunto de conceitos de delito, dos princpios de direito penal, de toda
uma prtica discursiva tcnica utilizada que se define, se aplica na sociedade e sofre mutaes). Para tanto, o saber est nas reflexes, nas narrativas, regulamentos institucionais, decises polticas, judiciais, nos posicionamentos jurdicos doutrinrios, jurdico-acadmicos, etc.
Zaffaroni8 tambm utiliza esta concepo, dentro do tema da legitimidade do sistema
penal, o qual seria um modelo de exerccio do poder planificado racionalmente. E a construo terica ou discursiva que buscaria explicar esta planificao seria o discurso-jurdicopenal (ou tambm chamado de saber penal, cincia penal ou direito penal). Somente a
partir de uma operatividade racional, o sistema penal poderia ser considerado legtimo. Esclarecendo sua concepo a respeito da delimitao do significado de racionalidade, o autor reduz o conceito no seguinte sentido: para ser racional, o saber penal deve ser coerente e verdadeiro. E sua coerncia interna no se esgotaria apenas em uma no-contradio ou lgica, mas
tambm requer uma fundamentao antropolgica bsica, pois se o Direito serve ao homem
(e no o contrrio), a planificao do exerccio deste sistema penal deve pressupor uma antropologia filosfica bsica, calcada no homem como pessoa, e que hoje materializada na seara
dos direitos humanos9. Nesse sentido, a partir dos estudos de Foucault e Zaffaroni, adotamos
o termo saber jurdico-penal (ou direito penal), dentro do qual est situado o nosso objeto
de investigao.
O estudo ora proposto tem como finalidade principal tratar sobre o etnocdio, especialmente sua conceituao, caractersticas e sua possvel recepo no campo jurdico-penal.
Dentre outros aspectos, visa abordar como ele se constitui enquanto forma de violncia e
quais seriam suas caractersticas, bem como mencionar um possvel desenvolvimento deste
8
ZAFFARONI, Eugnio Ral. En busca de las penas perdidas deslegitimacin y dogmatica jurdico-penal.
Buenos Aires: Ediar, 1998, p. 20.
9
Ibidem, p. 21.
13
conceito no mbito do saber jurdico-penal. Para tanto, o trabalho foi dividido em trs captulos principais: o primeiro, a partir de uma perspectiva histrico-antropolgica; o segundo em
uma perspectiva sociolgica e o terceiro, em uma dimenso jurdico-filosfica.
No primeiro captulo, a ateno voltada cultura e identidade cultural em sua primeira parte. Para se tratar do fenmeno do etnocdio, faz-se necessrio buscar esclarecer de
forma mais precisa o que significa cultura e no que consiste a identidade cultural, eis que so
pontos importantes que permeiam todo o trabalho, embora objeto de destaque neste primeiro
captulo.
Feitas estas consideraes sobre a cultura e a identidade cultural, a tarefa ser ilustrar o
tema com um marco histrico de constituio do etnocdio: a conquista da Amrica e a insero do etnocdio nas razes da modernidade. Por seu significado, a conquista celebra a origem
de um sistema civilizatrio que denegou a existncia das culturas indgenas, e se imps principalmente pelo etnocdio. Aps estas abordagens iniciais, buscar-se- tratar o tema relativo
identidade cultural e sua relao com a corporalidade humana, evidenciando o que o etnocdio
viola concretamente.
Por sua vez, no segundo captulo aborda-se o marco de uma perspectiva sociolgica,
destacando o processo de risco social e a homogeneizao, aspecto tendente de nossa sociedade. Posteriormente, com a abordagem sobre o colonialismo e a violncia, procura-se elucidar a relao do etnocdio com estes dois processos: o colonialismo geralmente empregado
juntamente com o etnocdio; o outro, a violncia, sempre presente nesta espcie de prtica.
Por fim, ao final do segundo captulo sero tratados dois aspectos geralmente presentes no etnocdio: a condio de vulnerabilidade e de vtimas em potencial, estreitamente relacionadas com a concepo de risco. No terceiro e ltimo captulo, o desenvolvimento da concepo de etnocdio em sua acepo jurdica comea a tomar maior relevo. Inicialmente sero
tratados aspectos relativos ao histrico e desenvolvimento do conceito, seguindo de breves
comparaes entre o etnocdio e trs espcies de crimes internacionais: o genocdio, os crimes
contra a humanidade e o apartheid. A seguir, sero tratados os aspectos principais do etnocdio, estritamente no mbito jurdico-penal.
Por fim, sero abordados alguns elementos de uma possvel fundamentao aos direitos dos povos em busca de uma preveno ao etnocdio, seguindo-se da anlise de trs bases
de sustentao: uma tica libertadora como princpio, uma justia anamntica como antdoto
repetio da barbrie e o reconhecimento como prtica tico-jurdica.
14
CAPTULO I PERSPECTIVA HISTRICO-ANTROPOLGICA
1.1 SOBRE CULTURA E IDENTIDADE CULTURAL
Para compreender como o etnocdio se constitui como uma violao aos direitos humanos faz-se necessrio a exposio de alguns aspectos conceituais histricos, filosficos e
principalmente antropolgicos. Tal exposio auxiliar a entender o que o etnocdio enquanto
forma de violncia viola concretamente. Para tanto, expor sobre a cultura e a identidade cultural como elementos da corporalidade humana significa situar materialmente a questo, vinculando-a prpria existncia concreta do ser humano. A cultura e a identidade cultural como
parte, portanto, da constituio humana.
1.1.1 Notas sobre cultura
De um modo geral, na antropologia no h um significado consensual a respeito do
que se entenda por cultura. A cultura normalmente entendida como uma expresso utilizada
para representar desde um conjunto de valores, tradies 10 e capacidades inerentes condio
humana at a afirmao de identidades nacionais, de grupos e subgrupos. Refere-se ao enriquecimento do esprito, a valores e normas existentes em determinados contextos histricos e
sociais11. Ela diz respeito humanidade como um todo e ao mesmo tempo a cada um dos povos, naes, sociedades e grupos humanos existentes12.
Contudo, para continuar a abordar este tema, faz-se necessrio tratar sobre as origens e
a constituio cientfica da cultura. O termo cultura amplamente utilizado a partir do sculo XVIII para denominar, em uma acepo extremamente geral, tudo aquilo que feito pelo
10
H autores que se reportam ao aspecto da tradio como elemento importante dentro da transmisso da cultura; pela tradio se transmitiria a cultura. Para eles, a cultura seria eminentemente tradicional, incluindo-se nela o
conhecimento, a linguagem, a arte, a literatura e a religio. Nesse sentido, vide CUVILLIER, Armand. Sociologia da cultura. Porto Alegre: Ed. da Universidade de So Paulo, 1975, p. 2-3.
11
ALVES, Paulo Csar (Org.). Cultura mltiplas leituras. Bauru: EDUSC, 2010, p. 15.
12
SANTOS, Jos Luiz dos. O que cultura. So Paulo: Brasiliense, 2006, p. 8.
15
homem e que transmitido de uma gerao a outra13. Tambm para a grande maioria dos estudiosos, o simbolismo seria o componente fundamental da cultura, ou seja, o universo pelo
qual a realidade propriamente humana se diferencia da sua base biolgica14.
No entanto, h algumas linhas interpretativas na histria do significado da palavra
cultura. Para compreender melhor este termo, que se constitui como uma das bases deste
estudo sobre o etnocdio, faz-se mister abordar brevemente estas grandes linhas interpretativas.
Embora a palavra cultura como geralmente se entende tenha sido criao do sculo
XVIII, o seu significado antigo15. Etimologicamente, o termo vem do latim colere16, que
significa o cuidado dispensado ao campo, ao gado, ao cultivo agrcola. Assim, dentro desta
concepo semntica, o termo cultura designa, at o sculo XIII, um estado da terra cultivada para, aos poucos, passar a se referir ao de cultivar a terra. Nos fins do sculo XVI,
comeam a aparecer algumas mudanas semnticas do termo. O termo cultura alarga seu
significado para se referir ao cultivo da lngua, da arte, das cincias. Em meados do sculo
XVIII, com sentido j expandido, o termo passa a designar o patrimnio universal dos conhecimentos e valores humanos17.
No mundo grego, o cultivo espiritual do indivduo, a educao e formao da personalidade, alm do produto intelectual de um povo entendiam-se a partir do termo paideia18. Esse
termo refere-se capacidade ou poder individual de traduzir em qualidades pessoais os conhecimentos e valores transmitidos pela sociedade. Mais precisamente, paideia diz respeito ao
esforo individual para se alcanar a virtude ou perfeio moral (aret). Para tanto, cultura
seria a educao para se adquirir a aret, a qual deveria ser iniciada na infncia, estimulando
no ser humano o desejo de se tornar um cidado perfeito. Nesse ponto, a cultura adquire uma
dimenso subjetiva, pois implica uma certa maneira do indivduo estar atento a si mesmo
como condio de obter a perfeio moral19.
13
Ibidem, p. 22.
Ibidem, p. 23.
15
ALVES, Paulo Csar (Org.), op. cit., p. 23.
16
Ressalte-se que o termo tambm possui outra conotao: colere advm, pela via do latim cultus, do termo
religioso culto, assim como a prpria idia de cultura vem na Idade Moderna a colocar-se no lugar de um sentido desvanecente de divindade e transcendncia. Verdades culturais trate-se da arte elevada ou das tradies
de um povo so algumas vezes verdades sagradas, a serem protegidas e reverenciadas. A cultura, por vezes
neste aspecto, herda o manto da autoridade religiosa. Nesse sentido, vide EAGLETON, Terry. A idia de cultura. So Paulo: UNESP, 2005, p. 11.
17
ALVES, Paulo Csar (Org.), op. cit., p. 24.
18
Ibidem, p. 24.
19
Ibidem, p. 24.
14
16
A paideia como cultivo do esprito humano tambm chegou ao mundo romano20. Para
os romanos (e para Ccero, por exemplo), assim como um campo sem cultivo seria improdutivo, tambm a alma sem educao no daria frutos. Para Ccero, o cume do cultivo espiritual
(cultura animi) dado pela aquisio da filosofia. Cultura como cultivo do esprito refere-se
ideia de que para alcanar a perfeio humana necessrio incorporar ao esforo individual
um saber especfico. Ou seja, a cultura animi seria o resultado da combinao da personalidade de um indivduo (desejar sair da ignorncia) com a incorporao de um patrimnio tradicional do saber21. Assim, por exemplo, o brbaro no possuiria cultura, por no ter o cultivo
intelectual e tampouco o desejo de sair da ignorncia. Entretanto, os romanos tambm desenvolveram uma outra concepo mais ampla de cultura: a cultus vitae, para designar as formas
originais de vida (usos e costumes) as quais distinguem uma sociedade da outra22.
A Idade Mdia no desenvolver um conceito de cultura que ultrapasse de forma significativa a paideia greco-romana. Nesta fase histrica, mantm-se a ideia de espiritualidade,
de busca de prticas e experincias, tais como a purificao, renncia, etc., como condies
para o aperfeioamento do indivduo. Com efeito, um cuidado de si mesmo como preo
pelo qual o indivduo paga para ter a acesso graa divina23. No entanto, existem elementos
que se distinguem da concepo clssica: a) em primeiro lugar, a clivagem cultural estava na
separao entre os clrigos e os laicos. Ou seja, ao passar a ser monoplio da Igreja, a cultura
intelectual deixa de ser um fenmeno diretamente relacionado com questes de classe social
ou de nobreza individual; e b) em segundo lugar, a aquisio do saber deixa de ser uma finalidade em si mesma, tornando-se um meio para conhecer o sentido que Deus atribua ao mundo
e existncia humana. Nesta concepo, o homem visto como algo pertencente a um todo,
ao mundo entendido como cosmos criado e ordenado por Deus. Totalmente imerso neste universo, cabe ao homem contemplar a perfeio das coisas criadas24.
J no final da Idade Mdia, a situao religiosa torna-se problemtica. A teologia comea a perder o status que at ento mantinha; houve uma maior acentuao das questes
relacionadas mstica; as naes comearam a se constituir, gerando um declnio do poder da
Igreja; houve o surgimento do racionalismo e maior preocupao com a descoberta da natureza. O Humanismo e o Renascimento terminaram por reviver o cultivo espiritual, denominado
20
Ibidem, p. 27.
Ibidem, p. 27.
22
Ibidem, p. 28.
23
Ibidem, p. 28.
24
Ibidem, p. 28.
21
17
pelos escritores italianos de coltura25. Cabe lembrar que nos sculos XV e XVI desenvolve-se
a concepo de individualismo. O cultivo personalidade (exaltao do homem singular) era
expresso na convico do valor intrnseco da pessoa e na nobreza do mrito pessoal26.
A partir do Renascimento, a relao do homem com o cosmos adquire novas bases
existenciais que diferem daquelas legadas pela Idade Mdia. Se antes o homem era concebido
como um ser tragado pelo universo organizado por Deus, o homem renascentista sente-se
como um ser aparte deste mundo, e a natureza passa a ser considerada como dotada de uma
dinmica prpria; o conhecimento no mais dado pela contemplao, mas por uma interrogao construda por uma hiptese e parcialmente confirmada pelo experimento27. No sculo
XVII, Descartes levar a renncia ao mundo a um plano altamente filosfico, quando afirma
que a alucinao, o engano, os sentidos e os erros fazem com que no seja mais possvel se
achar a menor segurana neste mundo. Dispondo-se a pensar que tudo pode ser falso, conclui
que somente a existncia da dvida escaparia falsidade (logo, o eu que pensa algo verdadeiro)28.
J no sculo XVIII, o homem ir buscar um fim e um sentido em si mesmo, estabelecendo um lugar distinto de tudo o mais. Este sculo representar o triunfo dessa nova convico que foi lentamente gestada nos sculos anteriores. Nessa mesma poca, a cultura passa a
ser o termo que identifica a especificidade do mundo humano29. A palavra cultura no mais
se refere formao do esprito do indivduo, mas ao conjunto objetivo de representaes,
padres de comportamento, valores e normas enquanto patrimnio comum, seja da humanidade ou de uma dada sociedade. Cultura passa a designar a soma de saberes acumulados e
transmitidos pela humanidade30. Considerada como um fenmeno distintivo da espcie humana, a cultura refere-se idia de progresso, de evoluo, de educao palavras-chave do
pensamento iluminista.
Com isso, o Iluminismo coloca a tnica sobre a dimenso objetiva da cultura: as
formas culturais enquanto um conjunto de artefatos e memria coletiva (tradio) codificada e
acumulada no tempo. Nesse sentido, o Iluminismo relega a um segundo plano a dimenso
subjetiva da cultura at ento hegemnica (cultivo espiritual do indivduo, um cuidar de si
mesmo). A noo de cultivo espiritual agora de ordem coletiva, servindo para designar o
25
Ibidem, p. 28.
Ibidem, p. 29.
27
Ibidem, p. 30.
28
Ibidem, p. 30.
29
Ibidem, p. 31.
30
Ibidem, p. 31.
26
18
refinamento cultural dos costumes, em contraposio selvageria ou barbrie dos povos
no civilizados31.
Tambm neste sculo que criado o conceito de civilidade e civilizao, para
designar o refinamento cultural dos costumes, contrapondo-se pretensa selvageria ou barbrie dos povos que no teriam tais refinamentos os no civilizados32.
Como expe Paulo Csar Alves33, cultura e civilizao seriam duas palavras que
pertencem ao mesmo campo semntico, refletindo as mesmas condies fundamentais. Embora as diferenas de significado no sejam claras, a cultura diria respeito ao conjunto de saberes e prticas que constituem o patrimnio de um povo ou sociedade, enquanto civilizao expressaria a ideia de afinamento coletivo de comportamentos, instituies, usos e costumes da humanidade. Assim, se todos os povos tm cultura, somente aqueles dotados de refinamento institucional e comportamental possuiriam civilidade. Ou seja, civilizao seria
um movimento coletivo resultante do desenvolvimento da cultura34.
Cabe destacar que o termo cultura no restringiu apenas ideia de um patrimnio da
humanidade. Principalmente na concepo alem, a cultura adquiriu tambm uma noo particularista para significar a consolidao de diferenas nacionais. Da as expresses como
cultura alem ou cultura brasileira. Tal concepo estar na raiz dos conceitos de nao, nacionalismo e nacionalidade35.
Mas a percepo iluminista de diferentes ordens culturais no eliminou a ideia de etnocentrismo36. Admitir a existncia de uma variedade de culturas no significou afirmar que
todas sejam do mesmo tipo. Afinal, para os iluministas seria necessrio reconhecer as diferenas entre as culturas de uma sociedade tribal e uma civilizada. A diferena estabelecida na
ideia de progresso: um processo de refinamento cultural dos costumes, o crescimento do ideal
31
Ibidem, p. 31.
Ibidem, p. 31.
33
Ibidem, p. 31.
34
Ibidem, p. 32.
35
Ibidem, p. 32.
36
Em sntese, o etnocentrismo uma viso de mundo com a qual tomamos nosso prprio grupo como centro de
tudo, e os demais grupos so pensados e sentidos pelos nossos valores, nossos modelos, nossas definies do que
a existncia. No plano intelectual pode ser visto como a dificuldade de pensarmos a diferena; no plano afetivo, como sentimentos de estranheza, medo, hostilidade, etc. O etnocentrismo est calcado em sentimentos fortes,
como o reforo da identidade do eu. Possui, no caso particular da nossa sociedade ocidental, aliados poderosos. Para uma sociedade que tem poder de vida e morte sobre muitas outras, o etnocentrismo se conjuga com a
lgica do progresso, com ideologia da conquista, com o desejo de riqueza, com a crena num estilo de vida que
exclui a diferena. Nesse sentido, vide ROCHA, Everardo. O que etnocentrismo. So Paulo: Brasiliense, 2006,
p. 7-75.
32
19
racionalista, o controle de foras irracionais e emotivas. O modelo idealizado de progresso
reflexo da sociedade europia ou ocidental37.
A ideia de progresso introduz de uma maneira peculiar uma periodizao (hierarquia)
entre as diversas culturas. Assim, as mais primitivas estariam situadas em estgios iniciais,
enquanto as mais civilizadas se encontrariam em estgios posteriores. Em sntese, a ideia de
progresso concebida pelo Iluminismo pressupe que a heterogeneidade cultural convertida,
pelo desenvolvimento nico e temporalmente ordenado de todos os povos, em homogeneidade38, a qual identificada pelos valores e estruturas das sociedades civilizadas, cujo exemplo significativo seriam a sociedade inglesa, a francesa ou a alem39.
Ao acentuar as formas culturais enquanto compostas por um conjunto coletivo de
comportamentos, valores, princpios e tcnicas acumulados no tempo, a concepo iluminista
fundamentou o conceito cientfico de cultura, que ser desenvolvido a partir do sculo XIX40.
O conceito cientfico de cultura nasce do pressuposto de que a cultura pode ser estudada de forma objetiva e sistemtica, pois se trataria de um fenmeno que : a) natural do ser
humano; b) dotado de causas e regularidades; c) capaz de proporcionar a formulao de leis.
Composta objetivamente pelas crenas, representaes sociais, tradies e costumes adquiridos pelo homem enquanto membro de uma sociedade, a palavra cultura adquire uma dimenso descritiva, que se diferencia da sua dimenso prescritiva, isto , aquela que se
refere cultura como um conjunto de valores que devem ser adquiridos pelos indivduos ou
coletividades, como a ideia de paideia ou de cultura animi41.
O conceito cientfico de cultura foi formulado inicialmente pela teoria evolucionista.
Herdeira do Iluminismo, a teoria evolucionista clssica desenvolveu uma concepo universalista da cultura. Ao examinar os mecanismos de evoluo, os tericos dessa escola abordaram
os fatos culturais sob uma tica sistemtica, estabelecendo os princpios norteadores do estudo
37
ALVES, Paulo Csar (Org.), op. cit., p. 33.
Contrariamente a esta ideia de homogeneidade, Levi-Strauss enfatiza que a vida humana no se desenvolve
sob o regime de uma uniforme monotonia, mas atravs de modos extraordinariamente diversificados de sociedades e civilizaes. Vide LVI-STRAUSS, Claude. Raa e histria. 10 ed. Lisboa: Presena, 2010, p. 10.
39
ALVES, Paulo Csar (Org.), op. cit., p. 33. Nesse sentido tambm podemos mencionar o resultado desta ideia
de progresso e homogeneizao, aliado ao etnocentrismo. Os africanos foram removidos violentamente de seu
continente (ou seja, de seu ecossistema e de seu contexto cultural) e transportados como escravos para uma terra
estranha habitada por pessoas de costumes e lnguas diferentes, perdendo toda a motivao de permanecer vivos.
Igualmente esta hierarquizao de ideia de progresso dizimou parte da populao Kaingang em So Paulo, quando teve seu territrio invadido pelos construtores da Estrada de Ferro Noroeste. Nesse sentido, vide LARAIA,
Roque de Barros. Cultura um conceito antropolgico. 24 ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2009, p. 75-76.
40
ALVES, Paulo Csar (Org.), op. cit., p. 33.
41
Ibidem, p. 34.
38
20
cientfico sobre esse fenmeno. Por isso, so considerados por muitos historiadores como
fundadores da etnologia cientfica, principalmente britnica42.
Partindo do pressuposto de que toda a humanidade deveria passar pelos mesmos processos evolutivos, a teoria evolucionista clssica: a) reduziu a diversidade cultural a uma
questo de estgios histricos de um mesmo caminho evolutivo; b) partia do princpio de que
haveria uma unidade psquica de toda a espcie humana; e c) identificava-se em cada sociedade sobrevivncias ou relquias de crenas e costumes de estgios anteriores43. Esta teoria no desfruta atualmente da mesma aceitao, mas inaugurou um conjunto de pressupostos
terico-metodolgicos para os estudos sobre cultura. O ponto fundamental a ser observado diz
respeito ao fato de que as teorias scio-antropolgicas, desenvolvidas a partir do sculo XIX e
at a segunda metade do sculo XX, tenderam a considerar as unidades sociais como sistemas
possuidores de leis prprias e como realidades que perseguem as suas prprias finalidades,
relativamente autnomas das percepes individuais. Pode-se denominar essa tendncia analtica nas cincias sociais como sistmica ou estrutural44.
A perspectiva sistmica foi relativamente hegemnica at aproximadamente a dcada
de 1970, quando as cincias sociais comearam a desenvolver, de uma maneira geral, uma
crescente preocupao em repensar os pressupostos terico-metodolgicos sobre os quais se
assenta o seu entendimento cientfico do mundo45.
As transformaes de ordem cognitiva e institucional levam a reformulaes nos estudos sobre cultura, fomentando um conjunto de teorias chamadas de perspectiva construtivista.
Para esta teoria, as realidades sociais so apreendidas como construes histricas e cotidianas dos atores individuais e coletivos. As teorias sistmicas que colocavam a cultura como
unidade relativamente autnoma perdem seu carter hegemnico e passam agora a conviver
com diferentes teorias que redimensionam a cultura como algo diretamente relacionado com a
ao social46.
A noo de historicidade pressuposta na teoria social contempornea possui trs importantes aspectos: a) lida com construes passadas (a ideia de que o mundo sociocultural se
constri a partir das condies diretamente dadas e herdadas do passado); b) essas construes
so atualizadas nas prticas e nas interaes da vida cotidiana dos atores (as formas sociais
42
Ibidem, p. 34
Ibidem, p. 35
44
Ibidem, p. 36.
45
Ibidem, p. 38.
46
Ibidem, p. 40.
43
21
passadas so apropriadas, reproduzidas e transformadas enquanto outras so inventadas); c)
constitui abertura de campos de possibilidades no futuro (a herana passada e o trabalho cotidiano sempre abrem perspectivas para o futuro)47.
Em resumo, uma caracterstica fundamental da anlise construtivista a de que a cultura no se coloca como uma realidade j dada perante os indivduos, mas constituda na
relao com os agentes sociais. Em outras palavras, a cultura o resultado de processos ativos de produo de comportamentos, valores e princpios que os indivduos desenvolvem nas
suas relaes com as condies materiais e sociais do mundo em que vivem. De acordo com a
perspectiva construtivista, o mundo que partilhamos com os outros no uma realidade externa e impessoal que a cincia constitui. fundamentalmente um mundo familiar sobre o qual
atuamos e frente ao qual os nossos pontos de vista e os dos outros so, na maioria das vezes,
intercambiveis48. A perspectiva construtivista coloca em evidncia o carter ativo dos processos de constituio da realidade social e a dimenso interativa (aes) que lhe est na base.
Ao estabelecer ntimas ligaes entre a cultura e o agir social, a perspectiva construtivista recuperou a noo de agente ou sujeito social. Trata-se de um sujeito encarnado, dotado
de senso prtico (inscrito no corpo e nos movimentos do corpo), localizado em tempo e espao concretos49. E ao privilegiar o estudo da ao, a perspectiva construtivista reconhece a prioridade prtica, da esfera do fazer e do agir, sobre o pensamento e a reflexo. Essa concepo
conduz alguns autores a voltar a ateno ao corpo, partindo do princpio de que h uma relao originria entre conscincia e mundo que s pode ser compreendida quando recuperamos
a mediao do corpo. Nesse sentido, o corpo torna-se fundamento de nossa insero prtica
no mundo. Mais do que uma simples ferramenta a servio de um indivduo, o corpo visto
como condio e possibilidade para que as coisas se convertam em meios ou objetos para o
sujeito50. A cultura interpretada, desta forma, como o horizonte a partir do qual os atores
sociais se engajam no mundo. Um processo constante de formao humana51.
Feitas estas consideraes em termos de desenvolvimento do que se entende por cultura, a partir de variadas concepes histricas e estruturais, mostra-se importante lanar alguns
aspectos pertinentes aos elementos da cultura. Como referido anteriormente, em sua forma
47
Ibidem, p. 42.
Ibidem, p. 42.
49
Ibidem, p. 43.
50
Ibidem, p. 43.
51
Ibidem, p. 44.
48
22
originria a cultura indica a ao de cultivar, ter ateno, cuidado. Trata-se de uma ao mediante a qual o homem se ocupa de si mesmo.
A primeira dimenso da cultura a interiorizao e enriquecimento de cada sujeito
mediante a aprendizagem. Cultura, neste aspecto, significa ter conhecimentos, riqueza interior, mundo ntimo. Para Ricardo Yepes Stork e Javier Aranguren Echevarra52, a origem de
toda cultura o ncleo criativo e afetivo da pessoa, uma sabedoria que cresce para dentro,
porque se cultiva, para depois sair de dentro.
Frente primazia da exterioridade, o esprito humano caracteriza-se por saber habitar
dentro de si e criar um mundo interior que no sonhado, mas vivido. Seria o lugar de encontro com a prpria intimidade, retirada em um santurio interior, realidade criadora da qual
brotam idias, projetos que acabaro saindo para o exterior. Em um sentido mais estrito, cultura seria qualquer manifestao humana53. A cultura seria a expresso externa da interioridade, sendo constituda por todas aquelas aes mediante as quais a pessoa se manifesta.
A expresso humana se serve sempre de uma matria qual acrescenta uma forma,
que no existia antes, e que leva consigo um significado que procede da inteligncia, e que
manifesta intenes, desejos, etc. O que define o homem como ser cultural esta capacidade
de revestir o material, mediante uma forma acrescida, de um significado que procede do mundo interior e que ordena a obra humana outra coisa diferente dela mesma. Pela cultura, a
mo mais que um membro para segurar: ela expressa saudao, acolhida, fraternidade, carinho ou, pelo contrrio, violncia, etc54.
Pela cultura tambm aparecem as obras humanas, os objetos que os homens produzem. Um martelo, as janelas, a disposio de uma rua ou de um campo, as estradas, as casas.
Aparecem os utenslios, os enfeites, os objetos artsticos, a literatura, o concreto armado e as
estruturas, etc. Todas essas so formas acrescentadas s realidades naturais55.
O decisivo da manifestao humana que mediante ela o homem d forma s coisas e
incrementa assim o mundo natural, aumentando o nmero de realidades. Ricardo Stork e Javier Echevarra referem que o mundo em que habitamos est repleto de coisas que seriam inexplicveis sem a existncia do homem. O livro, sem leitores, seria um objeto sem finalidades.
Ns, seres humanos, dotamos as novas realidades de significado, enriquecemos o mundo,
52
STORK, Ricardo Yepes; ECHEVARRA, Javier Aranguren. Fundamentos de antropologia um ideal de
excelncia humana. So Paulo: Instituto Brasileiro de Filosofia, 2005, p. 347.
53
Ibidem, p. 348.
54
Ibidem, p. 348.
55
Ibidem, p. 348.
23
fazemos com que passe de Terra habitt, casa, o lugar onde se desenvolve nosso carter
mundano56.
A este conjunto de objetos culturais os autores supracitados denominam de cultura em
sentido objetivo. No seriam algo separado da natureza, mas uma continuao dela, at mesmo transcendendo-a. Nascem como modificao de seres naturais (uma cadeira, por exemplo), e se guardam junto dela (dentro de casa, p. ex.). A cultura em sentido objetivo, portanto,
seria uma continuao da natureza, em princpio. Mas o homem seria mais que natureza, e
essa continuao indicaria que o homem esprito. Se o homem capaz de enriquecer o que
estava pronto biologicamente, isso seria um sinal de que ele capaz de superar a mera biologia, o natural: o carter criador do ser humano na cultura seria uma razo importante para indicar que o homem no se circunscreve ao tempo biolgico: ele o transcende57.
Alm disso, a forma dos objetos culturais remeteria a algo diferente dela mesma. O
exemplo mais claro seria a linguagem. Tratar-se-ia de vozes articuladas ou sinais escritos, que
trazem um significado em si mesmos. Ou seja, seu carter de sinalizar implicaria na capacidade de superar o seu carter fsico (um rudo, alguns riscos no papel) para abrir-se ao mundo
dos significados (entender a mensagem qual esses rudos ou riscos se referem). O carter
simblico das obras humanas seria algo convencional, quer dizer, livre e modificvel: se fixa
o significado de uma palavra, mas pode variar; o gesto da amizade no sempre o mesmo
(beijar-se, dar as mos, compartilhar o sal). A cultura, para os autores, seria algo livre e, portanto, convencional, varivel histrica58.
Desta forma, podem-se distinguir na cultura humana as dimenses expressiva e comunicativa, a produtiva, a simblica e a histrica, que ocorrem sempre unidas.
Nesta etapa da exposio, dando especial nfase s aes expressivas e comunicativas,
pode-se dizer que a expresso do esprito humano a prpria cultura. O cientista tem a tentao de objetivar a criatividade humana em suas obras, para assim medi-la recolhendo leis gerais da sua anlise. Entretanto, para entender verdadeiramente a cultura, preciso no separla de seu autor, pois este a cria inspirando-se nas verdades, valores e fins que contempla a
partir de seu mundo interior. A cultura, antes de ser obra, uma tarefa criadora59.
56
Ibidem, p. 349.
Ibidem, p. 349.
58
Ibidem, p. 350.
59
Ibidem, p. 350.
57
24
Isso foi percebido pela escola hermenutica, que procura compreender o homem e
interpretar suas obras a partir do interior, trazendo luz a inspirao e a imagem do mundo
que as anima. A hermenutica converte-se assim em um mtodo de compreenso e interpretao de culturas e pocas distintas da nossa, visto que se pergunta pelo esprito que as fez nascer e procura interpretar seu sentido60. Em realidade, quando o homem l um livro, ou contempla uma catedral gtica, o que faz interpretar e compreender seu sentido. Para entend-lo
til perguntar-se quem os escreveu, qual foi sua inspirao e que verdade pretendia expressar ao faz-lo61.
importante destacar ainda que a cultura no apenas expresso de uma subjetividade, mas expresso da verdade vista por uma subjetividade. Ao interpretar a obra cultural, temos de procurar a verdade expressada, e para isso nos ajuda compreender a pessoa que a expressou. Mas se se permanecer apenas nisso, a leitura das obras culturais se converte em pura
erudio. Contudo, no se trataria disso: toda obra cultural carrega consigo uma verdade que
se pode chegar a compreender62.
A funo expressiva da cultura destaca-se naquelas aes que tm em si mesmas um
sentido e uma finalidade simultnea sua realizao; ou seja, aquelas nas quais a presena do
esprito faz com que os bens e sentimentos que expressam sejam compartilhveis por outros.
So as aes comuns por excelncia, visto que as aes expressivas no costumam obedecer
somente a um interesse til, mas parece predominar nelas uma beleza que se comunica, que
nasce da verdade expressada nelas. Assim, podemos tentar agrup-las, tendo claro que todas
elas so cultura63:
1) Os gestos. Saudar, sorrir, das boas-vindas, etc., so a primeira forma de linguagem;
s vezes o silncio mais expressivo do que a palavra: o homem o nico ser que faz do calar um gesto caracterstico64.
2) A linguagem falada expressaria o pensamento terico e prtico. Dizer palavras
usar termos que tm um significado conhecido por outros, comunicar-se. A linguagem falada talvez a ao expressiva e comunicativa mais importante na cultura65.
60
Ibidem, p. 350.
Ibidem, p. 351.
62
Ibidem, p. 351.
63
Ibidem, p. 351.
64
Ibidem, p. 351.
65
Ibidem, p. 351.
61
25
3) Os costumes. So gestos repetidos muitas vezes que outorgam segurana vida
humana. Facilmente se convertem em ritos: o rito de uma comida de festa, ou de uma cerimnia nupcial. As normas de cortesia so gestos rituais: desejar bom dia, levantar para cumprimentar uma pessoa, etc66.
4) Alguns gestos so autnticas aes receptivas porque implicam em cultivar a ateno para algo, esperar ou dirigir-se para um ser que nos atrai. As aes receptivas so a maneira de dirigir nossa ateno para o mundo, significam abrir-se para ele de uma determinada
maneira. Costumam exigir silncio, pois este condio para a ateno: s quem cala pode
atender. O rudo mata o calar67.
5) Por fim, temos as aes simblicas. Os smbolos e as aes simblicas so elementos importantes dentro da compreenso da cultura. Todo objeto e ao cultural tm uma funo simblica, que remete o produto humano a outra coisa68. Assim, acontece de modo eminente na linguagem. Funo simblica quer dizer, em primeiro lugar, funo representativa e
esta algo prprio de toda realidade cultural, enquanto significa algo distinta de si mesma, ou
remete-se a ela: um martelo est por si prprio, aludindo uma mo que o empunhe e a um
objeto sobre o qual golpear. No martelo, vemos de algum modo a mo e o prego69.
Para entender melhor as aes simblicas, necessrio compreender o que um smbolo. Um smbolo em sentido estrito, por exemplo, uma bandeira, se diferencia de uma indicao de um sinal natural (a fumaa sinal de fogo), de um sinal artificial (sinal de trnsito) e
de um sinal lgico (sinal matemtico), pelo fato fundamental de ser uma imagem que faz aluso a um objeto ausente, diferente dele mesmo70. Um leo com a pata aberta a imagem de
um animal, mas alm disso simboliza o valor, a valentia, porque o comportamento do leo se
parece com o do valente. Em troca, os sinais esgotam seu ser naquilo a que remetem. Em um
sinal de trnsito, a luz verde ou vermelha uma indicao para agir de um determinado modo.
Se o sinal no d luzes verdes e vermelhas, no serve. Os smbolos so algo mais do que sinais. So imagens de algo, representam algo que no so eles mesmos, so imagens com sentido71. Um smbolo um objeto que, parte de sua prpria significao imediata, sugere tambm a outra, especialmente o contedo mais ideal, que no pode encarnar perfeitamente.
66
Ibidem, p. 351.
Ibidem, p. 351.
68
Ibidem, p. 358.
69
Ibidem, p. 358.
70
Ibidem, p. 358.
71
Ibidem, p. 358.
67
26
E por tratar-se de um conhecimento mais imaginativo, o smbolo traz at ns uma realidade ausente, mas de uma maneira obscura, imperfeita, sugestiva. Remete a realidades diferentes a ele mesmo. O smbolo um recurso que o homem tem para fazer presentes realidades
que pode ou no quer expressar de modo claro e distinto72. Como exemplo, Ricardo Stork e
Javier Echevarra mencionam os ndios apaches, os quais pintavam o rosto para fazer guerra,
querendo aparecer diante dos inimigos como seres terrveis. Assim, os autores definem o smbolo como a imagem de uma coisa, que faz intuitivamente presente outra coisa distinta, de
modo direto e imperfeito, no completamente determinado, de maneira que comeamos a
possuir de algum modo o que simbolizado. O homem se serve dos smbolos para comear a
conhecer e adornar-se de realidades que de momento no possui de todo, ou que nunca poder
possuir plenamente, e que por isso no so racionalizveis. A funo simblica corre a cargo
da fantasia, e desempenha na cultura um papel de primeira ordem73.
O homem necessita dos smbolos, e tambm dos sinais, para relacionar-se com o ausente, para ampliar o raio da realidade possuda74. O smbolo a porta de acesso ao mistrio e
ao misterioso. Neg-lo seria negar que exista realidades que superem nossa capacidade de
conhecer. O smbolo uma das maneiras que o homem tem de materializar o espiritual e de
superar a distncia que o separa das realidades das quais quer apropriar-se75. A capacidade de
usar smbolos deriva dessa singular capacidade de referir-se ao que no est presente, ao que
no est em frente, ao futuro e ao passado.
Disso poderamos extrair uma concluso: muitas aes expressivas de muitos objetos
culturais so simblicos porque plasmam materialmente essas referncias que o homem faz a
realidades ausentes. Por exemplo, existem aes simblicas ligadas ao uso de objetos que
tambm o so. Aes simblicas so aquelas nas quais a utilizao de um objeto ou gesto
simblico vm acompanhada pelo domnio ou recepo de algum bem, superior ao smbolo,
mas representado por ele. Assim, a entrega das chaves da cidade ao rei simboliza que se est
72
Ibidem, p. 359.
Ibidem, p. 359.
74
White, citado por Marshall Sahlins, assevera que o homem difere do macaco e de todos os outros seres vivos
por ser capaz de um comportamento simblico. Com palavras, o homem cria um novo mundo, um mundo de
idias e filosofias. Nesse mundo, a existncia do homem to real quanto no mundo fsico de seus sentidos. Em
verdade, o homem sente que a qualidade essencial de sua existncia consiste em ocupar esse mundo de smbolos
e idias ou, como s vezes ele o chama, o mundo da mente ou do esprito. Esse mundo das idias d provas de
uma continuidade e de uma permanncia que o mundo externo dos sentidos jamais poder ter. Ele no seria feito
apenas do presente, mas de um passado e tambm de um futuro. Temporalmente, no constituiria uma sucesso
de episdios desconexos, e sim um continuum que se estende ao infinito em ambas as direes, da eternidade
eternidade. Nesse sentido, vide SAHLINS, Marshall. Cultura e razo prtica. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003,
p. 107.
75
STORK, Ricardo Yepes; ECHEVARRA, Javier Aranguren. op. cit., p. 359.
73
27
dando a ele o poder sobre a cidade. A entrega dos anis e as palavras que os noivos trocam
significam e promessa mtua de entrega. O sinal da cruz e as palavras com que o sacerdote
absolve o penitente simbolizam o perdo dos pecados, dentre outros casos76. Assim, geralmente as aes simblicas costumam realizar-se mediante as cerimnias, e expressam muitas
vezes a entrega ou recepo de bens imateriais.
Dentro deste contexto da cultura, entendida, dentre outros fatores, pelas suas aes
simblicas, Clifford Geertz preconiza que o comportamento humano visto como ao simblica77, e olhar as dimenses simblicas da ao social arte, religio, ideologia, cincia, lei,
moralidade mergulhar-se nos dilemas existenciais da vida78. Sem a direo de padres
culturais ou seja, na viso de Geertz, sistemas organizados de smbolos significantes o
comportamento do homem seria ingovernvel, um simples caos de atos sem sentido e de exploses emocionais, e sua experincia no teria praticamente qualquer forma. A cultura, a
totalidade acumulada de tais padres, no apenas um ornamento da existncia humana:
uma condio essencial para ela, a principal base de sua especificidade. O homem se tornou
homem quando ele foi capaz de transmitir conhecimento, crena, lei, moral e costume a seus
descendentes atravs do aprendizado79. Com efeito, a cultura denota um padro de significados transmitido historicamente, incorporado em smbolos, um sistema de concepes herdadas expressas em formas simblicas por meio das quais os homens comunicam, perpetuam e
desenvolvem seu conhecimento e suas atividades em relao vida80. Desta forma, a cultura
denota a transmisso de uma cadeia de significados simblicos, servindo para a manuteno e
desenvolvimento da vida humana em comunidade.
Compreendido o desenvolvimento da cultura historicamente, passando pelo carter
simblico, podemos concluir com outros aspectos importantes para se formular um possvel
conceito de cultura. Dentre eles, temos os valores, que so contedos ou plo teleolgico das
atitudes, que so exercidos ou portados no comportamento cotidiano, pelas funes e pelas
instituies sociais. Ainda, temos os estilos de vida, que o comportamento coerente e resultante de um reino de valores que determina certas atitudes81.
76
Ibidem, p. 360.
GEERTZ, Clifford. A interpretao das culturas. Rio de Janeiro: LTC, 2008, p. 8.
78
Ibidem, p. 21.
79
Ibidem, p. 33-34.
80
Ibidem, p. 66.
81
DUSSEL, Enrique. Oito ensaios sobre cultura latino-americana e libertao. So Paulo: Paulinas, 1997, p.
54.
77
28
Aps realizadas todas estas consideraes, podemos seguir a descrio que Enrique
82
Dussel elabora sobre a definio de cultura83. Esta seria
...o conjunto orgnico de comportamentos predeterminados por atitudes diante dos instrumentos de civilizao, cujo contedo teleolgico constitudo pelos
valores e smbolos do grupo, isto , estilos de vida que se manifestam em obras de
cultura e que transformam o mbito fsico-animal em um mundo humano, um mundo cultural.
Realizadas estas consideraes sobre a cultura, passemos exposio sobre a identidade cultural, elemento de igual importncia para expor como, tanto a identidade como a cultura, se constituem como elementos da corporalidade humana. Contudo, antes devemos expor
algumas consideraes sobre o que vem a ser a identidade.
1.1.2 Notas sobre identidade cultural
Para Manuel Castells84, a identidade seria o processo de construo do significado
com base num atributo cultural, ou ainda um conjunto de atributos culturais interrelacionados, os quais prevalecem sobre outras formas de significado. Por sua vez, o autor
ressalta que as identidades constituem fontes de significado para os prprios atores, por eles
originadas, e construdas atravs de um processo de individualizao. Embora as identidades
tambm possam ser formadas a partir de instituies dominantes, elas apenas assumem esta
condio quando e se os atores sociais a interiorizam, construindo o seu significado com base
nessa interiorizao85. Para tanto, no mago da constituio de uma identidade, a interiorizao de determinados valores e modos de vida devem ser internalizados pelo indivduo, razo
pela qual a identidade no subsistiria.
82
Ibidem, p. 55.
Nesse sentido, igualmente Darcy Ribeiro enfatiza a cultura como patrimnio simblico dos modos padronizados de pensar e de saber, que se manifestam, materialmente, nos artefatos e bens. Em uma tentativa de ampliar
este conceito, pode-se incluir que este patrimnio simblico tambm est presente na corporalidade humana, nos
gestos corporais, nos rituais, dentre outros aspectos. Sobre a concepo simblica de cultura, vide RIBEIRO,
Darcy. O processo civilizatrio. 6 ed. Petrpolis; Vozes, 1981, p. 34.
84
CASTELLS, Manuel. O poder da identidade. Lisboa: Fundao Calouste Gulbenkian, 2003, p. 3.
85
Ibidem, p. 3.
83
29
Feitas estas consideraes, pode-se ainda expor que existem basicamente trs concepes distintas de identidade, de acordo com os estudos de Stuart Hall 86, as quais seriam: a) a
identidade do sujeito do Iluminismo; b) a concepo de identidade do sujeito sociolgico e c)
a concepo de identidade do sujeito ps-moderno.
No tocante concepo de identidade do sujeito do Iluminismo, Hall destaca que este
sujeito estava baseado num conceito de pessoa humana como um indivduo totalmentre centrado, unificado, dotado das capacidades de razo, de conscincia e de ao, cujo centro consistia num ncleo interior, que emergia pela primeira vez quando o sujeito nascia e com ele se
desenvolvia, ainda que permanecendo essencialmente o mesmo contnuo ou idntico a ele
ao longo da existncia do indivduo. O centro essencial do eu era a identidade de uma pessoa.
Trata-se de uma concepo individualista do sujeito e de sua identidade87.
No que concerne ao conceito de identidade do sujeito sociolgico, esta noo refletia a
crescente complexidade do mundo moderno e a conscincia de que este ncleo interior do
sujeito no era autnomo e auto-suficiente, mas era formado na relao com outras pessoas
importantes para ele, que mediavam para o sujeito os valores, sentidos e smbolos a cultura
dos mundos que ele habitava. G. H. Mead e C. H. Cooley e os interacionistas simblicos
seriam as figuras-chave na sociologia que elaboraram esta concepo interativa da identidade
e do eu. De acordo com esta viso, que se tornou a concepo sociolgica clssica da questo,
a identidade seria formada na interao entre o eu e a sociedade. O sujeito ainda tem um ncleo ou essncia interior que o seu eu real, mas este formado e modificado num dilogo
contnuo com os mundos culturais exteriores e as identidades que esses mundos oferecem88.
A identidade, nessa concepo sociolgica, preencheria o espao entre o interior e o
exterior entre o mundo real e o mundo pblico. O fato de que projetamos a ns mesmos
nessas identidades culturais, ao mesmo tempo que internalizamos seus significados e valores,
tornando-se parte de ns, contribuiria para alinhar nossos sentimentos subjetivos com os
lugares objetivos que ocupamos no mundo social e cultural. A identidade, ento, costuraria o
sujeito estrutura, e estabilizaria tanto os sujeitos quanto os mundos culturais que eles habitam, tornando ambos reciprocamente mais unificados e predizveis89.
Entretanto, argumenta-se que seriam exatamente essas coisas que agora estariam mudando. O sujeito, previamente vivido como tendo uma identidade unificada e estvel, estaria
86
HALL, Stuart. A identidade cultural na ps-modernidade. Rio de Janeiro: DPA, 2006, p. 10-13.
Ibidem, p. 10-13.
88
Ibidem, p. 10-13.
89
Ibidem, p. 10-13.
87
30
se tornando fragmentado; composto no de uma nica, mas de vrias identidades, algumas
vezes contraditrias ou no resolvidas. Correspondentemente, as identidades, as quais compunham as paisagens sociais l fora e que asseguravam nossa conformidade subjetiva com as
necessidades objetivas da cultura, estariam entrando em colapso, como resultado de mudanas estruturais e institucionais. O prprio processo de identificao, atravs do qual nos projetamos em nossas identidades culturais, teria-se tornado mais provisrio, varivel e problemtico90.
Para Hall, esse processo produziria a terceira concepo de identidade, que seria a do
sujeito ps-moderno, conceitualizado como no tendo uma identidade fixa, essencial ou permanente. A identidade tornar-se-ia uma celebrao mvel, formada e transformada continuamente em relao s formas pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas
culturais que nos rodeiam. Seria definida historicamente, e no biologicamente. O sujeito assumiria identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que no seriam unificadas
ao redor de um eu coerente91.
Com efeito, a identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente no seria
possvel. Ao invs disso, medida em que os sistemas de significao e representao cultural
se multiplicariam, seramos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante
de identidades possveis, com cada uma das quais poderamos nos identificar92.
Neste aspecto, pode-se seguir uma linha intermediria entre o sujeito sociolgico e o
sujeito denominado ps-moderno. Isto porque o elemento interativo, defendido pela corrente sociolgica, mostra-se importante para se definir uma identidade, j que esta no se produz
sem a interao com os demais seres humanos. A identidade provm de um processo de aprendizado, em que o sujeito internaliza determinados valores e conceitos, vivendo de acordo
com eles. Por sua vez, diante da sociedade globalizada, em que se abre as portas para o estudo
das mais diversas culturas, esse processo de interao entre os seres humanos ganha muito
mais intensidade, na medida em que se produzem uma maior gama de identidades (sejam tnicas, religiosas, dentre outras). A fragmentao, defendida pela corrente ps-moderna, no
ocasionaria uma dissoluo ou colapso das identidades, mas uma abertura ao descobrimento
da existncia de muitas outras identidades que se apresentam em nossa coexistncia humana,
e que se influenciam mutuamente.
90
Ibidem, p. 10-13.
Ibidem, p. 10-13.
92
Ibidem, p. 10-13.
91
31
Tambm podemos destacar que diante da velocidade da informao e do conhecimento, cada vez mais presente a descoberta de novas identidades e referenciais de viso de
mundo. Subsiste uma crise de identidade, no sentido de que os processos histricos que, aparentemente sustentavam a fixao de certas identidades esto entrando em colapso, e novas
identidades esto sendo forjadas, muitas vezes por meio da luta e da contestao poltica 93. As
mudanas e transformaes globais nas estruturas polticas e econmicas no mundo contemporneo colocam em relevo as questes de identidade e as lutas pela afirmao e manuteno
das identidades nacionais e tnicas94.
Outro aspecto importante a ser debatido em torno da temtica da identidade a sua
relao com a diferena. Identidade e diferena so elementos interdependentes.
Em uma primeira aproximao, pareceria ser fcil definir identidade. A identidade
simplesmente aquilo que se : sou brasileiro, sou negro, sou homem. A identidade assim concebida parece ser uma positividade (aquilo que sou), uma caracterstica independente,
um fato autnomo. Nessa perspectiva, a identidade s tem como referncia a si prpria: ela
autocontida e autosuficiente95. O idntico (que constitui a identidade), em latim idem, significa o mesmo96. E como Heidegger leciona, em cada identidade incidir uma relao com,
uma unio numa unidade97.
Nesta linha de pensamento, tambm a diferena concebida como uma entidade independente. Apenas, neste caso, em oposio identidade, a diferena aquilo que o outro :
93
SILVA, Tomaz Tadeu da. (Org.). Identidade e diferena a perspectiva dos estudos culturais. Petrpolis:
Vozes, 2009, p. 39.
94
Ibidem, p. 25.
95
Ibidem, p. 74..
96
Vale ressaltar que esta identidade geralmente est relacionada com a mesmidade, ou seja, aponta para o mesmo. Porm, no deve ser compreendida somente neste sentido. Contribuindo com este tema, Paul Ricoeur, em
sua obra O si-mesmo como um outro, traz tona outro elemento que demarca a interioridade, a identidade: a
ipseidade. Para tanto, de um lado, temos a identidade-idem, que nos traz a figura do mesmo, ou da mesmidade.
Por outro lado, temos a identidade-ipse, que aponta para a ipseidade, ipseidade esta que faz com que um ser seja
ele prprio, e no outro. A mesmidade indicaria o retorno do mesmo ao longo do tempo, ou seja, a estabilidade e
durabilidade , reidentificando um indivduo humano como o mesmo. A ipseidade, por sua vez, se configura num
momento de alteridade, em que esta, compreendida como uma etapa de estranhamento, no se projeta apenas
nos outros homens, mas inclusive prpria conscincia e ao corpo prprio. Cabe salientar que a relao mesmidade e ipseidade no se sustenta em uma excluso de um ou outro, mas de uma relao complementar, de dilogo. Ou seja, a ipseidade necessita da estabilidade trazida pela mesmidade e de um constante dilogo com ela,
mas sem que com isto seja anulada. A ipseidade coloca o carter (conjunto das marcas distintivas que permitem
identificar um indivduo humano como o mesmo) em movimento. Assim, instaura-se uma dialtica entre estas
duas formas de identidade. Ricoeur prope, assim, uma dialtica do si-mesmo e do diverso de si, que comporte
tanto o movimento que vai do outro para o mesmo, quanto o que vai do mesmo para o outro. Para mais informaes, vide SILVA FILHO, Jos Carlos Moreira da. Pessoa humana e boa-f objetiva: a alteridade que emerge da
ipseidade. In: Jos Carlos Moreira da Silva Filho; Maria Cristina Cereser Pezzella. (Org.). Mitos e Rupturas no
Direito Civil Contemporneo. 1 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, v. 1, p. 291-323.
97
HEIDEGGER, Martin. Identidade e diferena. Petrpolis: Vozes, 2006, p. 39.
32
ele italiano, ele branco, ela mulher. Da mesma forma que a identidade, a diferena , nesta perspectiva, concebida como auto-referenciada, como algo que remete a si prpria.
A diferena, tal como a identidade, simplesmente existe98.
Desta forma, seria simples compreender que identidade e diferena esto em relao
de estreita dependncia. A forma afirmativa como expressamos a identidade tende a esconder
essa relao. Quando dizemos sou brasileiro, parece que estamos fazendo referncia a uma
identidade que se esgota em si mesma. Entretanto, s fazemos esta afirmao porque existem
outros seres humanos que no so brasileiros. Em um mundo imaginrio totalmente homogneo, no qual todas as pessoas partilhassem a mesma identidade, as afirmaes de identidade
no fariam sentido. De certa forma, seria isso que ocorre com nossa identidade de humanos99.
A afirmao sou brasileiro seria parte, em verdade, de uma extensa cadeia de negaes, de expresses negativas de identidade, de diferenas. Por trs da afirmao sou brasileiro, dever-se-ia dizer: no sou argentino, no sou chins, e assim por diante, numa cadeia quase interminvel100.
Da mesma forma, as afirmaes sobre diferena s fazem sentido se compreendidas
em sua relao com as afirmaes sobre a identidade. Dizer ela chinesa significa dizer que
no brasileira, isto , que ela no seria o que eu sou. As afirmaes sobre diferena tambm dependem de uma cadeia, em geral oculta, de declaraes negativas sobre (outras) identidades. Assim como a identidade depende da diferena, a diferena depende da identidade.
Identidade e diferena so, portanto, inseparveis101.
Alm de serem interdependentes, identidade e diferena partilham uma outra caracterstica: elas so o resultado de uma criao lingstica. Dizer que so o resultado de atos de
criao lingstica significa que no so elementos da natureza, que no so essncias, que
no so coisas que estejam simplesmente a. A identidade e a diferena so ativamente produzidas. Elas no so criaturas do mundo natural ou de um mundo transcendental, mas do cultural e social. Somos ns que as fabricamos, no contexto de relaes culturais e sociais. A identidade e a diferena so criaes sociais e culturais102.
98
SILVA, Tomaz Tadeu da. (Org.). Identidade e diferena a perspectiva dos estudos culturais, op. cit., p. 74.
Ibidem, p. 76.
100
Ibidem, p. 76.
101
Ibidem, p. 75.
102
Ibidem, p. 76.
99
33
Feitas estas consideraes sobre cultura, identidade e diferena, cabe trazer algumas
consideraes sobre a identidade cultural.
Kathryn Woodward103, reportando-se aos estudos de Stuart Hall, destaca que este, em
sua obra Identidade cultural e dispora, examina diferentes concepes de identidade cultural, procurando analisar o processo pelo qual se busca autenticar uma determinada identidade
por meio da descoberta de um passado supostamente comum.
Ao afirmar uma determinada identidade, podemos buscar legitim-la por referncia a
um suposto e autntico passado possivelmente glorioso mas, de qualquer forma, um passado
que parece real que poderia validar a identidade que reivindicamos. Ao expressar demandas
pela identidade no presente, os movimentos nacionalistas, seja da antiga Unio Sovitica, seja
na Europa Oriental, ou ainda na Esccia ou no Pas de Gales, buscam na validao do passado
o conceito de identidade cultural, utilizando o exemplo das identidades da dispora negra,
baseando-se, empiricamente, na representao cinematogrfica104.
Nesse sentido, a autora expe que Hall toma como seu ponto de partida a questo de
quem e o que ns representamos quando falamos. Ele argumenta que o sujeito fala, sempre, a
partir de uma posio histrica e cultural especfica. O autor afirma que haveria duas formas
diferentes de pensar a identidade cultural: a primeira reflete o fato de que uma comunidade
busca recuperar a verdade sobre seu passado na unicidade de uma histria e de uma cultura
partilhadas que poderiam, ento, ser representadas, por exemplo, em uma forma cultural como
o filme, para reforar e reafirmar a identidade; a segunda concepo de identidade cultural
aquela que a v como uma questo tanto de tornar-se quanto de ser. Isso no significaria
negar que a identidade tenha um passado, mas reconhecer que, ao reivindic-la, ns a reconstrumos e que, alm disso, o passado sofre uma constante transformao105.
Esse passado seria parte de uma co-munidade imaginada, uma comunidade de sujeitos que se apresentam como sendo ns. Nesse sentido, Hall argumenta em favor do reconhecimento da identidade, mas no de uma identidade fixada na rigidez da oposio binria
ns/eles. Ele sugere a fluidez da identidade: ao ver a identidade como uma questo de tornar-se, aqueles que reivindicam a identidade no se limitariam a ser posicionados pela identi-
103
WOODWARD, Kathryn. Identidade e diferena: uma introduo terica e conceitual. In SILVA, Tomaz
Tadeu da. (Org.). Identidade e diferena a perspectiva dos estudos culturais. Petrpolis: Vozes, 2009, p. 27.
104
Ibidem, p. 27.
105
Ibidem, p. 28.
34
dade: eles seriam capazes de posicionar a si prprios e de reconstruir e transformar as identidades histricas, herdadas de um suposto passado comum106.
Nesse sentido, pode-se constatar que a identidade cultural est calcada em uma memria coletiva de seu passado, que compreende seus valores e modos de vida que se busca perpetuar, transmitir aos outros. A identidade cultural permite, pela memria, dar continuidade
cadeia simblica que se reproduz e identifica a especificidade de um grupo humano.
Para tanto, a identidade cultural, como conjunto humano simblico e mnemnico, busca na memria tambm seu fundamento. A memria figura como uma criao do passado,
uma reconstruo engajada no passado, e que desempenha um papel fundamental na maneira
como os grupos sociais apreendem o mundo presente e reconstroem sua identidade, inserindose nas estratgias de reivindicao por um completo direito ao reconhecimento; essa memria
ativada visando, de alguma forma, o controle do passado e, portanto, do presente107.
A histria do grupo no qual o indivduo se insere o obriga a assimilar a herana que a
simboliza, a associar sua vivncia pessoal viso que o grupo de referncia prope, tanto do
presente quanto do futuro. A identidade cultural origina-se de um fenmeno coletivo108. Ela
caracteriza um sistema de representao de relaes entre indivduos e grupos, que envolve o
compartilhamento de patrimnios comuns, como a lngua, a religio, as artes, o trabalho, os
esportes, as festas, entre outros109. Trata-se de um processo dinmico, de construo continuada, que se alimenta de vrias fontes no tempo de no espao. Ela evidencia o sentimento de
identidade de um grupo ou de um indivduo, porquanto influenciado pelo sentimento de
pertena a uma cultura.
Definidos os aspectos principais sobre a cultura e a identidade cultural, passar-se- a
expor um caso de exemplificao de um processo de extermnio e negao de uma cultura e
de uma identidade cultural, qual seja, o processo de incio da modernidade como marco histrico de negao da diferena.
106
Ibidem, p. 28.
SILVA, Gladson Jos da. A antiguidade romana e a descontrao das identidades nacionais. In FUNARI,
Pedro Paulo A.; JR, Charles E. Orser; SCHIAVETTO, Solange Nunes de Oliveira (Org.). Identidades, discurso e
poder: estudos de arqueologia contempornea. So Paulo: Annablume, Fapesp, 2005, p. 94.
108
KOUBI, Genevive. Entre sentimentos e ressentimento: as incertezas de um direito das minorias. In BRESCIANI, Stella; NAXARA, Mrcia. Memria e (res)sentimento indagaes sobre uma questo sensvel. Campinas: Unicamp, 2001, p. 539.
109
OLIVEIRA,
Lcia
Maciel
Barbosa
de.
Identidade
cultural.
Disponvel
em:
<http://www.esmpu.gov.br/dicionario/tiki-index.php?page=Identidade%20cultural>. Acesso em: 28 abr. 2011.
107
35
1.2 O ETNOCDIO NAS RAZES DA MODERNIDADE: O PROCESSO DE ENCONBRIMENTO DO OUTRO A PARTIR DA CONQUISTA DA AMRICA
Entender como o processo de encobrimento do conquistado ocorreu significa compreender melhor como o etnocdio atenta contra a especificidade cultural de um povo, buscando
exterminar a cadeia simblica de transmisso de crenas, tradies e saberes que definem a
identidade de um grupo humano. A conquista da Amrica abre um estgio sem precedentes na
Histria, pois a partir deste momento que a ao de aniquilamento do Outro, do indgena,
mediante a imposio de uma cultura, constituiu os primeiros passos para a constituio da
modernidade. Trata-se de um caso especfico que ilustra a prtica do etnocdio.
1.2.1 Modernidade, colonialidade e a conquista da Amrica
No que concerne especificamente sobre a modernidade e a conquista da Amrica, entre o mundo antigo, em que a Europa foi uma regio isolada, secundria e perifrica, e o domnio sobre o novo mundo, que a origem da modernidade europia, se produzem dois
fatos que passam desapercebidos aos historiadores da filosofia (e de outras especialidades
epistmico-sociais)110.
A modernidade no transitaria do renascimento italiano revoluo cientfica e filosfica do sculo XVII de maneira direta e sem mediaes. Foram necessrios 150 anos para que
o antigo paradigma111 do antigo mundo entrasse em crise e assim se dessem as condies de
possibilidade histricas para que se formulasse explicitamente um novo paradigma. De 1492 a
1630, com metodologia cientfica e filosfica que se inspira na epistemologia do mundo isl110
DUSSEL, Enrique. Poltica de la liberacin histria mundial y crtica. Madrid: Trotta, 2007, p. 192.
A ideia de paradigma fundamental para o entendimento acerca da mutao das bases tericas de uma cincia. Para o autor, o paradigma caracteriza-se por dois elementos essenciais: a) suas realizaes atraem um nmero de partidrios, afastando-os de outras formas de atividades cientficas dissimilares e b) suas realizaes so
suficientemente abertas para deixar toda espcie de problemas para serem resolvidos pelo grupo redefinido de
praticantes da cincia. O termo paradigma tambm relacionado com cincia normal. Isto significa que alguns
exemplos aceitos na prtica cientfica real proporcionam modelos dos quais brotam as tradies coerentes e especficas da pesquisa cientfica. O estudo dos paradigmas, muitos dos quais bem mais especializados do que os
indicados acima, o que prepara basicamente o estudante para ser membro da comunidade cientfica determinada na qual atuar mais tarde. Uma vez que ali o estudante rene-se a homens que aprenderam as bases de seu
campo de estudo a partir dos mesmos modelos concretos, sua prtica subseqente raramente ir provocar desacordo declarado sobre pontos fundamentais. Homens cuja pesquisa est baseada em paradigmas compartilhados
esto comprometidos com as mesmas regras e padres para a prtica cientfica. Esse comprometimento e o consenso aparente que produz so pr-requisitos para a cincia normal, isto , para a gnese e a continuao de uma
tradio de pesquisa determinada. Vide KUHN, Tomas. A estrutura das revolues cientficas. So Paulo: Perspectiva, 1998, p. 30-31.
111
36
mico, latino-medieval e renascentista, porm desde uma problemtica j moderna, se foram
criticando os pressupostos do antigo paradigma e se criaram as condies em que se comeou
a formular um novo paradigma112.
O sculo XVI j no um momento da Idade Mdia, mas o primeiro sculo da modernidade. a modernidade nascente em sua primeira etapa, a de uma Europa que comea a sua
abertura a um novo mundo que a reconecta com parte do antigo mundo, o asitico, constituindo o primeiro sistema-mundo113. Este sculo XVI a chave e a ponte, j moderno, entre o
mundo antigo e a formulao acabada do paradigma do mundo moderno. Coprnico avana o
heliocentrismo como hiptese em 1514 data em que Bartolom de las Casas, na ilha de
Cuba, capta o problema central poltico de toda a modernidade at o presente. A exploso do
imaginrio que o descobrimento da Amrica produziu na Europa certamente o comeo de
uma nova Idade. No entanto, se necessitou de todo o sculo XVI para que fosse possvel a
formulao de um novo modelo (cientfico, filosfico e poltico) da nova Idade, que havia
sido iniciado desde o descobrimento da Amrica. A Europa se abriu a um imenso espao exterior. Neste contexto, o Outro (o indgena e o escravo africano) ser, para Dussel, igualmente
uma exterioridade constitutiva da nova compreenso do ser humano, como o excludo, o negado114.
Enrique Dussel tambm chama a ateno para o fato de que, contrariamente ao entendimento de Hegel ou Habermas, tanto a Amrica Latina quanto a Espanha tiveram um papel
fundamental na formao da Era Moderna. A descoberta do novo mundo possibilitou que a
Europa sasse da imaturidade subjetiva da periferia do mundo muulmano e se desenvolvesse
at tornar-se o centro da histria e o senhor do mundo, estado que simbolicamente foi atingido
com a figura de Cortez, na conquista do Mxico115.
At o final do sculo XV, a Europa foi paulatinamente sendo isolada pelo mundo muulmano, ocasio em que as rotas comerciais terrestres que levavam at as ndias estavam
bloqueadas. Constantinopla, antigo centro comercial europeu, havia sido tomado pelos turcos
otomanos em 1453 e seu nome passou a ser Istambul. Como as cruzadas haviam fracassado,
restava descobrir uma rota martima que contornasse a frica e atingisse as ndias. Nesse sentido, os portugueses levaram adiante seu esforo com a caravela, o que os levou a chegar, em
112
DUSSEL, Enrique. Poltica de la liberacin histria mundial y crtica, op. cit., p. 193.
Ibidem, p. 193.
114
Ibidem, p. 193.
115
SILVA FILHO, Jos Carlos Moreira da. Da invaso da Amrica aos sistemas penais de hoje: o discurso da
inferioridade latino-americana. In WOLKMER, Antonio Carlos (Org.). Fundamentos de histria do direito. 3.
ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 227-228.
113
37
1488, costa africana, sob o comando de Bartolomeu Dias. No entanto, foi somente a partir
da experincia de Colombo que efetivamente a Europa apoderou-se de uma nova universalidade, tornando-se o centro do mundo e passando a impor seu ser a outro116.
Neste aspecto, a grande crtica de Dussel em relao concepo de modernidade no
estaria em negar aquilo que seria chamado de ncleo libertrio ou razo emancipatria,
mas em desmascarar a existncia de uma outra face desse processo de modernizao, relacionada com o exerccio em larga escala de uma violncia irracional nas colnias, no apenas
fsica, mas sobretudo cultural, que simplesmente nega a identidade do outro, seja atravs de
uma postura assimilacionista, seja atravs da simples excluso e eliminao. Tudo isto estaria
simbolizado no mito sacrificial, ou seja, toda a violncia derramada na Amrica Latina eram em, verdade, um benefcio ou, antes, um sacrifcio necessrio. Diante disso, os negros, os indgenas ou mestios eram duplamente culpados: primeiro, por serem seres inferiores e, segundo, por recusarem o modo civilizado de vida ou a salvao, enquanto os europeus eram considerados inocentes117.
A conquista da Amrica, alm de inaugurar a Era Moderna, constitui-se como a genealogia, a origem, o fundamento de todo o processo de colonizao no Continente americano, e
muitas das suas caractersticas ainda so presentes em nossa realidade da Amrica Central e
Latina, guardadas as suas devidas peculiaridades no contexto histrico de cada perodo. Efetivamente foi o incio de um processo que at hoje produz reflexos em nossa regio marginal118.
Contribuindo com estes aspectos preliminares sobre a origem da modernidade e a conquista da Amrica, Zaffaroni119 refere que h cinco sculos nosso territrio vem sendo submetido a um chamado processo de atualizao histrica incorporativa, que produto de duas
revolues sucessivas: a revoluo mercantil (Sculo XVI) e a industrial (Sculo XVIII). Inicialmente, no mercantilismo, as potncias europias realizaram a incorporao dos povos americanos civilizao mercantil na forma do colonialismo; posteriormente, houve a prtica
de um neocolonialismo que ainda perdura. E na atualidade, tendo a Amrica do Norte se dimensionado como o centro, como parmetro para o Mundo, seria possvel reconhecer que
116
Ibidem, p. 227.
Ibidem, p. 228.
118
A expresso originalmente empregada pelo jurista Eugnio Ral Zaffaroni, na obra Em busca das penas
perdidas, em torno da perda da legitimidade do sistema penal. Para tanto, o termo se refere ao mbito da Amrica Latina, em seu estudo sobre o sistema penal. Em ZAFFARONI, Eugenio Ral. Em busca das penas perdidas.
Rio de Janeiro: Revan, 1991.
119
Ibidem, p. 118.
117
38
nosso estgio atual a revoluo tecnocientfica. Portanto, nosso processo histrico at ento
poderia se resumir nestas trs etapas: a revoluo mercantil, a revoluo industrial e, por fim,
a atual revoluo tecnocientfica.
Com base nesta tripartio, Zaffaroni refere que tanto o colonialismo como o neocolonialismo foram momentos distintos de genocdio e etnocdio, contudo, igualmente nefastos.
Nesse sentido, a destruio de culturas originrias e a morte dos habitantes eram fatos que
impressionavam os prprios colonizadores, e a escravido atravs do transporte de africanos
constituiriam as caractersticas evidentes do colonialismo. O poder colonialista, portanto, exerceu-se sob a forma de genocdio, eliminando a maior parte da populao americana, desbaratando suas organizaes sociais e reduzindo os sobreviventes condio de servido e escravido. A exigncia de mo-de-obra extrativa determinou o trfico escravista africano, levado a cabo por comerciantes ingleses, franceses e holandeses, que compravam prisioneiros e
inimigos, provocando, deste modo, a destruio das culturas pr-coloniais dos dois continentes120.
De outro lado, o neocolonialismo destacou-se por implementar lutas que impuseram o
poder de minorias locais em favor dos interesses de potncias industriais, as quais deram continuidade ao empreendimento genocida e etnocida do colonialismo, desencadearam guerras de
destruio interminveis e transportaram a populao marginal europia para substituir a populao desprezada como inferior. Seriam os dois captulos genocidas, oriundos da incorporao forada, praticada em razo de uma ideologia da inferioridade. Esta inferioridade, no colonialismo, dava-se em funo do marco terico teolgico (ou seja, a inferioridade dos povos
da Amrica pelo fato de no terem recebido a mensagem crist), e no neocolonialismo, por
uma inferioridade fundada pela razo de que os habitantes da Amrica no possuiriam o
mesmo grau de civilizao, ou eram biologicamente inferiores121.
J a revoluo tecnocientfica caracteriza-se pela luta, entre os pases centrais, em torno do domnio tecnolgico em determinadas reas (como a informtica, a tecnologia, a energia nuclear e robtica), em que suas conseqncias so imprevisveis. E a Amrica Latina
(como todo o povo que a constitui) seria definida pela ausncia de capacidade poltica para
protagonizar uma acelerao histrica122.
120
ZAFFARONI, Eugenio Ral. O inimigo no direito penal. Rio de Janeiro: Revan, 2007, p. 34-35.
ZAFFARONI, Eugenio Ral. Em busca das penas perdidas, op. cit., p. 119.
122
No demais ressaltar dentro deste aspecto o processo ilimitado da expanso econmica, que tem causado
uma constante degradao ambiental, fato este que influi muitas vezes para a execrao de minorias tnicas que
dependem do ecossistema, naturalmente constitudo para sua sobrevivncia cultural e biolgica.
121
39
O colonialismo da revoluo mercantil (Sc. XVI), o neocolonialismo da revoluo
industrial (Sc. XVIII) e os projetos tecnocolonialistas da revoluo tecnocientfica (Sc.
XX); eis os processos pelos quais a Amrica sofreu influncia. No entanto, para fins de fechamento destas notas preliminares no mbito histrico, necessrio ressaltar que no se trata
de uma mera substituio de um saber por outro decorrente de cada perodo histrico, mas da
juno, a acumulao das caractersticas de cada momento que integram os mecanismos de
poder que se entrecruzam.
No caso especfico da colonizao da Amrica, em 1514 o jurista e conselheiro dos
reis catlicos Palcios Rbios elabora o chamado Requerimiento123. um dos mais importantes documentos jurdicos que garantia a interveno nas colnias, assim como a chamada
guerra justa, em caso de resistncia dos indgenas. A justificativa do emprego de tal documento (que era lido diante dos nativos) era que Jesus Cristo era considerado o Senhor supremo de todas as terras e o chefe da linhagem humana. Jesus teria transferido a posse sobre o
continente americano a So Pedro, que teria transmitido por sua vez ao Papa, que por fim teria
retransmitido aos reis catlicos, Fernando de Arago e Isabel de Castela124. Este instrumento
era lido a toda comunidade indgena prestes a ser invadida; o Requerimiento informava ao
povo sua condio de vassalos da Coroa, garantindo-lhes a possibilidade de escolha: poderiam
acatar a dominao de forma pacfica, convertendo-se ideologia dos colonizadores ou, ao
contrrio, em caso de resistncia, estava autorizada a guerra e a escravido125.
Curiosamente, estes textos eram lidos sem qualquer intrprete, e muitas vezes os prprios conquistadores dispensavam tal procedimento por questo de simplificao 126. Enquanto
os espanhis falavam, os indgenas apenas escutavam, sendo impelidos a suportar as conseqncias de uma suposta desobedincia decorrente de sua incompreenso da linguagem do
Outro. Ademais, o poder espiritual e o poder do homem conquistador so confundidos pela
conotao de que Deus est ao lado dos europeus e os indgenas, como inferiores, tero de
acatar as medidas.
123
Maiores detalhes sobre este instrumento jurdico do perodo da conquista constam na obra de PEREA, Luciano. La Idea de Justicia en la Conquista de Amrica. Madrid: Mapfre, 1992.
124
CARVALHO, Lucas Borges de. Direito e barbrie na conquista da Amrica indgena. Disponvel em:
<http://www.buscalegis.ufsc.br/arquivos/direito%20e%20barb%E1rie.pdf>. Acesso em: 07 jun. 2011, p. 59.
125
O contedo do documento era este: Se no o fizerdes, ou se demorardes maliciosamente para tomar uma
deciso, vos garanto que, com a ajuda de Deus, invadir-vos-ei poderosamente e far-vos-ei a guerra de todos os
lados e de todos os modos que puder, e sujeitar-vos-ei ao jugo e obedincia de Suas Altezas. Capturarei a vs,
vossas mulheres e filhos, e reduzir-vos-ei escravido. Escravos, vender-vos-ei e disporei de vs segundo as
ordens de Suas Altezas. Tomarei vossos bens e far-vos-ei todo o mal, todo o dano que puder, como convm a
vassalos que no obedecem a seu senhor, no querem receb-lo, resistem a ele e o contradizem. Citado por
TODOROV, Tzvetan. A Conquista da Amrica a questo do Outro. So Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 213.
126
Ibidem, p. 214.
40
Este processo de conquista ir dar origem a um sistema de dominao colonial mediante a idia de raa, decorrente de um padro de poder denominado colonialidade. Esta colonialidade se fundamenta na imposio de uma classificao racial/tnica da populao do
mundo como pedra angular de dito padro de poder, e opera em cada um dos planos, mbitos
e dimenses, materiais e subjetivas, da existncia social cotidiana127. E o principal ncleo da
colonialidade/modernidade eurocentrada foi uma concepo de humanidade segundo a qual a
populao do mundo se diferenciava em inferiores e superiores, irracionais e racionais, em
primitivos e civilizados128, no que a idia de raa teve um papel central.
Para Anbal Quijano129, a concepo de raa foi o primeiro sistema de dominao social, a primeira categoria social da modernidade. Tratava-se de um produto mental e social
especfico do processo de destruio de um mundo histrico e do estabelecimento de uma
nova ordem, de um novo padro de poder, e emergiu como um modo de naturalizao das
novas relaes de poder impostas aos sobreviventes deste mundo em destruio: a idia de
que os dominados so o que so, no como vtimas de um conflito de poder, mas sim enquanto inferiores em sua natureza material e, por isso, em sua capacidade de produo histricocultural. Essa idia de raa foi to profunda e continuamente imposta nos sculos seguintes e
sobre o conjunto da espcie que, para muitos, ficou associada no s materialidade das relaes sociais, mas s prprias pessoas130.
A vasta e plural histria de identidades e memrias do mundo conquistado foi deliberadamente destruda e sobre toda a populao sobrevivente foi imposta uma nica identidade,
racial, colonial e derrogatria: ndios. Assim, alm da destruio de seu mundo histricocultural prvio, foi imposta a esses povos a idia de raa e uma identidade racial, como emblema de seu novo lugar no universo do poder. E ainda, durante quinhentos anos foi-lhe ensinado olhar-se com os olhos do dominador131.
De modo diferente, porm no menos eficaz, a destruio histrico-cultural e a produo de identidades racializadas teve tambm entre suas vtimas os habitantes seqestrados no
local em que hoje chamamos frica, como escravos e em seguida racializados como negros. Estes provinham tambm de complexas e sofisticadas experincias de poder e de civi127
QUIJANO, Anbal. Colonialidad del poder y classificacin social. Disponvel em:
<http://cisoupr.net/documents/jwsr-v6n2-quijano.pdf>. Acesso em: 28 abr. 2011, p. 342.
128
Ibidem, p. 344.
129
QUIJANO, Anbal. Dom Quixote e os moinhos de vento na Amrica Latina. Disponvel em:
<http://www.scielo.br/pdf/ea/v19n55/01.pdf>. Acesso em: 04 mai. 2011, p. 17.
130
Ibidem, p. 17.
131
Ibidem, p. 17.
41
lizao (ashantis, bacongos, congos, iorubas, zulus, etc) 132. E embora a destruio daquelas
mesmas sociedades tenha iniciado mais tarde e no tenha alcanado a amplitude e profundidade que alcanou na Amrica, para esses povos o desenraizamento violento e traumtico, a
experincia e a violncia da racializao e da escravido implicaram em uma no menos radical destruio da subjetividade prvia, da experincia prvia de sociedade, do universo, da
experincia prvia das redes de relaes primrias e societrias133. Para Quijano, em termos
individuais e de grupos especficos, muito provavelmente a experincia do deresenraizamento, da racializao e da escravido pde ser, talvez, inclusive mais perversa e atroz do que
para os sobreviventes das comunidades indgenas134.
Mesmo que agora as idias de cor e de raa sejam virtualmente intercambiveis,
essa relao entre ambas tardia: vem do sculo XVIII e hoje testemunha a luta social, material e subjetiva em torno delas. Originariamente, desde o momento inicial da conquista, a idia
de raa produzida para dar sentido s novas relaes de poder entre indgenas e ibricos. As
vtimas originais e primordiais dessa relao e dessa idia so os ndios135. Os negros,
como eram chamados os futuros africanos, eram uma cor conhecida pelos europeus desde
milhares de anos antes, desde os romanos, sem que a idia de raa estivesse em jogo. Os escravos negros no sero embutidos nessa idia de raa seno muito mais tarde na Amrica
colonial, sobretudo desde as guerras civis entre os encomenderos136 e as foras da Coroa, em
meados do sculo XVI137.
Porm, a cor, como signo emblemtico de raa no ser imposta sobre eles seno
desde bem avanado o sculo XVIII e na rea colonial britnico-americana. Nesta se produz e
se estabelece a idia de branco, porque ali a principal populao racializada e colonialmente
integrada, isto , dominada, discriminada e explorada dentro da sociedade colonial britnico132
Ibidem, p. 17.
Ibidem, p. 17.
134
Ibidem, p. 18.
135
Ibidem, p. 18.
136
Em sntese, tratava-se de uma justificativa oficial para o implemento da escravido. Os indgenas eram considerados livres, mas vassalos do rei, e deveriam pagar tributos. O indgena era encomendado como escravo e
no pagava este tributo diretamente ao seu senhor (que era o rei), mas ao encomendero, pessoa que usufrua
deste benefcio, qual seja, o trabalho indgena, como recompensa dos servios prestados Coroa. E segundo a
idia do colonizador, nestes moldes a encomenda no era algo que implicava em propriedade sobre os ndios
(que continuariam sendo vassalos livres) nem sobre suas terras. Implicava apenas o usufruto de seu trabalho,
obtido por produto de suas terras ou das propriedades dos encomendeiros. At 1536, os ndios eram outorgados
em encomendas junto com sua descendncia, pelo prazo de duas vidas: a do encomendero e a do herdeiro imediato; a partir de 1629, o regime estendeu-se por trs vidas, e em 1704 chegou a quatro vidas nas localidades onde
as Leis Novas, sancionadas sob a presso de Bartolom de Las Casas, no foram adotadas. Nesse sentido, vide
CARVALHO, Lucas Borges de., op. cit., p. 60; e LAS CASAS, Bartolom de. O Paraso destrudo. Porto Alegre: L&PM, 1984, p. 15.
137
QUIJANO, Anbal. Dom Quixote e os moinhos de vento na Amrica Latina, op. cit., p. 18.
133
42
americana, eram os negros138. Por outro lado, os ndios dessa regio no faziam parte
dessa sociedade e no foram racializados e colonizados ali seno mais tarde. Como se sabe,
durante o sculo XIX, aps o macio extermnio de sua populao, da destruio de suas sociedades e da conquista de seus territrios, os sobreviventes indgenas sero encurralados em
reservas dentro do novo pas independente, os Estados Unidos, como um setor colonizado,
racializado e segregado139.
Em torno da nova idia de raa, foram redefinindo-se e reconfigurando-se todas as
formas e instncias prvias de dominao, em primeiro lugar entre os sexos. Assim, no modelo de ordem social, patriarcal, vertical e autoritrio, do qual os conquistadores ibricos eram
portadores, todo homem era, por definio, superior a toda mulher. Mas a partir da imposio
e legitimao da idia de raa, toda mulher de raa superior tornou-se imediatamente superior,
por definio, a todo homem de raa inferior. Desse modo, a colonialidade das relaes entre
sexos se reconfigurou em dependncia da colonialidade das relaes entre raas. E isso associou produo de novas identidades histricas e geoculturais originrias do novo padro de
poder: brancos, ndios, negros, mestios140.
Dessa forma, o primeiro sistema de classificao social bsica e universal dos indivduos da espcie fazia sua entrada na histria humana. Trata-se da primeira classificao global da histria. Produzida na Amrica, foi imposta ao conjunto da populao mundial no
mesmo curso da expanso do colonialismo europeu sobre o resto do mundo. A partir da, a
idia de raa, o produto mental original e especfico da conquista e colonizao da Amrica,
foi imposta como o critrio e o mecanismo social fundamental de classificao social bsica e
universal de todos os membros de nossa espcie141.
De fato, durante a expanso do colonialismo europeu, novas identidades histricas,
sociais e geoculturais sero produzidas sobre os mesmos fundamentos. Por uma parte, a ndios, negros, brancos e mestios sero acrescentados amarelos, olivceos, dentre
outros. Por outra, ir emergindo uma nova geografia do poder, com uma nova nomenclatura:
Europa, Europa Ocidental, Amrica, sia, frica, Oceania, e de outro modo, Ocidente, Oriente, Oriente Prximo, Extremo Oriente e suas respectivas culturas, nacionalidades e etnicidades142.
138
Ibidem, p. 18.
Ibidem, p. 18.
140
Ibidem, p. 18.
141
Ibidem, p. 18.
142
Ibidem, p. 19.
139
43
A classificao racial, visto que se fundava num produto mental nu, sem nada em comum com nada no universo material, no seria sequer imaginvel fora da violncia da dominao colonial. O colonialismo uma experincia muito antiga. No entanto, somente com a
conquista e a colonizao ibero-crist das sociedades e populaes da Amrica, na transposio do sculo XV ao XVI, foi produzido o construto mental de raa. Isso d conta de que
no se tratava de qualquer colonialismo, mas de um muito particular e especfico: ocorria no
contexto da vitria militar, poltica e religioso-cultural dos cristos da contra-reforma sobre os
muulmanos e judeus do sul da Ibria e da Europa. E foi esse contexto que se produziu a idia
de raa143.
De fato, ao mesmo tempo em que se conquistava e colonizava a Amrica, a Coroa de
Castela e de Arago, j o ncleo do futuro Estado central da futura Espanha impunha aos muulmanos e judeus da pennsula ibrica a exigncia de um certificado de limpeza de sangue
para serem admitidos como cristos e serem autorizados a habitar na pensnsula ou viajar
Amrica. Tal certificado alm de ser testemunho da primeira limpeza tnica do perodo
colonial/modernidade pode ser considerado como o mais imediato antecedente da idia de
raa, j que implicava a ideologia de que as idias religiosas, ou mais geralmente a cultura,
so transmitidas pelo sangue144.
Para Anbal Quijano, a experincia continuamente reproduzida das novas relaes e de
seus pressupostos e sentidos, assim como de suas instituies de controle e de conflito, implicava, necessariamente, uma autntica reconstituio do universo da subjetividade, das relaes intersubjetivas da populao da espcie, como dimenso fundamental do novo padro de
poder, do novo mundo e do sistema-mundo que assim se configurava e se desenvolvia. Desse
modo, emergia todo um novo sistema de dominao social. Especificamente, o controle do
sexo, da subjetividade, da autoridade e de seus respectivos recursos e produtos, de agora em
diante no estar s associado a, mas sim depender, antes de tudo, da classificao racial, j
que o lugar, os papis e as condutas nas relaes sociais, e as imagens, esteretipos e smbolos, com relao a cada indivduo ou cada grupo, em cada um daqueles mbitos de existncia
social, estaro da em diante includos ou vinculados ao lugar de cada um na classificao
racial145.
Com efeito, a colonialidade do poder implicava e ainda implica a invisibilidade
sociolgica dos no-europeus, ndios, negros e seus mestios, ou seja, da esmagadora
143
Ibidem, p. 19.
Ibidem, p. 19.
145
Ibidem, p. 19.
144
44
maioria da populao da Amrica e sobretudo da Amrica Latina, com relao produo de
subjetividade, de memria histrica, de imaginrio, de conhecimento, de identidade146. Dessa
forma, a colonialidade do poder implicou a imposio de uma classificao social perversa
sobre as populaes de outras culturas do mundo, a partir de critrios raciais que terminaram
regulando o acesso a trabalho, recursos, territrios, identidade, etc147; trata-se de uma base
supostamente epistmica que fundamentava a prtica do etnocdio.
Nesse sentido, pode-se afirmar que o projeto colonialista originrio (alm do neocolonialismo) marcou-se pela ideologia da inferioridade, o que justificava um processo de encobrimento do Outro no caso, o indgena. Isto se relaciona com o fenmeno do etnocdio na
medida em que este, para sua consecuo, parte da premissa de que a cultura dominada inferior, levando por conseqncia a uma inferioridade dos prprios seres humanos que preservam esta cultura. O etnocdio no se concretiza sem a aceitao da premissa de que os outros
devem ser civilizados, incorporados ao projeto totalizante do colonizador, mesmo que para
isso custe a prpria vida ou integridade fsica do colonizado.
Nesse sentido, a ideologia da inferioridade pode ser detectada, por exemplo, nos discursos de Gins de Seplveda148:
Es por ello que los leones son domados y sujetos al imperio del hombre. Por
esta razn o hombre manda a la mujer, el adulto al nio, el padre al hijo: es decir,
que los ms poderosos y perfectos llevan a los ms dbiles e imperfectos. Esta
misma situacin se comprueba entre los hombres; puesto que hay quienes por naturaleza son seores de otros que por naturaleza son siervos. Aqullos que aventajan a
los otros por la prudencia y por la razn, aun cuando no lo hagan por la fuerza fsica, son, por su misma naturaleza, los seores; por el contrario, los perezosos, los
espritus lentos, aunque tengan fuerzas fsicas para cumplir todas las tareas necesarias, son, por naturaleza, siervos. Y es justo y til que sean siervos, pues nosotros lo
vemos establecido por la misma ley divina. Ya que est escrito en el libro de los
proverbios: El necio servir al sabio. As son las naciones brbaras e inhumanas,
extraas a la vida civil y a las costumbres pacficas. Y siempre ser justo y conforme al derecho natural que estas gentes estn sometidas al imprio de prncipes y de
naciones ms civilizadas y humanas, de manera que, gracias a la virtud de estos ltimos y a la prudncia de sus leyes, abandonen la barbrie y se conformem a una
vida ms humana y al culto de la virtud. Y si rechazan este imprio, se les puede
imponer por medio de las armas y esta guerra ser justa as como lo declara el derecho natural...
Em conclusin: es justo, normal y conforme a la ley natural que los hombres
probos, inteligentes, virtuosos y humanos dominen a todos los que no tienen estas
virtudes.
146
Ibidem, p. 24.
PAJUELO TEVES, Ramn. El lugar de la utopia. Aportes de Anibal Quijano sobre cultura y poder. Disponvel em: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/cultura/pajuelo.doc>. Acesso em: 28 abr. 2011, p. 230.
148
ANGEL, Fabio Zuluaga. Oro, evangelio y reino memoria de un etnocidio. Medelln: Prosaico, 1992, p. 2324.
147
45
Com base nesta descrio, importante referir a contribuio do debate de Valladolid
sobre a questo da humanidade dos indgenas. Este debate, ocorrido na cidade de Valladolid
em 1550 entre Juan Gins de Seplveda (supracitado) e Bartolom de Las Casas inaugura o
que se poderia denominar gnese de sustentao do que se chamaria hoje de direitos humanos.
Em resumo, Seplveda sustentava a inferioridade dos indgenas a partir do pensamento de
Aristteles sobre a condio dos escravos; Seplveda alegava a natural inferioridade dos indgenas diante da maior racionalidade com a qual os espenhis se guiavam. Tambm sustentava a usurpao dos bens indgenas como resultado da guerra justa que se deveria mover contra eles em funo de sua rudeza e inferioridade149.
Las Casas, por seu turno, afirmou que Seplveda no tinha compreendido o filsofo e
a sua teoria da escravido. Referiu que para Aristteles haveria trs tipos de brbaros: os que
tinham comportamento e opinies estranhas, mas possuam uma maneira decente de viver e
capacidade para governar a si prprios; os que no tinham escrita; e os que eram rudes, primitivos, viviam sem leis e se igualavam s feras. Somente o terceiro tipo de brbaros eram escravos por natureza, e todo o esforo de Las Casas foi demonstrar que os ndios no se incluam entre estes. Sua defesa dos indgenas destacava os relatos de aspectos dos costumes destes
povos, como sua beleza, bom governo, economia domstica, bons sentimentos e religiosidade,
que era maior que a dos gregos de romanos. De qualquer forma, embora os juzes nunca tenham manifestado seus pareceres, Las Casas defendeu a humanidade dos indgenas durante
toda a sua vida, ao passo que a guerra justa, aps uma breve interrupo, continuou no continente150.
Assim se configura o que Enrique Dussel vai denominar de mito da modernidade151:
por uma parte, se autodefine a prpria cultura como superior, mais desenvolvida; por outra
parte, se determina a outra cultura como inferior, brbara, sendo sujeito culpvel pela sua imaturidade, de maneira que a dominao (a guerra, a violncia) que se exerce sobre o Outro
, em realidade, emancipao, utilidade, um bem para o brbaro que se civiliza, que se
desenvolve ou se moderniza. Nisto consiste, para Dussel, o mito da modernidade: em vitimar
149
SILVA FILHO, Jos Carlos Moreira da. A Repersonalizao do Direito Civil em uma sociedade de indivduos: o exemplo da questo indgena no Brasil. In: Jos Luis Bolzan de Morais; Lenio Luiz Streck. (Org.). Constituio, Sistemas Sociais e Hermenutica: programa de ps-graduao em Direito da UNISINOS: Mestrado e
Doutorado: Anurio 2007. 1 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, v. 4, p. 253-270.
150
Ibidem, p. 260.
151
DUSSEL, Enrique. 1492 el encobrimiento del Otro hacia el origen del mito de la modernidad. La Paz:
Plural Editores, 1994, p. 70.
46
o inocente (o Outro, o indgena), declarando-o causa culpvel de sua prpria vitimao, e atribuindo-se ao sujeito moderno plena inocncia com respeito ao ato vitimrio. Por ltimo, o
sofrimento do conquistado (colonizado, subdesenvolvido) ser interpretado como o sacrifcio
ou o custo necessrio da modernizao, o que justifica o extermnio da cultura indgena.
1.2.2 O processo de encobrimento do Outro
Para Dussel, a modernidade nasce efetivamente em 1492, quando a Europa pode confrontar-se com o Outro (o indgena) e control-lo, venc-lo, violent-lo; quando pode definirse como ego conquistador, colonizador. Desta forma, este Outro no foi descoberto, mas foi
encoberto. O ano de 1492 ser o momento em que nasce a modernidade e um processo de
encobrimento do no europeu152. Os habitantes das novas terras no aparecem como Outros,
mas como o mesmo a ser conquistado, colonizado, modernizado, civilizado; nisto se caracteriza o etnocdio. Deve ser civilizado pelo ser europeu, porm encoberto em sua alteridade153.
Uma vez reconhecidos os territrios, se passava ao controle dos corpos, das pessoas:
era necessrio pacific-las, e o conquistador ser o primeiro homem moderno a impor sua
individualidade violenta a outras pessoas154. A conquista um processo militar, prtico, violento, que inclui o Outro como o mesmo, em um projeto totalizante. O Outro, em sua distino, negado como Outro e obrigado, subsumido, alienado a incorporar-se totalidade
dominadora155. O colonizado negado em sua dignidade: o ndio como o mesmo, como
instrumento, oprimido156. A colonizao da vida cotidiana do ndio foi o primeiro processo
europeu de modernizao, uma espcie de domesticao, uma colonizao do modo como os
indgenas viviam e reproduziam sua vida humana157.
Nesta linha argumentativa, Dussel trata da questo relativa conquista espiritual, caracterstica da conquista da Amrica e marca do etnocdio indgena. Por conquista espiritual
Dussel define o domnio que os europeus exerceram sobre o imaginrio do nativo, conquistado antes pela violncia das armas158. Aos indgenas so negados seus prprios direitos, sua
152
Ibidem, p. 8.
Ibidem, p. 37.
154
Ibidem, p. 40.
155
Ibidem, p. 41.
156
Ibidem, p. 47.
157
Ibidem, p. 50.
158
Ibidem, p. 55.
153
47
prpria civilizao, sua cultura, seu mundo e seus deuses em nome de um deus estrangeiro e
de uma razo moderna que propiciou aos conquistadores a legitimidade para conquistar. Trata-se de um processo de racionalizao prprio da modernidade: elabora um mito de bondade
(mito civilizador) com que se justifica a violncia e se declara inocente o assassinato do Outro159.
Um ano depois de 1492, Fernando de Arago solicitou ante o Papa Alexandre VI uma
bula pela qual se concedia o domnio sobre as ilhas descobertas. A prxis conquistadora resultava fundada em um desgnio divino. Com efeito, Deus era o fundamento da conquista, sendo
a ltima justificao da ao da modernidade160. Depois de descoberto o espao (como geografia) e conquistado os corpos mediante a fora, era necessrio controlar o imaginrio desde
uma nova compreenso religiosa do mundo da vida. Desta maneira podia fechar-se o crculo e
restar completamente incorporado o indgena ao novo sistema estabelecido: a modernidade
mercantil-capitalista nascente161.
Como j relatado, os conquistadores liam diante dos indgenas o requerimiento antes
de travar a batalha; neste texto, como j mencionado, se propunha aos ndios a converso
religio cristo-europia, para evitar assim a dor e a derrota162. Obviamente, o indgena no
podia compreender a linguagem dos conquistadores. Desde seu mundo mtico, depois da derrota, seus deuses haviam sido vencidos no cu, j que estavam vencidos os exrcitos indgenas na terra, no campo de batalha. O imaginrio indgena devia incorporar os deuses dos vencedores o cerne do etnocdio. O vencedor, por sua parte, no pensou em incorporar elemento algum dos vencidos. Todo o mundo imaginrio indgena era considerado demonaco, e
como tal deveria ser destrudo. Esse mundo era interpretado como o negativo, pago, satnico
e intrinsecamente perverso163.
A chegada dos doze primeiros missionrios franciscanos ao Mxico em 1524 deu incio formal ao que Dussel chama de conquista espiritual. Este processo durar aproximadamente at 1551, data do primeiro Conclio provincial em Lima, ou 1568, data da Junta Magna
convocada por Felipe II. Durante trinta ou quarenta anos se pregar a doutrina crist nas regies de civilizao urbana de todo o continente (mais de 50% da populao total), desde o norte do imprio azteca no Mxico, at o sul do imprio inca no Chile 164. A conquista espiritual
159
Ibidem, p. 56.
Ibidem, p. 56.
161
Ibidem, p. 57.
162
Ibidem, p. 57.
163
Ibidem, p. 57.
164
Ibidem, p. 58-59.
160
48
pressupunha o ensinamento da doutrina crist, as oraes principais, os mandamentos e preceitos, memorizados a cada dia165.
O trabalho de doutrinamento sobre a memria era acompanhado de castigos ao corpo
do colonizado. Advertia-se seriamente aos indgenas sobre os perigos da idolatria, de voltar a
suas prticas ancestrais, socorrendo-se de mdicos e tratamentos, ao mesmo tempo em que se
oferecia o espetculo dos autos de f e grandes celebraes religiosas catlicas166. A instruo
dos indgenas deveria incluir as oraes do Pai Nosso, Ave Maria, Creio, Salve e confisso
em geral, os artigos de f, os mandamentos, os pecados capitais, dentre outros167. Em um ingresso forado em um universo simblico de todo estranho, o indgena deveria assimilar o
impacto discursivo da ordem da transcendncia atravs de uma dominao que se iniciava na
memria168. Inclusive se estabeleciam castigos de aoites para os caciques que no obrigassem os demais a assistir o doutrinamento, o qual, inevitavelmente, deveria ser memorizado. A
efetividade da memria no reclamava sequer uma compreenso superficial dos preceitos,
mas to somente sua memorizao169.
Assim, a inscrio da nova religio, mediante a prtica do etnocdio, se concretizava
no plano material mediante a incluso dos preceitos religiosos tanto na memria quando no
corpo do colonizado. Memorizao da nova religio; castigo corporal em caso de negao
desta conquista espiritual. A violncia no s inscrita no seu corpo, mas guardada na sua
memria. Nietzsche assevera que talvez em toda a sua pr-histria do homem no haja nada
mais terrvel nem mais inquietante que sua mnemotcnica. Marca-se alguma coisa a ferro e
fogo para que isso permanea na memria; isso seria um dos princpios fundamentais mais
antigos da psicologia do mundo170.
Mnica Espinosa, em artigo desenvolvido sobre a relao entre colonialidade, modernidade e genocdio, com nfase nos fenmenos da violncia social e poltica, enraizados no
racismo e nas hierarquias epistmicas da modernidade/colonialidade, oferece uma reflexo
165
Ibidem, p. 61.
LOZANO, Bernardo Rengifo. Naturaleza y etnocidio: relaciones de saber e poder en la conquista de Amrica. Bogot: Tercer Mundo Editores, 2007, p. 68.
167
DUSSEL, Enrique. 1492 el encobrimiento del Otro hacia el origen del mito de la modernidad, op. cit.,
p. 69.
168
Ibidem, p. 69.
169
Ibidem, p. 70.
170
NIETZSCHE, Friedrich. A genealogia da moral. So Paulo: Escala, 2007, p. 59.
166
49
sobre o significado do genocdio como prtica de violncia e efeito de poder, na qual a relao
entre modernidade e colonialidade jogam um papel central171.
Neste trabalho desenvolvido, a autora ressalta que o problema do genocdio est latente na representao mesma, e dinamizado por experincias histricas de hierarquizao social e excluso. O conceito de genocdio cultural (ou etnocdio) no se refere simplesmente a
assassinatos em massa, seno, sobretudo, ao ato de eliminar a existncia de um povo e silenciar sua interpretao do mundo. Isto obtido mediante a supresso da cadeia simblica de
transmisso de suas genealogias. A dimenso simblica da violncia tem efeitos a longo prazo, porque modela condutas e maneiras de ver a realidade e conceber a diferena 172. O genocdio envolve diferentes estratgias fsicas, como o massacre, a mutilao, a privao dos
meios de vida, a invaso territorial e a escravido; estratgias biolgicas que incluem a separao de famlias, a esterilizao, o deslocamento a marchas foradas, a exposio a enfermidades, ao assassinato de crianas e mulheres e, finalmente, estratgias culturais, como a dilapidao do patrimnio histrico, da cadeia de liderana e autoridade, a denegao de direitos
legais, a proibio de lnguas, a opresso e a desmoralizao173.
A negao da memria uma das formas extremas de violncia simblica. As vtimas
so obrigadas a sair da ordem humana, e condenadas a viver em um lugar de no-memria e
no-existncia174. Pode-se afirmar, alm do que fora delimitado pela autora, que esta negao
da memria se constitui como a negao da memria da vtima. No etnocdio, h uma sobreposio de uma memria por outra: a memria implementada pelo colonizador visa eliminar a
memria coletiva das vtimas, mediante a violncia. a fase da conquista espiritual, mencionada por Dussel.
Ademais, seguindo a descrio de Mnica Espinosa, h uma relao ntima entre o
logro da colonizao, a desumanizao de determinados povos e a transmisso de valores
genocidas. A autora menciona a violncia da conquista como o lado obscuro da modernidade,
uma violncia que se justificou com base na suposta misso social da Europa. A autora, fazendo referncia a Dussel, destaca que este processo no s est na base do mito da modernidade, que encobre seu prprio ideal racista e eurocntrico de superioridade racional, polti171
ESPINOSA, Mnica. Esse indiscreto asunto de la violencia: modernidad, colonialidad y genocdio en Colombia.
Disponvel
em:
<http://uniandes.academia.edu/MonicaEspinosaArango/Papers/89243/Ese_indiscreto_asunto_de_la_violencia_m
odernidad_colonialidad_y_genocidio_en_Colombia>. Acesso em: 04 mai. 2011.
172
Ibidem, p. 274.
173
Ibidem, p. 274.
174
Ibidem, p. 274.
50
ca e moral. A modernidade comea com a inveno e o descobrimento do Novo Mundo, e a
transformao deste processo em uma conquista e colonizao.
Assim, houve o encobrimento (ao invs do descobrimento) do Outro, do no europeu175. Os indgenas se viam em uma zona selvagem de poder, marcada por uma
violncia
que se tornou rotineira, sendo que as opes se reduziam capitulao entre assimilao ou
aniquilao; para tanto, a violncia constitutiva da conquista, em particular contra o indgena,
seria uma das faces ocultas de nossa modernidade176. A modernidade ocidental, caracterizada
por sua obsesso em consolidar fora sua viso de mundo como se fosse a nica possvel,
tem tratado de apagar todo trao diferencial, toda etnia. A modernidade ocidental uma autntica novidade na Histria, pois a primeira que se considera a si mesma como a nica verdadeiramente humana177.
Com base nestas exposies, procurou-se expor como um dos fatos mais marcantes da
histria mundial a conquista da Amrica trouxe consigo a prtica do etnocdio em seus
fundamentos. Esta origem da modernidade marca significativamente a histria, demonstrando
ainda como o etnocdio era aplicado enquanto forma de violncia e de poltica. Suprimir a
cadeia de transmisso dos valores sociais e espirituais esta foi a face do etnocdio praticado
na conquista da Amrica.
Nesse sentido, aps abordar sobre as questes relativas cultura e identidade cultural
para fins de esclarecimento sobre o que o etnocdio visa violar, perpassando pelo exemplo
prtico-histrico de efetivao desta prtica a conquista da Amrica e todo seu projeto de
colonialidade passar-se- a tratar da identidade cultural como elemento da corporalidade
humana, ou seja, como a identidade cultural de um grupo humano se constitui como parte
integrante de seu corpo e razo de sua existncia.
175
Ibidem, p. 275.
Ibidem, p. 275.
177
CABEZAS LPEZ, Joan Manuel. Racismo y pensamiento moderno: el ejemplo de la invencin de los camitas y de los subsaharianos. Disponvel em: <http://www.bibgirona.net/salt/activitats/planes/razisme.pdf>. Acesso em: 28 abr. 2011, p. 1.
176
51
1.3 A IDENTIDADE CULTURAL E SUA VINCULAO COM A CORPOREIDADE HUMANA
Este tpico visa demonstrar como a identidade cultural, este sentimento de pertencimento, se vincula realidade corporal humana. Franz Hinkelammert178, em seu trabalho sobre
teologia, leciona que a corporeidade um elemento chave para uma teologia da vida. Com
base neste raciocnio do autor, podemos estender a corporeidade como um elemento importante para a construo de uma cultura, de uma identidade cultural.
1.3 1 Sobre a corporeidade
Para Hinkelammert, no se trata apenas da corporeidade do indivduo, mas da corporeidade do sujeito em comunidade. A comunidade tem sempre uma base e uma dimenso corporal. Trata-se do nexo corporal entre os homens e dos homens com a natureza. Toda relao
entre os homens tem necessariamente essa base corprea e material. A est em jogo toda uma
dimenso tica e espiritual do homem. Existe assim, uma determinada coordenao do nexo
corporal entre os homens, onde suas relaes sociais aparecem como relaes materiais179.
Nesse aspecto se insere a sua relao com a vida humana. A vida real a vida humana material, o intercmbio dos homens com a natureza e com os outros homens180. E isto ocorre, dentre outros aspectos, com a cultura. A identidade cultural pea chave da corporeidade, que
age em funo da produo, reproduo e desenvolvimento da vida humana, pois ela o liame que vincula uma ligao material entre os homens, atravs das crenas, dos ritos, dos valores comunitrios. a reproduo da vida em comunidade, que se d mediante a existncia de
uma cultura.
Como exemplo, pode-se referir a religio. Ela utiliza o corpo e exprime-se de modo
corporal. Ainda que a religio seja essencialmente um conjunto simblico181, ela busca contato com o transcendente atravs do corpo. O corpo submetido ao jogo dos smbolos, e usado em virtude das suas propriedades materiais, mas recebe uma fora puramente simblica182.
178
HINKELAMMERT, Franz. As armas ideolgicas da morte. So Paulo: Paulinas, 1983, p. 7.
Ibidem, p. 7.
180
Ibidem, p. 337.
181
Vide item 1.1 deste captulo, sobre a cultura como sistema simblico.
182
Sociedade de Teologia e Cincias da Religio (Org.). Corporeidade e Teologia. So Paulo: Paulinas, 2005, p.
9.
179
52
A orao no d a vitria na guerra pela fora material das palavras ou gestos, mas pelo valor
simblico que lhe atribudo. Na religio, por exemplo, o corpo no movido de acordo com
os dinamismos que produzem resultados materiais na vida diria. Alm do seu valor para produzir efeitos materiais, o corpo humano fica carregado de sentidos simblicos. O corpo serve
para constituir smbolos183. O seu valor simblico tal que o corpo pode ser marcado por
meio de jejuns, privaes de movimentos, de comidas e bebidas, longas cerimnias litrgicas,
romarias, dentre outros.
Os preceitos e proibies relativas ao corpo no tm relao com o dinamismo biolgico normal, nem sobre o desenvolvimento das foras corporais. So atividades que possuem
um sentido simblico. Na religio, o corpo est subordinado ao simbolismo e serve para criar
smbolos religiosos184. Ainda, as religies revestem o corpo de diversos atributos que lhe conferem um valor simblico: roupas, pinturas, gestos, expresses verbais e corporais, danas,
etc. O corpo fica, de certo modo, estilizado, transformado em objeto simblico. O corpo
chamado a expressar realidades que no so corporais. O corpo chamado a expressar uma
realidade mental, e no material185.
A vida uma experincia que se tem com e no corpo186. Nela, o nascimento, crescimento, funcionamento do organismo (respirao, digesto, reproduo, necessidade de alimentao, sono, contato fsico, contato ntimo, doena, morte) leva a pensar o corpo como
constante a inquestionvel, mas as formas como essas necessidades e funes fsicas so entendidas, tratadas e praticadas contm diversidades, podendo ser entendidas como habitus187.
Este habitus corporal designa disposies, ou seja, maneiras de fazer, duradouras e transferveis, vinculadas a uma determinada classe de condies de existncia, que atuam como fundamento para produo e ordenamento de prticas e representaes, e conformam uma dimenso fundamental de sentido e orientao social, bem como uma manifestao prtica de
experincia e da expresso do valor da prpria posio social188.
O desafio seria buscar entender como o corpo foi construdo, representado e vivido.
Principalmente, buscar focalizar o corpo enquanto processo, destacando-se como suas experi-
183
Ibidem, p. 9.
Ibidem, p. 9.
185
Ibidem, p. 11.
186
Ibidem, p. 67.
187
Ibidem, p. 67
188
Ibidem, p. 67
184
53
ncias foram constitudas por conhecimentos cientficos, saberes populares e tradicionais e
pessoais, grupais, sociais e culturais, e como foram subjetivados189.
Com efeito, no se pode isolar o corpo da cultura. Sem abstrair fatos como nascimento, crescimento, alimentao, reproduo, doena, dor, emoes, movimentos, trabalho, aprendizagem, vesturio, morte, elementos que compem a vida e seu ordenamento social,
pode-se perceber a construo do corpo como sustentculo de princpios ticos (conteno,
abstinncia, moderao, disciplina, persistncia), sobre os quais foram erguidos princpios
estticos (beleza, sade, limpeza, moral, etc)190.
No h nada, portanto, fora do corpo. Mesmo os processos dito espirituais so processos a partir do corpo191. Ele relao, comportamento, ao, reao e deciso192. O ser humano um corpo vivo, uma realidade bio-psico-energtico-cultural, dotada de um sistema perceptivo, cognitivo, afetivo, valorativo, informacional e espiritual193.
Para tanto, a materialidade do corpo no pode ser dissociada de um substrato sociocultural. O corpo fsico a base de nossos sentidos; ele fala a respeito do nosso estar no mundo,
em uma realidade dupla e dialtica: ao mesmo tempo que natural, o corpo tambm simblico. Nesse ponto, pode-se dizer que as diferentes crenas e sentimentos que constituem o
fundamento da vida social so aplicados ao corpo. Temos, ento, no corpo, a juno e sobreposio do mundo das representaes ao da natureza e da materialidade. Ambos coexistem de
forma simultnea e separada. Por isso no podemos apagar do corpo os comportamentos e as
motivaes orgnicas que se fazem presentes em todos os seres humanos, em qualquer tempo
e lugar. A fome, o sono, a fadiga do corpo, a reproduo so motivaes biolgicas s quais a
cultura atribui uma significao especial e diferente194.
a cultura que, sua maneira, inibir ou exaltar esses impulsos, selecionando, dentre
todos, quais sero os inibidos, quais sero os exaltados e, ainda, quais sero os considerados
sem importncia e que, portanto, provavelmente permanecero desconhecidos. Assim, a cultura dita as normas em relao ao corpo, as quais o indivduo acata195. A experincia corporal
189
Ibidem, p. 67.
Ibidem, p. 68.
191
Ibidem, p. 108.
192
Ibidem, p. 116.
193
Ibidem, p. 123.
194
Ibidem, p. 133.
195
Ibidem, p. 133.
190
54
sempre modificada segundo padres culturalmente estabelecidos e relacionados em busca de
afirmao de uma identidade grupal especfica196.
Por derradeiro, cabe mencionarmos que h uma distino importante entre corpo e
corporalidade, ou corporeidade. Aquele aponta a realidade objetiva da nossa condio corprea; realidade visvel, tocvel, mutvel e, talvez, por isso, vtima de muitos equvocos e de
muitas distores por parte das culturas, das sociedades e das religies. Realidade dimensional que no pode ser negada, tampouco superestimada, pelo simples fato de ser uma dimenso
real e indispensvel para a vida, na sua perspectiva ontolgica e tambm no horizonte de sua
construo histrico-relacional. No se pode deixar de afirmar que todas as experincias pessoais se realizam e se explicitam no corpo. Por isso o modo como o percebemos ou como o
tratamos torna-se fundamental para a compreenso e nomeao do ser197.
J a corporeidade mais abrangente. Refere-se ao eu espiritual-corpreo que vive
uma experincia nica e irrepetvel e indica a inteira subjetividade humana sob o aspecto de
sua condio existencial corporal, na configurao constitutiva de sua identidade pessoal.
Corporeidade , portanto, a expresso, o reflexo visvel e a realizao do ser humano uno e
indiviso. uma noo mais ampla de corpo e, na verdade, refere-se totalidade da pessoa.
Assim, em funo de sua condio corprea que o ser humano assume sua vida segundo as
peculiaridades que lhe so prprias: a historicidade, a individualidade e a pertena a uma comunidade humana, sua imanncia no mundo e sua vocao autotranscendncia, sua capacidade de revelar-se e de ocultar-se, sua propenso relacionalidade e ao encontro198.
Nesse sentido, pode-se constatar que a corporeidade envolve mais do que a individualidade corporal da pessoa. Ela abrange, alm disso, sua relacionalidade com os seres humanos
e, por conseguinte, uma estreita relao que passa pelo elemento da cultura. A identidade cultural ser a ponte, o elemento da corporalidade humana que vincula esta corporalidade e que
necessita do sentimento de pertencimento, para o desenvolvimento da vida humana em comunidade. Com efeito, corporeidade e identidade cultural esto estreitamente vinculados.
No entanto, para elucidar ainda mais esta afirmao, faz-se necessrio realar a relao
entre a identidade e a corporeidade.
196
Ibidem, p. 134.
Ibidem, p. 180.
198
Ibidem, p. 181.
197
55
1.3.2 A relao entre corporeidade e identidade cultural
A relao entre corporeidade e identidade cultural se constitui como preceito elementar para demonstrar de que maneira o etnocdio rompe com esta relao, que natural e constitutiva do ser humano. Contudo, necessrio demonstrar como ocorre esta vinculao entre
identidade cultural e corporeidade, ou seja, a constituio da identidade inserida no corpo.
Helena Marieta Rath Kolyniak199 elabora um estudo em que procura mostrar a corporeidade sob a perspectiva de um processo de construo social e histrica do corpo humano, a
partir de relaes recprocas de determinao com a identidade.
Inicialmente, se apresenta uma exposio sobre a questo da corporeidade. Destaca a
autora que ns nascemos como corpo, em torno do qual e com o qual construda nossa histria pessoal, inserida na histria familiar e cultural. Desde o momento do nascimento, o corpo
vai-se conformando como corporeidade, por meio da atividade e da conscincia. Por meio da
ao e da percepo multissensorial (viso, audio, tato, gustao, olfato, dentre outros) aprendemos a perceber e a sentir200. Este processo vai se desenvolvendo ao longo de toda a
nossa vida, no processo contnuo de humanizao, no convvio social. Assim, a corporeidade
poderia ser observada tanto na forma como em seu movimento, expressividade, postura, em
seu padro esttico e, em especial, nos significados e valores a ela atribudos201.
Para a autora, o humano vivo corporeidade, cultura encarnada202. Desta forma,
vivemos um contnuo processo de transformao propiciada pelas relaes e experincias que
nos permitido viver ou que nos so selecionadas e oferecidas pela sociedade (em funo da
cultura, classe social, gnero, posio na famlia, religio, etc)203. Este processo consolida-se
na imagem corporal que construmos de ns mesmos e que mostramos aos outros, em relao
imagem que nos refletida pelo grupo social, com o qual podemos ou no nos identificar,
transformando desta forma nossa prpria imagem e representao204.
199
KOLYNIAK, Helena Marieta Rath. Uma abordagem psicossocial de corporeidade e identidade. Disponvel
em: <ftp://www.usjt.br/pub/revint/337_43.pdf>. Acesso em: 09 jun. 2011.
200
Ibidem, p. 338.
201
Ibidem, p. 338.
202
KOLYNIAK, Helena M. Rath. Identidade e corporeidade: prolegmenos para uma abordagem psicossocial.
2002. 180f. Tese (Doutorado em Psicologia Social) Programa de Ps-Graduao em Psicologia Social da
PUCSP, So Paulo, 2002, p. 4.
203
KOLYNIAK, Helena Marieta Rath. Uma abordagem psicossocial de corporeidade e identidade, op. cit., p.
338.
204
Ibidem, p. 339.
56
Nesse processo, a auto-imagem e a imagem que os outros refletem determinam-se reciprocamente, numa relao construda na histria vivida. Todo este processo de transformaes, de aprendizagem, de diferenciao que determinam e so determinadas pela autoidentificao, pela identificao com outro, pelo sentimento de pertencimento, pela ideologia
desses grupos de pertena, terminaria apenas com a nossa morte, quando deixamos de ser uma
corporeidade, para nos tornarmos apenas um corpo porm, um corpo marcado pela histria205.
Se a corporeidade histria pessoal e cultura encarnadas, seria plausvel a afirmao
de que h uma distribuio ideolgica no apenas do capital, do conhecimento, do trabalho,
mas tambm, conseqentemente, daquilo que nos tornamos. E a corporeidade seria mais do
que mera aparncia ou embalagem do homem: seria a prpria constituio e configurao
material e simblica de nosso ser no mundo206. Identificamo-nos com o corpo quando tomamos conscincia de nossa individualidade, ao deixarmos de nos confundir com o meio ou com
o outro, passando a perceber o limite entre o eu, o outro e o meio. Tambm o fazemos quando
ocorre o processo de identificao com o outro, ao percebermos que somos tambm, em muitos aspectos, iguais ou semelhantes aos outros. Assim, num processo ao mesmo tempo de socializao e de individualizao, reconhecemos de alguma forma que somos radicalmente
semelhantes e ao mesmo tempo completamente diferentes em relao a todo e qualquer outro
ser humano207.
Ao buscar articular identidade e corporeidade, a autora assevera que para compreendermos a identidade enquanto processo histrico deve-se ter em vista dois processos que se
do dialeticamente entre a objetividade atribuda e a subjetividade apropriada, sempre simbolizados na relao inter e intrasubjetiva. Cada relao social, ou intersubjetiva, acontece num
determinado universo simblico208. Este universo determina todo o ritual da relao, determinando assim a forma, a linguagem, os gestos, a apresentao dos sujeitos no contato. E a
construo simblica, encarnada pelo sujeito, a cada momento, no desempenho de um determinado papel social, chamado pela autora de personagem.
A autora ainda refere que se admitirmos que cada vida humana uma histria vivida
por mltiplos personagens encarnados por um mesmo ator social, tendo por base a materialidade da corporeidade, inserida nos universos simblicos por onde transita, a identidade das
205
Ibidem, p. 339.
Ibidem, p. 339.
207
Ibidem, p. 339.
208
Ibidem, p. 339.
206
57
pessoas no seria um outro personagem representado, e sim a articulao destes personagens209.
Como elas seriam organizadas e fariam sentido ao sujeito, o significado atribudo a
cada uma delas, o lugar que elas ocupam, como se tornam subjetividade, tudo isso representaria um complexo de determinaes que se constituem a partir dos personagens e, ao mesmo
tempo, permite que novos personagens vo se formando. O processo de formao da identidade dos indivduos corporalmente encarnados seria empiricamente perceptvel pela maneira
segundo a qual cada um articula e simboliza os mltiplos personagens que os constituem210.
Ademais, a sucessiva e/ou concomitante identificao com diferentes personagens e a
articulao destes, tanto objetiva como subjetivamente, caracterizaria a identidade de cada
indivduo com um processo histrico. Haveria como que uma alternncia e tambm concomitncia no encarnar os diferentes personagens, em movimento de diacronia e de sincronia. Nesse sentido, ser semelhante ao grupo ao qual pertencemos, ao mesmo tempo em que somos
nicos, permitiria a manifestao de um particular que concretiza, na histria pessoal, as mediaes entre o singular e o universal211.
A autora considera que a identidade, em sua totalidade, um processo de concretizao que tem nos personagens seus momentos empricos. Os personagens so, portanto, empiricamente observveis; sua visibilidade consistiria na corporeidade, em sua forma, movimento, expressividade, etc. Isso permitiria evitar o equvoco de supor que a identidade diretamente observvel e redutvel a seus momentos empricos; ainda, estes, ao ocorrerem, iriam
concretizando a identidade, a qual, assim, iria ganhando concretude212.
A autora menciona ainda que a identidade como concretizao da metamorfose humana pressuporia, na sua leitura, a corporeidade. Todo este processo teria duas faces indissociveis: uma natural, que implicaria limites determinados por condies genticas e biolgicas da
prpria espcie humana, as quais se evidenciam pelos processos de crescimento, maturao e
envelhecimento orgnico, e outra psicossociocultural, pela qual o homem d significado a seu
corpo, a seu movimento213.
A especificidade da metamorfose humana seria a dialtica entre natureza e histria: o
sociocultural transformando a natureza, enquanto a natureza transforma o sociocultural, man209
Ibidem, p. 339.
Ibidem, p. 340.
211
Ibidem, p. 340.
212
Ibidem, p. 340.
213
Ibidem, p. 340.
210
58
tendo entre si uma relao dialtica de complementaridade e tenso, de construo e dominao. Observa-se, por um lado, que o corpo e o movimento humanos, os valores estticos atribudos, os conceitos e significados do corpo e de suas manifestaes seriam construes histricas que teriam como substrato as caractersticas biolgicas da espcie214.
Por outro lado, a autora refere que a antropologia social compreende que qualquer
realizao humana tem uma unidade psicolgica, sociolgica e fisiolgica, que se encarna nas
experincias de qualquer indivduo membro de uma determinada sociedade, considerando
assim os gestos corporais como um profcuo objeto de estudo para a compreenso das sociedades; ou seja, podemos acreditar que cada indivduo encarna em seu corpo, por suas experincias sociais, ao longo do tempo, os gestos da cultura dos grupos sociais com os quais convive215.
Nesse sentido esto ligadas as prticas corporais, que definem identidades. Identidade
cultural e corpo esto, desta forma, vinculados; as prticas corporais representam e refletem as
identidades culturais especficas. Patrcio Pereira Alves de Souza216 ressalta que as prticas
corporais seriam as atividades realizadas a partir do corpo que acabam por comunicar mensagens ou transmitir informaes, conhecimentos ou memrias.
Grande parte das atividades humanas seriam organizadas de acordo com esta forma de
comunicao. Assim, as cerimnias, convenes e tcnicas do corpo, guardadas suas devidas
especificidades de conceituao, formariam o conjunto das prticas corporais. Nossas gestualidades, posturas e hbitos seriam, dessa maneira, a conjuno de uma srie de aspectos de
nossas experincias sociais do mundo, que se constituindo em nossa memria cognitiva nos
liga como sujeitos pertencentes a um determinado contexto social e espao-temporal217.
A maneira de nos portarmos corporalmente diante de certas situaes, como de desenvolvimento de certa habilidade de manuseio de instrumentos ou de manifestaes de dana
em certos rituais de festividade seria um resultado de nossas socializaes com nossos grupos
e lugares de vivncia. Acionaramos nestas situaes aspectos memorialmente incorporados.
A corporeidade humana se constitui na relao do sujeito com o seu mundo, portanto da realidade corprea dos sujeitos com seu espao. As prticas de corporeidade se constituiriam co-
214
Ibidem, p. 340.
Ibidem, p. 340.
216
SOUZA, Patrcio Pereira Alves de. Ensaiando a corporeidade: corpo e espao como fundamentos da identidade. Disponvel em: <http://periodicos.ufes.br/geografares/article/viewFile/149/75>. Acesso em: 04 mai. 2011,
p. 37.
217
Ibidem, p. 38.
215
59
mo elementos instauradores de identidades218. As prticas corporais seriam o que de fato marca a construo das identidades. Portar-se de uma ou outra maneira seria o que nos liga, por
exemplo, a um referencial de masculinidade ou feminilidade, de pertencimento a uma certa
nao ou etnia. Por conseguinte, a dimenso espacial, que permite a existncia de um ns,
estaria configurada nesta relao. Construir uma prtica corporal que marque uma diferena
grupal envolveria necessariamente uma apropriao espacial e uma qualificao de espaos
como pertencente a uma determinada coletividade219.
Dentro da questo relativa identidade cultural e a corporeidade, o carter relacional
seria uma das marcas conceituais de prticas identitrias. Este carter relacional se funda por
marcaes simblicas que do carter de distino. Usar determinados adereos, utilizar-se de
certas prticas corporais ou circular por certos espaos diz sobre a pertena a determinado
segmento social220.
Outro fator importante diz respeito memria social. O processo de construo de um
sentimento de identidade est diretamente relacionado s questes de memria social, na medida em que estas duas questes se aproximam enquanto tentativa de negociao e da reconstruo de si. Assim, o autor argumenta que tanto a identidade quanto a memria seriam processos de negociao que tem por inteno criar um sentimento de pertena de uma pessoa
com outra ou com um grupo. Memria e identidade seriam mecanismos de ligao dos indivduos a uma coletividade221.
Dentro desta relao corporeidade-identidade-memria pode-se atribuir como exemplo
o movimento quilombola. Trata-se de um grupo poltico organizado que tem emergido nas
ltimas dcadas no Brasil, conquistando resultados em termos de demarcao de territrio
junto ao Estado. Constituir-se-ia como um exemplo de processo identitrio baseado na corporeidade. A reivindicao principal de grupos quilombolas a demarcao de terras usurpadas
de seu uso por processos de grilagem. A alegao seria de que algumas terras que atualmente
esto em posse de grandes latifundirios e empresas multinacionais na verdade seriam reas
expropriadas de grupos tnicos de origem negra, que foram invadidas por grupos de maior
poderio jurdico e fsico. A reclamao dos quilombolas junto ao Estado a re-apropriao
218
Ibidem, p. 38.
Ibidem, p. 39.
220
Ibidem, p. 40.
221
Ibidem, p. 40.
219
60
destas terras pelos grupos que primeiramente a lavraram e nelas construram seus referenciais
scio-culturais de existncia222.
A base para a reclamao identitria, neste caso, basear-se-ia na questo consangnea:
quilombola quem negro ou descendente direto deste grupo. A reivindicao seria, entretanto, a demarcao de territrios que pelo seu uso social foram material e simbolicamente
apropriados por estes grupos. Trata-se, pois, da constituio de uma identidade territorial, em
que os elementos de pertena se estabelecem tanto por questes ligadas a questes corporais
quanto a extenses espaciais. As manifestaes quilombolas por demarcao de reas e asseguramento de direitos polticos se estabelecem a partir da corporeidade, que neste caso o
elemento demarcador da identidade. Outros exemplos de polticas de identidade baseadas na
corporeidade tambm so presentes nas lutas de grupos indgenas223.
No caso, os indgenas tambm se constituem como um exemplo na prxis da vinculao entre a identidade e a corporalidade. A seguir, sero abordados aspectos relacionados
corporalidade, tica e identidade em dois grupos indgenas: os Yawanawa e os Yaminawa,
dois grupos que vivem na regio amaznica brasileira.
Desde a dcada de 70, muitos etnlogos tm ressaltado a importncia, entre grupos
indgenas amaznicos, de muitas prticas que tm por objeto de atuao o corpo. Trata-se de
uma idia de que nessas sociedades o corpo culturalmente construdo e ocupa uma posio
organizadora central, constituindo uma matriz de significados e objeto de significado social224. Laura Prez Gil menciona que a construo e o tratamento do corpo tem sido um tema
fundamental de trabalhos significativos. No caso dos Yawanawa e dos Yaminawa, buscar-se-
refletir sobre a relao da corporalidade com a tica e a identidade grupal, a fim de demonstrar como a corporeidade se relaciona umbilicalmente com a identidade.
Para tanto, seguindo a orientao dessa autora, podemos primeiramente explorar a
concepo de corpo nessas culturas. A concepo de corpo possui uma importncia significativa na definio e redefinio da identidade tnica e individual225.
A fabricao do corpo, para estas culturas, j comea na concepo e formao do
feto, conforme a idia de que o feto o resultado da acumulao progressiva de smen na
barriga da me. Uma das implicaes desta teoria de que os pais, filhos e irmos plenos es222
Ibidem, p. 40.
Ibidem, p. 41.
224
GIL, Laura Prez. Corporalidade, tica e identidade em dois grupos pano. Disponvel em:
<http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/ilha/article/view/15240>. Acesso em: 09 jun. 2011, p. 25.
225
Ibidem, p. 26.
223
61
to ligados para a toda a vida por laos de identidade corporal. A idia desse conjunto de
parentes prximos, definido pelo compartilhamento de substncias corporais, se expressa em
Yawanawa atravs do conceito imiki, onde imi significa sangue, e ki seria um sufixo que
indica que o afirmado pelo falante verdadeiro226.
Relacionado com este conceito existe outro denominado yura, que se encontra entre os
Yaminawa, e que serve igualmente para se referir s relaes de parentesco. Sinteticamente, a
palavra yura comporta trs possveis tradues: pessoa, enquanto condio de humanidade
e que adquire significado se oposto a outro tipo de seres diferentes, por exemplo, animais ou
yuxin (espritos, almas); parente, enquanto um conjunto de pessoas com as quais se reconhece uma relao de parentesco, seja dentro ou fora do prprio grupo; e por ltimo, pode
denotar a palavra corpo227.
Laura Prez Gil ressalta que as implicaes desta acepo de yura adquirem maior
relevncia e significao se postas em relao com a terceira acepo, que significa corpo.
Tanto entre os Yaminawa quanto entre os Yawanawa, yura significa corpo, mas aludindo
sempre a uma pessoa viva, isto , ao corpo enquanto ocupado e animado por componentes
espirituais que conformam a pessoa. Por sua vez, o corpo de uma pessoa morta designado
em Yawanawa com a palavra shaka, que significa casca, e em Yaminawa com o termo kaya228.
Para a autora, esta distino apontaria para o fato de que o corpo, yura, o locus de
interao, durante a vida, mas tambm a sede da sociabilidade do indivduo, o ponto a partir
do qual irradiam os elos de relao que o unem aos outros membros do grupo ao qual pertence. Assim, o conceito de yura condensa o princpio do compartilhamento de substncias corporais entre parentes prximos, e articula a individualidade com a identidade grupal. Ainda,
utilizar a idia de corpo para se referir coletividade no seria uma metfora: expressaria o
fato de que o corpo individual no acaba na fronteira imposta pela pele, mas forma parte de
um corpo supra-individual. Desse aspecto do pensamento indgena derivaria o princpio de
que tudo o que acontece com o corpo de uma pessoa tem repercusses nos corpos das outras
que esto ligadas a ela, e portanto no corpo coletivo como um todo229.
A autora, a fim de ilustrar esta concepo de corpo apresentada por estes grupos indgenas, faz aluso a um comentrio de um Yaminawa. Trata-se de uma interpretao sobre as
226
Ibidem, p. 26.
Ibidem, p. 27.
228
Ibidem, p. 27.
229
Ibidem, p. 27.
227
62
conseqncias que derivaram da morte de vrias pessoas de seu grupo como resultado de agresses xamnicas de outra tribo, os Txitonawa. Um ancio indgena (Toms) teria contado
que na poca anterior ao contato definitivo com os brancos, quando ainda andavam de forma
nmade na floresta, os Yaminawa se uniram durante um tempo aos Txitonawa, mas o conflito
estourou entre eles e os Yaminawa mataram vrios Txitonawa, provocando nova separao.
De acordo com ele, a razo do conflito teria sido a morte de vrios Yaminawa, fundamentalmente mulheres cuja causa foi atribuda a aes de feitiaria dos Txitonawa. Para Toms, essas mortes iam alm da perda de seus entes queridos, pois tiveram como resultado o fato de
muitas crianas terem ficado rfs e, portanto, no ser criadas e alimentadas adequadamente,
crescendo fracas. Isto teria como efeito o enfraquecimento geral do grupo: o debilitamento
dos corpos traz como conseqncia o debilitamento do coletivo230.
Para a autora, esse comentrio diria respeito no somente imbricao existente entre
os indivduos que compartilham uma identidade corporal que os engloba, mas tambm importncia que tem um cuidado adequado da criana, de seu corpo, para que se converta num
adulto com plenas capacidades. Para tanto, o intercmbio de substncias corporais estaria na
gnese da pessoa, e a troca contnua de outros elementos, principalmente alimentos, constituiria um processo essencial para o desenvolvimento corporal dos indivduos e da sociabilidade
em muitas sociedades indgenas. O compartilhar e a generosidade esto no mago da sociabilidade Yawanawa e Yaminawa, constituindo elemento central no conceito de pessoa231.
Outro aspecto relacionado teoria de construo do corpo nestas sociedades amaznicas seria a idia de que, atravs de determinadas aes s quais submetido, o corpo modelado em funo de um determinado ideal relativo s qualidades e capacidades valorizadas
culturalmente, e que um adulto deve possuir para desempenhar adequadamente as suas funes. Com efeito, a fabricao do corpo seria um processo que visa a socializao do indivduo. Nesse sentido, a autora adverte que seria interessante no pensar o corpo no do ponto de
vista fisiolgico, mas como um conjunto de afeces ou modos de ser que constituem um
habitus, sendo essas afeces e capacidades determinadas culturalmente conforme um modelo
de pessoa232.
Nestas sociedades indgenas, so utilizadas tcnicas que possuem por objeto de atuao o corpo. Para educar uma criana, por exemplo, lhe transmitindo os valores ticos e conseguir que aquela desenvolva as capacidades que lhe permitam coloc-las em prtica com
230
Ibidem, p. 28.
Ibidem, p. 28.
232
Ibidem, p. 29.
231
63
sucesso, necessrio modelar e dar uma certa feio ao seu corpo. A transformao corporal
envolve a transformao global da pessoa. Esta preparao do corpo comea logo aps o nascimento, j que o costume de pintar o recm-nascido com jenipapo, por exemplo, tem essa
finalidade, alm da alimentao, que tem um papel fundamental no processo de fortalecimento corporal, para um corpo saudvel 233.
Outro exemplo caracterstico de atuao sobre o corpo como meio de munir a pessoa
de certas capacidades valorizadas socialmente e, portanto, constituinte de uma identidade a
iniciao xamnica. Para alcanar o poder xamnico, o iniciando deve se submeter a certos
processos que tm como resultado a transformao do corpo, e consequentemente de seu ser.
Esses processos consistem fundamentalmente na ingesto de substncias xamnicas; na memorizao de um acervo considervel de conhecimentos, principalmente rezas e mitos; na
superao de certas provas que envolvem dor e sofrimento; e, finalmente, no cumprimento de
uma dieta alimentar e uma abstinncia sexual e social rigorosas234.
H algumas diferenas nos processos de iniciao xamnica entre Yaminawa e Yawanawa; contudo, os princpios que subjazem a eles so os mesmos, e todos tm o objetivo de
provocar algum tipo de mudana no corpo com vistas a aumentar o poder. A ingesto de ayahuasca, tabaco ou pimenta no tem como nica finalidade provocar estados alterados de conscincia, mas considera-se que fortalecem o corpo, no sentido de endurec-lo, faz-lo resistente, e atravs do seu acmulo aumentar o poder da pessoa. Alm da introduo destas substncias, o poder incrementado por meio das picadas de vespas e formigas235.
Um dos princpios fundamentais que regem a iniciao xamnica o de introduzir
substncias consideradas amargas no corpo. O amargo associado estreitamente ao poder
xamnico. A importncia da introduo de amargor no corpo durante a iniciao se expressa
na ingesto de certas substncias, e sobretudo na dieta, que evita todo alimento doce e prescreve que as comidas devem ser apimentadas, azedas, amargas236.
As dietas tm tambm como finalidade, junto com a viglia continuada, pr o iniciando num estado de sofrimento fsico, j que esse estado de sofrimento o que se considera
mais adequado para maximizar a capacidade de aprendizado e memorizao do conjunto de
conhecimentos que o iniciando deve adquirir. Em outro contexto, encontra-se igualmente a
ideia de que a viglia melhora as capacidades de aprendizado: trata-se do costume praticado
233
Ibidem, p. 31.
Ibidem, p. 33.
235
Ibidem, p. 33.
236
Ibidem, p. 34.
234
64
pelos Yawanawa de acordar as crianas e adolescentes de madrugada, e no deix-los dormirem com o fim de educ-los. Assim, a disposio adequada para receber ensinamentos e aprend-los aquela que implica algum sofrimento: a aquisio de conhecimento passa necessariamente por um aumento da resistncia, pelo endurecimento do corpo237. O objetivo fundamental do processo iniciatrio consiste em desencadear a transformao corporal ligada
aquisio de poder. So as substncias (tabaco, ayahuasca, picadas, alimentos amargos, etc)
que a pessoa introduz no seu corpo, e que dali em diante passam a form-lo, as que constituem fundamentalmente o seu poder238. Assim, a identidade constituda na manipulao corporal. Tais prticas demonstram claramente a relao entre corporalidade e a construo da
identidade, a ligao estreita entre a mudana corporal e a transformao da identidade239.
Desta forma, o corpo constitui o ponto de articulao entre a tica e a identidade cultural, entre a individualidade e a coletividade. A possibilidade de mudar atravs da transformao do corpo remete ideia de que a pessoa amerndia uma constituio processual e se
constri paulatinamente durante o ciclo vital e na interao com a alteridade240.
A partir de todas estas consideraes, buscou-se expor como a corporalidade se vincula com a identidade cultural, como esta constituda pelo corpo. O que define a identidade a
corporalidade, que exprime atravs desta mesma corporalidade sua crena, suas prticas e sua
relao com o mundo. A identidade, portanto, no se faz presente sem o elemento corporal,
que um fator vital para a manuteno e transmisso de uma identidade cultural. A corporalidade o fator importante para a transmisso da cadeia de valores e crenas sendo, portanto,
identidade cultural e corporalidade traos indissociveis. A seguir, no decorrer deste estudo,
buscaremos apresentar de que forma esta cadeia corporal de transmisso de uma cultura
rompida pelo fenmeno denominado etnocdio.
237
Ibidem, p. 34.
Ibidem, p. 34.
239
Ibidem, p. 35.
240
Ibidem, p. 42.
238
65
CAPTULO II PERSPECTIVA SOCIOLGICA
2.1 RISCO SOCIAL E HOMOGENEIZAO
Este tpico versa sobre a relao entre o risco social e a tendncia de homogeneizao,
que caracterstica das sociedades modernas. Nossa sociedade atravessa um espao de expanso que, conjuntamente com os fatores econmicos, expande igualmente sua cultura e seu
modo de vida como o nico a ser seguido.
Nesse campo de anlise, pode-se referir que nossa sociedade atravessa uma escala jamais vista na Histria, devido possibilidade de destruio no somente da vida natural, mas
de outras comunidades humanas. H uma potencialidade de se gerar genocdios e etnocdios,
devido expanso mercantil e cultural que se torna homogeneizante.
Compreender o processo de modernizao/expanso mais uma das chaves para entender o conjunto de prticas que revestem a realidade presente. A idia de modernidade, em
sntese, refere-se idia de novo, avanado, racional. Tal concepo responsvel pelo fenmeno da globalizao, to presente na realidade atual, e que ainda possui em seu bojo o processo modernizador.
Em uma reflexo acerca deste processo de modernizao, Zygmunt Bauman241, referindo-se ao advento da Era Moderna, esclarece que
...o advento da era moderna significou, entre outras coisas, o ataque consciente e sistemtico dos assentados, convertidos ao modo sedentrio de vida, contra
os povos e o estilo de vida nmades, completamente alheios s preocupaes territoriais e de fronteiras do emergente Estado Moderno.
(...)
Os nmades, que faziam pouco das preocupaes territoriais dos legisladores e ostensivamente desrespeitavam seus zelosos esforos em traar fronteiras, foram colocados entre os principais viles na guerra santa travada em nome do progresso e da civilizao. A cronopoltica moderna os situa no apenas como seres
inferiores e primitivos, subdesenvolvidos e necessitados de profunda reforma e esclarecimento, mas tambm como atrasados e aqum dos tempos, vtimas da defasagem cultural, arrastando-se nos degraus mais baixos da escala evolutiva, e imperdoavelmente lentos ou morbidamente relutantes em subir nela, para seguir o padro
universal de desenvolvimento.
241
BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Lquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001, p. 19-20.
66
Pelas descries feitas, corroboradas ainda pelas informaes vertidas nos tpicos anteriores, verifica-se que o homem moderno, a partir de sua concepo de mundo, veio Amrica com o propsito de aniquilar tudo que no fosse identificado consigo mesmo. As implicaes do processo expansionista e colonizador no trouxeram apenas o desejo de riqueza e
prestgio: trouxeram ainda uma perspectiva, por parte deste homem, de um ideal de saber, de
um ideal de constituio da sociedade, a expanso de seus valores e o extermnio da cultura
alheia, justificando-se em face da sua superioridade.
Mas para compreender todo este processo de modernizao, necessrio tecer alguns
aspectos basilares, retomando a noo de colonialidade do poder, j exposta no primeiro captulo deste trabalho242. De importncia para este estudo, a reflexo da Anbal Quijano defende
a tese de que a atual globalizao resultante de um processo que se iniciou com a constituio da Amrica e do capitalismo colonial/moderno e eurocentrado, um novo padro de poder
mundial. Um dos seus eixos fundamentais seria a idia de raa243, construo mental que expressaria a dominao colonial que desde ento permeia as dimenses do poder mundial, contribuindo ainda para este processo a sua racionalidade que lhe especfica, o eurocentrismo.
Para tanto, este eixo de estudo, que compreende a constituio do capitalismo moderno a partir do eurocentrismo e da noo de raa, perfaz-se em uma genealogia do processo colonial,
que se constitui em um padro de colonialidade do poder at hoje hegemnico.
Em primeiro lugar, a idia de raa na Amrica foi uma forma de legitimar as relaes
de dominao impostas pela conquista, como vimos. A constituio da Europa e a expanso
do colonialismo europeu at a Amrica e outras regies conduziram a uma interpretao eurocntrica do mundo, tendo construdo a idia de raa como um fenmeno natural das relaes
coloniais de dominao entre europeus e no-europeus244.
Em segundo lugar, com o capitalismo mundial que passa a emergir, a Europa no somente tinha controle do mercado mundial, mas conseguiu impor seu domnio colonial em
todas as regies do planeta, incorporando-a ao seu sistema-mundo e ao seu padro de poder. E
no processo que levou a este resultado, os principais fatores contribuintes foram: a) a expropriao das populaes colonizadas, em benefcio do capitalismo do centro europeu (poden242
QUIJANO, Anbal. Colonialidade do poder, eurocentrismo e Amrica Latina. Disponvel em:
<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/lander/pt/Quijano.rtf>. Acesso em: 30 jan. 2011.
243
Como exemplo caracterstico deste pensamento, pode-se citar os trabalhos e Nina Rodrigues, que disserta,
dentre outros aspectos, sobre uma incapacidade orgnica por parte dos aborgenes de adaptao social, sendo
considerados raas inferiores. Vide RODRIGUES, Nina. As raas humanas e responsabilidade penal no Brasil. Rio de Janeiro: Guanabara, 1891, p. 34-35.
244
QUIJANO, Anbal. Colonialidade do poder, eurocentrismo e Amrica Latina, op. cit., p. 04.
67
do-se inserir principalmente a tomada de territrios); e b) a imposio da cultura dos dominadores em tudo que fosse til para a reproduo da dominao, notadamente no campo da atividade religiosa. A partir destes procedimentos, desenvolveu-se o etnocentrismo e a classificao racial universal. Neste sentido, os europeus eram considerados naturalmente superiores
aos demais povos do mundo, em especial frente aos colonizados245.
Com base nos fundamentos expostos, pode-se vincular esta reflexo com o processo
de modernizao246. Os europeus imaginavam a realidade a partir deste sistema de pensamento, o que os levou a pensarem-se como os modernos da humanidade, e sua histria como a
mais avanada da espcie. Isto ocorreu pelo fato de que eles foram capazes de difundir e estabelecer esta perspectiva histrica como algo hegemnico dentro do padro mundial de poder247.
No entanto, pode-se atribuir um conceito de modernidade novo no atual sistemamundo. Justifica-se isto pelo fato de que o atual padro de poder mundial o primeiro efetivamente propagado em escala global na histria, produzindo mudanas em todas as relaes
sociais ao redor do globo. Esta imposio adveio do processo de ascenso do capitalismo, que
pe como regra geral nas relaes sociais a explorao, a dominao e a degradao dos demais modos de vida em prol da expanso econmica. A modernidade, portanto, tambm
uma questo de conflito de interesses sociais, a partir do qual imperou o eurocentrismo248. No
momento em que esta modernizao passa a tomar efeitos planetrios, alcanando as partes
mais remotas do planeta, a quase totalidade da produo e do consumo humanos se tornam
mediados pelo dinheiro e pelo mercado. Assim, a mercantilizao, a comercializao e a monetarizao dos modos de subsistncia dos seres humanos penetraram em muitos recantos do
globo terrestre249.
Com base nestas perspectivas, o mundo europeu ingressa na realidade latinoamericana, incorporando-se e estabelecendo a imposio do processo civilizador250. Os noeuropeus, no modernos, com o tempo sero modernizados. O homem moderno, durante a
245
Ibidem, p. 06.
Pode-se entender o processo de modernizao como o salto tecnolgico de racionalizao e transformao do
trabalho e da organizao, englobando para alm disto muito mais: a mudana dos caracteres sociais e das biografias padro, dos estilos e formas de vida, das estruturas de poder e controle, das formas polticas de opresso e
participao, das concepes de realidade e das normas cognitivas. Nesse sentido, vide BECK, Ulrich. Sociedade
do risco. So Paulo: Ed. 34, 2010, p. 23.
247
QUIJANO, Anbal. Colonialidade do poder, eurocentrismo e Amrica Latina, op. cit., p. 06.
248
Ibidem, p. 13.
249
BAUMAN, Zygmunt. Vidas desperdiadas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005, p. 13.
250
Com relao ao processo civilizador, vide ELIAS, Norbert. O Processo Civilizador. Vol. 2. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar, 2008.
246
68
imposio da civilizao aos des-civilizados, buscar expandir-se como se fosse o nico, o
eternamente novo, imagem a qual todos devero aceitar como padro dominante e serem subjugados, execrando culturas e modos de viver distintos. Como refere Bauman, a existncia
moderna na medida em que guiada pela premncia de projetar o que de outra forma no
estaria l: de projetar a si mesma251.
Para tanto, seguiremos com alguns aspectos caractersticos da sociedade do risco, bem
como a produo da homogeneizao como projeto desta sociedade expansiva.
2.1.1 Sobre a sociedade do risco: notas gerais
De fato, a mente moderna surge com a idia de que o mundo pode ser transformado.
Esta modernidade refere-se rejeio do mundo tal como ele tem sido at agora e deciso
de transform-lo. A forma de ser moderna possui uma mudana compulsiva, obsessiva: refuta-se o que meramente , para que seja dado lugar ao que poderia ou deveria ser posto em
substituio a este . Trata-se de um mundo que possui o desejo e a determinao de constantemente se refazer, um permanente movimento. Diante disto, a escolha ser modernizar-se ou
perecer252. Uma espcie de conduo compulsiva e viciosa de projetos modernizadores, um
estado de perptua emergncia253 e de risco constante.
Outro fenmeno que caracterstico da modernidade, do processo de modernizao: a
produo do refugo humano. Os seres humanos no reconhecidos como tais configuram-se
como o produto inevitvel da modernizao. o efeito colateral da construo da ordem
que define quais parcelas da populao sero deslocadas, inaptas ou indesejveis e do progresso econmico, que no pode se concretizar sem degradar ou desvalorizar modos anteriores de vida254. Bauman ressalta que o modelo tpico de pessoa excluda o denominado homo
sacer de Giorgio Agamben255, uma categoria do antigo direito romano que era estabelecida
fora da condio de ser humano sem ser trazida para o meio da lei divina. A vida de um homo
sacer no possui valor, seja na perspectiva humana ou divina. Privada da lei humana e divina,
251
BAUMAN, Zygmunt. Modernidade e Ambivalncia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999, p. 15.
BAUMAN, Zygmunt. Vidas desperdiadas, op. cit., p. 34.
253
Ibidem, p. 41.
254
Ibidem, p. 12.
255
Conforme os estudos de Agamben, o homo sacer era uma figura existente no direito romano, indivduo que
poderia ser executado por qualquer pessoa; uma espcie de assassinato permitido. A impunidade de sua morte
era um dos elementos que caracterizavam o homo sacer. Vide AGAMBEN, Giorgio. Homo sacer o poder
soberano e a vida nua I. Belo Horizonte: UFMG, 2002, p. 79-81.
252
69
sua vida intil. Na verso atual, Bauman salienta que o homo sacer se constitui como a principal categoria de refugo humano estabelecido no curso da produo de domnios soberanos256.
Contudo, o que relaciona esta produo de excedentes humanos, de dejetos improdutivos, com a incorporao de outras etnias e o processo de modernizao? A era moderna foi
caracterizada como o perodo de grandes migraes. O extermnio de povos indgenas foi uma
conseqncia da abertura de novos espaos para os excedentes populacionais da Europa, preparando estes locais como depsitos do refugo humano produzido pelo progresso econmico.
Theodore Roosevelt, antigo presidente dos Estados Unidos, apresentava o extermnio dos povos indgenas norte-americanos como um servio altrusta, que era prestado em defesa da
civilizao257. A expanso econmica, condio do processo de modernizao, se espalhar
pelos locais mais remotos, exterminando todas as formas de vida remanescentes que, com
suas culturas originrias, no faziam parte da sociedade do capital.
Por fim, outro elemento que caracteriza esta modernizao a necessidade de assimilao. Na forma literal, assimilar significa tornar semelhante a. Nos estudos biolgicos do
sculo XVI significava a absoro e incorporao realizados por organismos vivos258. E este
processo se refora com o Estado moderno, que busca eliminar organizaes sociais distintas,
promovendo uma espcie de uniformidade259, de homogeneidade, mtodo caracterstico das
medidas expansionistas da poca do Brasil colonial e neocolonial, por exemplo. Substituir o
estado natural das coisas por uma ordem artificialmente planejada: eis a funo do programa
poltico do projeto civilizador260 (ou seja, como conduzir a populao de determinada forma
na produo de um saber uno e na instaurao de um poder totalizante).
Com base nestas exposies anteriores, pode-se dizer que as etnias que no se constituem como corpo produtivo, quando se integram totalmente no nosso sistema global pagam
com suas terras, com a perda de suas identidades culturais e muitas vezes com suas vidas. E o
que ir contribuir para isto ser a modernizao, com seu efeito mais atual: a globalizao.
Esta se define como a intensificao das relaes sociais em escala mundial, que ligam lo-
256
BAUMAN, Zygmunt. Vidas desperdiadas. op. cit., p. 44.
Ibidem, p. 51.
258
BAUMAN, Zygmunt. Modernidade e Ambivalncia. op. cit., p. 115.
259
Ibidem, p. 117.
260
Ibidem, p. 118-119.
257
70
calidades distantes de tal maneira que acontecimentos locais so modelados por eventos ocorrendo a muitas milhas de distncia e vice-versa261.
A adaptao de todo o planeta ao mercado livre reconhece apenas como fundamento
moral os valores gerados pelas necessidades desta globalizao262. Isto tem por efeito a devastao de florestas e de modos de cultura originariamente mantidas h geraes, fomentando
um contnuo processo de insero de etnias a serem expoliadas, proletarizadas e por fim excludas pela mesma causa que as incorporou (a modernizao). A Amrica Latina vem sofrendo ajustes estruturais mortais para pagar as dvidas contradas por ocasio da construo
de grandes obras como Grande Carajs, do Polonoroeste, que submergiu mais de 30 mil indgenas da Amaznia. Obras muitas vezes sem estudo de viabilidade ambiental e at mesmo
ocultando a existncia de povos originrios na localidade vm destruindo modos de vida milenares263, mediante a remoo local ou a insero destas etnias diversas dentre os excludos
urbanos, mortos-vivos da globalizao.
Darcy Ribeiro, abordando sobre como ocorre o processo a que denomina de transfigurao tnica, assevera que os ndios Agavotokueng, por exemplo, que se encontram nas nascentes do rio Xingu, sofrem com o efeito da bolsa de Nova York ou a paz e guerra entre Estados longnquos. Isto ocorre devido cotao internacional da borracha, da castanha e de alguns artigos florestais, fato este que faz avanar ou refluir ondas de seringais e castanheiros
que vo desalojando tribos vizinhas e lanando-as sobre as aldeias desse povo264.
O modelo globalizado caracteriza-se pelo seu ataque de forma oculta: no se sabe como, onde, quando ou a quem ser dirigido o prximo ato que dever remover os empecilhos
humanos ou o refugo humano que j se incorporou no sistema de proletarizao, mas no
consegue sobreviver a esta continuao de modelo excludente. a extenso totalizante a todos os aspectos da vida265. E neste modelo globalizado, em que o processo de modernizao
constantemente circulante, a noo de risco de suma importncia266.
Niklas Luhmann refere que as antigas civilizaes desenvolveram modos de dotar de
certeza a existncia futura, mediante mecanismos culturais. Obviamente, em suas pocas no
261
GIDDENS, Anthony. As conseqncias da modernidade. So Paulo: UNESP, 1991, p. 69.
PERRAULT, Giles. O Livro Negro do Capitalismo. 4 ed. Rio de Janeiro: Record, 2005, p. 465.
263
Ibidem, p. 473.
264
RIBEIRO, Darcy. Os ndios e a Civilizao. So Paulo: Companhia das Letras, 2005, p. 295.
265
BAUMAN, Zygmunt. Globalizao: as conseqncias humanas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999, p. 73.
266
Com relao sociedade do risco, vide BECK, Ulrich. Sociedade do risco. So Paulo: Ed. 34, 2010.
262
71
existia a idia de risco tal qual se conhece hoje267. Confiava-se majoritariamente na adivinhao, embora esta no garantisse uma segurana plena a respeito dos acontecimentos vindouros. J no antigo comrcio martimo oriental existia a conscincia do risco com os correspondentes ordenamentos jurdicos. A viagem pelo mar e o comrcio so casos em que o emprego
da palavra freqente. Os seguros martimos seriam um primeiro exemplo da planificao do
controle do risco268.
O que subjaz a esta idia que h demasiadas razes para que algo possa mudar seu
curso, repentinamente, e que no se pode considerar em um clculo racional. Esta mxima nos
conduz ao centro da controvrsia poltica atual sobre as conseqncias dos problemas tecnolgicos e ecolgicos da sociedade moderna269.
O termo risco se refere a decises nas quais se vincula o tempo, ainda que o futuro no
possa ser conhecido suficientemente. noo de risco passa-se a se considerar um clculo de
probabilidade, ou seja, diz respeito aos fundamentos das decises seguras em relao a um
futuro sempre incerto. Com a ampliao das pretenses de saber, as antigas limitaes cosmolgicas, as essncias e mistrios da natureza so substitudos por novas distines, especificamente da esfera do clculo racional. Assim seria o que se entende por risco at nossos dias270. Desta forma, o passado perde seu poder de determinao sobre o presente. Entra em seu
lugar o futuro ou seja, algo que ainda no existe como a causa da vida e da ao no presente. Quando se fala de riscos, discutimos algo que no ocorre ainda, mas que pode surgir se
no for imediatamente alterada a direo do barco. Os riscos imaginrios so o motor que faz
andar o tempo presente. Quanto mais ameaadoras as sombras que pairam sobre o presente,
anunciando um futuro tenebroso, mais fortes sero os abalos, hoje abarcados pela dramaturgia
do risco271.
Ulrich beck ressalta que, para se compreender o advento da sociedade do risco, devese entender a idia de modernizao reflexiva. Esta no diria respeito reflexo, mas a uma
autoconfrontao: ao trnsito da poca industrial para a poca do risco se realiza annima e
imperceptivelmente no curso da modernizao autnoma conforme efeitos colaterais latentes.
Por modernidade reflexiva deve-se entender a autoconfrontao com os efeitos da socieda-
267
GIDDENS, Antony; BAUMAN, Zigmunt; LUHMANN, Nicklas; BECK, Ulrich; Las consecuencias perversas de la modernidad modernidad, contingencia y riesgo. Barcelona: Antropos, 1996, p. 130.
268
Ibidem, p. 132.
269
Ibidem, p. 134.
270
Ibidem, p. 135.
271
BECK, Ulrich. O que globalizao? So Paulo: Paz e Terra, 1999, p. 178.
72
de do risco, efeitos que no podem ser mensurados e assimilados pelos parmetros institucionalizados da sociedade industrial272.
Para Beck, com a sociedade do risco os conflitos de distribuio de bens sociais (postos de trabalho, seguridade social, dentre outros), que explicitam a contradio fundamental
da sociedade, de carter interclassista, so sobrepostos pelos conflitos de distribuio dos
danos coletivamente produzidos273.
Para o autor, a denominao sociedade do risco trata-se de dar uma forma conceitual
a esta relao do reflexivo. A forma conceitual da sociedade do risco designa desde um ponto
de vista terico-social e de diagnstico cultural um estgio da modernidade em que, com o
desenvolvimento da sociedade industrial at nossos dias, as ameaas provocadas ocupam um
lugar predominante. Ainda, pode-se dizer que as sociedades modernas passam a se confrontar
com os fundamentos e limites de seu prprio modelo, ao mesmo tempo que no modificam
suas estruturas, no refletem sobre seus efeitos e privilegiam uma poltica continuista desde o
ponto de vista industrial274.
Para Beck, ao acmulo de poder do progresso tecnolgico-econmico cada vez
mais ofuscado pela produo de riscos; no centro da questo esto os riscos e efeitos da modernizao, que se precipitam sob a forma de ameaas vida de plantas, animais e seres humanos. Ainda, estes riscos no podem ser limitados geograficamente ou em funo de grupos
especficos. Pelo contrrio, contm uma tendncia globalizante que tanto se estende produo e reproduo como atravessa fronteiras nacionais, e com um novo tipo de dinmica social
e poltica275. So, portanto, de alcance global, sendo um produto de srie do maquinrio industrial do progresso276. A sociedade do risco mostra-se como uma sociedade catastrfica277.
Boaventura Souza Santos, com base nos estudos de Ulrich Beck, caracteriza a sociedade do risco como um perigo externo, fenmeno global, que escapa percepo humana; e
os impactos provenientes das situaes de risco no escolhem grupos especficos: incidem
sobre a existncia humana, em escala global278. Poder-se-ia tomar como exemplo a questo da
sustentabilidade ambiental; contudo, este risco no est restrito a este aspecto: tambm pode
272
GIDDENS, Antony; BAUMAN, Zigmunt; LUHMANN, Nicklas; BECK, Ulrich; Las consecuencias perversas de la modernidad modernidad, contingencia y riesgo, op. cit., p. 203.
273
Ibidem, p. 203.
274
Ibidem, p. 204.
275
BECK, Ulrich. Sociedade do risco, op. cit., p. 16.
276
Ibidem, p. 26.
277
Ibidem, p. 28.
278
SANTOS, Boaventura de Sousa. A Globalizao e as Cincias Sociais. 2 ed. So Paulo: Cortez, 2002, p.
199.
73
estar associado desagregao de grupos sociais e prticas sociais. Eis mais um efeito do processo de modernizao mediante a extenso do processo globalizante: o agravamento do risco
social na contemporaneidade.
Esta concepo de risco social possui uma importncia salutar. Tendo em vista que a
modernizao agora globalizada busca se instaurar sobre todas as relaes, sobre todos os
seres humanos, um dos alvos certamente ser a incorporao de etnias que mantm estruturas
sociais originrias, como os povos indgenas. Focalizando o aspecto do risco social para estes
povos, pode-se inferir que devido a sua fragilidade frente ao processo modernizante, estes
povos devero ser assimilados (incorporados) de qualquer maneira, buscando no apenas realizar expropriaes constantes, mas execrar suas culturas e inseri-los nos mecanismos de poder da razo governamental modernizante279 (nas camadas pobres das zonas colonizadas,
transformando-os de includos a excludos). A noo de risco, neste aspecto, denota-se a partir
do fato de que estes grupos tnicos so constantemente ameaados por este tipo de invaso
modernizante global. Sua condio diante desta conjuntura de vulnerabilidade, tanto cultural quanto no que se refere preservao de suas prprias vidas.
2.1.2 Homogeneizao: a produo da igualdade totalizadora
Ao longo do processo homogeneizante posto em marcha, primeiramente pela Europa e
por ltimo pelos Estados Unidos da Amrica, desenvolveu-se verdadeiros imprios baseados
em uma alteridade unilinear280, sendo negada s sociedades vtimas da expanso modernocolonial seu direito de estar no mundo. Esta tendncia homogeneidade humana veio a produzir o que se pode denominar de igualdade totalizadora. Tal expresso, oriunda dos estudos
de Ruth Gauer281, retrata uma face obscura do projeto moderno de homogeneidade, principalmente constitudo com a formao dos Estados-Nao.
Para haver uma conscincia de nao, esse sentimento de pertencer a um mesmo
grupo, a uma mesma cultura nacional e tornar possvel uma identificao nacional, alguns
279
Pode-se exemplificar a partir dos mtodos de conduo da populao, como evangelizao, expropriao,
incluso em atividades de trabalho, at mesmo escravo, etc.
280
TEIXEIRA, Luiz Sertrio. Territorialidades no centro de Rondnia Brasil. Disponvel em:
<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/becas/2008/deuda/serto.pdf>. Acesso em: 04 mai. 2011, p. 2.
281
Nesse sentido, vide GAUER, Ruth M. Chitt. A fundao da norma para alm da racionalidade histrica.
Porto Alegre: ediPUCRS, 2009, p. 84.
74
dispositivos so acionados para representar a nao e produzir significados282. Nesse sentido,
a lngua, a raa e a histria enquanto narrativas homogeneizadoras foram essenciais para a
constituio das identidades nacionais, para a construo das culturas nacionais e para a formao de uma conscincia nacional; essas narrativas possibilitaram a internalizao da idia
de pertencimento nacional, de nacionalidade. Assim, os Estados-Nao no teriam se lanado
tarefa no escuro; seu esforo tinha o poderoso apoio da imposio legal da lngua oficial
forma de etnocdio em currculos escolares e de um sistema legal unificado283.
Para construir uma forma unificada de identificao a partir das tantas diferenas existentes no interior da nao, homogeneizando os traos constitutivos da identidade nacional,
dentro das fronteiras do Estado somente havia lugar para uma lngua, uma cultura, uma memria histrica e um sentimento patritico. Com efeito, o projeto de construo do EstadoNao necessitava, portanto, erradicar as diferenas e/ou os diferentes, fosse por meio da assimilao ou por meio da eliminao/excluso284. Nesse sentido, pode-se tomar como principais seres humanos afetados por este processo de homogeneizao os grupos indgenas.
Para tanto, a fim de sustentar seus parmetros de ordem, beleza, limpeza e progresso, a
modernidade se serviu de uma lgica binria, de um sistema de classificao e distino cultural e identitrio que visava preservar e garantir a conformidade social com esses parmetros.
A modernidade inventou e multiplicou seus anormais, os sindrmicos, deficientes, os surdos, os cegos, os aleijados, os rebeldes, os estranhos, os homossexuais, os miserveis, os outros. Ela criou instituies com a funo precpua de normatizar e normalizar os elementos
da cultura e criar, reproduzir e legitimar uma cultura, uma identidade e uma conscincia nacional; conseqentemente, essas instituies se tornaram palco da produo, reproduo e
controle da alteridade no contexto da modernidade, a fim de purificar, afastar, limpar toda
sujeira social285.
Esta caracterizao da sociedade pela purificao e limpeza abordada por Ruth Gauer em seus estudos com base nos trabalhos de Mary Douglas, sobre pureza e perigo. Para a
autora, a nfase no exame destas questes estaria vinculada outra problemtica: a questo da
282
PACHECO, Joice Oliveira. Identidade cultural e alteridade: problematizaes necessrias. Disponvel em:
<http://www.unisc.br/spartacus/edicoes/012007/pacheco_joice_oliveira.pdf>. Acesso em: 28 abr. 2011, p. 3.
283
Ibidem, p. 4.
284
Ibidem, p. 4.
285
Ibidem, p. 4.
75
ordem, da limpeza, sendo apropriado pens-la para a partir de ento relacionar com a desordem e todo o tipo de discriminao286.
Para a autora, a sujeira seria um fato que nos repugna; passamos pensando o quanto
seria importante a limpeza, a pureza e a ausncia de qualquer perigo. Tudo que nos cerca deve
estar imune contaminao e impureza, mesmo as mais microscpicas. Por sua vez, a ordem estaria vinculada organizao: todas as coisas em seus lugares e todos os lugares com
suas coisas igualmente ordenadas e purificadas287.
A obsesso pela limpeza seria configurada pela disciplina. E nada seria mais importante para essa obsesso do que a busca desesperada pelo modelo que retrate limpeza, normalmente associada ao belo. A beleza estaria vinculada aparncia de limpeza do corpo, que
deve estar livre de impurezas, isto , com ausncia de resduo, mesmo os mais microscpicos,
como se isso fosse possvel288.
A esttica, nomeadamente no sculo XX, ligou-se de tal modo limpeza que a transformou em obsesso. Porm, muito antes as questes de pureza, higiene e sujeira estabeleciam a ordem da casa, o espao privado, assim como a ordem do espao pblico. A limpeza dos
espaos pblicos foi e realizada pelas instituies vinculadas esfera da administrao e das
polticas pblicas; nesse sentido, igualmente no tratamento com seres humanos. Desde a antiguidade o isolamento foi uma prtica utilizada para evitar a contaminao. O exemplo histrico de excluso mais conhecido o dos leprosos. Na modernidade essa prtica continuou, passando-se a isolar casas, hospitais, at mesmo quarteires inteiros de cidades como forma de
proteo dos espaos no contaminados. Esses locais, vistos como perigosos, deveriam estar
bloqueados como forma de imunidade dos locais limpos. O isolamento, como medida de exceo, constitua-se na nica forma de proteo289.
Para a autora, a reflexo sobre a sujeira envolve pensar na relao entre a ordem e a
desordem. Neste aspecto, nada mais eficaz do que a disciplina moderna para garantir a ordem.
As tcnicas disciplinares preocupam-se no apenas com a sujeira e a doena: elas trataram e
tratam de organizar meios para disciplinar todas as formas de expresso e de comportamento,
do modo como sentamos mesa at a mais cotidiana comunicao, buscando os ideais de
ordem. A civilizao perseguiu freneticamente o controle e o domnio de toda e qualquer forma de perigo. Assim, o respeito com as converses e a higiene se constitui em duas ferramen286
GAUER, Ruth M. Chitt, op. cit., p. 84.
Ibidem, p. 84.
288
Ibidem, p. 84.
289
Ibidem, p. 85.
287
76
tas eficazes de controle social. A representao sobre a limpeza e a pureza pretende eliminar a
entrada do monstruoso, do disforme, do violento, em resumo, de todos os modelos considerados perigosos para as convenes estabelecidas pela civilizao. Nesse sentido, Ruth Gauer
refere que se poderia afirmar que o modelo de igualdade, tal como foi criado nos tempos modernos, teria estruturado todas as aes sociais e polticas desde seu incio com o objetivo de
eliminar diferenas contaminadoras e, portanto, perigosas290.
A modernidade teria disciplinado no apenas os homens, mas todas as coisas que pudessem estar fora do lugar. A autora, reportando-se a Mary Douglas, refere que o reconhecimento de qualquer coisa fora do lugar constitui-se em ameaa, e assim consideramos desagradveis e as varremos vigorosamente, pois so perigos em potencial. A modernidade teria criado essa compulso, esse desejo irresistvel de ordem e de segurana. O mundo perfeito seria
totalmente limpo e idntico a si mesmo, transparente e livre de contaminaes. A racionalidade expressa pelas leis e convenes tinha como fim imunizar a sociedade contra a violncia, a
corrupo, a seduo das crenas e demais impurezas. Contudo, os modernos teriam esquecido que no haveria imunidade para o egosmo, o niilismo e para a explorao de um nmero
considervel de seres humanos291.
A autora questiona quais seriam os procedimentos polticos, jurdicos, administrativos,
bem como quais seriam os dispositivos que permitiram a busca da construo e manuteno
de uma sociedade higienizada e imunizada. Para ela, a compulso pela ordem esteve (e ainda
estaria) presente nas sociedades ocidentais, seja nos regimes polticos das democracias liberais, seja nos regimes totalitrios. A autora salienta ainda que a violncia depuradora sempre
esteve mais presente nos ambientes onde a exceo se constitui a regra. A eliminao de adversrios polticos e podemos inserir neste campo outros grupos humanos, tnicos, dentre
outros vista como uma forma de limpeza e atinge a opositores, a todos que podem se constituir em perigo292.
Neste aspecto, a autora cita como exemplos histricos o nazismo, o fascismo, o comunismo, assim como todas as formas mais diferenciadas de ditaduras na contemporaneidade, as
quais comprovariam a utilizao de prticas de saneamento dos sistemas polticos. Desta forma, nos estados de exceo, os perigosos, todos os que so identificados como potencialmente
contaminadores, devem ser purificados ou eliminados. Quando os estados passaram a estabelecer polticas pblicas para cuidar do corpo da populao, purificando a sociedade e assim
290
Ibidem, p. 85.
Ibidem, p. 86.
292
Ibidem, p. 86.
291
77
protegendo e ordenando a vida pblica e privada, abriu-se a possibilidade para a incluso de
alguns e a excluso de outros293.
Para a autora, a manuteno do modelo igualitrio ganha espao na mesma proporo
em que os regimes totalitrios e de exceo se aprofundam. Quanto maior a exceo, maior
seria a igualdade, por paradoxal que possa parecer. A autora, reportando-se a Dumont, refere
que o nacional socialismo teria revelado a essncia da sociedade contempornea. Por um lado,
a emancipao gerou o individualismo arrebatado; por outro, uma coletivizao ao extremo,
ou seja, o nivelamento de todas as diferenas conduziu pior das tiranias. Esse fato teria eliminado o carter carismtico do vnculo social e aberto a possibilidade de eliminar os laos de
solidariedade que uniam as comunidades e estruturavam a sociedade. Para a autora, a ausncia
de laos de solidariedade implicaria na abertura da excluso em nome da ordem igualitria
totalizadora. Os perigos precisam ser eliminados, limpos, depurados, para que a totalidade se
faa no conjunto da sociedade294.
Partindo da premissa de que a democracia tem por base uma igualdade, estruturada na
naturalizao do indivduo, constituda pelo direito, o que pressuporia a excluso do desigual
(diferente) em nome da ordem, a autora refere que nesse caso a fora poltica se sustentaria na
medida em que se purifica, colocando distncia entre a ordem e a desordem, entre a pureza e o
perigo, com a tentativa de eliminao do estranho, do desigual, impedindo que ele se torne um
perigo ameaador da homogeneidade. Assim, a presena de qualquer grau de homogeneizao
e de excluso daquele que no homogneo implicaria na configurao de uma totalidade295.
Com efeito, seria evidente que a poltica da igualdade potencializa a violncia de vrias formas: eliminando todo e qualquer outro, o diferente, o sujo, o impuro, o anormal, o doente, enfim, tudo o que causa estranheza, perigo, que lembra sujeira e desordem. Para a autora, o tecido social precisou ser impermeabilizado a tal ponto que a sua proteo tornaria difcil
pensar em rupturas que permitam a contaminao. As prticas polticas adotadas na modernidade, em nome da igualdade, que visava eliminao das hierarquias medievais, estavam
pautadas pela prescrio de condies de controle dos comportamentos individuais e coletivos. Essa pretenso de controle social nada mais seria do que a submisso da ao pelo comportamento: a ao enquanto possibilidade de criao e o comportamento pautado pela previsibilidade. Nesse campo, a perspectiva da previsibilidade estaria vinculada lgica binria e
dual tpica do pensamento moderno. A lgica binria de excluso foi a base para a construo
293
Ibidem, p. 86.
Ibidem, p. 87.
295
Ibidem, p. 87.
294
78
de termos como classe, raa, gnero, entre outros, que serviam identificao dos sujeitos296 e impulsionaram o etnocdio, principalmente com o advento dos Estados modernos.
Nas palavras de Hannah Arendt297
A razo pela qual comunidades polticas altamente desenvolvidas, como as
antigas cidades-Estados ou os modernos Estados-naes, to freqentemente insistem na homogeneidade tnica que esperam eliminar, tanto quanto possvel, essas
distines e diferenciaes naturais e onipresentes que, por si mesmas, despertam
silencioso dio, desconfiana e discriminao, porque mostram com impertinente
clareza aquelas esferas onde o homem no pode atuar e mudar vontade, isto , os
limites do artifcio humano. O estranho um smbolo assustador pelo fato da diferena em si, da individualidade em si, e evoca essa esfera onde o homem no pode atuar nem mudar e na qual tem, portanto, uma definida tendncia a destruir. Se
um negro numa comunidade branca considerado nada mais do que um negro, perde, juntamente com seu direito igualdade, aquela liberdade de ao especificamente humana: todas as suas aes so agora explicadas como conseqncias necessrias de certas qualidades do negro; ele passa a ser determinado exemplar de
uma espcie animal, chamada homem. Coisa muito semelhante sucede aos que perderam todas as suas qualidades polticas distintas e se tornaram seres humanos e
nada mais. Sem dvida, onde quer que a vida pblica e sua lei da igualdade se imponham completamente, onde quer que uma civilizao consiga eliminar ou reduzir
ao mnimo o escuro pano de fundo das diferenas, o seu fim ser a completa petrificao; ser punida, por assim dizer, por haver esquecido que o homem apenas o
senhor, e no o criador do mundo.
Igualmente na atualidade, com a globalizao e a expanso do mercado global a todos
os modos de vida e subsistncia, com a dinmica do capitalismo neoliberal e global em sua
nova fase de desenvolvimento, no lhe importa eliminar pluralidades, diversidades e riquezas
humanas, culturais e naturais. Ao idealizar a perfeio de uma instituio como o mercado se
produz um impacto tambm em outras formas de culturas e modos de vida, principalmente
indgena. Alm da expanso interna a todas as faces da existncia, e do condicionamento que
opera sobre as formas de organizao social, o capitalismo tem desenvolvido diferentes formas de colonialismo, impondo seu prprio horizonte de sentido como se fosse o nico modo
de ver, entender e atuar no mundo. O carter entrpico e destrutor do sistema capitalista, bem
como a violncia exercida sobre as outras culturas, espcies animais e vegetais, tem sido e
uma das constantes desde suas origens at nossos dias298.
296
Ibidem, p. 88.
ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. So Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 335.
298
RUBIO, David Snchez. Sobre la racionalidad econmica eficiente y sacrificial, la barbrie mercantil y la
exclusin
de
los
seres
humanos
concretos.
Disponvel
em:
<http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/sistemapenaleviolencia/article/viewArticle/6635>. Acesso em:
28 abr. 2011, p. 109.
297
79
Nesse sentido, subsiste uma caracterstica da globalizao contempornea, que o
cultivo do uniforme, que pressupe a homogeneidade e a destruio da diversidade tanto social como da natureza. H uma aspirao a controlar tudo: a cultura, a vida cotidiana, as matrias primas, os mercados, etc., impondo um nico modo de entender o mundo, que exige a
eliminao de pluralidades de espcies e de diferenas culturais, que desde sua tica so concebidos como impedimentos e obstculos para a expanso do capital299.
A violncia estabelecida neste processo de uniformidade e homogeneizao impe a
criao de monoplios sobre a vida e recursos vivos, e se manifesta em mltiplos nveis, como por exemplo: a) no nvel poltico, mediante o uso da fora, do controle e da centralizao;
b) como violncia ecolgica contra as diversas espcies da natureza; c) como violncia social
e cultural. Assim, se potencializa a agresso e fragmentao de sistemas sociais e culturais
diversos para integr-los em um sistema global considerado o nico vlido, assim, desagregando o tecido social plural e a capacidade de organizao das comunidades locais e regionais300, intensificando o risco em gerar novos genocdios e etnocdios.
Nesse sentido se insere a lgica do etnocdio. O sonho de pureza se instala no processo
etnocida que, visando a instaurao de uma sociedade completamente homognea, impe
violncia sua crena e viso de mundo. O etnocdio se constitui como um processo de limpeza
tnica que visa eliminar as distines culturais, religiosas e lingsticas que configuram a diversidade humana para implantar um sistema homogneo, total, onde apenas subsiste a escolha entre a converso ao sistema cultural do agressor ou a retribuio pela eliminao fsica,
como ocorreu sobre os indgenas na conquista da Amrica e ainda ocorre em outros locais do
planeta. Est configurado neste sentimento de limpeza total, de pureza total. A sociedade passa a ser moldada totalmente imagem e semelhana do seu criador/agressor, produto de um
projeto de igualdade totalizadora.
A seguir, trataremos de expor como esta forma de poder se materializa no fenmeno
do colonialismo; posteriormente, abordaremos a violncia dentro do contexto do etnocdio.
299
300
Ibidem, p. 109.
Ibidem, p. 110.
80
2.2 COLONIALISMO E VIOLNCIA
Colonialismo e violncia so dois elementos-chave para se compreender como o etnocdio praticado. Estes dois elementos geralmente esto estreitamente ligados s prticas etnocidas de destruio de culturas, religies e lnguas. Nesse sentido, colonialismo e violncia
so aspectos por vezes inseparveis na prtica do etnocdio. Para tanto, primeiramente trataremos de apresentar alguns aspectos relativos ao colonialismo e sua relao com o etnocdio,
para posteriormente tratar da violncia que integra esta forma de violao aos direitos humanos.
2.2.1 O colonialismo e o fenmeno do etnocdio
Jos Manuel Muoz-Arraco301, em ensaio sobre o colonialismo, busca traar alguns
aspectos importantes no que diz respeito essncia conceitual deste fenmeno. Para o autor,
as antigas palavras colo, colis, colui, cultum, colere, tiveram originariamente expresso entre
os latinos, povo rural; seu sentido era habitar ou cultivar. Da ser colonus o sujeito que,
em nome do proprietrio, habitava e cultivava em um determinado lugar, e da tambm adveio
o termo colonia, coloniae, ou grupo de colonos enviados pelo Estado a certo lugar para habit-lo ou cultiv-lo302.
Contudo, alm desta idia de cultivo, de explorao da terra habitada, h tambm outra
ideia: a de que algo ou algum se introduz em um espao que lhe estranho, a condio de
alheio. A alheidade indica o que por essncia diferente e estranho a respeito do lugar em
que se coloca, e se traduz como um elemento essencial em uma reflexo sobre o sentido e
significao geral da linguagem que aplicamos para estudar e descrever os fatos e idias coloniais303.
As duas idias de explorao e de alheidade (estranho ao local), fundidas para tipificar
a especfica explorao realizada por parte de quem est dotado de alheidade, ou seja, precisamente de quem identificado pelo fato de ser alheio, constituem em seu amlgama a sig-
301
MUOZ-ARRACO, Jos Manuel Prez-Prendes. Sobre los colonialismos consideraciones acerca de la
Declaracin de la ONU, de 14 de diciembre de 1960. Disponvel em: <http://earchivo.uc3m.es/handle/10016/1430>. Acesso em: 04 mai. 2011, p. 314.
302
Ibidem, p. 315.
303
Ibidem, p. 315.
81
nificao radical que se deriva de colo. Esta dupla articulao, explorao-alheidade, quando
se pratica desde as possibilidades que oferece uma forma poltica estatal, se converte em uma
tripla corrente de explorao-alheidade-estatalismo, que constitui o fenmeno ao qual o autor
designa com a palavra colonialismo e em funo sua h que entender os termos relacionados e
complementrios, como colnia, colonial, descolonizao, etc304. E nesse sentido, o
autor refere que a trplice expresso explorao-alheidade-estatalismo integraria a essncia
bsica do conceito, e o colonialismo suporia uma srie de relaes de dependncia e dominao305.
Contudo, h que ressaltar que o elemento estatal no se mostra necessariamente vinculado com as novas formas de colonialismo, em especial com o neocolonialismo. Para Kwame
Nkrumah306, o neocolonialismo apresentaria hoje o imperialismo em seu estgio final e talvez o mais perigoso. Para o autor, em lugar do colonialismo como principal instrumento do
capitalismo, teramos o neocolonialismo. Sua essncia seria de que o Estado que a ele est
sujeito , teoricamente, independente e tem todos os adornos exteriores da soberania internacional. Porm, na realidade, seu sistema econmico (e portanto, seu sistema poltico) dirigido do exterior.
Os mtodos e a forma de direo podem tomar vrios aspectos: por exemplo, no caso
extremo de tropas de uma potncia imperialista guarnecerem o territrio de um Estado neocolonial e controlar o seu governo. Porm, mais comumente o controle exercido atravs de
meios econmicos ou monetrios. Tambm possvel que o controle neocolonial seja exercido por um consrcio de interesses financeiros que no so especificamente identificveis com
qualquer Estado particular. O controle do Congo por grandes interesses financeiros internacionais seria um exemplo307.
Nesse sentido, o resultado do neocolonialismo que o capital estrangeiro utilizado
para a explorao, em lugar de ser para o desenvolvimento das partes menos desenvolvidas do
mundo. O investimento, sob o neocolonialismo, aumenta, em lugar de diminuir, a brecha entre as naes ricas e pobres do mundo. Um Estado nas garras do neocolonialismo no senhor
304
Ibidem, p. 315.
Ibidem, p. 323.
306
NKRUMAH, Kwame. Neocolonialismo ltimo estgio do capitalismo. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 1967, p. 1-3.
307
Ibidem, p. 1-3.
305
82
do seu prprio destino. Seria esse fator que torna o neocolonialismo uma ameaa to sria
paz mundial308.
De qualquer sorte, como define Lopold Sdar Senghor, o colonialismo seria um processo de ocupao de um pas por estrangeiros, que esto decididos a incorpor-lo no seu prprio pas, ou simplesmente manter sua dominao indefinidamente. Em pocas passadas, existiu o colonialismo grego, o colonialismo romano, dentre outros, como o colonialismo praticado pelas naes europias, uma das caractersticas principais da histria da humanidade do
sculo XVI at os anos 50 e 60 do sculo XX309.
O colonialismo a explorao de povos submetidos pelos seus conquistadores. De
certa forma pode-se dizer que o colonialismo existiu sempre. Recorde-se, por exemplo, do
colonialismo exercido por Roma nas Glias. No entanto, tambm temos de considerar que o
colonialismo, isto , a explorao sistemtica de um povo conquistado por outro, no uma
etapa histrica necessria. Para Lopold Senghor, o problema seria mais complexo. Karl
Marx, por exemplo, considerou o colonialismo como fazendo parte de um desenvolvimento
linear: seria mais uma etapa das muitas que tinham de se percorrer para alcanar o objetivo de
uma sociedade moderna. Para ele seria natural e necessrio que a ndia passasse pelo processo
colonizador britnico310.
Em qualquer poca, a colonizao teve aspectos muito negativos, como a histria da
frica, por exemplo, e dentro da frica mais concretamente a dos povos africanos negros.
Desde o renascimento at meados do sculo XIX, rabes e europeus organizaram o comrcio
humano chamado trfico de negros. Cerca de vinte milhes de negros foram deportados
para terras americanas. Na afirmao de Senghor, por cada negro deportado, dez foram mortos. Calcula-se que este genocdio tenha provocado cem milhes de mortos. O mal causado
frica seria um dos mais terrveis j cometidos 311.
Na frica especificamente, colonialismo e etnocdio tiveram um papel muito vinculado. Traando um paralelo entre o colonialismo britnico e o francs, pode-se analisar o emprego do etnocdio conjuntamente com o colonialismo. No caso do colonialismo britnico,
Senghor afirma que os britnicos seriam mais sensveis que os franceses s diferenas raciais;
isso teria os levado a no destruir os fundamentos das civilizaes negro-africanas. Como
exemplo, o autor menciona o fato de que as crianas indgenas das escolas das antigas col308
Ibidem, p. 1-3.
Biblioteca Salvat de Grandes Temas. Colonialismo e neocolonialismo. Rio de Janeiro: Salvat, 1979, p. 9.
310
Ibidem, p. 10.
311
Ibidem, p. 11.
309
83
nias britnicas fizeram seus estudos utilizando a lngua materna, autctone, e a lngua inglesa.
No colonialismo francs, ao contrrio, estes, convencidos do valor universal da sua cultura,
tentaram por todos os meios assimil-los312. Um exemplo caracterstico de etnocdio, vinculado ao colonialismo.
O colonialismo uma realidade que se imps ao mundo no derradeiro tero do sculo
XIX, mas tambm, e muito especialmente, uma justificao. Essa realidade significava a
explorao econmica e dominao poltica dos pases da sia e frica por parte das potncias europias; era o culminar do expansionismo europeu iniciado no sculo XV. No entanto,
o termo colonialismo no tinha at ao incio do sculo XX um significado polmico; englobava todas as doutrinas que pretendiam justificar o domnio da Europa sobre outros povos
mais atrasados. Suas principais manifestaes ocorreram na Inglaterra e na Frana, mas a
ideologia que o sustentava esteve presente, em maior ou menor grau, em todos os estados europeus; teve tambm uma repercusso muito especfica nos Estados Unidos313.
Se o termo colonizao desde a Antiguidade referia-se ao empreendida por grupos humanos sobre um territrio afastado do seu lugar de origem, o termo colonialismo
aparece numa situao histrica concreta, significando a extraordinria expanso europia da
segunda metade do sculo XIX nas suas diferentes manifestaes: emigrao, exportao de
312
Ibidem, p. 12.
Ibidem, p. 19. Cabe ressaltar que nos Estados Unidos, o colonialismo, por via do etnocdio e outras medidas,
foi implementado na destruio do povo e da cultura indgena. A eliminao de povos indgenas e de sua cultura
foram tcnicas muito utilizadas durante o sculo XIX. A partir de 1830 era objeto de discusso saber por quais
meios e com que rapidez seria possvel eliminar os indgenas. Neste perodo, o presidente Andrew Jackson firma
o decreto de deportao de ndios (Indian Removal Act, de 28 de maio de 1830). Outra medida era encontrar
um meio de justificar a tomada dos territrios sob o pretexto da assimilao mais rpida sociedade branca.
Nesse sentido, foi enviado aos ndios um ultimato expressado pelo ento senador Pendleton de Ohio, que havia
declarado: eles devem mudar seu modo de vida, ou devem morrer. Ns podemos lament-lo, podemos desejar
que seja de outra maneira, nossos sentimentos humanitrios podem chocar com esta alternativa, porm no podemos ocultar o fato de que se trata de uma alternativa e que esses ndios devem mudar seu modo de vida ou ser
exterminados (Congressional Records; volume II, 46th Congress, 3rd Session, 1881).
Os argumentos do senador Pendleton e de seus colegas conduziram elaborao do decreto de adjudicao
geral de 1887, conhecido sob o nome de Dawes Act. O objetivo desta medida era mudar o modo de vida dos
ndios destruindo sua cultura tradicional cuja base no era somente a religio e uma linguagem prprios, seno
igualmente uma organizao tribal que compreendia um sistema de propriedade comum das terras. Era necessrio civilizar os ndios e assimil-los. A Dawes Act, tanto em suas intenes como em suas conseqncias,
segue sendo hoje em dia um dos atos de entocdio mais graves perpetrados contra os indgenas pelo governo dos
Estados Unidos. JAULIN, Robert. El etnocidio atravs de las Amricas. Mxico: Siglo XXI Editores, 1976, p.
28-29.
Prticas similares ao etnocdio tambm foram utilizadas na Guatemala, durante a ditadura militar. A aplicao sistemtica do terror estatal nas aldeias camponesas perseguiu a destruio de centros cerimoniais de distintas etnias mayas, de seus lugares sagrados e de seus smbolos culturais. Vide MENNDEZ, Luis. Guatemala: la
persistencia del terror estatal. Disponvel em: <http://www.herramienta.com.ar/revista-herramienta-n27/guatemala-la-persistencia-del-terror-estatal>. Acesso em: 28 abr. 2011, p. 6.
313
84
capitais, explorao de terras e povos colonizados, dominao poltica, hegemonia cultural,
etc314.
O colonialismo confunde-se com o imperialismo, em parte como conseqncia das
consideraes marxistas acerca do fenmeno colonial. Vladimir Lnin analisou os escritos de
Marx sobre a acumulao de capital e denunciou o imperialismo, enquanto dominao colonialista, como o estgio supremo do capitalismo. A noo de imprio de origem romana e
definia a suprema autoridade exercida por Roma sobre povos e territrios exteriores, geralmente subjugados mediante o emprego da fora. A expanso europia moderna deu vida a
novos imprios formados pela metrpole e os territrios dela dependentes315.
O imperialismo contemporneo no exige o emprego da fora militar para a sua constituio; e nem sequer a dominao poltica direta. Por outro lado, se bem que suas manifestaes sejam muito diversas, sua essncia determinada pela explorao econmica do pas
submetido, quer de seus recursos naturais quer do trabalho de seus habitantes, em benefcio da
metrpole316. Nesse sentido, mostra-se sua vinculao com a idia de neocolonialismo, proposta por Kwame Nkrumah.
O imperialismo contemporneo surgiu precisamente na segunda metade do sculo
XIX, quando as foras produtivas, especialmente a indstria, alcanaram um alto nvel de
desenvolvimento; este impulsionou a procura de novos mercados para os produtos, matriasprimas mais abundantes e baratas e um espao econmico em que podiam frutificar os capitais excedentes. Tendo em conta as rivalidades existentes entre as grandes potncias europias, estas vantagens apenas podiam encontrar-se em pases longnquos e atrasados, demasiado dbeis, sem conscincia nacional e sem meios tcnicos adequados para resistir ao assalto
da Europa industrializada317.
A dominao e explorao colonialista adotaram formas muito diversas, consoante
seus principais protagonistas, mas que se podem definir por algumas caractersticas essenciais318:
1) Dominao por parte de uma minoria estrangeira, que exerce uma pretensa superioridade racial e cultural sobre uma maioria nativa materialmente inferior;
314
Biblioteca Salvat de Grandes Temas. Colonialismo e neocolonialismo, op. cit., p. 19.
Ibidem, p. 19.
316
Ibidem, p. 20.
317
Ibidem, p. 20.
318
Ibidem, p. 21.
315
85
2) Contato entre duas civilizaes muito diferentes: uma de religio crist, de economia forte, tcnica avanada e ritmo de vida acelerado; a outra, no crist, carecendo de tcnica, condicionada por uma economia agrria de subsistncia e com um ritmo de vida lento;
3) A civilizao europia avanada e tecnificada impe-se em todos os aspectos cultura autctone, atravs de diversas formas de organizao poltica e administrativa. Nesse
campo o etnocdio geralmente se instaura.
Em um outro nvel, temos o neocolonialismo (como j referido anteriormente), que
pode-se definir como um fenmeno histrico caracterizado pelo domnio ou influncia que as
grandes potncias exercem sobre os pases descolonizados. Constitui uma manifestao nova
de imperialismo, na medida em que um Estado tenta controlar os destinos de outro para assegurar a explorao de seus recursos econmicos e a sua fidelidade diplomtica. As primeiras
naes neocolonizadas surgiram na Amrica Latina aps a independncia das colnias espanholas. A doutrina Monroe (2 de dezembro de 1823) foi a expresso diplomtica do domnio que as grandes companhias americanas vieram a exercer sobre os recursos econmicos
daquele continente. Conjugando as expresses diplomticas com as econmicas, quando no
recorriam mesmo interveno armada, os Estados Unidos conseguiram criar uma verdadeira
dependncia colonial, principalmente na rea do mar das Carabas319.
O neocolonialismo alcanou dimenses universais aps a Segunda Guerra Mundial,
como conseqncia da liquidao dos imprios britnico e francs. Se o mapa anterior guerra era basicamente o dos imprios coloniais, o posterior reflete uma situao neocolonial caracterizada por dois traos essenciais: 1) manuteno dos pases do Terceiro Mundo como
fornecedores de matrias-primas; as naes imperialistas reservam para si as transformaes
industriais altamente rentveis e 2) luta pela hegemonia entre as grandes potncias; as presses econmicas ou a fora militar so utilizadas para obter o alinhamento dos pases em vias
de desenvolvimento, produtores de matrias-primas, ou os que se encontram colocados em
zonas estratgicas; a satelizao poltica apia-se nos imperativos econmicos320.
Marc Ferro321, tecendo consideraes acerca do fenmeno do colonialismo e correlacionando-o com o totalitarismo, refere que na obra de Hannah Arendt, intitulada Origens do
totalitarismo, a maioria dos leitores no percebe o fato de que, relacionados ao nazismo e ao
comunismo, a autora havia associado o imperialismo colonial. Entre estes regimes existiria
319
Ibidem, p. 22.
Ibidem, p. 22.
321
FERRO, Marc (Org.). O livro negro do colonialismo. Rio de Janeiro: Ediouro, 2004, p. 10.
320
86
um parentesco que apontado pelo poeta antilhano Aim Csaire, pelo menos no que concerne ao nazismo e ao colonialismo. Conforme descreve Marc Ferro, para Csaire, o que o homem burgus do sculo XX no perdoaria a Hitler no seria o crime em si, no seria a humilhao do homem em si, mas o crime contra o homem branco, ou seja, o fato de ter aplicado
Europa procedimentos colonialistas que at ento somente abrangiam os rabes, os cules da
ndia e os negros da frica322.
Para tanto, pode-se estudar o fenmeno do colonialismo tomando de emprstimo seus
instrumentos ou observaes anlise de outras experincias histricas, tais como os regimes
totalitrios. E nesses ltimos casos, havia duas vertentes de interpretao que se seguiam: uma
que mostrava um livro negro (demonstrando as atrocidades cometidas) e um outro livro
que, na descrio de Marc Ferro, se mostrava como um livro rosa. Todos estes regimes
tanto os totalitrios como os colonialistas foram simultaneamente objeto de um mesmo elogio. Sobre a Unio Sovitica, por exemplo, haviam relatos de retornados de Moscou que
faziam do paraso dos sovietes, um pas encantado pelo qual os peregrinos manifestavam
uma empolgao inabalvel. Ao passo que outros peregrinos mostravam-se fascinados pelos
sucessos do fascismo ou do nazismo em naes que haviam reduzido o desemprego e empreendido grandes obras. Porm, ao mesmo tempo esses regimes eram objeto de crticas, baseadas em fatos que demonstravam a violncia existente323.
Ferro destaca que no caso da colonizao, este livro negro teria precedido o livro
rosa: a primeira relacin de Las Casas, que data de 1540. Contudo, pouco a pouco, o colonismo prevaleceu, em nome da civilizao. A argumentao era alimentada por aqueles que
se beneficiavam da explorao das colnias324.
Para o autor, o questionamento assumiu muitas faces. Entre outras, a ideologia socialista no teria deixado de evocar os aspectos negativos da colonizao, ou mesmo o princpio
em que ela se baseava. Sua argumentao participava da substncia do discurso marxista. O
autor enfatiza que para que os professores de histria o conhecessem bem e o difundissem, era
necessrio for-los a isso mediante programas bem definidos, como dizia Lnin ao historiador Pokrovski325. Nesses programas, conforme Lnin, deveriam ser fixados os temas que
obrigariam objetivamente a adotar o ponto de vista dos socialistas; por exemplo, deveria ser
includo no programa a histria da colonizao. O tema iria lev-los e expor seu ponto de vis322
Ibidem, p. 10.
Ibidem, p. 10.
324
Ibidem, p. 12.
325
Ibidem, p. 12.
323
87
ta burgus, isto , o que os franceses pensam do comportamento dos ingleses no mundo; o
que os ingleses pensam dos franceses; o que os alemes pensam de uns e de outros. Assim,
para Lnin, a literatura sobre o assunto iria obrig-los a narrar as atrocidades dos capitalistas
em geral. Dentro deste tema, aps a Segunda Guerra Mundial, Jacques Arnault publicaria o
livro chamado Procs du colonialisme, em 1958326.
Para Ferro, neste novo milnio, por uma mudana das mentalidades ligada aos dramas
do sculo passado, tomada de conscincia sobre as violncias cometidas em muitos lugares,
uma parte da opinio das velhas naes europias inscreveu-se numa ideologia dos direitos
humanos que apontava o conjunto dos crimes praticados em nome do Estado comunista ou
nazista, do Estado-nao e das vitrias da civilizao. Generosas na denncia dos crimes de
um e outro, essas sociedades ocidentais alegariam hoje que os do colonialismo lhes foram
ocultados. Porm, para o autor, essa crena seria um mito, ainda que certos excessos cometidos tenham sido de fato expurgados da memria comum327.
Para Ferro, na Frana, por exemplo, os manuais escolares dos dois primeiros teros do
sculo XX relatavam com ardor a conquista da Arglia, como nas ndias, durante a revolta
dos sipaios em 1857, oficiais ingleses colocavam hindus e muulmanos na boca dos canhes,
como Pizarro executou Atahualpa Yupanqui ou como Gallieni passava os malgaxes pelo fio
da espada. Tais violncias eram conhecidas e, quanto Arglia, desde a poca de Toqueville328.
O autor descreve que todos estes fatos eram conhecidos, pblicos. Porm, se fosse
verificado que denunci-los tinha por objetivo questionar a obra da Frana, sua existncia
era negada: o governo poderia estar errado, mas o pas teria sempre razo... Interiorizada, essa
convico teria permanecido; ela se alimentaria tanto da autocensura dos cidados quando da
censura das autoridades, at hoje: por exemplo, nenhum dos filmes ou programas de televiso
que denunciariam abusos cometidos nas colnias figuraria entre as cem produes de maior
bilheteria ou de alto ndice de audincia329. Do outro lado do Atlntico, a mudana de perspectiva quanto ao extermnio fsico e cultural dos ndios aconteceu, com Flechas Ardentes, de
Delmer Daves (1950), filme pr-ndio e anti-racista produzido antes dos crimes cometidos
pela aviao americana durante a guerra do Vietn e que iria perpetuar essa mudana. Porm,
na realidade essa tomada de conscincia quase no teria modificado a poltica de Washington
326
Ibidem, p. 12.
Ibidem, p. 12.
328
Ibidem, p. 13.
329
Ibidem, p. 13.
327
88
em relao s reservas indgenas. Na Austrlia, a conscientizao, em razo da ao dos aborgenes e dos juristas, seria mais recente ainda. Para Ferro, tais constataes exigiriam um
reexame do papel dos principais atores da Histria, na metrpole ou nas colnias, e at das
divises cronolgicas que a tradio instituiu330.
Por volta do ano 2000, em conseqncia dos depoimentos de argelinos vtimas de tortura, militares de alto nvel, como os generais Mass e Aussaresses, reconheceram os fatos,
embora associando-os luta contra o terrorismo. Tais fatos no eram mais desconhecidos do
que outros, e durante a guerra da Arglia muitas vozes haviam se levantado, para delatar os
atos que as autoridades militares negam ou negavam. Para o autor, tratando-se dos departamentos da Arglia, sevcias eram praticadas contra os nacionalistas muito antes de a guerra
explodir, essencialmente pela polcia331.
No entanto, para Ferro, a colonizao no se limitaria a esses excessos do colonialismo. Porm, nem por isso dever-se-ia negligenciar aquilo que os precedeu as violncias da
conquista, a pacificao, devolvendo-o a um passado extinto, como se se tratasse de um
captulo da Histria sem relao com a represso e o terrorismo das lutas pela libertao, durante os anos de 1950332.
No entanto, a essa observao se acrescentaria uma constatao: a de que no ultramar,
s instncias do Estado e aos colonizados, no conviria esquecer-se de associar outros atores
da Histria: os colonos e os lobbies que eles constituam na metrpole. Assim como no conviria esquecer que a histria do comunismo e do nazismo no foram apenas a da ideologia ou
do funcionamento desses regimes e de sua poltica, mas igualmente a da participao mais ou
menos ativa e consciente dos cidados na ao, no sucesso e na falncia deles333.
Para o autor, por outro de seus aspectos, a anlise do colonialismo poderia referir-se
do totalitarismo: o exame da inteno dos seus promotores. Saber-se-ia que, acima dos excessos cometidos pelo nazismo e pelo comunismo, o respectivo programa de seus dirigentes era
mais que diferente: era inverso. Ferro questiona: como se pode ousar comparar o projeto
racista dos nazistas com o da tradio socialista, mesmo subvertida? Ento, o que dizer dos
projetos da colonizao e dos resultados de sua prtica? De um lado, enriquecer, cristianizar,
civilizar, o projeto do etnocdio... Do outro, o trabalho forado, o desenvolvimento modernizado, o declnio da economia de subsistncia... Impor-se-ia operar esse confronto, em primei330
Ibidem, p. 13.
Ibidem, p. 16.
332
Ibidem, p. 16.
333
Ibidem, p. 17.
331
89
ro lugar, assim como estabelecer os balanos, verificar o que foi realizado com conhecimento
de causa, o que s foi realizado pela metade, ou no o foi em absoluto. Quantas escolas ou
quantos hospitais, quantas barragens, e para quais beneficirios...? Mas, ao balano consciente
dessa colonizao, aos seus aspectos negros, deve-se acrescentar o levantamento de situaes
e de balanos que no foram nem desejados nem esperados. Aqui estariam dois exemplos
desses resultados perversos334.
Por primeiro, estariam os efeitos da poltica escolar da Frana na Arglia. Marc Ferro
descreve que o autor Fanny Colonna deixaria claro que, desenvolvida, a escola laica alimentou de idias as elites, formando emancipados que se tornaram emancipadores o que, na
verdade, no era seu objetivo. Alm disso, ela no permitiu que os humildes se elevassem, ao
passo que, segundo o projeto republicano, a escola devia trabalhar para reduzir as desigualdades: para o autor, estas, ao contrrio, se reforaram335.
Outro exemplo que Ferro destaca o relativo ao balano mdico da poltica inglesa na
ndia. A metrpole teria renunciado a cuidar de trezentos milhes de autctones, reservando
suas atenes aos ingleses e aos indianos que estavam em contato com seus prprios agentes e
colonos, a fim de proteg-los melhor: militares, agentes do fisco, dentre outros. Para tentar
responder s exigncias da situao do pas, a metrpole considerou necessrio criar um corpo
de mdicos autctones. Para o autor, o resultado, cinqenta anos depois, um afluxo de mdicos indianos povoa os hospitais da metrpole, substituindo os ingleses que se refugiaram, na
medicina privada, dos efeitos do Welfare State336.
Para Ferro, essa dupla lio atesta que pode haver grande distncia entre as intenes
de uma poltica e os resultados dela. Independentemente destas observaes, muitos traos
aproximam as prticas colonialistas daquelas dos regimes totalitrios: os massacres, o confisco de bens de uma parte da populao, o racismo e a discriminao correspondente (acrescido
a estes fatos o genocdio e o etnocdio). De tudo isso, Ferro examina as variveis, as similaridades e a herana337. Nosso foco trabalha principalmente o aspecto das variveis.
No que tange s variveis, Ferro destaca que dez anos depois do desaparecimento do
Imprio Sovitico, nota-se que o antigo ministro das Relaes Exteriores Chevarnadze foi
eleito presidente da Repblica da Gergia independente e que, entre os primeiros lderes da
revolta chechena, havia russos. Semelhante fenmeno no teria equivalente em outros lugares,
334
Ibidem, p. 17.
Ibidem, p. 17.
336
Ibidem, p. 17.
337
Ibidem, p. 17.
335
90
e seria difcil imaginar, cinqenta anos atrs, um ministro Guy Mollet dirigindo a Arglia ao
lado de Ben Bella, ou ex-administradores holandeses vendo-se chamados a governar uma das
ilhas de Sonda, ou japoneses, a Coria338.
Para Ferro, essas hipteses de histria comprovariam a especificidade da colonizao
russa e sovitica, sem que isso signifique que ela esteve isenta de colonialismo. Elas fariam
sobretudo aparecer, em outros lugares, uma rejeio unnime ao ex-Estado colonizador, com
o risco de que este se alimente por toda parte dos mesmos ressentimentos. Para o autor, quem
poderia prever que, trs dcadas aps a independncia, no mais haveria franceses na Arglia
e seriam poucos os ingleses na ndia, sendo a exceo a frica negra, que ainda acolhe portugueses e franceses? O autor refere que na frica negra, aps a independncia, com ou sem
cooperao da metrpole, sem mudana das fronteiras que ela havia institudo, os pases recm-libertados foram presas sucessivas, tanto de uma forma econmica de neocolonialismo,
quanto de guerras internas ligadas ou no aos efeitos da descolonizao Biafra, Chade,
Ruanda, Mauritnia, Costa do Marfim, etc. Por toda parte, eles teriam sido confrontados a um
imperialismo multinacional, uma espcie de colonialismo sem colonos339.
Na Amrica espanhola, menos de duzentos anos aps a independncia uma independncia que no emana dos indgenas, mas dos colonos espanhis , esses pases foram os primeiros a experimentar, no fim do sculo XIX, uma transferncia de dominao, com os ingleses e depois os americanos passando a exercer o papel econmico dos espanhis h muito
tempo eliminados. Esses pases foram os primeiros a conhecer uma espcie de prefigurao
desse neocolonialismo sem bandeira nem ocupao. Ou seja, para Ferro, as formas de colonizao, seus objetivos, a figura que essa dominao assumiu, os traos diferenciados dos pases
libertados constituiriam um conjunto de variveis mltiplas340.
O autor ainda refere que, tradicionalmente, o termo colonizao se aplicaria ocupao de uma longnqua terra estrangeira, acompanhada da instalao de colonos. Para a maioria das potncias ditas coloniais, essa instalao se concretiza no ultramar, o que estabelece a
diferena em relao extenso territorial por contigidade. Porm, no caso da Espanha para
o Rif, do Japo para Yeso-Hokkaido e, sobretudo, no da Rssia na Sibria, existiria uma proximidade ou mesmo continuidade territorial, embora, na sia Central, o deserto do Turquesto exera o papel de uma separao, de um mar que o isola da terra russa. diferena das
naes siberianas de pequenos efetivos, que permitiam uma fcil extenso territorial em dire338
Ibidem, p. 18.
Ibidem, p. 19.
340
Ibidem, p. 19.
339
91
o ao leste, a conquista dos pases trtaro, turco e caucasiano foi difcil, porque esses povos
pertenciam igualmente a uma outra comunidade, mais vasta, tanto tnica quanto religiosa.
Mas, no se poderia negar que, na Rssia, expanso territorial e colonizao com freqncia
so sinnimos, ao passo que no Ocidente se faria uma cuidadosa diferena341.
Outro aspecto do problema diria respeito idade e antiguidade da instalao, consideradas critrios de legitimao. Na Martinica haveria brancos e negros que crem ser mais
franceses do que os lorenos ou os saboianos, por terem sido sditos do rei antes destes ltimos, j em 1638. No Mxico, ao pedir em seu testamento de 1547 que, se viesse a falecer na
Espanha, seus restos mortais fossem reconduzidos sua cidade de Cocoya, Hernn Corts
seria de fato o primeiro dos conquistadores a considerar que sua verdadeira ptria a Amrica. Mais tarde, na Arglia, os colonos avaliavam a legitimidade de sua presena com base na
antiguidade de sua chegada: 1871, 1850, 1834, etc. Quanto Chechnia, os russos assinalavam que teria chegado ali no sculo XVI, a pedido das populaes locais, para defend-las
contra os cs da Crimia, e que a anexao, no tempo de Pedro o Grande, foi reconhecida
pelas potncias mais tarde, em 1774 (contudo, os chechenos no teriam participado daquela
negociao e jamais reconheceram essa vinculao). Para Ferro, depois de 1917, para recompens-los por sua atitude durante a guerra civil, os bolcheviques incluram os chechenos
na Federao Russa em vez de fazer daquele territrio uma repblica sovitica, semelhana dos Estados da sia Central. Disso resultaria um obstculo suplementar concluso do
conflito mais recente, do mesmo modo como a criao e a denominao de departamentos
puderam alimentar o mito da Arglia francesa342.
Para o autor, hoje, seja na Palestina ou no Sri Lanka, a antiguidade da presena constituiria um dos pontos da argumentao. Tais prticas e modos de ver supem que a Histria
unilinear, irreversvel: isso, contudo, seria ignorar que certas naes ou comunidades podem
desaparecer para sempre, enquanto outras podem aparecer ou reaparecer. Nesse sentido, a
Histria no seria programada343.
Ferro tambm destaca um primeiro dado, que se constitui como fator importante no
que concerne ao colonialismo (e, por conseqncia, problemtica do etnocdio): deve-se
constatar que o imaginrio uma abertura que ajuda a compreender as reaes de uma sociedade expanso e colonizao344. atravs deste imaginrio que o colonizador busca ex341
Ibidem, p. 20.
Ibidem, p. 20.
343
Ibidem, p. 20.
344
Ibidem, p. 21.
342
92
pandir sua viso de mundo, projetando um sistema idealizado por ele, eliminando as vises de
mundo dos colonizados, alm da tomada de territrios.
Assim que os russos seriam os nicos a considerar que a colonizao constituiria a
essncia mesma de sua histria. Para os espanhis, a expanso ultramarina teria sido a manifestao de sua grandeza, de sua potncia, e o fim desta expanso significou o incio de sua
decadncia. Para os portugueses, ela foi o sinal de sua audcia. Na Inglaterra, a identificao
se fez primeiro com o domnio dos mares e, depois, com a presena de sditos britnicos por
todo o mundo mais do que com o controle dos seus territrios. Do lado francs, no momento
do imperialismo, a definio da Repblica priorizou e diferenciou os departamentos em relao s outras possesses imperiais. A isso se acrescentou esta outra idia, um ato de f: a aspirao de todos os homens seria a de se tornar cidados, de preferncia cidados franceses345.
Tais consideraes no seriam sem conseqncia; elas dariam conta, em parte, do fato
de que a Inglaterra pde perder a ndia, mas fez a guerra das Malvinas para defender os sditos de sua majestade. De igual modo, as Kurilas, consideradas desde sempre como terra russa,
no seriam um territrio negocivel com o Japo, ao passo que as repblicas da sia Central
puderam adquirir sua independncia sem dificuldade, com exceo da Chechnia, que faz
parte da Federao da Rssia346.
Marc Ferro tambm apresenta um segundo dado: as condies de expanso variaram
ao longo da Histria, no sendo necessariamente as mesmas para cada Estado e para seus atores, assim como eram diferentes as sociedades s quais coube conhec-las. No caso de Espanha e Portugal, pode-se perguntar se a motivao primeira foi ouro ou Cristo. O ouro, no caso
das especiarias e o acesso direto s suas zonas de produo, contornando o imprio otomano;
Cristo, na medida em que, tanto em Albuquerque quanto em Cristvo Colombo, estaria presente a obsesso, ligada a um messianismo critpojudaico, de conquistar Jerusalm. O ouro
ajudar nisso no caso deste ltimo, a passagem por trs do imprio otomano atravs da ndia e
da Etipia no caso primeiro. Alm disso, a preocupao de converso no pra de animar os
hispnicos347, o que constitua o motor do etnocdio praticado na Amrica indgena 348. Outra
motivao para estas sociedades europias estaria no depauperamento de suas nobrezas, que
na expanso buscam forma de regenerao.
345
Ibidem, p. 21.
Ibidem, p. 21.
347
Ibidem, p. 21.
348
Para mais detalhes, vide o item 1.2 do primeiro captulo, que trata sobre o etnocdio na conquista da Amrica.
346
93
Enquanto a instalao de colonos russos na Sibria encorajada pelos czares para
multiplicar o nmero de seus contribuintes, o caso da Inglaterra seria interessante, porque
comprovaria a continuidade das vises de seus dirigentes desde a poca de Humphrey Gilbert,
no sculo XVI, at os tempos do imperialismo, nos sculos XIX e XX. Gilbert define o duplo
objetivo da expanso: bases navais para o comrcio e terras para instalar colonos protestantes
que no possuem nada. Essa dupla motivao reaparece, mais tarde, na poltica ortodoxa do
czar na poca imperialista, com a partida mais ou menos forada de populaes para a Sibria349.
Nesse sentido, em que a poca do imperialismo diferiria da expanso colonial dos sculos precedentes? Ferro destaca que no seria pelas atrocidades cometidas e sim, em primeiro lugar, por este aspecto: a opinio pblica mobilizada pelos agentes da expanso partido
colonial, bancos, militares, marinheiros, etc. Os glorificadores da expanso conseguiram fazer
triunfar a idia de que a expanso ultramarina era o objetivo final da poltica, tendo sido os
ingleses, entre outros, os primeiros a associar os benefcios do imperialismo ao triunfo da civilizao, esse grande feito dos povos superiores350. De um modo geral, o genocdio e principalmente o etnocdio justificavam-se a partir destas premissas.
No momento em que os avanos da cincia e o sucesso do darwinismo asseguravam
aos mais dotados a tarefa de espalhar pelo mundo os benefcios do progresso, os ingleses se
julgavam necessariamente destinados, em essncia, a realizar esta tarefa, encarregando-se de
civilizar o mundo. Ademais, ao considerarem os indgenas como crianas, eram levados por
suas convices a julgar que, educando-os, eles se civilizariam. Portanto, resistir-lhes era
dar provas de selvageria351. Relacionado a este aspecto, tem-se outra figura negra do colonialismo: a implantao de culturas foradas, ou seja, a prtica do etnocdio dentro do colonialismo. No comunismo, o regime sovitico praticou uma ativa poltica anti-religiosa que visava
tanto cristos quanto judeus ou muulmanos352; deve-se lembrar que, anteriormente, Pedro o
349
FERRO, Marc (Org.). O livro negro do colonialismo, op. cit., p. 22.
Ibidem, p. 23.
351
Ibidem, p. 23.
352
Cabe referir igualmente que polticas anti-religiosas e de extermnio cultural foram praticadas na China, principalmente com a Revoluo Cultural de Mao-Tse-Tung. Destruio da religio tibetana (destruio de templos e
converso forada de povos ideologia comunista) e imposio da lngua do proletariado, visando destruir a
lngua nativa foram, dentre outras formas de violncia, medidas usadas para destruir a cultura do povo tibetano
durante a Revoluo Cultural, em 1966. Dentre as prticas de etnocdio utilizadas, o governo chins havia arrebatado centenas de crianas de seus pais e parentes, deportando-os para educ-los e instru-los na doutrina
do comunismo. Segundo os refugiados, os chineses no se contentavam com a entrega de suas propriedades, mas
insistiam que se entregasse seus espritos. O governo chins exercia forte propaganda contra o budismo e tentava
conseguir pela coao que os tibetanos abandonassem sua religio. A meta se constitua em um s partido, uma
nica maneira de pensar e atuar, uma espcie de homogeneizao, a produo de uma igualdade totalizadora.
350
94
Grande j mandara destruir 418 das 536 mesquitas do governo de Kazan e que, aps um perodo de tolerncia, a ofensiva ortodoxa contra o islamismo havia recomeado sob Alexandre II
e Nicolau II (1881-1917)353.
Marc Ferro destaca que foram principalmente as atitudes racistas dos colonizadores
que constituram os traos estruturais do colonialismo para torn-lo odioso. No caso do racismo, sua tese da superioridade natural de alguns povos, baseada em uma percepo ahistrica
de suas culturas. O racismo opera como um pilar ideolgico dos processos de dominao na
medida em que legitima o predomnio poltico de certo grupo etnoracial. A ideologia racista
um sistema de representaes que se materializa em instituies, em relaes sociais e em
uma organizao peculiar do mundo material e simblico. E a discriminao uma das prticas que reflete mais claramente o imaginrio racista. Consiste em um tratamento diferencial a
certos setores sociais definidos por traos culturais, biolgicos ou fenotpicos, reais ou imaginrios. Atravs das prticas discriminatrias, a ideologia racista difunde-se em todas as instituies sociais: casa, escola, empresa, polcia, etc354.
Nesse sentido, dois tipos de racismo intervieram:
O primeiro se fundamenta numa assero de desigualdade. Esta se apia por vezes
numa concepo evolucionista do ilimitado progresso civilizatrio trazido pelas raas mais
evoludas, as quais avaliam o grau de avano das raas ditas inferiores e, por conseguinte,
menos ou mais assimilveis. Sua forma emblemtica representada pela ideologia colonial da
III Repblica. Mas j em 1550, Seplveda, em sua polmica com o anticolonialista Las Casas,
insistia sobre os pecados dos ndios, sobre a crueldade e os males que eles infligiam, sobre o
carter atrasado de sua cultura, sobre a necessidade de torn-los cristos355. Outras vezes, no
mesmo registro, tal assero se expressa de modo mais sectrio, na crena de que h raas
Nesse sentido, vide Comite Hindu del Congresso por la Libertad de la Cultura. El Tibet y el nuevo imperialismo
chino. Mxico: Libro Mex, 1961, p. 69; MONSTERLEET, Jean. El imprio de Mao-Tse-Tung. Madrid: Nacional, 1955, p. 295; Comit juridique dnqute sur la question du Tibet. Le Tibet et la Rpublique Populaire de
Chine. Comission Internationale de Juristes, 1960, p. 23-41; KHTSUN, Tubten. Memories of life in Lhasa
under chinese rule. New York: Columbia University Press, 2008, p. 167-172; SHAKYA, Tsering. The dragon in
the land of snows. London: Penguin Compass, 2000, p. 320-321.
A proibio do idioma e a introduo forada de uma doutrina tambm foi objeto de prtica durante o nazismo. Nas reas anexadas pela Alemanha, populao local foi proibido o uso do idioma prprio nas escolas. Por
decreto de 6 de agosto de 1940, o alemo se converteu em nico idioma de ensinamento em todas as escolas de
Luxemburgo. O ensinamento do idioma francs nas escolas foi proibido, alm de levar s reas anexadas professores alemes que estavam obrigados a ensinar conforme os princpios do nacional-socialismo. Vide Equipo
NIZKOR. Genocidio: un trmino y un concepto nuevos para referirse a la destruccin de naciones. Disponvel
em: <http://www.derechos.org/nizkor/impu/lemkin1.html>. Acesso em: 04 mai. 2011, p. 5.
353
FERRO, Marc (Org.). O livro negro do colonialismo, op. cit., p. 28.
354
PARS POMBO, Mara Dolores. Estudios sobre el racismo en Amrica Latina. Disponvel em:
<http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/267/26701714.pdf>. Acesso em: 04 mai. 2011, p. 293.
355
Nesse sentido, vide item 1.2.1, do primeiro captulo.
95
inaptas para o progresso: melhor deix-las morrer. Esta assero de desigualdade evolucionista impulsionou o colonialismo.
Outra forma de racismo que contribuiu para o colonialismo, no especialmente ocidental, a que consiste em estimar existirem diferenas de natureza ou de genealogia entre certos
grupos humanos. A principal obsesso que a aterroriza refere-se mistura; mas essa obsesso
pode ter ranos biolgicos e criminais, sendo o cruzamento considerado, especialmente pelos
nazistas, como uma transgresso s leis da natureza356.
Na prtica, as atitudes racistas podem cruzar-se. Enquanto o racismo da diferena, no
necessariamente biolgico, relativamente disseminado e estvel, o racismo universalista
ocidental no parou de ver agravarem-se seus efeitos nos sculos XIX e XX, com a expanso
colonial, a revoluo industrial e os progressos tcnicos do Ocidente. De fato, depois que foi
crescendo ininterruptamente a defasagem tcnica e militar entre a Europa e os outros continentes, a dos nveis de vida, por sua vez, no cessou de ampliar-se. Reforando a idia de uma
superioridade, Paul Bairoch calculou que a defasagem entre os nveis de vida da Europa e os
dos colonizados passou, em um sculo e meio, de 1,5 para 1 a 5,2 para 1357.
Mas o racismo da diferena tambm se desenvolveu, assumindo at mesmo formas
regulamentares: nas ndias, por exemplo, uma deciso de 1791 exclui a partir de ento os
mestios do exerccio de funes na East Indian Company. Com o tempo, diminuiu proporcionalmente o nmero de ingleses que viviam com indianas e, medida que crescia a defasagem entre as sociedades, esse racismo de Estado se desenvolveu358.
O ideal de civilizao e o racismo (que produziam o genocdio e o etnocdio) andaram
juntos no desenvolvimento do colonialismo. Acredito nesta raa..., dizia Joseph Chamberlain, em 1895. Para Marc Ferro, ele entoava um hino imperialista glria dos ingleses e celebrava um povo cujos esforos superavam os de seus rivais franceses, espanhis e outros. Aos
outros povos, subalternos, o ingls levava a superioridade de seu pensamento: o fardo do
homem branco era civilizar o mundo359. Nesse campo, colonialismo e etnocdio no poderiam
estar mais relacionados.
Essa convico e essa misso civilizadora significavam que, no fundo, os outros eram
julgados como representantes de uma cultura inferior, e cabia aos ingleses, vanguarda da
356
FERRO, Marc (Org.). O livro negro do colonialismo, op. cit., p. 30.
Ibidem, p. 31.
358
Ibidem, p. 31.
359
FERRO, Marc. Histria das colonizaes das conquistas s independncias sculos XII a XX. So Paulo:
Companhia das Letras, 1996, p. 39.
357
96
raa branca, educ-los, form-los. Se os franceses tambm achavam que os nativos eram
umas crianas, e sem dvida os consideravam inferiores, suas convices levavam-nos, porm, a fazer afirmaes de outro teor, pelo menos em pblico, ainda que estas no estivessem
necessariamente em consonncia com seus atos360.
Todavia, como aponta Ferro, o que aproximava franceses, ingleses e outros colonizadores, e dava-lhes conscincia de pertencerem Europa, era aquela convico de que encarnavam a cincia e a tcnica, e de que este saber permitia s sociedades por eles subjugadas
progredir, civilizar-se361.
O autor destaca que a histria e o direito ocidental haviam codificado o que era a civilizao. Assim, um conceito cultural, a civilizao, e um sistema de valores tinham funo
econmica e poltica precisa. No s aqueles pases deviam assegurar aos europeus os direitos
que definem a civilizao e que, na verdade, garantiam-lhes a preeminncia, mas a proteo
desses direitos tornava-se a razo de ser, moral, entenda-se, dos conquistadores362.
Os que no se conformavam com isso viravam criminosos, delinqentes, passveis,
portanto, de punio. Assim, na ndia, por exemplo, os ingleses chamavam de tribos criminosas grupos sociais inteiros, legitimando uma interveno cuja finalidade era substituir os
costumes tradicionais e a jurisprudncia vigente pela legislao colonial. De sorte que eram
definidos como criminosos homens e mulheres que no tinham rompido com os grupos
sociais a que pertenciam. O Criminal Tribes Act, de 1871, e depois o Criminal Castes and
Tribes Act, de 1911, marcam o impulso decisivo desse controle, cujo desfecho tanto a condenao do sati (suicdio das vivas) quanto o extermnio dos tugues e outros grupos, considerados bandoleiros. O termo escolhido, que confunde casta e tribo, permite excluir grupos
humanos inteiros, como os kuravares da regio de Madras, definidos como ladres hereditrios363. Para Ferro, esta forma de represso teria caractersticas de racismo.
Cabe salientar ainda que no sculo XIX as idias de Darwin exercem um verdadeiro
fascnio, como comprovaria a obra de Marx, e a luta de classes constituiria a verso humana
da luta de espcies analisada por Darwin. Quanto colonizao, ela surge como a terceira
vertente dessa convico cientificista, com a diferena de que, na sua bondade, o homem
branco no destri as espcies inferiores, mas as educa (aplicando-se, nesse sentido, o etnoc-
360
Ibidem, p. 39.
Ibidem, p. 39.
362
Ibidem, p. 40.
363
Ibidem, p. 40.
361
97
dio), a menos que no sejam humanos, como os aborgenes da Austrlia; nesse caso, o homem
branco as extermina364.
A fora da convico imperialista consistia em que esse movimento associava, de um
lado, os defensores da razo e do progresso que, em matria de histria, acreditavam na inelutabilidade do desenvolvimento das sociedades, na sua inteligibilidade tambm, e, de outro,
lado, homens que colocavam o instinto acima da razo e consideravam a necessidade de ao
um dado essencial da vida. A primeira corrente, liderada na Inglaterra pelo neo-idealismo de
Oxford, concebia o universo como um organismo animado por sua fora moral e sua vontade.
O Imprio, o dos britnicos, acha-se no estgio mais alto da organizao social; um de seus
principais defensores foi Spencer Wilkinson, cujas palavras marcaram homens como os ingleses Alfred Milner, Arnold Toynbee e lord Haldane e, na Alemanha, os discpulos do historiador Ranke365.
Na poca do imperialismo, portanto, os conquistadores conseguiram que triunfasse a
idia de que a colonizao era o objetivo ltimo da poltica. Com a diferena de que, a partir
do momento em que os povos dominados no mais tiveram que seguir a mesma lei dos vencedores, essa opresso exercida sobre os outros, praticada fora do Imprio, correu o risco de
criar, dentro do Imprio, uma predisposio para a tirania, sendo exemplar o caso da Irlanda,
como Burke foi o primeiro a pressentir366.
Para Ferro, o Imprio Britnico s foi o equivalente do Imprio Romano nos seus dominions, onde um ingls era to cidado quanto se morasse no Lancashire. Nas outras colnias, ele representava um tipo de dominador que s podia sobreviver e prosperar destruindo os
costumes e as instituies dos povos conquistados367, ou seja, atravs do etnocdio. Com efeito, demonstra-se a estreita vinculao entre colonialismo e etnocdio, na medida em que a
aquele alimentado deste, no processo de expanso colonialista.
De fato, o colonialismo (e o imperialismo) instaurou uma sistemtica represso no s
de especficas crenas, idias, imagens, smbolos ou conhecimentos que no serviram para a
dominao colonial global. A represso recaiu sobre os modos de conhecer, de produzir conhecimento, de produzir perspectivas, imagens, sistemas de imagens, smbolos, modos de
significao; sobre os recursos, padres e instrumentos de expresso formalizada e objetivada,
intelectual ou visual. Foi seguida pela imposio do uso dos prprios padres de expresso
364
Ibidem, p. 40.
Ibidem, p. 41.
366
Ibidem, p. 41.
367
Ibidem, p. 42.
365
98
dos dominantes, assim como de suas crenas e imagens referidas ao sobrenatural, as quais
serviram no somente para impedir a produo cultural dos dominados, mas tambm como
meios muito eficazes de controle social e cultural, quando a expresso imediata deixou de ser
constante e sistemtica368.
A violncia colonial no se prope somente como finalidade manter uma atitude respeitosa aos homens submetidos: trata de desumaniz-los. Nada ser economizado para liquidar suas tradies, para substituir suas lnguas, para destruir sua cultura369. Nesse sentido,
Aim Csaire expe como a violncia colonial produziu etnocdio, em seu conhecido Discurso sobre o colonialismo, o qual expe as contradies entre a idia de progresso e os rastros
de violncia:
Ouo a tempestade. Me falam de progresso, de realizaes, de enfermidades curadas, de nveis de vida por cima deles mesmos.
Eu, eu falo de sociedades vazias delas mesmas, de culturas pisoteadas, de
instituies minadas, de terras confiscadas, de religies assassinadas, de magnificncias artsticas aniquiladas, de extraordinrias possibilidades suprimidas.
Me refutam com fatos, estatsticas, quilmetros de estradas, de canais, de
vias frreas.
Eu, eu falo de milhares de homens sacrificados na construo da linha frrea Congo-Ocean. Falo daqueles que, no momento em que escrevo, esto cavando
com suas mos o porto de Abijan. Falo de milhes de homens desarraigados de seus
deuses, de sua terra, de seus costumes, de sua vida, da vida, da dana, da sabedoria.
Eu falo de milhes de homens a quem sabiamente lhes foi inculcado o medo, o complexo de inferioridade, o temor, o pr-se de joelhos, o desespero, o servi370
lismo .
Nesse aspecto, o discurso de Csaire retrata toda a carga de violncia que o colonialismo, com o etnocdio (destruio de religies, dentre outros aspectos), deixaram na sua caminhada para o progresso. A destruio, desumanizao e inferiorizao do colonizado foram aspectos caractersticos dos processos de colonialismo, como se pde verificar nesta exposio sobre o colonialismo e sua relao com o etnocdio. O oprimido, com a energia e a
tenacidade do nufrago, arremessa-se sobre a cultura imposta371. Uma caminhada de destrui-
368
QUIJANO,
Anbal.
Colonialidade
e
Modernidade/Racionalidade.
Disponvel
em:
<http://pt.scribd.com/doc/36091067/Anibal-Quijano-Colonialidade-e-Modernidade-Racionalidade>. Acesso em:
04 mai. 2011, p. 2.
369
SARTRE, Jean-Paul. In FANON, Frantz. Los condenados de la tierra. Mxico: Fondo de cultura econmica,
1983, p. 10.
370
CSAIRE, Aim. Discurso sobre el colonialismo. Madrid: Akal, 2006, p. 20.
371
FANON, Frantz. Em defesa da revoluo africana. Lisboa: Livraria S da Costa Editora, 1980, p. 43.
99
o do colonizado, a partir de uma idia de nao monotnica372, a ser expandida por todos os
povos conquistados.
Por todas estas consideraes apresentadas, pode-se dizer que o colonialismo traduz
muito mais do que a simples conquista de territrios, dominao e escravizao de povos inteiros. Em muitas ocasies, ela envolve tambm uma espcie de conquista espiritual, conquista do imaginrio do colonizado, mediante o emprego da violncia. Colonialismo e etnocdio
tm, por vezes, objetivos semelhantes: a expanso do imprio e a expanso violenta de uma
forma de enxergar o mundo, buscando converter mediante a fora o grupo conquistado.
2.2.2 Privao de direitos e destruio da vida humana: a violncia como instrumento
do etnocdio
Pensar a violncia como instrumento do etnocdio essencial para entender como esta
forma de violao de direitos humanos se constitui. Ao longo de todo o trabalho desenvolvido
at aqui, pode-se perceber que o etnocdio possui uma forte expresso que carrega a violncia
em seu mago. Contudo, necessrio ressaltar algumas consideraes sobre a violncia, para
melhor entendimento do fenmeno do etnocdio.
Pode-se dizer que a violncia um elemento estrutural, intrnseco ao fato social e no
o resto de uma ordem brbara em vias de extino, conforme leciona Ruth Gauer 373. Este fenmeno est inserido em todas as sociedades, fazendo parte de qualquer civilizao ou grupo
humano.
Existem muitas definies sobre a violncia. Alguns autores entendem a violncia
como qualquer conduta intencional que causa ou possa causar dano a outrem374. Por sua vez, a
Organizao Mundial de Sade define a violncia como o uso deliberado da fora fsica ou de
poder, que seja em grau de ameaa ou efetiva, contra a prpria pessoa, contra outra pessoa,
372
Para mais informaes sobre o emprego deste termo, vide a obra de Edgar Morin: MORIN, Edgar. Cultura e
barbrie europias. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2009, p. 29.
373
GAUER, Ruth Maria Chitt; GAUER, Gabriel Jos Chitt (Org.). A fenomenologia da violncia. Curitiba:
Juru, 2008, p. 13.
374
ESPLUGUES, Jos Sanmartn. Que es violencia? Uma aproximacin al concepto y a la clasificacin de la
violencia. Disponvel em: <http://revistas.um.es/daimon/article/view/95881>. Acesso em: 28 abr. 2011, p. 1.
100
um grupo ou comunidade, e que cause ou tenha muitas possibilidades de causar leses, mortes, danos psicolgicos, transtornos ou privaes375.
A classificao de violncia utilizada no Informativo Mundial sobre a Violncia e Sade divide a violncia em trs grandes categorias: a violncia dirigida contra a prpria pessoa,
a violncia interpessoal e a comunitria. De outra parte existe tambm a chamada violncia
estrutural, que pode ser definida como aquela encoberta, por tratar-se de um tipo de violncia
de tipo sistmico; no provm da ao violenta de um indivduo sobre outro, mas do resultado
de um sistema social que oferece oportunidades desiguais a seus membros; o grau de violncia estrutural ocorre quando se produzem mortes que so evitveis de acordo com o grau de
desenvolvimento alcanado por uma sociedade376.
Por fim, cabe destacar a definio proposta por Hussein Abdilahi Bulhan, que em sua
obra sobre Frantz Fanon e a psicologia da opresso dedica partes de seu trabalho sobre este
tema. Para ele, a violncia qualquer relao, processo ou condio em que um indivduo ou
um grupo viola a integridade fsica, social e psicolgica de outra pessoa ou grupo. Qualquer
relao ou processo que imponha danos a outros considerado uma relao violenta377.
Podemos ainda destacar, no que concerne violncia, o seu carter instrumental378.
Ou seja, ela empregada para atingir um determinado objetivo (como o extermnio de grupos
humanos inteiros ou de identidades culturais); depende da orientao e justificao pelo fim
que almeja.
A partir dos apontamentos do autor Nilo Odalia379, a violncia pode ser definida como
uma privao. E esta privao, pode ocorrer de vrias formas: a) a violncia fsica, que atinge
diretamente o homem, seja naquilo que ele possui (seu corpo, seus bens), ou at mesmo naquilo que ele mais ama (sua famlia, amigos, ou at mesmo seu povo); b) a violncia institucionalizada, que se d a partir de desigualdade social, do sofrimento, da dor, da produo da
indiferena pelos outros, impondo a ausncia de qualquer sentimento de solidariedade, admi375
PACHECO, Rosely Aparecida Stefanes. A violncia contra os povos indgenas: uma estrutura invisvel que
impe
a
fronteira
entre
a
vida
e
morte.
Disponvel
em:
<http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/salvador/rosely_aparecida_stefanes_pacheco.pdf>. Acesso
em: 04 mai. 2011, p. 2.740.
376
Ibidem, p. 2.740.
377
BULHAN, Hussein Abdilahi. Frantz Fanon and the psychology of oppression. New York: Plennum Press,
2010, p. 135.
378
Hannah Arendt refere em sua obra sobre a violncia: A violncia por natureza instrumental; como todos os
meios, ela sempre depende da orientao e da justificao pelo fim que almeja. E aquilo que necessita de justificao por outra coisa no pode ser a essncia de nada. ARENDT, Hannah. Sobre a Violncia. 3 ed. Rio de
Janeiro: Relume Dumar, 2001, p. 40-41.
379
ODALIA, Nilo. O que violncia? So Paulo: Brasiliense, 2004.
101
tindo que esta indiferena uma relao natural; c) a violncia social, que atinge de forma
seletiva certos segmentos da populao (os mais vulnerveis) e que se apresenta como uma
condio necessria para o futuro da sociedade como a distino entre pobres e ricos e a
discriminao racial e a poluio ambiental; d) a violncia poltica (assassinato poltico, invaso de um Pas sobre outro, ou at mesmo leis que visam violar determinados segmentos da
sociedade, grupos sociais e polticos); e e) a violncia revolucionria, que ocorre em uma
busca de modificao de um contexto scio-poltico, empregando tcnicas de privao dos
indivduos, de violncia.
Podemos referir que os tipos mais presentes de violncia que se apresentam no contexto do etnocdio so a violncia fsica, institucionalizada, social e poltica. Fsica, pelo fato do
etnocdio buscar, mediante a inscrio da dor no corpo das vtimas (assassinatos e agresso
fsica), convert-las coletiva e foradamente ideologia do agressor ou colonizador (como se
constata pela observncia do processo de conquista da Amrica, pela evangelizao forada).
Institucionalizada, devido ao fato de que as vtimas do etnocdio so alvo de um processo de
inferiorizao, ou desumanizao; existe uma completa ausncia de solidariedade, uma indiferena que justifica a imposio de uma ideologia a ser seguida por todos os membros do grupo, na consecuo de um projeto totalizante. Social, na medida em que pode selecionar certos
grupos vulnerveis para o extermnio de sua cultura e a imposio de outra, justificando sua
prtica para o bem da sociedade e para o progresso (como visto anteriormente, acerca do
processo de colonialismo e imperialismo). E poltica, com base na adoo de procedimentos e
leis que buscam legitimar a imposio de uma ideologia a ser adotada em toda a sociedade
(leis de imposio de lngua oficial, religio ou idias polticas, a serem seguidas por todos,
mediante a fora).
Com base na concepo de Nilo Odalia, podemos, portanto, adicionar uma primeira
caracterstica da violncia nos processos etnocidas: a privao. Privar significa tirar, destituir,
despojar, desapossar algum de alguma coisa. Todo ato de violncia carrega em seu cerne
isso. O ato de violncia nos despoja de alguma coisa, de nossa vida, de nossos direitos como
pessoas e como cidados. Seguindo a orientao do autor, a violncia nos impede no apenas
ser o que gostaramos de ser, mas fundamentalmente de nos realizar como homens380. Nesse
aspecto, o etnocdio exercido mediante uma tcnica de privao: privao da lngua, da religio, da cultura e em substituio a esta a cultura imposta, mediante a agresso.
380
Ibidem, p. 86.
102
Outra caracterstica fundamental da violncia a sua capacidade ou potencialidade de
trazer a destruio da vida humana. Este elemento tambm presente nas prticas de etnocdio, pois a imposio da cultura do agressor mediante a fora no se caracteriza apenas como
uma privao de direitos, mas nega a reproduo da vida humana na sua dimenso cultural
que caracteriza determinado grupo humano. Nosso propsito nesta etapa desenvolver este
segundo ponto caracterstico da violncia e do etnocdio como conseqncia.
Castor Bartolom Ruiz381 assevera que a violncia deve ser compreendida na sua relao com a tica e alm do direito. Isso significa que a anlise crtica da violncia deve tentar
superar a perspectiva jurdica da transgresso legal e posicionar-se no lugar da vtima que a
sofre. Seriam duas perspectivas diferentes: para a primeira a violncia seria uma ruptura da
ordem estabelecida; j para a vtima, a violncia uma violao tica. Para o direito, a violncia inerente preservao da ordem; para a vtima, o desaparecimento da violncia uma
condio elementar da sua sobrevivncia382.
A gnese da violncia seria correlativa violao tica que produz e no a um mero
ato de transgresso do direito. A tese desenvolvida pelo autor de que a violncia, por negar a
alteridade humana, antes de um ato (i)legtimo do direito, uma transgresso tica. Para Ruiz, esta tese traria conseqncias importantes para uma teoria da justia383.
Para o autor, toda crtica da violncia se insere entre o direito e a tica, entre justificar
a sua legitimidade ou denunci-la como intrinsecamente injusta. As concluses sobre a legitimidade ou ilegitimidade da violncia dependeriam do ngulo de anlise. A fim de analisar
esta diferena e suas conseqncias, Ruiz desenvolve sua tese com base na obra Por uma crtica da violncia, de Walter Benjamim384.
O autor, reportando-se a Benjamim, aduz que a violncia correlativa tica e afirma
que s existe violncia nas relaes morais, e as relaes morais s existem entre seres humanos; conseqentemente, um ato somente poderia ser qualificado de violento segundo esta definio, quando atinge a seres humanos. Assim, a correlao entre violncia e alteridade humana vincularia hermeneuticamente a violncia com a tica. Um ato s pode ser violento se
nega, de alguma maneira, a alteridade humana. Caso contrrio, poder-se-ia falar em agressividade, mas no de violncia. Com efeito, um ato que no negue a alteridade humana no pode381
RUIZ, Castor Bartolom. Justia e memria para uma crtica tica da violncia. So Leopoldo: Unisinos,
2009, p. 87.
382
Ibidem, p. 87.
383
Ibidem, p. 87.
384
Ibidem, p. 88.
103
r ser considerado violncia, mas sim agressividade. Trata-se de um ponto crucial da tese desenvolvida por Ruiz385.
O autor, tecendo consideraes sobre as aproximaes fenomenolgicas naturalizao da violncia, ressalta que o estudo de Benjamim sobre a violncia centra a sua anlise
crtica da violncia social, nas suas relaes com o direito, deixando de lado qualquer tipo de
fenomenologia da violncia. Porm, na acepo de Ruiz, somente uma fenomenologia da violncia permite analis-la criticamente para alm do prprio direito. Assim, o autor faz uma
distino conceitual entre agressividade e violncia. Para este autor, a agressividade, em algumas formas, pode ser considerada natural, enquanto a violncia se define como tal a partir
da intencionalidade estratgica que a produz386.
Bartolom Ruiz ressalta que considerar a violncia como uma pulso natural do comportamento humano (e consequentemente das relaes sociais) levaria a concluses fatalistas
sobre a sua presena na sociedade e no poder. Este seria um debate clssico, que abrangeria
uma diversidade de estudos desde a antropologia biolgica at a filosofia poltica. A fim de
contrastar sua perspectiva filosfica, o autor se reporta ao estudo do bilogo Konrad Lorenz,
sobre a agressividade. Neste trabalho, Ruiz destaca que o autor no faz distino entre os conceitos de agressividade e violncia. Com efeito, esta indistino o induziria, por um lado, a
constatar que a agressividade seria uma pulso natural existente em todas as espcies vivas
com funes necessrias para a sobrevivncia dos indivduos e das espcies. Esta constatao
o induziria a concluir que, de uma outra forma, a agressividade constitutiva da vida387.
Na descrio feita pelo autor e reproduzida por Ruiz, cada espcie viva, includos os
seres humanos, se serve de formas agressivas para conseguir sobreviver como indivduo e
espcie. Para evitar que a agressividade seja totalmente autodestrutiva, foram criados rituais.
Atravs de ritos cada espcie conseguiria neutralizar o potencial devastador da agressividade
que, pela sua pulso mimtica, levaria destruio do grupo e a longo prazo desapario da
espcie388.
A indistino conceitual entre agressividade e violncia induziria Lorenz a concluir
que a moral cumpriria, nos seres humanos, o mesmo papel que os ritos de inibio dos animais. A violncia, entendida como agressividade compulsiva, seria inerente espcie humana, dela necessitando para sobreviver. E para evitar os excessos destrutivos da mesma, o ser
385
Ibidem, p. 88.
Ibidem, p. 88.
387
Ibidem, p. 89.
388
Ibidem, p. 89.
386
104
humano teria criado a moral. Nesta viso biolgica, a moral teria um papel funcional explicado pela necessidade de sobrevivncia da espcie. Com efeito, a funcionalidade biolgica explicaria o surgimento da moral como cdigo inibidor da violncia, semelhana dos rituais
que as outras espcies criaram. Na descrio de Lorenz reproduzida por Ruiz, as leis morais
(no matars), o direito e outras formas de tradio social seriam recursos suplementares dos
rituais que os seres humanos teriam encontrado para neutralizar a pulso mimtica da violncia389.
Para Ruiz, a tese de que a violncia seria um componente da natureza humana induziria concluso filosfica de que aquela necessria para convivncia, inclusive como fator
determinante do funcionamento das instituies. A naturalizao da violncia constrangiria a
filosofia poltica a pensar a sociedade a partir de duas alternativas: a) deixar que a violncia
atue na sociedade como uma pulso natural sem inibio alguma, o que levaria a uma mimese
autodestrutiva; b) aceit-la como pulso natural inevitvel, no obstante deva ser controlada
pelos cdigos morais e jurdicos a fim de ser integrada nas relaes sociais de modo produtivo. Na descrio de Ruiz, nas duas hipteses a violncia seria um dado natural que a sociedade deveria aceitar como elemento inerente ao poder. Por conseqncia, o papel da sociedade
seria discernir sobre qual a violncia legtima ou ilegtima, para utilizar-se dela de modo
adequado. Porm, no haveria poder sem violncia nem sociedade sem uso legtimo da
mesma390.
Ruiz destaca que este debate filosfico estaria instaurado desde os primrdios da modernidade, em que Hobbes defendeu que o estado de natureza humano seria um estado de
guerra de todos contra todos. O liberalismo econmico teria reagido, em parte, s propostas de
Hobbes, mas no questionou o pressuposto filosfico de que o estado de natureza humano
seja necessariamente violento. Para o autor, com base neste pressuposto se criaram o Estado e
o mercado, instituies que regulam a lgica natural da violncia. Nesse sentido, se instituiu o
monoplio da violncia no Estado e se deixou que no mercado vigorasse a lei natural da concorrncia de todos contra todos, o que beneficia os mais fortes391.
Com base nestas explicaes, Ruiz aponta um erro conceitual e filosfico grave nas
teorias filosficas e antropolgicas que identificam a agressividade com a violncia. Essa identificao (con)fundiria duas realidades distintas, assimilando uma na outra como equiva-
389
Ibidem, p. 89.
Ibidem, p. 89-90.
391
Ibidem, p. 90.
390
105
lentes sem ponderar que a naturalidade de uma contrasta com a intencionalidade da outra.
Ambas compartilhariam influncias e incidncias, mas seriam diversas392.
A agressividade definida pelo autor como uma pulso natural diversa e polimorfa; no
entanto, seria constitutiva de todo ser vivo. Por outro lado, a violncia se definiria como um
ato de significao intencional com o objetivo de negar, total ou parcialmente, a alteridade
da vida humana. Na definio de violncia anteriormente exposta haveria dois elementos que
a diferenciam claramente da agressividade: 1) a significao intencional e 2) a negao da
alteridade humana393.
No que concerne intencionalidade, esta traduz o ato violento na lgica dos meios e
fins, que Benjamim analisa em sua crtica da violncia. Esta operaria como meio estratgico
para um fim almejado. Para Ruiz, a intencionalidade do sujeito elaboraria a violncia como
estratgia apropriada para um objetivo. Reportando-se a Weber, o autor assevera que a lgica
de meios adequados para fins desejados seria o que caracteriza a racionalidade instrumental
moderna. Esta requer, em maior ou menor grau, uma intencionalidade prvia, uma premeditao de meios e fins, dentro do qual a violncia deixa de ser uma mera pulso natural para se
transformar numa deciso deliberativa. A racionalidade instrumental produziria a violncia
como ato, o que a diferencia qualitativamente da pulso agressiva. Para o autor, a pulso agressiva seria natural; j a violncia seria social. A pulso agressiva seria inerente s diversas
formas de vida (includa a vida humana), no entanto a violncia requer a significao intencional da agressividade para atingir um objetivo definido, o que a tornaria um ato exclusivamente humano394.
Continuando a sua exposio, Ruiz destaca que os animais seriam agressivos, mas no
violentos, pois no conseguem articular sua agressividade numa lgica intencional de meios e
fins. De igual forma, um ato humano que fere ou mata outro de forma acidental e sem inteno prvia de o fazer no poderia ser considerado um ato estritamente violento, pois lhe faltaria o componente da intencionalidade. A inteno significativa faria da agressividade um meio
estratgico para um fim. Ela transforma a agressividade em violncia. A agressividade influenciaria a violncia e manteria em comum a potncia mimtica, contudo ambas no se identificam395.
392
Ibidem, p. 90.
Ibidem, p. 90.
394
Ibidem, p. 91.
395
Ibidem, p. 91.
393
106
O segundo elemento constitutivo da violncia, conjuntamente com a intencionalidade,
, de acordo com Ruiz, a negao total ou parcial da alteridade humana. Somente o ato que
nega o outro pode ser considerado violento. As formas de agressividade contra as coisas, contra a natureza ou contra os outros seres vivos, s de forma metafrica poderiam ser denominadas de violncia. Para o autor, isso no quer dizer que no tenham implicaes ticas pelo
que afeta a outros seres humanos e pela sensibilidade humana a respeito dos outros seres vivos. Contudo, no sentido estrito do termo, a violncia somente poderia ser cometida contra
outro ser humano. Matar uma galinha, um touro ou uma baleia poderia ser um ato de agressividade cruel ou uma ao legtima para a sobrevivncia de um ser humano, dependendo das
circunstncias. Haveria aspectos ticos na morte dos animais, porm a violncia tica somente
se cometeria contra o ser humano. Para Ruiz, a vida humana se torna um critrio tico que
julga a violncia. A correlao necessria da violncia com a negao do outro ser humano
transformaria toda violncia numa afronta tica. Assim, a pessoa que destri um objeto poderia ser chamada de agressiva, mas no de violenta. Quem nega, total ou parcialmente, a alteridade de um ser humano cometeria violncia e ultrajaria a tica396.
Para Ruiz, as conseqncias polticas desta distino fenomenolgica entre a violncia
e a agressividade seriam importantes. Os animais seriam naturalmente agressivos, mas no
seriam violentos porque agiriam por instinto a sem intencionalidade predeterminada. A intencionalidade significativa seria condio necessria para que um ato agressivo (que pode ser
instintivo ou pulsional) se transforme em violncia. S o ser humano teria o poder de significar seus atos, para o bem ou para o mal. A significao intencional transformaria a agressividade em violncia, mas a agressividade intencional s poderia ser caracterizada como violncia quando destri total ou parcialmente a alteridade de outro ser humano. nesse sentido que Benjamim destacaria que s h violncia quando um ato incide sobre as relaes morais. Por isso a violncia afetaria diretamente a justia, mas no a justia do direito, seno a
justia tica397.
A segunda concluso importante que o autor extrai da distino entre agressividade e
violncia seria que a agressividade natural, mas a violncia no. A agressividade estaria
associada ao impulso de sobrevivncia de todas as espcies. A agressividade teria inclusive
muitas funes positivas, quando bem canalizada, para o desenvolvimento da vida humana;
porm, a violncia traria consigo sempre a destruio, total ou parcial, da vida humana. Sem
396
397
Ibidem, p. 91-92.
Ibidem, p. 92.
107
isso no seria violncia. A agressividade seria compulsiva e sua funo seria preservar aspectos vitais da existncia de cada indivduo. A violncia seria uma agressividade significada
estrategicamente como um meio para a consecuo de um fim (como aponta Hannah Arendt,
sobre o carter instrumental da violncia). Ela significaria a agresso vida do outro como
ttica intencional para uma finalidade preconcebida. Por isso todos os animais seriam agressivos, mas s o ser humano pode ser violento. S o ser humano teria a capacidade hermenutica
de significar intencionalmente sua agressividade para a destruio do outro, segundo o fim
estabelecido pela prpria racionalidade. Do que se conclui que toda violncia, embora possua
elementos pulsionais da agressividade, se construiria sempre a partir de uma racionalidade
instrumental que faz da vida do outro um instrumento til na lgica de meio necessrio para
um fim almejado398.
Outro aspecto que Ruiz aponta em seu trabalho que a violncia tem um fim imediato: as vtimas. Se a violncia se define como um ato intencional de destruio do outro, ela,
antes de ter uma relao com o direito, atinge a tica. Desde esta perspectiva, a tica nunca
um mero meio, pois carrega sempre um fim prprio e imediato. Esse fim primeiro de toda
violncia a negao, total ou parcial, da vida humana399.
A violncia utilizada sempre como um meio estratgico para atingir determinados
fins. Contudo, previamente a qualquer utilizao estratgica ou instrumental da mesma, ela
contm uma finalidade prpria que sempre a destruio do outro. Sem essa finalidade um
ato no poderia ser considerado violento. Desde a perspectiva tica, o olhar sobre a violncia
mudaria de foco e passaria a vigorar a perspectiva da vtima. O fim imediato inerente de toda
violncia, para o autor, produzir vtimas; seriam as vtimas da violncia que percebem em
toda a sua plenitude esse fim imediato que elas sofrem como destruio de sua vida. Assim,
desde a perspectiva das vtimas toda violncia ilegtima. Para a vtima que sofre a destruio
total ou parcial de sua vida no h violncia que possa justificar a barbrie. Para ela a violncia nunca um mero meio em relao a um fim, antes de mais nada ela atua com a finalidade
imediata de destruir sua vida. A vtima seria o fim que a violncia instrumentaliza para outros
objetivos considerados prioritrios400.
Nesse contexto podemos inserir a prtica do etnocdio. A utilizao da violncia como
meio precpuo para a destruio da identidade cultural de um grupo humano (destruindo-o
tambm fisicamente), visando um projeto totalizador, revela que esta forma de violncia se
398
Ibidem, p. 92.
Ibidem, p. 101.
400
Ibidem, p. 101.
399
108
inscreve na destruio da vida humana na sua dimenso cultural, o que provoca igualmente a
destruio fsica do grupo. Ambos os elementos caracterizadores da violncia intencionalidade e destruio da vida humana esto presentes nas prticas etnocidas, pois a destruio
da cadeia simblica de transmisso de crenas, valores e smbolos ocorre precisamente com a
destruio dos seres humanos que transmitem esses valores para a preservao de sua vida
humana. A violncia inscrita na carne, mediante a privao de direitos e a destruio da vida
humana, no seu aspecto cultural, condio de concretizao do etnocdio.
2.3 A CONDIO DE VULNERABILIDADE E DE VTIMAS EM POTENCIAL
A condio de vulnerabilidade e de vtimas em potencial outro aspecto social que
gira em torno das prticas de etnocdio. Uma vez existente a imposio da ideologia do agressor, a vtima encontra-se em uma situao de vulnerabilidade frente a este, uma situao de
impotncia em que no se encontram alternativas para mudar seu destino. Sua escolha de vida
se resume em optar por integrar a cultura dominante do agressor ou perecer fisicamente. Por
sua vez, a condio de vtimas em potencial aponta para o fato de que determinados grupos
humanos vivem em uma espcie de estado de perigo permanente, em face de sua condio
social. A seguir, abordaremos alguns aspectos relativos conceituao de grupos de condio
de vulnerabilidade, para aps tecer comentrios a respeito da condio de vtimas em potencial e do risco de extino fsica e cultural, que se resulta do risco social.
2.3.1 A condio de vulnerabilidade
Sobre a condio de vulnerabilidade, pode-se afirmar que a vulnerabilidade, de um
modo geral, parte constituinte da nossa condio humana. Ela uma caracterstica do ser
humano, visto que este se constitui com um ser natural que se reconhece como corporal 401. A
dimenso da dor o que indica que somos vulnerveis, frgeis. Como leciona Germn Gutirrez402, se consideramos que somos vulnerveis, terminamos reconhecendo que a vulnerabilidade uma caracterstica de nossa condio humana. Isso significa tambm que somos seres
401
Sobre a questo relativa corporalidade, indicamos ao leitor o item 1.3, 1.3.1 e 1.3.2, todos do primeiro captulo, e que versam sobre a corporalidade humana.
402
GUTIRREZ, Germn. Vulnerabilidad, corporalidad, sujeto y poltica popular. Disponvel em: <www.deicr.org/uploaded/content/publicacione/1531536690.pdf>. Acesso em: 28 abr. 2011, p. 3.
109
necessitados de cuidado e ajuda por parte de outros seres humanos e da natureza. A conscincia de nossa corporalidade nos conduz ao reconhecimento desta dupla dependncia403.
Para tanto, no somos seres completamente autnomos e independentes. Antes de tudo, somos dependentes e necessitados de cuidado e ajuda, dada a nossa vulnerabilidade, que
no seno um modo de dizer corporalidade. A experincia de dependncia uma experincia originria, constituinte de cada um dos seres humanos. Este o primeiro sentido do termo
vulnerabilidade404.
Um segundo sentido do termo vulnerabilidade, mas que completa o primeiro, que
existe uma abertura ao outro, que se impe, e que nos abre a um tipo de sensibilidade at o
outro em geral. Algum que nos acolhe o faz porque foi afetado por nossa fragilidade (ao
mesmo tempo em que se reconhece como frgil tambm). Logo, dizer vulnerabilidade comporta sempre um sentido de debilidade e fragilidade que interpela o outro ser humano, alm
de exprimir um sentido de abertura, cuidado, carinho, ateno e solidariedade a outros seres
que desde seu sofrimento e vulnerabilidade nos interpelam405.
Para tanto, a complementao entre nosso desejo de viver e nossa vulnerabilidade (em
seu duplo sentido, fragilidade e dependncia), nos conduz de maneira necessria reivindicao do direito de todos os seres humanos a viver, reproduzir e desenvolver sua vida em todos
os aspectos (social, econmico, cultural, espiritual), e exigirmos o respeito a este direito como
algo absoluto, sagrado406. Este princpio de vulnerabilidade, que corporal, faz possvel a
constituio do sentido no s de nossa vida, mas tambm do mundo que nos rodeia. um
fundamento da sociabilidade e tambm um princpio necessrio para a vida social407. Dentro
deste aspecto, pode-se referir que a vulnerabilidade faz parte de nossa condio humana.
Contudo, seguindo esta idia, podemos analisar o caso das vtimas do etnocdio e
tambm do genocdio como seres humanos em condio de vulnerabilidade, porm com um
aspecto vulnervel que se constitui alm de sua condio humana. Ou seja, alm da vulnerabilidade proveniente da sua condio de ser humano como referimos nas linhas anteriores a
vtima do etnocdio comporta uma condio de vulnerabilidade especial, pois sua cultura
ameaada por outra mais poderosa materialmente. As vtimas do etnocdio, enquanto grupo
vulnervel, carregam dentro de si uma fragilidade e impotncia frente ao agres403
Ibidem, p. 3.
Ibidem, p. 3.
405
Ibidem, p. 4.
406
Ibidem, p. 4.
407
Ibidem, p. 5.
404
110
sor/colonizador, que exclui as chances de se desviar de seu destino: a morte cultural (e por
vezes fsica).
A imposio da ideologia do colonizador ou agressor feita de modo vertical, numa
relao desigual, em que o grupo-vtima impotente, impossibilitado de resistir violncia. A
escolha resulta em converter-se s idias do agressor ou perecer fisicamente. O etnocdio,
mais do que uma violncia fsica, uma violncia espiritual: busca aniquilar e exterminar as
crenas e valores que so adotadas por uma coletividade, visando implementar a ideologia do
agressor como na conquista da Amrica indgena, na ocupao nazista ou na violncia praticada contra monges no Tibet408.
Ives Ternon, em sua obra El Estado criminal los genocdios del siglo XX, expe como se constitui a vulnerabilidade do grupo no caso do genocdio. Seguindo sua orientao no
que tange ao aspecto da vulnerabilidade, podemos transpor seus fundamentos para o caso do
etnocdio.
O autor enfatiza, citando Dadrian, que o genocdio seria a tentativa lograda por um
grupo dominante, investido de uma autoridade formal e/ou podendo aceder ao conjunto de
meios de que dispe o poder, de reduzir mediante coero ou violncia assassina o nmero de
um grupo minoritrio cujo extermnio final considerado como desejvel e til e cuja vulnerabilidade um dos principais fatores que contribui na deciso de um genocdio409.
Nesse sentido, o Estado ou o grupo dominante politicamente busca eliminar o grupo ou sua cultura com um mnimo de risco. A vtima do genocdio e tambm do etnocdio
dbil, est condenada a padecer sua fatalidade, no tem meios para mudar sua sorte. O mximo que pode fazer resistir, prorrogar o prazo, mas no suprimi-lo. No se trata de uma
guerra, mas da devorao do cordeiro pelo lobo. O genocdio (e o etnocdio) um crime
perpetrado contra vtimas impotentes por covardes que no correm nenhum perigo 410. Aqui
reside a condio de vulnerabilidade do grupo humano vtima do etnocdio.
408
Para mais informaes, vida o item 1.2.1, do captulo 1 e os itens 2.2 e 2.2.1, deste captulo.
TERNON, Yves. El Estado criminal los genocdios del siglo XX. Barcelona: Pennsula, 1995, p. 78.
410
Ibidem, p. 78.
409
111
2.3.2 A condio de vtimas em potencial
No que tange condio de vtimas em potencial, trata-se de um aspecto que est relacionado de certa forma com a existncia de um grupo minoritrio, que habita um determinado
territrio. Pode-se dizer que as vtimas potenciais411 se encontram em estado de perigo permanente, diante do risco social de extino ( o caso de muitos grupos indgenas no Brasil).
Robrio Nunes dos Anjos Filho412, expondo consideraes acerca dos aspectos caracterizadores de uma minoria, refere que esta se configura pela existncia das seguintes caractersticas: os elementos objetivos, que seriam o elemento diferenciador, o quantitativo, o da nacionalidade e o de no-dominncia; e ainda teramos um elemento outro, de natureza subjetiva: o da solidariedade.
Iniciando pelos elementos objetivos, temos primeiramente o aspecto diferenciador.
Exige-se que este elemento esteja presente de forma estvel, em cada membro do grupo, devendo estar presente uma determinada caracterstica que o distinga do restante da populao.
Contudo, ele no pode ser considerado de forma isolada para caracterizar uma minoria sem a
incidncia de outros elementos de natureza objetiva e subjetiva. Caso contrrio, como aponta
o autor, poderia se chegar ao extremo de ter que se admitir que cada ser humano, em virtude
de suas prprias singularidades, seria uma minoria. No Pacto de Direitos Civis e Polticos de
1966, os elementos diferenciadores considerados para fins de proteo foram a etnia, religio
e lngua. Como normalmente o elemento diferenciador qualifica a minoria, fala-se, assim, em
minorias tnicas, religiosas e lingsticas413.
No que tange questo quantitativa, esta revela a concepo de que um grupo numericamente majoritrio em uma sociedade no pode ser considerado minoria. Parte-se da presuno, portanto, de que grupos majoritrios no precisam de proteo especial. Tambm no
pode ser o nico a qualificar um grupo como minoria, devendo estar acompanhado de outros
elementos. Dessa forma, nem todos os grupos quantitativamente inferiores devem ser necessariamente protegidos como minorias. Deve-se atentar ainda para o fato de que maioria e mino-
411
TRINDADE, Antnio Augusto Canado. Direitos Humanos e Meio Ambiente: paralelo dos sistemas de proteo ambiental. Porto Alegre: Srgio Antnio Fabris Editor, 1993, p. 59.
412
FILHO, Robrio Nunes dos Anjos. Minorias e grupos vulnerveis: uma proposta de distino. In FILHO,
Robrio Nunes dos Anjos (Org.). Direitos humanos estudos em homenagem ao professor Fbio Konder Comparato. Salvador: JusPodivm, 2010, p. 405-430.
413
Ibidem, p. 412.
112
ria em sentido puramente quantitativo so conceitos dinmicos, que podem variar no tempo,
fazendo com que um grupo antes minoritrio possa passar a ser majoritrio, e vice-versa414.
Quanto ao elemento da nacionalidade, nos trabalhos empreendidos pela ONU, o Comit de Direitos Humanos, ao interpretar o art. 27 do Pacto Internacional de Direitos Civis e
Polticos entende que os Estados no podem negar os direitos ali referidos a quem no fosse
seu nacional ou seu residente permanente. Assim, hoje em dia a tendncia a de se reconhecer a existncia de obrigaes dos Estados para com os grupos minoritrios que se encontrem
dentro dos seus limites territoriais, independentemente das pessoas que os compem serem
seus nacionais ou cidados415.
No que concerne ao elemento da no-dominncia, este exige que o grupo no esteja
em uma situao de domnio do processo poltico no Estado em que se encontra. De fato, grupos que exercem o poder poltico, encontrando-se em situao de fora e destaque na sociedade, ainda que sejam numericamente pequenos no podero ser considerados minorias para
fins de especial proteo, at porque esta no seria suficiente para caracterizar uma minoria,
devendo ser analisada conjuntamente com outros elementos. Caso contrrio, todo grupo vencido em um processo eleitoral necessariamente deveria ser tido como minoria para fins de
especial proteo416.
Finalmente, temos o elemento de solidariedade, que possui carter subjetivo, significando uma vontade coletiva dos membros do grupo de preservar o elemento diferenciador, ou
seja, os caracteres que os distinguem do restante das pessoas. Assim, s podem ser entendidos
como grupos minoritrios aqueles que, no mximo, tenham o desejo de integrao, conservando suas caractersticas diferenciadoras. A discusso d ensejo distino entre assimilao
e integrao, sendo a primeira um processo de aproximao do qual resulta a perda do elemento diferenciador417, ao contrrio da segunda. Tambm no pode ser o nico a ser considerado, pois, do contrrio, qualquer grupo que deseje manter suas peculiaridades ser considerado uma minoria, ainda que seja, por exemplo, dominante em termos polticos418.
Feitas estas consideraes sobre as caractersticas de um grupo minoritrio, devemos
retornar abordagem da concepo de vtimas em potencial. Estas, em virtude de seu estado
de perigo permanente, diante do risco de extino fsica e cultural, so caracterizados como
414
Ibidem, p. 412.
Ibidem, p. 413.
416
Ibidem, p. 413.
417
Pode-se dizer que nos casos de etnocdio h uma perda total do carter diferenciador do grupo, pois a assimilao significa tornar o grupo submetido igual ao modelo imposto.
418
FILHO, Robrio Nunes dos Anjos, op. cit., p. 414.
415
113
grupos ameaados. Os grupos indgenas, por exemplo, em sua maioria, vivem em zonas perifricas. Isolados do mundo exterior, so geralmente considerados irrecuperveis, dizer, incapazes de participar no desenvolvimento econmico, o que basta para justificar a sua eliminao. Como aponta Yves Ternon419, no sculo XX, esses grupos no so mais que a parte
residual de um imenso acontecimento que ocorreu nos sculos XVIII e XIX: o choque mortfero de culturas. Quando uma cultura forte e uma cultura dbil se encontram, invariavelmente
a dbil desaparece, pois a incompatibilidade entre as formas de sociedade e de economia
total. Foi assim como desapareceu a maior parte dos indgenas da Amrica. O mesmo ocorreu
com a destruio dos aborgenes da Austrlia: foi o resultado da incompatibilidade entre os
brancos produtores de l e os aborgenes caadores-coletores.
No mundo globalizado, o risco social se intensifica, e com ele a possibilidade de se
ocasionar genocdio e etnocdio. O agravamento do risco social gera, para determinados grupos, o estado de perigo permanente, o risco de extino fsica e cultural. Com base nestes fundamentos, imperioso concluir que a condio de vulnerabilidade e de vtimas em potencial
resultante do risco social so fatores que acompanham hoje, mais do que nunca, a realidade de
muitos grupos humanos no planeta. Nesse sentido, pode-se resumir como se traduz a condio
de vulnerabilidade e de vtimas em potencial (produto da sociedade do risco, potencializadora
da violncia), adaptado-se a descrio de Celso Lafer: nenhum povo da terra pode sentir-se
razoavelmente seguro de sua existncia, e portanto vontade e em casa no mundo, na medida
em que se admita o genocdio e o etnocdio como probabilidade futura420. O extermnio potencializado.
419
420
TERNON, Yves, op. cit., p. 77.
LAFER, Celso. A reconstruo dos direitos humanos. 6 ed. So Paulo: Companhia das Letras, 2006, p. 182.
114
CAPTULO III PERSPECTIVA JURDICO-FILOSFICA
3.1 HISTRICO, DESENVOLVIMENTO E CARACTERSTICAS DO ETNOCDIO
Expostas as consideraes histrico-antropolgicas no primeiro captulo no que concerne identidade cultural como elemento componente da corporalidade e da condio humana, exemplos de etnocdio, bem como as questes sociolgicas sobre o risco social e a produo de extino fsica e cultural potencializada nesta espcie de sociedade, cabe traarmos
neste momento as caractersticas do etnocdio em uma perspectiva particular, expondo o que
de fato este fenmeno significa conceitualmente e como ele entendido sob um aspecto filosfico e jurdico.
3.1.1 Histrico e desenvolvimento
O etnocdio se configura como uma leso grave que atenta contra os direitos dos seres
humanos, pois visa exterminar uma cultura mediante a violncia ou ameaa de violncia fsica
contra um grupo humano, buscando impor seu modelo de pensamento toda uma coletividade. Pode-se afirmar que esta espcie de prtica, conjuntamente com o genocdio, por demais
antiga, pois se nos voltarmos ao passado e em especial s conquistas das Amricas constatar-se- a sua prtica como instrumento de formao do que hoje se entende por civilizao.
Alguns autores defendem que o termo etnocdio (ou genocdio cultural) deriva de etno,
que provm do grego ethnos (povo, nao), e cdio, que significa matar. Com efeito, o etnocdio seria um atentado contra um povo ou uma nao421. Contudo, esta singela definio poderia causar dvidas, pois o genocdio igualmente um ato contra a existncia de um povo. Para
tanto, deve-se entender a origem e a definio desta prtica lesiva, que se distingue do genocdio.
O termo adveio dos estudos antropolgicos e etnolgicos, com enfoque principal na
questo indigenista. O principal estudioso desta definio foi o etnlogo francs Robert Jau421
CUSTDIO, Helita Barreira. Poluio ambiental e genocdio de grupos indgenas. In Revista de Direito
Civil, imobilirio, agrrio e empresarial. Ano 16, n. 59, Jan/Mar/1992, p. 88.
115
lin, o qual exps em sua obra La Paix Blanche: introduction lethnocide, a destruio dos
ndios Bari, na fronteira entre a Venezuela e a Colmbia422. Esta destruio formava-se a partir de mltiplos vetores: pelas aes da Igreja, dos exrcitos venezuelanos e colombianos, alm das companhias americanas de petrleo que passaram a se instalar no local onde vivia a
tribo423. Para o criador deste termo etnocidio indica el acto de destruccin de una civilizacin, el acto de des-civilizacin424.
Na dcada de 60, muitos antroplogos passaram a denunciar as polticas indigenistas
dos Estados e as atividades prprias da antropologia, as quais estariam sendo complacentes
com um discurso indigenista genocida e etnocida425.
Este movimento crtico composto por antroplogos mexicanos e latino-americanos, lderes indgenas e missionrios formaram o chamado Grupo Barbados. Esta denominao do
grupo adveio das primeiras reunies que ocorreram na Ilha de Barbados nos anos de 1971 e
1977, sendo que a terceira reunio ocorreu no Rio de Janeiro, em 1993. Estas reunies geraram recomendaes aos Estados e demais setores da sociedade dos pases da Amrica Latina
sobre o estado de marginalizao e perigo de extino de grupos indgenas no Continente426.
Enquanto a Declarao de Barbados I buscou discutir os problemas provenientes das
frices intertnicas na Amrica427, ou seja, o choque cultural destruidor do saber indgena, na
Declarao de Barbados II, por exemplo, que foi formulada na reunio de 1977, foram descritas as formas de dominao dos povos indgenas na Amrica, tais como: a) a dominao fsica, que se expressa pelo despojo de terras e dos recursos naturais, bem como pela explorao
da fora de trabalho, e b) pela dominao cultural, mediante a imposio da cultura ocidental
do colonizador, sendo a cultura indgena algo em atraso, subdesenvolvida, e que deve ser superada; tal espcie de dominao que no permite a expresso da cultura indgena, seja pelo
422
Vide JAULIN, Robert. La Paz Blanca Introducin al etnocdio. Buenos Aires: Tiempo Contemporaneo,
1973.
423
MONTENEGRO, Miguel. Robert Jaulin and Ethnocide. Disponvel em:
<http://www.miguel-montenegro.com/EthnocideWik.htm>. Acesso em: 14 fev. 2011, p. 02.
424
JAULIN, citado por CIFUENTES, Jos Emilio Rolando Ordoez. La cuestin tnico nacional e derechos
humanos: el etnocidio los problemas de la definicin conceptual. Mxico: Instituto de Investigaciones Jurdicas de la UNAM, 1996, p. 28.
425
VSQUEZ. Ladislao Landa. Pensamientos indgenas en nuestra Amrica. Disponvel em:
<http://www.bibliotecavirtual.clacso.org.ar>. Acesso em: 14 out. 2010, p. 38.
426
Ibidem, p. 39.
427
CIFUENTES, Jos Emilio Rolando Ordoez. El aporte doctrinario de la antropologia crtica latinoamericana y sus premissas scio/jurdicas. Disponvel em: <http://www.juridicas.unam.mx/sisjur/internac/pdf/10487s.pdf>. Acesso em: 14 fev. 2011, p. 01.
116
sistema educativo formal (que traduz a superioridade do branco), seja pelos meios de comunicao de massa428.
O documento que tratou expressamente sobre o termo foi a Declarao de San Jos,
celebrado na Costa Rica, sob os auspcios da UNESCO em dezembro de 1981. O documento
expe que o etnocdio tratar-se-ia de um processo complexo, que possui razes histricas, sociais, polticas e econmicas. Tambm ressalta que h alguns anos vinha sendo denunciada
em foros internacionais a problemtica da perda da identidade cultural das populaes indgenas da Amrica Latina429. No tocante definio consagrada no documento
El etnocidio significa que a uno grupo tnico, colectiva o individualmente,
se le niega su derecho de disfrutar, desarrollar y transmitir su prpria cultura y su
prpria lengua. Esto implica una forma extrema de violacin masiva de los derechos
humanos, particularmente del derecho de los grupos tnicos al respecto de su identidad cultural, tal como lo establecen numerosas declaraciones, pactos y convnios de
las Naciones Unidas y sus organismos especializados, as como diversos organismos
regionales intergubiernamentales y numerosas organizaciones no gubiernamentales.
Ainda no texto da Declarao, h referncia expressa que o etnocdio ou genocdio
cultural um delito de direito internacional igual ao genocdio430. Para esta concluso se
tomou como base o direito s diferenas e o princpio da autonomia dos grupos tnicos431.
Contudo, pertinente ressaltar que esta prtica lesiva aos direitos humanos ainda no
recepcionada como crime de acordo com o Direito Penal Internacional, posto que no h referncia expressa em lei ou conveno internacional. Logo, ainda no h a previso de um delito de etnocdio. Trata-se de uma violao grave de bens jurdicos fundamentais que, todavia,
no est tipificada como crime. Nesse sentido, pode-se dizer que embora no seja tratado
formalmente como crime, o fenmeno do etnocdio possui, enquanto forma de violncia, caractersticas prprias, o que envolvido em um contexto criminal.
O etnocdio traduz uma represso ou um extermnio dos traos culturais de um povo,
mediante uma poltica de homogeneizao pela violncia. Cabe ressaltar que ele pode ser perpetrado ainda que os membros do grupo sobrevivam como indivduos, porquanto este crime
428
Declaracon de Barbados II. Disponvel em:
<http://www.nativeweb.org/papers/statements/state/barbados2.php>. Acesso em: 14 fev. 2011.
429
Declaracin de San Jos. Disponvel em: <http://www.politicaspublicas.cl/iwgia/1982_1.pdf>. Acesso em:
14 fev. 2011, p. 39.
430
Ibidem, p. 39.
431
CIFUENTES, Jos Emilio Rolando Ordoez. La cuestin tnico nacional e derechos humanos: el etnocidio
Los problemas de la definicin conceptual, op. cit., p. 25.
117
implicar na desapario da especificidade cultural de um povo432. O que o etnocdio visa
impor a sua viso de mundo433. Por vezes, domina-se fisica, psquica e culturalmente as populaes de potenciais reas de expanso projetada pelo homem moderno, julgando-se uma sociedade selvagem, sub-humana, uma espcie de infracultura. Estas esto destinadas a
serem elevadas mediante a dominao e a assimilao (incorporao forada)434. Os outros
so maus, mas podem ser melhorados, obrigando-os a transformarem-se no corpo produtivo
do projeto civilizador435. O Outro despojado de sua identidade cultural, em um processo de
extermnio436 da cultura de um grupo humano.
3.1.2 Caractersticas do etnocdio
No ano de 1974, o antroplogo e etnlogo francs Pierre Clastres publicou o texto
chamado Do etnocdio437. Neste texto, sustenta que as populaes indgenas na Amrica do
Sul so simultaneamente vtimas do genocdio e do etnocdio. E a partir deste pressuposto
expe distines importantes entre estes atos.
432
Nesse sentido, em semelhante entendimento acerca do etnocdio como prtica que se constitui como a destruio da cultura de um povo, no necessariamente incluindo a destruio da vida do grupo, vide HINTON, Alexander Laban. Annihilating difference: the anthropology of genocide. Berkeley: University of California Press,
2002, p. 41; e CHARNY, Israel W. Toward a generic definition of genocide. In ANDREOPOULOS, George J.
Genocide conceptual and historical dimensions. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1997, p. 8485. Cabe salientar que este autor defende a idia de que o etnocdio se configuraria como um processo de proibio ou interferncia no ciclo natural de reproduo e continuidade de uma cultura ou uma nao, mas no inclui
o tipo de opresso assassina diretamente relacionada com a concepo genrica de genocdio, ou seja, no envolve necessariamente o extermnio fsico. Em igual sentido, vide LUKUNKA, Barbra. Ethnocide. Disponvel
em: <http://www.massviolence.org/Article?id_article=8>. Acesso em: 04 mai. 2011, p. 2.
433
MOLINA, Lucrecia. Glossario Elementos conceptuales y vocabulrio includos en los documentos. Disponvel em: <http://www.iidh.ed.cr/comunidades/diversidades/docs/div_vocabulario/capiracismo05.pdf>. Acesso
em: 10 fev. 2011, p. 230-231.
434
Ibidem, p. 231.
435
Alm desta justificativa do etnocdio como uma ao para o bem de um determinado povo, de se considerar que esta prtica poderia ser perpetrada para fins de dominao, mediante a inteno de destruio dos traos
culturais, o que ocorreu durante o processo colonial e neocolonial no Brasil. Outro exemplo que caracteriza esta
espcie de etnocdio institucionalizado a Argentina, em que se oferecia um suposto direito existncia aos
povos indgenas (ser cidado argentino), desde que assumissem o suicdio cultural. Nesse sentido, vide BARTOLOM, Miguel Alberto. Los pobladores del desierto Genocidio, etnocidio y etnognesis en la Argentina.
Disponvel em: <http://alhim.revues.org/document103.html>. Acesso em: 10 fev. 2011, p. 05.
436
O extermnio o fenmeno scio-poltico de eliminao de grupos. Em suma, pode-se dizer que ele possui
algumas caractersticas, a saber: a) ele parte integrante de um processo poltico de grupos que se arrogam o
direito de selecionar certas camadas da estrutura social, devendo ser eliminadas, expulsas ou circunscritas; b) as
vtimas geralmente so aquelas que, identificadas, possuem atributos que importunam ou que se tornam insuportveis aos olhos dos aniquiladores; c) ele constri-se em torno de uma idia de limpeza social. As vtimas selecionadas so rejeitadas por serem indignas, demonacas, inteis, ou pesos mortos para a sociedade.
Nesse sentido, vide CRUZ-NETO, Otvio. Extermnio: violentao e banalizao da vida. Disponvel em:
<http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X1994000500015>. Acesso em: 30 jan.
2011.
437
CLASTRES, Pierre. Arqueologia da Violncia. So Paulo: Cosac & Naify, 2004.
118
Clastres inicia sua exposio referindo que h alguns anos o termo etnocdio no existia. Beneficiando-se de sua capacidade de responder a uma demanda, de satisfazer uma necessidade de preciso terminolgica, a utilizao da palavra teria ultrapassado seu lugar de origem, a etnologia, para cair de certo modo em domnio pblico438. Contudo, o autor questiona:
poderia a difuso acelerada de uma palavra garantir a manuteno da coerncia e do rigor
desejveis? Clastres refere que no esprito de seus inventores, a palavra estava destinada a
traduzir uma realidade que nenhum outro termo exprimia. No entanto, no se poderia inaugurar uma reflexo sria sobre a idia de etnocdio sem buscar preliminarmente determinar o
que distingue este fenmeno da realidade de uma outra prtica: o genocdio439.
Para o autor, o conceito de genocdio, desenvolvido aps a Segunda Guerra Mundial,
seria a considerao no plano legal de um tipo de criminalidade at ento desconhecido: o
extermnio sistemtico dos judeus europeus pelos nazistas alemes. O delito juridicamente
definido como genocdio teria sua raiz no racismo440. Embora o genocdio anti-semita tenha
sido o primeiro a ser julgado em nome da lei, no teria sido o primeiro a ser praticado. A histria da expanso colonial no sculo XIX e a histria da constituio de imprios coloniais
pelas grandes potncias europias estaria pontuada de massacres metdicos de populaes
autctones. Todavia, para Clastres, por sua extenso continental, pela amplitude da queda
demogrfica que provocou, seria o genocdio dos indgenas americanos o que mais chamaria a
ateno. Desde a conquista da Amrica em 1492, ps-se em funcionamento uma mquina de
destruio dos ndios441.
Na descrio de Clastres, foi principalmente a partir de sua experincia americana que
os etnlogos, e muito particularmente Robert Jaulin, viram-se levados a formular o conceito
de etnocdio. Para Clastres, primeiramente realidade indgena da Amrica do Sul que se
refere esta idia. Aqui, se disporia de um terreno favorvel pesquisa da distino entre genocdio e etnocdio, j que as ltimas populaes indgenas do continente so simultaneamente
vtimas desses dois tipos de criminalidade442.
Se o termo genocdio remete idia de raa e vontade de extermnio de uma minoria racial, o termo etnocdio apontaria no para a destruio fsica dos homens (caso em que se
438
Ibidem, p. 81.
Ibidem, p. 81.
440
Ibidem, p. 82.
441
Ibidem, p. 82.
442
Ibidem, p. 83.
439
119
permaneceria na situao genocida), mas para a destruio de sua cultura443. O etnocdio,
portanto, seria a destruio sistemtica dos modos de vida e de pensamento de povos diferentes daqueles que empreendem essa destruio. Em suma, o genocdio assassinaria os povos
em seu corpo, enquanto o etnocdio os mata em seu esprito444.
Neste aspecto, pode-se referir que quando Clastres refere que o etnocdio assassina o
grupo em seu esprito, quer dizer que o que se visa exterminar no propriamente a vida do
grupo humano, mas sua cultura, sua identidade cultural, a fim de implantar a cultura do conquistador. E isto pressupe a existncia do grupo subjugado, de que as vtimas tenham sua
vida. Contrariamente do genocdio, em que o povo assassinado em seu corpo, no vindo
mais a existir biologicamente (isto , sem vida), o etnocdio se utiliza da destruio fsica ou
assassinato para tanto, mas este no seu objetivo: seu fim a assimilao forada do grupo,
a incorporao forada do saber do colonizador pelo colonizado. Para tanto, o aspecto central
a finalidade que guia o agente que pratica o etnocdio. No caso do etnocdio, no se visa
exterminar a vida do grupo por si s, mas pode-se ameaar ou retirar a vida deste, desde que a
vtima aceite a ideologia, cultura ou religio do conquistador. Por isso se trata de uma conquista geralmente espiritual, em que uma cultura, lngua ou religio exterminada, impondo,
de outro lado, a cultura, lngua ou religio do agressor. Por isto Clastres refere que o genocdio atua no corpo (ou seja, extirpa a vida do grupo, a sua existncia), enquanto o etnocdio
assassina em seu esprito (as vtimas podem sobreviver, mas sua cultura, lngua e religio so
exterminadas, dando lugar ao saber do agressor).
O etnocdio teria em comum com o genocdio uma viso idntica do Outro: o Outro
seria a diferena, certamente, mas seria, sobretudo, a m diferena445. Essas duas atitudes distinguem-se quanto natureza do tratamento reservado diferena. O esprito genocida quer
pura e simplesmente neg-la. Exterminam-se os outros porque eles so absolutamente maus.
O etnocida, em contrapartida, admitiria a relatividade deste mal na diferena: os outros so
443
Contudo, necessrio ressaltar que a violncia fsica presente no etnocdio, pois a destruio de uma cultura
manifesta-se pela ameaa ou efetivao da destruio fsica do grupo. Na conquista da Amrica, por exemplo, a
ameaa de destruio fsica e escravizao era constante, caso os indgenas no se convertessem religio e ao
modo de vida dos conquistadores. Nesse sentido, vida a nota 1.1.1, do captulo 1 deste trabalho.
444
CLASTRES, Pierre. Arqueologia da Violncia, op. cit., p. 83.
445
Nesse sentido, pode-se dizer que esta m diferena provm de uma relao ns/outro, constituindo sempre
uma relao assimtrica: o bem, a verdade, a perfeio, a pureza, a racionalidade, a civilidade, a humanidade so
sempre atributos do ns; o mal, o erro, a imperfeio, a impureza, a irracionalidade, a barbrie, a animalidade
so atributos do outro. Genocida e etnocida diferem, contudo, no modo de agir para desfazer a assimetria. O
genocida elimina a m diferena, exterminando a vida do outro. O exemplo que primeiro nos vem memria
do nazismo, mas a histria est repleta de prticas genocidas. O etnocida, por sua vez, elimina a m diferena,
abraando a causa do outro, confiando que o outro possa ser convertido ao ns. Vide COX, Maria Ins Pagliarini. A noo de etnocdio: para pensar a questo do silenciamento das lnguas indgenas no Brasil. Disponvel
em: <http://cpd1.ufmt.br/meel/arquivos/artigos/133.pdf>. Acesso em: 28 abr. 2011, p. 67.
120
maus, mas pode-se melhor-los, obrigando-os a se transformar at que se tornem, se possvel,
idnticos ao modelo que lhes imposto. A negao etnocida do Outro conduziria a uma identificao a si446.
Clastres observa que se poderia opor o genocdio e o etnocdio como duas formas perversas do pessimismo e do otimismo. Na Amrica do Sul, os matadores de ndios levariam ao
ponto mximo a posio do Outro como diferena: o ndio selvagem no seria um ser humano, mas um simples animal. O homicdio de um ndio no seria um ato criminoso, o racismo
desse ato seria inclusive totalmente evacuado, j que ele implicaria, para se exercer, o reconhecimento de um mnimo de humanidade no Outro. Seria uma montona repetio de uma
antiqssima infmia: ao falar precursoramente do etnocdio, Claude Lvi-Strauss ressaltava,
em Raa e Histria, como os ndios da Ilhas da Amrica Central se perguntavam se os espanhis recm-chegados eram deuses ou homens, enquanto os brancos se interrogavam sobre a
natureza humana ou animal dos indgenas447.
Clastres refere que o horizonte no qual se destacam o esprito e a prtica etnocidas seria determinado por dois axiomas. O primeiro proclamaria a hierarquia das culturas: haveria
as que so inferiores e as que seriam superiores. Quanto ao segundo, ele afirmaria a superioridade absoluta da cultura ocidental. Portanto, esta somente poderia manter com as outras, e em
particular com as primitivas, uma relao de negao. Mas se trataria de uma negao positiva, no sentido de que ela quer suprimir o inferior enquanto inferior para lan-lo ao nvel do
superior448.
Chama-se etnocentrismo a vocao de avaliar as diferenas pelo padro da prpria
cultura. Na descrio de Clastres, o Ocidente seria etnocida porque seria etnocntrico, porque
se pensa e se quer a civilizao. No entanto, uma questo se colocaria: nossa cultura deteria o
monoplio do etnocentrismo? Para o autor, a descrio etnolgica permite responder a isso.
Inicialmente, deveramos considerar a maneira como as sociedades indgenas nomeiam a si
prprias. A partir disso percebe-se que no h autodenominao, na medida em que as sociedades se atribuem quase sempre a um nico e mesmo nome: os Homens. Os ndios Guarani
nomeiam-se Ava, que significa os homens; os Guayaki se referem a eles mesmos como Ach,
446
CLASTRES, Pierre. Arqueologia da Violncia, op. cit., p. 83.
Ibidem, p. 84.
448
Ibidem, p. 85.
447
121
as pessoas; os Waika da Venezuela se proclamam Yanomami, a Gente. Inversamente, cada
sociedade designa sistematicamente seus vizinhos por nomes desdenhosos449.
Assim, toda cultura operaria uma diviso entre ela mesma, que se afirmaria como representao por excelncia do humano, e os outros participariam da humanidade, mas em
grau menor. O discurso que as sociedades primitivas fazem delas mesmas seria, portanto,
etnocntrico: a afirmao da superioridade de sua existncia cultural. O etnocentrismo apareceria como a coisa do mundo mais bem distribuda, e deste ponto a cultura do Ocidente no se
distinguiria das outras. Assim, conviria pensar o etnocentrismo como uma propriedade formal
de toda formao cultural, imanente prpria cultura. Pertenceria essncia da cultura ser
etnocntrica, na medida em que toda cultura se considera como a cultura por excelncia. Em
outras palavras, a alteridade cultural nunca apreendida como diferena positiva, mas sempre
como inferioridade segundo um eixo hierrquico450.
No entanto, se toda cultura etnocntrica, somente a ocidental seria etnocida. Assim,
segue a ideia de que a prtica etnocida no se articula necessariamente com a convico etnocntrica. Caso contrrio, toda cultura deveria ser etnocida, o que no acontece. Para se constatar o que faz a civilizao ocidental ser etnocida, deve-se fazer uma interrogao sobre a natureza, historicamente determinada, de nosso mundo cultural451.
Nesse sentido, Clastres questiona: no seria porque a civilizao ocidental etnocida
no interior dela mesma que ela pode s-la no exterior, ou seja, contra as outras formaes
culturais? Para o autor, no se poderia pensar a vocao etnocida da sociedade ocidental sem
articul-la com essa particularidade de nosso prprio mundo, particularidade que seria inclusive critrio clssico de distino entre selvagens e civilizados, entre o mundo primitivo e o
mundo ocidental: o primeiro reuniria o conjunto das sociedades sem Estado, o segundo se
comporia de sociedades com Estado. nisso que se deveria tentar refletir: poder-se-ia colocar
legitimamente em perspectiva essas duas propriedades do Ocidente, como cultura etnocida,
como sociedade com Estado? Se fosse assim, na descrio do autor, compreenderamos por
que as sociedades primitivas podem ser etnocntricas sem, no entanto, serem etnocidas, j
que elas seriam precisamente sociedades sem Estado452.
Clastres refere que o etnocdio a supresso das diferenas culturais julgadas inferiores e ms; seria a aplicao de um princpio de identificao, de um projeto de reduo do
449
Ibidem, p. 85.
Ibidem, p. 86.
451
Ibidem, p. 87.
452
Ibidem, p. 87.
450
122
outro ao mesmo (o ndio amaznico suprimido como outro e reduzido ao mesmo como cidado brasileiro). Em outras palavras, o etnocdio resultaria na dissoluo do mltiplo no Um.
Nesse sentido, o que significaria o Estado? Para Clastres, ele seria, por essncia, o emprego de
uma fora centrpeta que tende a esmagar as foras centrfugas inversas. O Estado se quer e se
se proclamaria como o centro da sociedade, o todo do corpo social e mestre absoluto dos diversos rgos deste corpo. Para o autor, descobrir-se-ia, no ncleo mesmo da substncia do
Estado, a fora atuante do Um, a vocao de recusa do mltiplo, o temor e o horror da diferena. Nesse nvel, se constataria que a prtica etnocida e a mquina estatal funcionariam da
mesma maneira e produziriam os mesmos efeitos: sob as espcies da civilizao ocidental ou
do Estado, se revelariam sempre a vontade de reduo da diferena e da alteridade, o sentido e
o gosto do idntico e do Um453.
Em um segundo momento, o autor se desvencilha desta abordagem (que denomina de
certo modo de estruturalista) para tratar o da diacronia, da histria concreta. Inicialmente,
Clastres considera a cultura francesa como caso particular da cultura ocidental, como ilustrao do esprito e do destino do Ocidente. Sua formao, enraizada num passado secular, mostrar-se-ia estritamente coextensvel expanso e ao fortalecimento do aparelho de Estado,
primeiro sob a forma monrquica, a seguir sob a sua forma republicana. A cada desenvolvimento do poder central corresponderia a um desdobramento acrescido do mundo cultural. A
cultura francesa seria uma cultura nacional, uma cultura do francs. A extenso da autoridade
do Estado traduz-se no expansionismo da lngua do Estado, o francs. A nao pode-se dizer
constituda, o Estado pode proclamar-se detentor exclusivo do poder, quando as pessoas sobre
as quais se exerce a autoridade do Estado falam a mesma lngua que ele454 455.
Para Clastres, esse processo de integrao passaria pela supresso das diferenas. Seria
assim que, na aurora da nao francesa, quando a Frana era apenas o reino dos francos, a
cruzada dos albigenses abateu-se sobre o sul para abolir sua civilizao. A extirpao da here453
Ibidem, p. 88.
Ibidem, p. 88.
455
Como exemplo, analisando a constituio da nao brasileira, pode-se constatar a ao do etnocdio sobre as
culturas e lnguas locais. guisa de consolidao de seu domnio, a coroa portuguesa abraava predatoriamente
as culturas e lnguas dos povos indgenas com que interagiam em terras brasileiras. Estima-se que dois teros da
populao no Estado de So Paulo (mamelucos, portugueses, etc) falavam lnguas locais diversas, quando a
poltica pombalina proibiu seu uso e obrigou o da lngua portuguesa. Institudo em 03 de maio de 1757, o Diretrio de Marqus de Pombal teve suas medidas primeiro aplicadas no Par e Maranho. No ano seguinte, em 17 de
agosto de 1758, essas medidas foram estendidas a todo o Brasil. A poltica lingstica implantada por meio do
Diretrio de Pombal visava proibir as lnguas locais, o que era visto como uma ameaa hegemonia da lngua
portuguesa. A prtica de os colonizadores impingirem aos colonizados a sua prpria lngua sempre foi vista
como emblema da conquista e do domnio dos primeiros sobre os segundos. Nesse sentido, vide COX, Maria
Ins Pagliarini, op. cit., p. 76-77.
454
123
sia ctara, pretexto e meio de expanso para a monarquia capetiana, traando os limites quase
definitivos da Frana, aparece, para o autor, como um caso puro de etnocdio: a cultura do
Midi religio, literatura, poesia, foi irreversivelmente condenada, e os habitantes do Languedoc passaram a ser sditos leais do rei da Frana456.
O autor afirma ainda que a Revoluo de 1789, ao permitir o triunfo do esprito centralista dos jacobinos sobre as tendncias federalistas dos girondinos, levou a seu termo o domnio poltico da administrao parisiense. As provncias, como unidades territoriais, apoiavam-se cada qual numa antiga realidade, homognea do ponto de vista cultural: lngua, tradies polticas, etc. Elas foram substitudas pela diviso abstrata em departamentos, prpria a
romper toda referncia s particularidades locais, e portanto a facilitar em toda parte a penetrao da autoridade estatal457.
Uma ltima etapa desse movimento pelo qual as diferenas desaparecem uma aps a
outra diante do poder do Estado com a metamorfose da III Repblica, que transformou os
habitantes da Frana em cidados graas instituio da escola leiga, e posteriormente do
servio militar obrigatrio. Com isso teria sucumbido o que subsistia de existncia autnoma
no mundo provincial e rural. A francizao estava completa, e o etnocdio consumado: lnguas
tradicionais, por exemplo, foram eliminadas, tratadas como dialetos de indivduos atrasados458.
Clastres refere que embora de forma breve, esta viso sobre a histria do pas seria suficiente para mostrar que o etnocdio, como supresso das diferenas scio-culturais, estaria
inscrito na natureza e no funcionamento da mquina estatal, a qual procede por uniformizao
da relao que mantm com os indivduos: o Estado conheceria apenas cidados iguais perante a lei. Para o autor, afirmar, a partir do exemplo francs, que o etnocdio pertence essncia
unificadora do Estado, conduziria logicamente a dizer que toda formao estatal seria etnocida459.
Nesse sentido, o autor busca examinar o caso de um tipo de Estado diferente dos Estados europeus. Os Incas haviam conseguido edificar nos Andes uma mquina de governo que
causou a admirao dos espanhis, tanto pelo tamanho de sua extenso territorial quanto pela
preciso e a mincia das tcnicas administrativas que permitiam ao imperador e a seus numerosos funcionrios exercer um controle quase total e permanente sobre os habitantes do imp456
CLASTRES, Pierre. Arqueologia da Violncia, op. cit., p. 88.
Ibidem, p. 89.
458
Ibidem, p. 89.
459
Ibidem, p. 89.
457
124
rio. O aspecto etnocida dessa mquina estatal aparece em sua tendncia a incaizar as populaes recentemente conquistadas: no apenas obrigando-as a pagar tributo aos novos senhores,
mas sobretudo forando-as a celebrar o culto dos conquistadores, o culto do Sol, do prprio
inca460.
A presso exercida pelos Incas sobre as tribos submetidas nunca atingiu a violncia
dos espanhis, que aniquilariam mais tarde fsica e culturalmente os indgenas. Embora fossem hbeis diplomatas, os Incas sabiam utilizar a fora quando necessrio e sua organizao
reagia com a maior brutalidade, como todo aparelho de Estado quando seu poder questionado. As freqentes insurreies contra a autoridade de Cuzco, reprimidas de incio, eram a seguir castigadas pela deportao em massa dos vencidos para regies muito distantes de seu
territrio natal, isto , aquele marcado pela rede dos locais de culto (fontes, colinas, grutas,
etc): para Clastres, seria o desenraizamento e a desterritorializao, conjuntamente com o etnocdio461.
A violncia etnocida, como negao da diferena, pertenceria essncia do Estado,
tanto nos imprios brbaros quanto nas sociedades civilizadas do Ocidente: toda organizao
estatal seria etnocida; o etnocdio seria o modo normal de existncia do Estado. Haveria uma
certa universalidade do etnocdio, no sentido de ser caracterstico no apenas de um vago
mundo branco indeterminado, mas de todo um conjunto de sociedades que so as sociedades com Estado. A reflexo do etnocdio passaria por uma anlise do Estado462.
No entanto, Clastres questiona: essa anlise deveria deter-se apenas a, em limitar-se
constatao de que o etnocdio o Estado e que, desse ponto de vista, todos os Estados se
equivaleriam? Para o autor, seria como recair no pecado de abstrao que precisamente reprovado pelo autor; seria uma vez mais desconhecer a histria concreta de nosso prprio
mundo cultural463.
Questiona-se ainda onde se situaria essa diferena que impede colocar no mesmo plano os Estados brbaros (Incas, faras, despotismos orientais, dentre outros) e os Estados civilizados (o mundo ocidental). Para o autor, percebe-se primeiro essa diferena no nvel da capacidade etnocida dos aparelhos estatais. No primeiro caso, essa capacidade seria limitada no
pela fraqueza do Estado mas, ao contrrio, por sua fora: a prtica etnocida a abolio da
diferena quando esta se torna oposio cessaria a partir do momento em que a fora do
460
Ibidem, p. 90.
Ibidem, p. 90.
462
Ibidem, p. 90.
463
Ibidem, p. 90.
461
125
Estado no corre mais nenhum risco. Os Incas toleravam uma relativa autonomia das comunidades andinas quando estas reconheciam a autoridade poltica e religiosa do Imperador. Em
contrapartida, nos Estados ocidentais, a capacidade etnocida se mostra sem limites, ela desenfreada. Seria exatamente por isso que ela pode conduzir ao genocdio e que se pode falar
do mundo ocidental, de fato, como absolutamente etnocida. No entanto, o autor questiona: o
que a civilizao ocidental contm que a torna mais etnocida que qualquer outra forma de
sociedade464?
Para Clastres, a civilizao ocidental se tornaria mais etnocida que qualquer outra sociedade por seu regime de produo econmica, um espao justamente ilimitado, de fuga
permanente para adiante, enquanto impossibilidade de permanecer no aqum de uma fronteira; seria o capitalismo como sistema de produo para o qual nada seria impossvel, exceto
no ser para si mesmo seu prprio fim (seja ele liberal, privado, ou planificado, de Estado). A
sociedade industrial, a mais formidvel mquina de produzir, seria tambm a mais formidvel
mquina de destruir. Raas, sociedades, indivduos: tudo seria til, tudo deve ser utilizado,
tudo deve ser produtivo, de uma produtividade levada ao seu nvel mximo de intensidade465.
Eis por que nenhum descanso podia ser dado s sociedades que abandonavam o mundo sua tranqila improdutividade originria; eis por que era intolervel, aos olhos do Ocidente, o desperdcio representado pela no explorao econmica de imensos recursos. A escolha deixada a essas sociedades era um dilema: ou ceder produo ou desaparecer; ou o
etnocdio ou o genocdio. O autor sustenta que no final do sculo XIX os ndios do pampa
argentino foram totalmente exterminados a fim de permitir a criao extensiva de ovelhas e
vacas, o que fundou a riqueza do capitalismo argentino. No incio do sculo XX, centenas de
milhares de ndios amaznicos pereceram sob a ao dos exploradores de borracha. Atualmente, em toda a Amrica do Sul, os ltimos ndios livres sucumbem sob a presso do crescimento econmico. Afinal: que importncia podem ter alguns milhares de selvagens improdutivos, comparada riqueza em ouro, minrios raros, petrleo, etc? Produzir ou morrer: esta
seria a divisa do Ocidente466.
No contexto social, nossa civilizao busca converter todas as outras. Deve ocorrer a
aliana ou o acordo com o agressor. Este colonialismo o carter fundamental do etnocdio467. Outra questo que deve ser ressaltada que, se havia uma espcie de submisso de
464
Ibidem, p. 91.
Ibidem, p. 91.
466
Ibidem, p. 91.
467
JAULIN, Robert. La Paz Blanca introducin al etnocdio, op. cit., p. 263.
465
126
uma classe por outra classe trabalhadora pela patronal no Sculo XIX esta relao substituda eminentemente pela privao forada de um grupo de suas caractersticas culturais,
tpico do modernismo poltico-cientificista468 (ainda que tenha sido praticada, de certa forma,
desde a chegada de Colombo Amrica). Assim, a busca da totalidade, mediante a extenso
de si mesmo, resultando na negao do Outro469, so elementos que circundam as relaes na
sociedade industrial, globalizada e etnocentrista470.
Para tanto, o etnoccio se configura como a imposio violenta de um processo de aculturao extermnio da cultura do grupo ameaado por outra mais poderosa, quando esta
conduz destruio dos valores sociais e morais da sociedade dominada, sua desintegrao
e, depois, ao seu desaparecimento471. O etnocdio foi e ainda frequentemente praticado pelas
sociedades de tipos industrial, com o objetivo de pacificar ou transformar as sociedades
ditas primitivas ou atrasadas, geralmente a pretexto da moralidade, de um ideal de progresso ou de uma fatalidade evolucionista. Em suma, o etnocdio se configura como uma ao
que promove ou tende a promover a destruio de uma etnia ou grupo tnico. E esta destruio no est circunscrita somente na eliminao fsica de um indivduo ou grupo. Sua caracterstica essencial a aculturao pela violncia, de uma etnia ou grupo tnico, por outra cultura
mais poderosa materialmente, levando, em ltima instncia, sua extino472. Geralmente as
468
Ibidem, p. 263.
Ibidem, p. 355-374.
470
Como exemplo de prticas desta espcie de violao aos direitos humanos, tem-se a explorao petroleira e a
ao do Estado colombiano em Catatumbo. Com o pretexto de incorporar os ndios Bari civilizao para que
estes desfrutassem do progresso, os indgenas foram submetidos a um contnuo processo de aculturao; na
medida em que aumentava o grau de resistncia era justificado o etnocdio.
Outro episdio que retrata a prtica do etnocdio so as violaes de direitos humanos decorrentes da frico
intertnica no Estado de Rondnia, em que os indgenas do Povo Oro-Win so retirados das aldeias e obrigados a
se incorporar no sistema de vida dos invasores, sendo posteriormente conduzidos a barraces de seringais para
serem mantidos em semi-escravido, em troca de comida. Estes so, dentre outros, exemplos de prticas etnocidas. Nesse sentido, vide CANTOR, Renan Vega. Explotacin petrolera y etnocidio en Catatumbo: Los Bar y la
consesion Barco. Disponvel em: <http://www.espaciocritico.com/articulos/rev07/n7_a12.htm>. Acesso em: 14
fev. 2011; PRADO, Rafael Clemente Oliveira; BRITO, Antnio Jos Guimares; AMARAL, Jos Janurio de
Oliveira. Alm do Genocdio: o Etnocdio do Povo Oro-Win e a frico intertnica nas cabeceiras do Rio Pacas-Novos: um caso de violao de direitos humanos. In Revista Jurdica da Universidade de Cuiab, v. 8, n. 2,
UNIC, jul/dez, 2006, p. 185.
471
O que etnocdio. Disponvel em: <http://karipuna.blogspot.com/2007/04/o-que-etnocdio.html>. Acesso em:
04 mai. 2011, p. 1. Cabe ressaltar que o etnocdio opera sob dois prismas, dois movimentos consecutivos: a) a
aculturao, que seria o contato direto e continuado entre duas culturas, implicando mudanas nos modelos
culturais dos grupos que entram em contato; e b) a assimilao efetiva, ou o etnocdio propriamente dito; esta
assimilao significa tornar semelhante a. Nos estudos biolgicos do sculo XVI significava a absoro e incorporao realizados por organismos vivos. Vide Etnocidio. Disponvel em: <http://www.iidh.ed.cr/>. Acesso em:
04
nov.
2010,
p.
2;
SACHS,
Ignacy.
Aculturao.
Disponvel
em:
<http://jmir3.no.sapo.pt/Ebook2/Aculturacao_Einaudi.pdf>. Acesso em: 28 abr. 2011, p. 4; e VIEIRA, Gustavo
Jos Correia. Do genocdio e etnocdio: povo, identidade cultural e o caso yanomami. So Paulo: Modelo, 2011,
p. 71.
472
SILVA, Wilson Matos da. Etnocdio, crime contra etnias ou grupos tnicos. Disponvel em:
<www.netlegis.com.br>. Acesso em: 04 mai. 2011, p. 1.
469
127
aes etnocidas se configuram na privao do uso da lngua, da prtica da religio, costumes,
instituies sociais bsicas, preservao de memrias e tradies, etc473, visando incorporar de
forma violenta um grupo no projeto totalizador do agressor.
Cabe salientar ainda que o jogo de poderes tecnoburocrticos transformou em ordem
universal totalitria a desestruturao das sociedades tradicionais pela economia de mercado.
Para Robert Jaulin, essa ordem midiatiza e atomiza o ser humano. Tal processo etnocida faz
com que o Terceiro Mundo aparea como o resultado da integrao dentro desta ordem nica
do imenso universo de culturas diferentes em decomposio474. Nesse campo os trabalhos de
Jaulin se constituem como elementos importantes para se observar outras caractersticas do
etnocdio.
Para Jaulin, essa ordem nica se configura como uma ordem etnocida. O autor qualifica o etnocdio como ato de destruio de uma civilizao, um ato de descivilizao. O termo
etnocida foi construdo semelhana do termo genocida, o qual foi construdo imagem
de homicida. Para tanto, Jaulin se reporta aos estudos de Marcel Bataillon, que evoca estas
construes. Para este autor, os termos genocida e etnocida foram construdos com base no
modelo de homicida, palavra onde se identificam dois substantivos latinos: homicida (concreto), o assassino, e homicidum (abstrato), o assassinato, e poderiam, ento, designar ao mesmo
tempo os assassinatos coletivos perpetrados contra as raas ou etnias e suas culturas, e qualificar os povos conquistadores que se tornam culpados475.
Em 1947 e 1948, a Comisso n. 6 das Naes Unidas examinou a noo de genocdio
e buscou-se elaborar uma carta de direitos humanos. Analisou-se depois o genocdio cultural
(j que o termo etnocida ainda no era empregado). A comisso rejeitou a idia de genocdio
cultural sob o pretexto de que ela poderia atentar contra a noo de genocdio em sentido estrito: o mundo acabava de sair da guerra, os espritos estavam obcecados pela lembrana dos
fornos crematrios. Os problemas criados por esses fornos foram priorizados em relao quele problema que, tendo em vista o progresso, seria novamente instalado: a destruio das
culturas476.
Para Jaulin, o horror ou a culpabilidade associada liquidao do povo judeu ocultariam os problemas da liquidao dos povos enquanto significativos de culturas, de civilizaes;
473
Vide STEIN, Stuart. Ethnocide. Disponvel em: <http://www.bookrags.com>. Acesso em: 04 mai. 2011, p. 1.
JAULIN, Robert. Ethnocide, Tiers Monde et ethnodveloppement. In Tiers-Monde, anne 1984, vol. 25, n.
100, p. 913-927. Disponvel em: <http://www.persee.fr>. Acesso em: 04 mai. 2011, p. 913.
475
Ibidem, p. 913.
476
Ibidem, p. 914.
474
128
correlativamente, a idia de povo dizia respeito apenas ao pequeno ncleo poltico, e a idia
de civilizaes havia sido eclipsada ou estava de tal modo reduzida que no significava mais
do que um singular hipottico a ser construdo. Esse singular messinico e tecnicista correspondia ao esprito de armistcio sobre o qual as pessoas se lanavam a fim de esquecer os
crimes nazistas e curar as feridas de Israel. Para o autor, ao agirem assim, as pessoas se esquivavam do significado dessas feridas. Pretendia-se prevenir novos genocdios afastando os
problemas relacionados ao genocdio cultural477.
No entanto, como aponta o autor, a preveno de novos genocdios no somente no
aconteceu, como tambm que o destaque dado nica ofensa, pessoa fsica, era de fato etnocida. Isso anunciava o incio de processos de genocdio cultural. Na ocasio, o autor questiona: o que seria, pois, um etno478?
Para ele, esta palavra teria origem grega e designaria um povo especfico, um povo
que detm uma propriedade, uma qualidade, a qual sua cultura. Etno designa um povo enquanto cultura; ou ainda, uma cultura encarnada em um povo. Por cultura aqui pode-se compreender uma civilizao. A palavra deve ser entendida em seu sentido pleno, total479.
Uma cultura no seria nem uma minoria nem uma maioria, pois ela no uma quantidade, e sim uma qualidade. O volume de pessoas, de espaos disponveis, etc., do grupo ao
qual associada uma cultura, e esse volume, comparado a outros integram as informaes
relativas a essa cultura, mas no a definem. Uma civilizao se refere, pois, a um corpo coletivo considerado em sua totalidade. Ela inclui os diversos aspectos (econmicos, religiosos,
polticos, entre outros) desses corpos, mas no a soma destes aspectos. Para Jaulin, esses
domnios no esto separados uns dos outros, pois somente o seu produto, a sua totalidade
faz sentido. Nenhum destes diversos domnios a pedra angular do conjunto. Somente a totalidade, que complexidade, constitui a pedra angular480.
A histria atravs da qual se instaura uma civilizao pode, dependendo do caso, privilegiar momentaneamente um ou outro desses domnios (econmico, religioso, etc), assim
como a destruio de uma civilizao pode se dar a partir da destruio da organizao do
espao, ou da destruio da autonomia poltica, etc481.
477
Ibidem, p. 914.
Ibidem, p. 914.
479
Ibidem, p. 914.
480
Ibidem, p. 914.
481
Ibidem, p. 915.
478
129
Na descrio de Jaulin, sendo a cultura um todo, pode ser suficiente agir sobre um
de seus elos para modific-la ou destru-la em sua totalidade. Esse todo seria uma estrutura
e uma dinmica. Ele dispe, portanto, de grandes possibilidades de respostas e/ou invenes; alm disso, preciso frequentemente contar os procedimentos de modificaes internas
relacionadas aos seus modos de sobreviver e viver, e de sua permanncia482.
Uma civilizao seria uma dinmica especfica, ordenada, que se refere a um ser coletivo. Esse ser um ser dentro do mundo, ele ser o mundo. A cultura seria o estado de natureza do ser humano. Esse estado remete a um universo plural, dos etnos. Suas manifestaes so essencialmente da ordem do cotidiano e da comunicao, a qual dilogo, reciprocidade, partilha. Para Jaulin, essa partilha amorosa, em um sentido muito amplo dessa palavra. Essa ordem cotidiana da comunicao se ope s diversas definies totalitrias da
civilizao, as quais esto submetidas representao e informao483.
Etnocida, para Jaulin, a palavra que designa a destruio dos etnos. O etnocida ,
portanto, a no-referncia aos etnos ou povos dotados de cultura. O universo do etnocida
no o dos povos dotados de cultura. No entanto, o autor questiona: qual seria este universo
etnocida? Nesse sentido, o autor prope cinco aspectos, que qualificam a ordem e o universo
etnocida484.
1) A no-referncia a povos dotados de cultura pode ser expressa de diferentes maneiras, e inicialmente, no se referindo a nada. O indivduo somente existe dentro de um quadro, de uma coletividade ordenada. Esquec-lo implica negar esse quadro, a civilizao, ou
seja, a multiplicidade de civilizaes. eliminando primeiramente a liberdade de existncia
das civilizaes, ou as diferenas entre civilizaes, que se priva qualquer homem de seu semelhante. Para o autor, os mitos da produo, a acumulao de bens de consumo ou o desaparecimento dos espaos sociais (ruas, praas, etc) representariam na verdade a quebra das relaes humanas de produo, de consumo, de residncia e de fruio relaes cujo conjunto
e cuja complexidade constituem a relao de uma civilizao no mundo485.
O exemplo de tal universo fornecido com a noo de desenvolvimento. O desenvolvimento s pode significar o desenvolvimento de alguma coisa, e no o desenvolvimento do
desenvolvimento. Para Jaulin, quando a comunidade humana sobre a qual ele aplicado no
482
Ibidem, p. 915.
Ibidem, p. 915.
484
Ibidem, p. 916.
485
Ibidem, p. 916.
483
130
levada em considerao, quaisquer que sejam suas intenes, o desenvolvimento , ento, por
definio etnocida486.
2) Um segundo procedimento prprio de um universo etnocida reside no direito que se
atribuem determinados sistemas de reconhecer e/ou negar qualquer civilizao, qualquer
comunidade humana. Na descrio de Jaulin, tais sistemas so por definio totalitrios, achatadores. Possuem caracteres diferentes, podendo consistir em prticas econmicas, religiosas
ou polticas, etc. Geralmente esto associados a catecismos ou ideologias (teorias, etc) de diversos tipos e engendram poderes. O aspecto mais estranho desses sistemas seria o de que os
grupos humanos a eles associados so essencialmente o produto da relao negativa que fundamenta o direito de reconhecer e/ou negar qualquer outro, e no o produto de uma relao
positiva, de afirmao cultural deles prprios. Aqui, a afirmao no seria seno suficincia,
farsa, poder, mesmo quando ela a caridade de reconhecer, e ela s tem sentido em sua
relao com o outro. O direito de reconhecer e o direito de negar so complementares, exprimindo o mesmo conjunto487.
3) Uma terceira caracterstica do universo etnocida e, mais particularmente das ideologias totalitrias que o expressam seria o carter negativo da pessoa privilegiada. Essa pessoa
pode ser crucificada, mrtir, explorada, colonizada, desprovida de uma geladeira, de um
carro, de um escravo, etc. De um modo geral, essa pessoa no apenas est desprovida de si
mesma, mas tambm definida independentemente de qualquer comunidade humana e de
qualquer cultura. Da mesma forma, a comunidade humana e a cultura que lhe so prprias so
sempre transferncias para depois, ou ainda esto por serem feitas ou por produzir. Trata-se
sempre de um paraso, celeste ou terrestre, caracterizado pela opulncia material ou cultural: o
progresso do capital, a cultura internacional do proletariado, o paraso celeste etc, so as recompensas que os poderes que lhe representam visam assegurar488.
Para o autor, evidentemente, sempre que algum s se conhece em termos negativos
como na condio de colonizado, pobre, etc., o seu objetivo de se tornar colonizador, rico,
etc. O par mestre-escravo representativo de tal sistema. A relao civilizatria, tnica,
seria de ordem afirmativa e no negativa. Certamente, tal relao deve implicar a rejeio de
um universo-negao, e no abrir as portas para ele. Entretanto, antes de tudo, porque as
486
Ibidem, p. 916.
Ibidem, p. 916.
488
Ibidem, p. 917.
487
131
comunidades humanas mantinham relaes mtuas positivas que elas foram hospitaleiras,
abriram suas portas e se deixaram invadir, submeter, colonizar, destruir489.
4) Um quarto elemento do universo etnocida que por definio este universo etnocida mantm uma relao negativa com os etnos. Esse universo em essncia contradiz aquele dos povos dotados de cultura. A fronteira que os separa , pois, marcada e da ordem
do contraditrio. Tal relao caracterstica do universo etnocida e no do universo dos etnos,
pois estes no so totalitrios. Cada um deles corresponde a um mundo complexo e baseado
na complementaridade entre seus membros, suas diversas partes, suas diversas funes. Para o
autor, essa complementaridade, evidentemente, deve ser sempre assumida, assegurada, pois
ela no acontece de uma vez por todas. A vida no um jogo fcil, uma civilizao no um
simples objeto de consumo; ela se produz incessantemente, ainda que seja idntica. Somente
essa produo torna o homem um ser livre, no manipulado490.
Jaulin ressalta que somente pode haver complementaridade entre os diversos indivduos e/ou domnios expressivos de um conjunto humano na compatibilidade. Na ausncia de
tal compatibilidade, o conjunto da questo emana naturalmente e sem cessar de si mesmo.
Os etnos no morrem de doenas ou contradies internas. Eles geralmente desaparecem devido a intervenes externas. Correlativamente, todo universo totalitrio no se contenta em
afirmar, em relao quele que lhe antagoniza, uma relao de ordem contraditria. Ele regido em todos os nveis pela contradio491.
Um povo dotado de cultura mantm consigo mesmo relaes cuja ordem de compatibilidade. E devem ser includas entre essas relaes aquela mantida com o cosmos, o resto
do mundo, mesmo quando muralhas, uma distncia ou barreiras diversas estejam associadas. Ao contrrio, todo sistema totalitrio mantm com o resto do universo uma relao fundada no contraditrio e/ou na conquista, e essa relao isomorfa quelas que ele mantm
consigo mesmo492.
5) Por fim, como quinta caracterstica do universo etnocida, dizer de um universo etnocida que ele se baseia na contradio implica que ele seja marcado por rupturas e exploso
e, portanto, por fuga e/ou conquista. Para Jaulin, essa ruptura deve ser entendida no plural. A
no-complementaridade entre os indivduos (atomizao), a separao dos diversos domnios
constitutivos da existncia, a concorrncia entre os diversos grupos, os procedimentos de eli489
Ibidem, p. 917.
Ibidem, p. 917.
491
Ibidem, p. 918.
492
Ibidem, p. 918.
490
132
minao de determinadas partes por outras, as denncias sistemticas, as oposies polticas
e/ou econmicas (direita-esquerda, leste-oeste, etc), as vises negativas do passado em nome
do futuro (selvagens-civilizados, etc), os pares de termos antagonistas (manual/intelectual,
natureza/cultura, proletrio/burgus, etc) esto entre as numerosas rupturas fundadas na contradio493.
Nesse sentido, a nica paz em direo a qual tais universos podem se voltar semelhante quela dos cemitrios, um fechamento consentido. Tal paz somente pode ser um
engodo ou uma obrigao momentnea, pois ela no compatvel com a vida494.
Para Jaulin, no entanto, a natureza humana esse ser no mundo cuja unidade pertinente um corpo coletivo, corpo onde o cosmos se inscreve no indivduo, corpo onde o indivduo tem dimenso csmica. Tal natureza tem por nome cultura, e essa um universo plural.
Esse corpo coletivo (e csmico) tem tamanho limitado, e a medida desse tamanho consistente com a do corpo individual vivo, ou seja, do conjunto constitudo pelas relaes imediatas
que o corpo pode manter com os outros. O imediatismo dessas relaes significa simplesmente que elas tm como finalidade, como ser, a determinao de um universo comum, a
existncia desse corpo coletivo495.
Concluindo, pode-se dizer que os homens se agrupam em comunidades de cultura.
No h cultura universal nem homem universal. H povos com culturas e homens. O mundo
humano essencialmente polifnico. As culturas se constituem assim em meios pelos quais
os homens criam seu entorno. A cultura est configurada pelos costumes, pelos ritos, a viso
de mundo, a concepo da sociedade, a idia do sagrado, a particular maneira de cada cultura
de entender a relao entre o homem e o mundo. Qualquer tentativa de homogeneizar as culturas pela violncia, de reduzi-las a um modelo universal, atenta contra o que especificamente humano: a diversidade cultural. O etnocdio se inscreve nesta dinmica homogeneizadora. Provocando a morte da diversidade cultural, implica a lenta desapario da especificidade dos homens e dos povos. Implica a morte do humano496.
493
Ibidem, p. 918.
Ibidem, p. 918.
495
Ibidem, p. 926.
496
ESPARZA, Jos Javier. El etnocidio contra los pueblos: Mecnica y consecuencias del neo-colonialismo
cultural. Disponvel em: <http://www.paginadigital.com.ar/articulos/2004/2004terc/educacion1/e1060684pl.asp>. Acesso em: 28 abr. 2011, p. 2.
494
133
3.2 ETNOCDIO, GENOCDIO, CRIMES CONTRA A HUMANIDADE E APARTHEID: PRINCIPAIS DISTINES
Neste tpico sero apresentadas algumas relaes e distines entre o etnocdio e
cada espcie de crime contra a humanidade497. Utiliza-se este termo, abarcando o etnocdio, o
genocdio, o crime contra a humanidade (em sentido estrito) e o apartheid como espcies de
crimes contra a humanidade em sentido lato. Segue-se esta denominao e distino a partir
dos estudos de Carlos Augusto Cando Gonalves da Silva, que insere o genocdio e o apartheid enquanto espcies de crimes contra a humanidade498.
Pode-se dizer que estas espcies de crimes, via de regra, se encontram dentro de um
contexto que Kai Ambos499 denomina de macrocriminalidade, que na sua descrio abrange
comportamentos de acordo com o sistema e adequados situao dentro de uma estrutura de
organizao, aparelho de poder ou outro contexto de ao coletiva. Estes macroacontecimentos com relevncia para a guerra e o direito internacional se diferenciam qualitativamente das conhecidas formas comuns e especiais (terrorismo, trfico de entorpecentes,
criminalidade econmica, etc) devido s condies polticas de exceo e ao papel ativo que
desempenha o Estado500.
Para o autor, a macrocriminalidade seria mais limitada que a criminalidade dos poderosos, j que esta ltima, questionada pela criminologia, refere-se, em geral, aos fatos cometidos pelos poderosos para a defesa de sua situao de poder, e nem estes poderosos nem
o poder (econmico) que defendem seriam, necessariamente, idnticos ao Estado ou ao
poder estatal. A interveno, tolerncia, omisso ou at o fortalecimento estatal de comportamentos macrocriminais (que na tica do autor fundamental para a delimitao conceitual da
macrocriminalidade), para que haja sua caracterizao, faz-se necessria a incluso do complemento poltica. Para tanto, a macrocriminalidade poltica significaria, em sentido estrito, a criminalidade fortalecida pelo Estado, crime coletivo politicamente condicionado ou,
ainda, crimes de Estado, terrorismo de Estado ou criminalidade governamental. Para o autor,
497
Cabe referir que optamos por selecionar determinadas espcies de crimes contra a humanidade por motivos de
melhor comparao com o etnocdio, foco principal de anlise. Com efeito, delitos como o desaparecimento
forado de pessoas, o terrorismo, a escravido, dentre outras que so mencionadas no Estatuto de Roma no
foram escolhidas para integrar o trabalho para no se estender nestas espcies de crime em demasia e no perder
o foco principal, que o estudo do etnocdio.
498
SILVA, Carlos Augusto Cando Gonalves da. O genocdio como crime internacional. Belo Horizonte: Del
Rey, 1999, p. 159-166.
499
AMBOS, Kai. A parte geral do direito penal internacional. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 54.
500
Ibidem, p. 54.
134
trata-se de criminalidade estatal interna, ou seja, de uma criminalidade orientada para dentro, contra os prprios cidados501.
J em sentido amplo, o conceito de macrocriminalidade poltica compreenderia os
crimes internacionais realizados com atos no estatais. Para Kai Ambos, de importncia
secundria se estas atividades podem ser atribudas ao conceito tradicional de macrocriminalidade. Poder-se-ia argumentar que, nestes casos, o Estado territorialmente competente seria
responsvel, ao menos por omisso, de no garantir a seus cidados a proteo fixada pelo
direito constitucional e internacional correspondente. De modo contrrio, se afirmaria que tal
compreenso ampla da macrocriminalidade converteria quase todo Estado em criminal, pois
nunca seria possvel um completo controle da criminalidade no estatal e, por isso, tampouco
uma absoluta proteo do cidado exposto a essa criminalidade. Para o autor, a isso poder-seia replicar que no se trataria da liberdade do cidado frente a qualquer fato penal, seno, justamente, frente a fatos macrocriminais e, em relao a estes fatos, a obrigao de proteo
estatal deveria ser ilimitada, pois do contrrio argumentar-se-ia em favor de uma situao prjurdica do direito do mais forte502.
Para o autor, a existncia ftica de grupos no estatais que cometem crimes internacionais constituiria o argumento decisivo em favor de uma compreenso mais extensa do conceito de macrocriminalidade. Nesse sentido, se configuraria como exemplo a organizao guerrilheira colombiana FARC, a mais antiga e maior da Amrica Latina, caso cometesse crimes
contra a humanidade e crimes de guerra. Contudo, necessrio acrescentar que as organizaes
no-estatais, para se converter em um autor de crimes contra a humanidade, devem exercitar,
de fato, um poder poltico503. Com efeito, o cometimento de crimes internacionais no pode
ser considerado como ato exclusivo de atores estatais, devendo, tambm, conduzir responsabilidade jurdico-penal de atores no estatais. Portanto, o conceito de macrocriminalidade
poltica deve-se estender, segundo uma compreenso moderna do direito penal internacional,
aos atores no estatais504.
Para tanto, pode-se dizer que crimes como o genocdio, o crime contra a humanidade
em sentido estrito e o apartheid (podendo-se inserir o etnocdio) geralmente esto envoltos em
501
Ibidem, p. 55.
Ibidem, p. 56.
503
Ibidem, p. 57.
504
Ibidem, p. 59.
502
135
um contexto de macrocriminalidade poltica, fortalecida pelo Estado ou por um grupo que
exerce o poder poltico de fato em um determinado territrio505.
Feitas estas consideraes sobre estes crimes internacionais e sua correlao geral com
a macrocriminalidade poltica, passaremos abordagem da relao e comparao do etnocdio
com o genocdio, com os crimes contra a humanidade e, posteriormente, com o apartheid.
3.2.1 Genocdio e etnocdio
Como primeira espcie de crime que geralmente est envolvido nesta macrocriminalidade poltica, tem-se o genocdio, prtica de violncia que perpassa toda a histria da humanidade. O extermnio de povos, portanto, um fenmeno antigo. Sabe-se que a antiguidade
marcada por conquistas e massacres de povos inteiros. Os motivos sempre foram os mais variados: dios nacionais, religiosos, raciais, polticos, desejo de dominao, vingana.
So muitos os exemplos: a destruio de Cartago no ano 146 a.C.; de Jerusalm por
Tito, no ano de 72 d.C.; as Cruzadas; os massacres completos nas guerras empreendidas por
Gengis Khan, dentre outros506.
Passados os sculos, os massacres ainda subsistem, com contornos distintos devido
progresso tecnolgica e continuidade dos conflitos. O genocdio armnio, a morte de milhares de ucranianos pelo regime stalinista, o extermnio de judeus e ciganos na Alemanha
nazista, a bomba de Hiroshima, a guerra no Vietn, a guerra na Arglia, os genocdios em
Ruanda, a fome em Biafra e o extermnio de indgenas nos Estados Unidos este ltimo desenvolvido pela expanso capitalista, mediante limpezas tnicas507 so alguns dos vrios
exemplos de crimes de lesa humanidade perpetrados no mago do processo civilizatrio e
modernizante.
O enfoque do presente estudo busca abordar o etnocdio e toda a sua conjuntura autnoma enquanto forma de violncia. Aps todas as explanaes nos captulos anteriores, ex505
No entanto, cabe referir que determinados crimes internacionais, como o genocdio, por exemplo, no necessariamente so cometidos em um contexto de macrocriminalidade poltica, podendo ser perpetrados por grupos
completamente distintos do poder do Estado e que no possuem poder poltico de fato. Exemplo de crime internacional nesse sentido o massacre dos Yanomami em 1993, em que indgenas foram exterminados por grupos
de garimpeiros na fronteira entre o Brasil e a Venezuela. Para mais detalhes, vide a obra de VIEIRA, Gustavo
Jos Correia. Do genocdio e etnocdio: povo, identidade cultural e o caso yanomami. So Paulo: Modelo, 2011.
506
RAMELLA, Pablo A. Crimes contra a Humanidade. Rio de Janeiro: Forense, 1987, p. 34.
507
Para mais detalhes sobre os extermnios propagados na expanso capitalista norte-americana, vide GALKIN,
Alexandr A. Genocidio. Moscou: Progreso, 1986.
136
pondo como a identidade cultural se constitui como elemento da corporalidade humana, ou
seja, da sua vida e realidade corporal, e posteriormente tratando no segundo captulo sobre
aspectos sociolgicos relevantes para a compreenso do etnocdio, a partir do risco social,
cumpre nesta etapa do estudo proposto analisar e apresentar aspectos caractersticos do etnocdio em comparao com cada espcie de crime internacional: no caso, esto elencados o
genocdio, os crimes contra a humanidade e o apartheid.
Especificamente com relao ao genocdio, trata-se de uma forma de violncia que
no deixou de ser til para as conquistas passadas e atuais. O crime de genocdio foi fator
preponderante para ultrapassar fronteiras, impor a cultura do vencedor, escravizar e exterminar, assim como o etnocdio. Mas para continuar com esta abordagem em paralelo com o etnocdio, necessrio traar um breve estudo do delito de genocdio na sua acepo jurdica.
Etimologicamente, a palavra genocdio possui algumas divergncias quanto ao seu
sentido. Para Nelson Hungria, empregando a linguagem latina, a palavra adviria de genus
(raa, povo, nao) e excidium (destruio, runa)508. Francisco Laplaza advoga que o termo
mais adequado seria o genticdio, que derivaria de gens (raa, estirpe, pas, povo, famlia).
Com isso, se expressaria o sentido tcnico da palavra, indicando grupo ou uma pluralidade de
pessoas ligadas por pertencer a uma mesma raa, estirpe ou povo, bem como a ao, a capacidade de dar a morte com o intuito de exterminar uma coletividade, pois o objeto do delito
seria a gens, identificado por todos e cada um dos integrantes de determinado grupo. Ademais, tratar-se-ia de avocar os interesses fundamentais da humanidade que esto na represso
a este delito, quando se fala em gens humana, ou seja, o gnero humano509.
J para Rafael Lemkin, tratar-se-ia de um termo hbrido, que derivaria de genos (raa,
nao ou tribo) e do sufixo latino cidio (matar)510. Com relao ao presente estudo, adotar-se este ltimo, no obstante as importantes justificativas apresentadas por Laplaza.
O fundador desta espcie de delito foi Rafael Lemkin, jurista de origem polonesa.
Muito antes do advento do Holocausto, esse autor j defendia a necessidade de se reprimir a
destruio de coletividades raciais, religiosas ou sociais como um delito de carter universal,
aplicvel a todos os povos511. Na V Conferncia Internacional para a Unificao do Direito
Penal, realizada em 1933 em Madrid, Lemkin apresentou um projeto de conveno para reprimir determinadas aes, que seriam o delito de barbrie, ou tambm identificado como
508
LAPLAZA, Francisco P. El Delito de Genocidio o Genticidio. Buenos Aires: Aray, 1954, p. 64.
Ibidem, p. 65.
510
TORRES, Lus Wanderley. Crimes de Guerra e Crimes contra a Humanidade. So Paulo: 1955, p. 53.
511
Ibidem, p. 54.
509
137
atentado contra a vida, integridade fsica, liberdade e dignidade de uma pessoa pertencente a
uma determinada coletividade. E com a denominao de delito de vandalismo identificou a
destruio de obras culturais e artsticas em situaes semelhantes512.
No ano de 1944, em plena Segunda Guerra Mundial e pelos atos cometidos durante o
nazismo, Lemkin estuda sobre a ocupao da Europa pelos Pases do Eixo. Aps, aborda sua
concepo de genocdio, que seria a destruio de uma nao ou grupo tnico, mediante um
plano de aes com o fim de praticar tal desintegrao. Ademais, ressaltava que o campo do
genocdio no seria levado a cabo contra indivduos em razo de suas qualidades pessoais,
mas simplesmente por pertencerem a um grupo513.
No processo inicial de normatizao do genocdio, pode-se elencar dois antecedentes
que marcaram os primeiros debates desta espcie de crime no mbito jurdico: por primeiro, o
acordo de Londres, estabelecido em 8 de agosto de 1945 pelos Estados Unidos, Unio Sovitica, Inglaterra e Frana, para julgar os oficiais nazistas. Estes eram acusados por crimes de
guerra, crimes contra a paz e crimes contra a humanidade, sendo este o primeiro esquema para
a formulao do delito de genocdio514. O artigo 6 da Carta de Londres definia os delitos contra a humanidade como
assassinatos, exterminao, reduo escravatura, deportao, e outros atos
inumanos cometidos contra qualquer agrupamento civil antes ou durante a guerra,
ou perseguies por motivos polticos, raciais, ou religiosos, em execuo ou em co515
nexo com qualquer crime, etc .
De fato, o julgamento dos crimes cometidos pelos oficiais do III Reich ocorreu, e os
acusados, na sua maioria, foram executados ou condenados priso perptua, em que pese as
grandes controvrsias sobre a constituio do Tribunal de Nuremberg (como o fato de ser um
Tribunal de Exceo) no sentido de que se caracterizava mais como uma medida de vingana
pelas potncias vencedoras da guerra. Por outro lado, no se trata de absolver os atos perpetrados pelos oficiais nazistas, mas deve-se lembrar que as mesmas potncias que presidiram o
julgamento foram responsveis por delitos graves praticados na colonizao na Amrica do
Norte, com a limpeza tnica de indgenas; pelo regime sovitico, com o Holodomor (genocdio em massa de ucranianos sob a autoridade de Stlin); ou at mesmo com os projetos colo512
Ibidem, p. 54.
TERNON, Yves, op. cit., p. 15.
514
LAPLAZA, Francisco P, op. cit., p. 50-52.
515
Carta de Londres citado por TORRES, Lus Wanderley, op. cit., p. 55.
513
138
nizadores de massacre e escravizao de africanos pelas potncias europias na invaso da
frica516.
Outro antecedente jurdico que marcou a insero da concepo do genocdio no mbito jurdico foi uma legislao nacional. A Polnia adotou, em 1946, uma legislao penal
que previa em seu texto os atentados honra ou inviolabilidade corporal de um grupo de
pessoas ou de um indivduo, por motivos de nacionalidade, religio ou raa517.
Mas o projeto efetivo de normatizao do delito de genocdio no mbito internacional
comea a ser debatido aps a constituio da ONU (Organizao das Naes Unidas). Em
novembro de 1946, a questo do genocdio foi submetida Assemblia Geral mediante um
projeto de resoluo apresentado por Cuba, ndia e Panam518. Em seguida, no mesmo dia, foi
confirmada a resoluo 95 (I), adotando os princpios do direito de Nuremberg, e aps a resoluo 96 (I), concluda em 11 de dezembro de 1946. Esta ltima resoluo era o projeto para a
conveno sobre o genocdio, ao esprito dos estudos de Rafael Lemkin. Nesta resoluo adotou-se uma definio mais ampla do crime de genocdio, elaborada pelo Conselho Econmico
e Social, em que participaram os juristas Rafael Lemkin, Donnedieu de Vabres e Vespasiano
Pella519. Falava-se em grupos humanos, tais como raciais, nacionais, idiomticos ou religiosos, abarcando ainda a possibilidade de extermnio de grupos polticos e a concepo de genocdio cultural, que era previsto no artigo I520. Este ltimo conceito era caracterizado por
atos que tivessem como objetivo destruir a lngua, religio ou cultura dos grupos protegidos,
proibir o uso da lngua entre seus membros ou destruir locais caractersticos de uma cultura521.
Para Lemkin, o genocdio significaria um plano coordenado de diferentes aes visando a destruio das fundaes essenciais da vida dos grupos nacionais, com o objetivo de aniquilar os grupos enquanto tais. Os objetivos poderiam ser planejados visando a desintegrao
das instituies polticas e sociais, da cultura, da lngua, de valores nacionais, da religio, e da
existncia econmica de grupos nacionais, bem como a destruio da segurana pessoal, li-
516
Nesse sentido, vide as informaes trazidas pela revista Leituras da Histria especial, a qual trata especificamente dos grandes genocdios ocorridos. Revista Leituras da Histria especial - Grandes Genocdios, ano I, n. 2,
Editora Escala, 2008.
517
LAPLAZA, Francisco P, op. cit., p. 55 e 56.
518
RAMELLA, Pablo A, op. cit., p. 35.
519
TERNON, Yves, op. cit., p. 38.
520
ROBINSON, Nehemiah. La Convencion sobre Genocidio. Buenos Aires: Bibliogrfica, 1960, p. 112.
521
CAMPOS, Paula Drumond Rangel. O crime internacional de genocdio: uma anlise da efetividade da Conveno de 1948 no Direito Internacional. Disponvel em:
<http://www.cedin.com.br/revistaeletronica/artigos/O%20CRIME%20INTERNACIONAL%20DE%20GENOC
%CDDIO%20Paula%20Campos.pdf>. Acesso em: 30 jan. 2011, p. 21.
139
berdade, sade e dignidade522. Nesse sentido, verifica-se que o genocdio cultural (ou etnocdio) j era contemplado de certa forma como uma espcie de criminalidade voltada ao extermnio de uma cultura, religio ou lngua. No entanto, cabe salientar que na poca de formulao do conceito de genocdio, a destruio de uma cultura, lngua ou religio era denominada
sob a forma de genocdio cultural, no existindo ainda o termo etnocdio, que veio a ser utilizado somente no final da dcada de 60, com os estudos de Robert Jaulin523.
Contudo, ambos os termos grupos polticos e o genocdio cultural no foram recepcionados aps a apreciao do projeto pela Comisso que integrava os Estados. Os grupos
polticos foram retirados, principalmente devido presso sovitica, o que oferecia a estes
Estados a possibilidade de exterminar grupos humanos apenas definindo-os de forma diferente524.
Quanto ao genocdio cultural, este conceito tambm foi excludo, dentre outras justificativas, pelo fato de que seria um conceito muito indefinido525. A proposta foi retirada por
sugesto dos Estados Unidos, Reino Unido, Frana, alm do Brasil526. Desta forma, tanto os
grupos polticos quanto o genocdio cultural restaram excludos do projeto.
De fato, como observa Yves Ternon, a interveno dos representantes dos EstadosMembros havia modificado o esprito da resoluo 96 (I), o que parecia demonstrar que os
Estados haviam tomado conscincia dos riscos que corriam ao outorgar ONU o direito de
responsabiliz-los por aes passadas, presentes ou futuras; contudo, devido ao fato de que
no podiam se eximir da obrigao de proteger os direitos humanos, se esforaram em limitar
o alcance do compromisso celebrado527.
Aps todos os entraves e alteraes de ordem poltica no texto, a ONU aprova, mediante a resoluo 260 A (III), em 9 de dezembro de 1948, a Conveno para a preveno e
represso ao crime de genocdio, com o emprego da raiz etimolgica defendida por Lemkin528, excluindo o genocdio cultural. Como se percebe, as limitaes impostas pelos pases
durante a elaborao da conveno e sua insero no ordenamento jurdico significaram um
retrocesso s propostas previstas na resoluo 96 (I).
522
NERSESSIAN, David. Rethinking cultural genocide under international law. Disponvel em:
<http://www.carnegiecouncil.org>. Acesso em: 04 mai. 2011, p. 1.
523
Vide item 3.1 deste captulo.
524
TERNON, Yves, op. cit., p. 45.
525
ROBINSON, Nehemiah, op. cit., p. 61.
526
CAMPOS, Paula Drumond Rangel, op. cit., p. 21.
527
TERNON, Yves, op. cit., p. 40.
528
Ibidem, pg. 39.
140
Em 1965, muitos pases estavam diante do problema da prescrio prevista nas suas
legislaes nacionais. E em 26 de novembro de 1968, pela resoluo 2.391 (XXIII), a Assemblia Geral da ONU adotou a Conveno sobre a imprescritibilidade dos crimes de guerra e
contra a humanidade, no artigo I, alnea b, retomando ainda a concepo de crime de genocdio tal como definido pela Conveno de 1948529.
So estes, portanto, os fatos que ensejaram a normatizao do delito de genocdio,
sendo que principalmente a definio instituda pela Conveno serviu de base pelas legislaes nacionais.
No que concerne s caractersticas do genocdio, para a sua compreenso faz-se necessria uma breve exposio do artigo 2 da Conveno para a Preveno e Represso ao Crime
de Genocdio530. Diz o texto:
Artigo 2
Na presente conveno, entende-se por genocdio qualquer dos seguintes
atos, cometidos com a inteno de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional,
tnico, racial ou religioso, tal como:
a) Assassinato de membros do grupo.
b) Dano integridade fsica ou mental de membros do grupo.
c) Submisso intencional do grupo a condies de existncia que lhe ocasionem a destruio fsica total ou parcial.
d) Medidas destinadas a impedir nascimentos no seio do grupo.
e) Transferncia forada de menores do grupo para outro.
Pela leitura do dispositivo, verifica-se que o delito se define pela inteno especial de
destruir um grupo humano como tal, no todo ou em parte. O ato no cometido com a inteno de eliminar um indivduo em especial, mas em razo de pertencer a um determinado grupo humano; abarca, portanto, a existncia de grupos humanos, caracterizados pela identidade
de pensamento religioso, social e tnico531. Matar pessoas negras por serem negras, por exemplo, sem que importe a identidade pessoal determinada; o genocdio visa destruir um vnculo de sangue ou de esprito mediante a destruio das pessoas que esto vinculadas532. ,
529
Ibidem, p. 53-54.
BRASIL. Decreto n 30.822, de 6 de maio de 1952. Promulga a conveno para a preveno e a represso
do crime de Genocdio, concluda em Paris, a 11 de dezembro de 1948, por ocasio da III Sesso da Assemblia
Geral das Naes Unidas. Disponvel em: <http://www2.mre.gov.br/dai/genocidio.htm>. Acesso em: 31 out.
2010.
531
LARIOS, Eligio Sanchez. El genocidio, crimen contra la humanidad. Mexico: Ediciones Botas, 1966, p. 256.
532
LAPLAZA, Francisco P, op. cit., p. 76.
530
141
portanto, o carter da impessoalidade do sujeito passivo533 que guia o agente, visando exterminar um grupo humano. Esta inteno534 caracterizada pelo dolo especial dolus especialis535 que ir configurar o delito, mediante o exerccio de uma atividade finalista especfica536. So, portanto, dois elementos bsicos: a) a vtima deve pertencer a um grupo humano e
b) a inteno do autor direcionada no sentido de destruir um grupo humano enquanto tal. Eis
os elementos objetivo e subjetivo537, respectivamente.
Em geral, praticado mediante aes comissivas. Mas pode ser cometido por uma omisso, desde que presente a inteno de extermnio, como no caso de negao de alimentos e
de prestao sanitria538.
Os grupos recepcionados na conveno so nacionais, tnicos, raciais ou religiosos.
Byron Seabra Guimares539 refere que
Nacional, na inteno legislativa, a pessoa pertencente a uma nao, no
importa seja natural ou no do lugar, e mesmo no importa a vinculao biosomtica. So os casos das novas naes africanas, formadas de vrios grupos tipolgicos humanos, mas todos com inteno de criar uma nacionalidade, como realidade sociolgica, ao contrrio da inteno de Estado, como realidade jurdica.
Por isso que o termo nacional tanto se dirige formao natural (territrios,
unidades tnicas e idioma comum) como histrica (tradio, costume, religio e
lei) e mesmo psicolgica (aspirao comum, conscincia nacional).
tnico a referncia ao povo, na conceituao bio-tipolgica do grupo. Referncia gentica da homogeneidade grupal.
O conceito de raa por demais discutido. Chegam mesmo os especialistas
a dizerem que no existe uma raa. No sentido de raa pura (alis, diga-se, uma das
causas do genocdio da segunda grande guerra: a raa pura ariana).
Entretanto, hoje, j se parte para um conceito eminentemente biolgico de
raa. Levando-se em conta os aspectos hereditrios-somticos do grupo. Os gens,
determinam a raa.
(...)
533
GUIMARES, Byron Seabra. Genocdio. In Repositrio oficial da jurisprudncia do Supremo Tribunal
Federal, ano V, n.19, julho a setembro de 1976, p. 33.
534
Interessante ressaltar que o Tribunal Penal Internacional de Ruanda j se manifestou que diante da falta da
confisso por parte do acusado, poderia se deduzir a configurao do genocdio e a inteno de pratic-lo pela
circunstncia dos fatos. Ou seja, seria possvel concluir que houve a inteno genocida mediante um conjunto de
atos praticados pelo acusado, dento de um contexto geral de realizao de atos dirigidos contra um grupo, em
uma regio ou um pas, ou o fato de se escolher de maneira deliberada as vtimas, por pertencer a um grupo em
particular, ao mesmo tempo excluindo outros grupos. Nesse sentido, vide VERDUZCO, Alonso Gomez Robledo. El crimen de genocidio en derecho internacional. Boletn Mexicano de Derecho Comparado. Disponvel em:
<http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/105/art/art6.htm>. Acesso em: 03 ago. 2010, p. 10.
535
Ibidem, p. 10.
536
Em sntese, a teoria finalista da ao preconiza que a ao delituosa praticada visando uma determinada
finalidade pelo agente. Nesse sentido, vide WELZEL, Hans. Direito Penal. Campinas: Romana, 2003, p. 79.
537
AMBOS, Kai. La Parte General del Derecho Penal Internacional. Montevideo: Fundacin KonradAdenauer, 2005, p. 117-123.
538
CAMPOS, Paula Drumond Rangel, op. cit., p. 18.
539
GUIMARES, Byron Seabra, op. cit., p. 33-34.
142
Contra o grupo religioso, ainda se pratica o genocdio. No importando
mesmo se atesta, monotesta ou poli. Como indiferente, na religiosidade, os tipos
raciais e nacionais dos religiosos.
No que concerne aos grupos raciais e tnicos, tericos defendem que os primeiros (raciais) so definidos por um conjunto de caracteres biolgicos; ao passo que os segundos (tnicos) so configurados em torno de fatores culturais540.
Merece ser ressaltado ainda que, ao nosso entender, a proteo de grupos no deveria
estar restringida aos tipificados no texto da conveno. Grupos polticos e grupos sociais por
vezes podem ser alvo de um plano genocida. Ou seja, poderia ocorrer mediante a implementao de um assassinato coletivo de pessoas ligadas por uma opinio e concepo poltica541,
ou at mesmo identificadas por sua condio social. Veja-se, por exemplo, no tocante aos
grupos sociais, tanto os massacres do Carandiru execuo em massa de detentos como da
Candelria em que as vtimas eram menores de rua, fatos que poderiam ser enquadrados
perfeitamente no delito de genocdio542.
Ainda de acordo com o art. 2, a inteno no precisa ser necessariamente a destruio
total de um grupo; tambm se configura como genocdio o ato praticado com a inteno de
destruir parcialmente determinado grupo humano. Basta que a ao seja desenvolvida visando
a destruio de um subgrupo dentro de uma raa, etnia, nacionalidade ou religio. Pode ser
praticado, portanto, contra um subgrupo, dentro de um pas, regio ou uma comunidade determinada543. Existe tambm a possibilidade de se configurar o genocdio quando o agente
mata apenas um membro de determinado grupo, mas com a inteno de seguir repetindo os
atos sobre o grupo ou subgrupo escolhido (matar o resto do grupo, um por um)544.
No que tange ao sujeito ativo (o agente que pratica a ao), poder ser um governante,
funcionrio ou particular, a teor do art. 4 da Conveno. Existem tambm estudos crticos
acerca da falta de responsabilizao das pessoas jurdicas, no sentido de que estas poderiam
contribuir de maneira significativa para a ocorrncia de genocdios. Neste aspecto, no genoc540
PIPAON Y MENGS. Javier Saenz. Delincuencia Politica Internacional. Madrid: Instituto de Criminologia de
la Universidad Complutense de Madrid, 1973, p. 113.
541
Uma definio de genocdio, abarcando os grupos polticos, pode ser encontrada em GREEN, Penny; WARD,
Tony. State crime governments, violence and corruption. London: Pluto Press, 2004, p. 166.
542
Nesse sentido: CINTRA JNIOR, Dyrceu Aguiar Dias. Judicirio, violncia, genocdio. In Revista Trimestral da FASE, Ano 22, n. 60, maro de 1994, p. 49.
543
GIL, Alicia Gil. Los crmenes contra la humanidad y el genocidio en el Estatuto de la Corte penal internacional a la luz de los elementos de los crmenes. In O Direito Penal no estatuto de Roma: leituras sobre os fundamentos e a aplicabilidade do tribunal penal internacional. AMBOS, Kai e CARVALHO, Salo de (Org.). Rio de
Janeiro: Lmen Jris, 2005, p. 252-253.
544
Ibidem, p. 254-255.
143
dio perpetrado na Alemanha do III Reich teve grande contribuio a empresa IBM, a qual
celebrou contrato diretamente com o Estado alemo em New York, para fabricar os cartes de
identificao de prisioneiros, o que teria facilitado e sistematizado o extermnio; outro exemplo de contribuio de pessoas jurdicas a Radio-Television Libre des Mille Collines, a qual
teve papel significativo na incitao do genocdio em Ruanda545.
Os atos que configuram o genocdio esto elencados nas alneas do art. 2 da Conveno. As alneas a a c tratam do genocdio fsico (matanas de membros de um grupo, leso
grave integridade fsica ou mental e submisso do grupo a condies que possam levar sua
destruio fsica), enquanto as alneas d e e versam sobre o genocdio biolgico (impedimento
de nascimentos e transportao de crianas de um grupo para outro)546. Interessante mencionar que o TPIR Tribunal Penal Internacional para Ruanda reconheceu que a violncia sexual contra a mulher por meio de estupros sistemticos pode configurar ato de genocdio, visto que no seria necessrio destruir o grupo; bastaria que o debilitasse de tal forma que o deixasse incapaz de perpetuao ou margem da sociedade, o que freqentemente ocorria com
as mulheres estupradas na regio547. Outro fator que merece destaque seria a possibilidade de
prtica do genocdio de populaes indgenas mediante a poluio ambiental, tpica da poca
contempornea, o que pode impedir a sobrevivncia de grupos humanos inteiros548.
Outras caractersticas do genocdio so549: a) trata-se de um crime, pois atenta contra
bens jurdicos fundamentais cuja violao reprimida pela lei penal550; b) um delito iuris
gentium, pois reprimido pelo Direito Internacional, violando bens jurdicos da comunidade
humana universal, como a dignidade do homem (art. 1 da conveno); c) um crime propriamente internacional, porquanto pode ser julgado por um Tribunal Penal Internacional551; d)
um delito comum, visto que no considerado crime poltico para efeitos de extradio; e)
um crime de inteno ou utilitrio, de modo que h uma vontade especfica por parte do agen545
CAMPOS, Paula Drumond Rangel, op. cit., p. 19-20.
VIEIRA, Manuel A. Derecho penal internacional y derecho internacional penal. Montevideo: Fundacion de
cultura universitaria, 1970, p. 309.
547
CAMPOS, Paula Drumond Rangel, op. cit., p. 35.
548
CUSTDIO, Helita Barreira. Poluio ambiental e genocdio de grupos indgenas. In Revista de Direito Civil, imobilirio, agrrio e empresarial. Ano 16, n. 59, Jan-Mar. de 1992.
549
PIPAON Y MENGS, Javier Saenz, op. cit., p. 114-125.
550
Em entendimento diverso, esta caracterstica fundamentada na acepo de que os crimes seriam infraes de
direitos naturais, como a vida, a liberdade; os delitos violam direitos criados pelo contrato social, como a propriedade; e as contravenes infringem regras e disposies de polcia. Ibidem, p. 116.
551
Atualmente no Brasil est em vigor o Decreto n 4.388/2002, o qual promulgou o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, constitudo em 1998 para julgar os crimes de genocdio, crimes contra a humanidade,
crimes de guerra e crimes de agresso. O Brasil aderiu jurisdio do ERTPI pela emenda constitucional 45/04,
a qual inseriu o 4 ao art. 5 da Constituio Federal do Brasil. BRASIL. Decreto n 4.388, de 25 de setembro
de 2002. Disponvel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4388.htm>. Acesso em: 31 out.
2010.
546
144
te dolo especial, como abordado; f) pode ser um delito permanente, porque mediante a manifestao do agente, h a possibilidade de ser praticado ao decorrer do tempo, como no caso
das alneas c e e do art. 2 da conveno e g) um delito pluriofensivo, pois supe um ataque
a uma pluralidade de bens jurdicos, notadamente direitos fundamentais da pessoa humana552.
So estas, portanto, as caractersticas do crime de genocdio.
Relacionando o genocdio com o etnocdio, pode-se dizer que o genocdio visa exterminar um grupo enquanto tal, visando exatamente aniquilar a existncia fsica do grupo. Medidas de destruio fsica so utilizadas pelo agente com o fim precpuo de eliminar completamente o grupo de sua existncia neste mundo. Com efeito, pode-se afirmar que o genocdio
atenta contra a existncia do grupo.
J o etnocdio admite a existncia do grupo humano, com a condio de que este passe
a integrar o projeto ideolgico do agressor, eliminando toda uma cultura anteriormente desenvolvida. Caso a vtima se negue a seguir as idias propagadas, pode sofrer as piores conseqncias em seu corpo. O seu corpo passa a ser objeto de inscrio de uma violncia que deve
forar a vtima a aderir ideologia do agressor, a seu projeto totalizante. Medidas violentas
(at mesmo a morte) so utilizadas no necessariamente para banir o ser humano do mundo,
mas para fazer com que a vtima, pela violncia, passe a crer ou aderir a uma campanha de
expanso da viso de mundo do agente. O etnocdio admite que o ser humano possa continuar
existindo, desde que se converta, mediante a fora, s idias que so propagadas pelo agressor
(seja colonizador, etc) e renuncie a seu sistema de viso de mundo (como ocorreu na conquista da Amrica). Por isso, o etnocdio atenta contra a identidade cultural de um grupo humano,
e no contra a existncia fsica do grupo, como no genocdio. O genocdio uma conquista
meramente fsica, de eliminao do grupo do mundo; o etnocdio se constitui como uma conquista espiritual, no plano das idias, mas com efeitos igualmente violentos.
552
Os bens jurdicos se apresentam de uma variada ndole, desde os bens jurdicos diretamente pessoais da vida
humana e da integridade pessoal, fsica ou psicolgica, at os bens jurdicos relacionados com a autodeterminao sexual, passando pela proteo dos bens jurdicos da liberdade e da identidade cultural. Vide GOUVEIA,
Jorge Bacelar. Direito internacional penal uma perspectiva dogmtico-crtica. Coimbra: Almedina, 2008, p.
272.
145
3.2.2 Etnocdio e crimes contra a humanidade
Para expor no que consiste os crimes contra a humanidade, necessrio esclarecer o
que so os crimes internacionais. Em resumo, os crimes internacionais so as infraes s
normas internacionais vinculadas responsabilidade penal individual, em contraposio
responsabilidade do Estado, quando seus agentes atuam em seu nome553.
De acordo com Roberto Lima Santos554, os crimes internacionais comportariam as seguintes caractersticas: a) se constituem como violaes s regras do costume internacional ou
tratados internacionais; b) so regras que objetivam proteger valores considerados importantes
por toda a comunidade internacional e que obrigam os Estados e indivduos; c) subsiste um
interesse universal em reprimir tais crimes, e em certas condies os acusados podem ser processados e punidos por qualquer Estado, sem que exista vnculo territorial ou nacional entre o
acusado ou a vtima e aquele determinado Estado (jurisdio universal). Sob estas caractersticas e com base nesta definio de crimes internacionais, pode-se incluir os crimes de guerra,
crimes contra a humanidade, genocdio, tortura, agresso e algumas formas extremas de terrorismo555.
No que tange particularmente aos crimes contra a humanidade, sua origem se remonta
1 Guerra Mundial, em especial aps o massacre dos armnios na Turquia. O denominado
Tratado de Svres, firmado entre a Turquia e as potncias aliadas que venceram a 1 Guerra,
veio a constituir a origem da responsabilidade internacional por crimes praticados por agentes
de um Estado contra minorias internas556.
No entanto, foi na 2 Guerra Mundial e com o advento da poltica de extermnio de judeus e outras comunidades na Alemanha nazista que se constituram os primeiros processos
contra os agentes responsveis por crimes contra a humanidade557. As perseguies efetuadas
na Alemanha contra seus prprios cidados no poderiam se enquadrar nos crimes de guerra,
visto que no havia precedente na histria das guerras a expulso, deportao e o extermnio
levados a cabo por um pas contra os prprios nacionais. Assim, o conceito de crimes contra a
553
SANTOS, Roberto Lima. Crimes da ditadura militar responsabilidade internacional do Estado brasileiro
por violao aos direitos humanos. Porto Alegre: Nuria Fabris, 2010, p. 101.
554
Ibidem, p. 102.
555
Ibidem, p. 102.
556
Ibidem, p. 103.
557
Ibidem, p. 103.
146
humanidade foi constitudo para evitar que a perseguio a cidados nacionais no ficasse
sem resposta558.
A primeira construo do crime contra a humanidade ocorre no artigo 6 (c), do Estatuto do Tribunal de Nuremberg, criado pelo Acordo de Londres, de 1945. Neste momento, foram qualificados como crimes contra a humanidade os atos cometidos contra a populao
civil, a perseguio por motivos polticos, o homicdio, o extermnio e a deportao, dentre
outros atos559.
Esse conceito de crimes contra a humanidade, formulado pelo Estatuto do Tribunal de
Nuremberg foi confirmado na primeira sesso da Assemblia Geral da Organizao das Naes Unidas, em 1946, por meio da Resoluo 95 (I). Em 1947, a Assemblia Geral da ONU
determinou que os preceitos de direito internacional utilizados pelo Tribunal de Nuremberg
fossem consolidados em documento escrito. Assim, a Comisso de Direito Internacional, em
1950, aprovou um rol de sete princpios, sendo que no sexto princpio tratava-se do crime
contra a humanidade, entendido como assassinato, extermnio, escravido, deportao e outros atos inumanos praticados contra qualquer populao civil, bem como a perseguio por
motivos polticos, raciais ou religiosos, quando tais atos ou perseguies fossem praticados
em conexo com qualquer crime contra a paz ou crime de guerra560.
No entanto, com o passar dos anos este vnculo do crime contra a humanidade com os
crimes de guerra ou contra a paz foi se rompendo, porquanto este nexo com uma guerra importava estritamente para os julgamentos levados a cabo pelo Tribunal de Nuremberg, especialmente para demarcar a temporalidade das condutas que seriam objeto de julgamento pelo
Tribunal Militar, quais sejam, os fatos ocorridos aps 1939561.
Com efeito, no entendimento mais atual, os crimes contra a humanidade podem ser
cometidos independentemente do tempo de guerra ou de paz. Enquanto em 1945 era exigido
um nexo com conflito blico, na atual formulao dos crimes contra a humanidade nenhum
vnculo requerido. Para tanto, aps 1946 consolidou-se o sentido da no exigncia de qualquer nexo entre os crimes contra a humanidade e os crimes contra a paz ou crimes de guerra562.
558
Ibidem, p. 103.
Ibidem, p. 103.
560
Ibidem, p. 104.
561
Ibidem, p. 104.
562
Ibidem, p. 105. Ressalte-se que este entendimento de atribuio de um carter autnomo ao crime contra a
humanidade veio a se consolidar principalmente aps o caso Prosecutor vs. Tadic, julgado pelo Tribunal da
ONU para os crimes cometidos na Ex-Iugoslvia.
559
147
De fato, o conceito de crimes contra a humanidade teve uma evoluo que se refletiu,
entre outros, nos Estatutos e nas decises dos tribunais penais internacionais (como por exemplo, no Estatuto do Tribunal Penal Internacional). Deste modo, os crimes contra a humanidade, sob a perspectiva do Direito Internacional, englobam uma srie de aes que possuem
em comum as seguintes caractersticas: a) so ofensas particularmente repulsivas, no sentido
de que constituem um srio ataque dignidade humana, uma grave humilhao ou degradao de seres humanos; b) no seriam eventos isolados ou espordicos, mas parte de uma poltica de governo ou de uma prtica sistemtica e freqente de atrocidades que so toleradas ou
incentivadas por um governante ou pela autoridade de fato; c) so atos proibidos e podem ser
conseqentemente punidos, independentemente se tenham sido perpetrados em tempos de
guerra ou de paz; d) as vtimas do crime devem ser civis, ou no caso de crimes cometidos durante um conflito armado, pessoas que no tenham tomado parte nas hostilidades563.
Para que crimes como assassinato, leso fsica, escravido, dentre outros, se tornem
crimes contra a humanidade, deve haver tambm um componente internacional, que pode se
configurar tanto pelo resultado da conduta que afeta os interesses da segurana coletiva da
comunidade internacional, como pelas razes da gravidade e magnitude da conduta violadora,
que coloque em risco a paz e a segurana da humanidade564.
E distintamente dos crimes de guerra, os crimes contra a humanidade no necessitam
de um elemento transnacional, ou seja, podem ser cometidos dentro dos limites territoriais de
um Estado; e diferentemente do genocdio, eles no se limitam a casos em que existe a inteno de destruir um grupo racial, tnico, nacional ou religioso. A sua dimenso internacional
determinada pela falta de habilidade dos mecanismos estatais de controle para tratar da criminalidade provocada pelo prprio Estado ou por seus lderes, uma vez que somente mecanismos internacionais poderiam administrar esse problema565. Os crimes contra a humanidade se
diferenciam, portanto, na sua natureza coletiva e massiva e a referncia s populaes civis
o que caracteriza sua massificao566.
Por fim, a jurisprudncia da Corte Interamericana de Direitos Humanos entende que os
crimes contra a humanidade, para sua caracterizao, devem possuir os seguintes elementos:
a) a prtica de atos desumanos em sua natureza e carter; b) tais atos devem ser praticados
563
Ibidem, p. 110.
Ibidem, p. 110.
565
Ibidem, p. 110.
566
Ibidem, p. 111.
564
148
como parte de um ataque generalizado ou sistemtico567; c) esse ataque atribudo a uma poltica de Estado, ainda que expressamente no formalizada; e d) o ataque deve se voltar contra
a populao civil568.
Nesse sentido, pode-se referir que os crimes contra a humanidade possuem uma especial caracterstica: o fato de se aproximar mais da concepo de macrocriminalidade poltica
(embora o genocdio, o etnocdio e o apartheid tambm possam estar inseridos neste contexto,
de certa forma). Isto porque a caracterstica essencial do crime contra a humanidade a existncia de um poder poltico uma poltica de Estado ou de uma organizao que exera o
poder poltico de fato que tolera ou participa nos atos violentos praticados contra a populao civil. Assim, preenchem este elemento quer atos de governo, quer atos de uma organizao ou grupo que tenha alcanado o poder governamental ou domine de fato uma parte do
territrio569.
Ainda, elaborando uma breve comparao com o genocdio, enquanto este implica no
deliberado propsito de eliminao completa de um determinado grupo humano, caracterizado a partir de critrios tnicos, religiosos, raciais e nacionais, o crime contra a humanidade
implica na colocao em prtica de uma poltica estatal (ou por uma organizao que exera o
poder poltico de fato) de perseguio sistemtica populao civil. Tais crimes so chamados de crimes contra a humanidade porque eles visam completa eliminao de parcela inerente diversidade humana, expulsando grupos da comunidade poltica e atacando a base do
que permite a prpria existncia da poltica: a pluralidade humana570.
No que tange ao bem tutelado, entende-se que se trata da dignidade humana, que assume um fundamento coletivo. Trata-se de um bem jurdico coletivo porque pertence comunidade internacional, onde todos nos englobamos e de onde ningum pode ser excludo. Neste
567
Cabe referir que o Tribunal Penal Internacional para Ruanda, no caso Prosecutor vs. Akayesu considerou que
o termo generalizado pode ser definido como uma ao em massa, freqente e em larga escala, levada a cabo
coletivamente com considervel gravidade e dirigida contra uma multiplicidade de vtimas. O conceito de sistemtico pode ser definido como meticulosamente organizado e seguindo um padro regular baseado em uma
poltica comum envolvendo recursos substanciais pblicos ou privados. Vide TRINDADE, Otavio Augusto
Drummond Canado. Consideraes acerca da Tipificao dos Crimes Internacionais Previstos no Estatuto de
Roma.
Disponvel
em:
<http://www.dhnet.org.br/dados/revistas/ibdh/revista_do_ibdh_numero_4.pdf#page=167>. Acesso em: 04 jul.
2011, p. 171.
568
SANTOS, Roberto Lima, op. cit., p. 112.
569
SOUSA, Susana Aires de. Sobre o bem jurdico-penal protegido nos crimes contra a humanidade. Disponvel
em: <http://www.defensesociale.org/xvcongreso/pdf>. Acesso em: 06 jul. 2011, p. 12.
570
FILHO, Jos Carlos Moreira da Silva. Crimes do Estado e Justia de Transio. In Sistema penal e violncia
revista eletrnica da Faculdade de Direito. Porto Alegre, vol. 2, n. 2, julho/dezembro 2010. Disponvel em:
<http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/sistemapenaleviolencia/article/viewArticle/8276>. Acesso em:
06 jul. 2011, p. 25.
149
sentido, a identidade da vtima, a Humanidade, que faz o crime contra a humanidade. O bem
jurdico individual lesado (vida, integridade fsica, liberdade, dentre outros) faz parte integrante deste autnomo bem que a dignidade humana. Para Susana Aires de Sousa, o valor
individual que tambm se tutela por esta vertente serve como meio de proteo da prpria
humanidade, emprestando o seu valor tutela de um bem-fim: a dignidade humana enquanto
valor comum humanidade. Ao violar-se uma vida autnoma, despersonalizando-a, desumanizando-a, reduzindo-a a zero, num quadro de um ataque sistemtico a uma populao, tambm a humanidade que todos ns partilhamos que se aniquila. Seria, pois, a dignidade humana
na sua camada coletiva571.
Aps abordar as caractersticas do crime contra a humanidade, cabe agora tecer algumas consideraes sobre a sua prtica como violao corporalidade humana, no processo de
desumanizao.
Cabe ressaltar primeiramente que o crime contra a humanidade configura-se como
uma violncia indita que, como referimos, nasce da guerra, mas que se distingue completamente da mesma: ela ope, de um lado, um combatente armado e, de outro, uma populao
civil inofensiva. O crime contra a humanidade comea quando o exrcito ataca inocentes que
no s no combatem, como no representam perigo algum para a concretizao dos objetivos
estratgicos almejados572. Trata-se de um massacre elevado ao nvel da poltica, e do encontro
de uma ao e de uma inao, de uma agresso total e de uma passividade absoluta573. A vtima no exerce qualquer tipo de controle sobre sua sorte; ela incapaz de agir, de fugir, se
defender.
Ainda, o crime contra a humanidade precede de um processo de desumanizao da vtima, em que esta vive a experincia de no pertencer a este mundo; a vtima permanece s no
mundo, mas ao mesmo tempo partilha essa experincia com milhares de outras pessoas574.
Este crime revela que pode haver eventos piores do que a morte: j no se visa a submisso,
mas a desumanizao: o crime contra a humanidade representa tanto um crime real (o assassinato do outro) como a supresso simblica, ou seja, a total perda da considerao por outrem.
A vtima, nesse sentido, desfigurada, inclusive aos seus prprios olhos, perdendo todo o
respeito, todo o amor-prprio, toda a auto-estima: ela animalizada575, reificada, desapossada
da confiana no mundo. Esta desumanidade se constitui como uma indiferena definida como
571
SOUSA, Susana Aires de, op. cit., p. 17.
GARAPON, Antoine. Crimes que no se podem punir nem perdoar. Lisboa: Instituto Piaget, 2002, p. 105.
573
Ibidem, p. 106.
574
Ibidem, p. 109.
575
Ibidem, p. 109.
572
150
a ausncia, a incapacidade de se colocar no lugar do outro. Conforme leciona Hannah Arendt576, foi quando o regime nazista declarou que o povo alemo no s no estava disposto a
ter judeus na Alemanha, mas desejava fazer todo o povo judeu desaparecer da terra que passou a existir o novo crime, o crime contra a humanidade no sentido de crime contra o status
humano, ou contra a prpria natureza da humanidade.
Mas este processo de desumanizao est ancorado em um aspecto importante: a desumanizao da vtima relacionada com seu corpo. Atravs de seu corpo, a vtima sofre,
com sua dor, a exteriorizao de um projeto violento. na corporalidade que os seres humanos manifestam seu contato com o mundo e com os outros, e no caso dos crimes contra a humanidade, a desumanizao por que passa a vtima atravessa obrigatoriamente seu corpo. A
violao de sua integridade fsico-psquica (de sua corporalidade) est no cerne do processo
de desumanizao.
Assim, o processo de desumanizao por que passa a vtima do crime contra a humanidade atingido mediante a inscrio desta violncia no seu corpo. Ou seja, a violao de
seu corpo o processo em que se concretiza a desumanizao, em que a vtima no considerada como ser humano, mas como uma coisa disponvel a ser destruda. O corpo pea chave
na efetivao do projeto violento de desumanizao.
Assim como no crime contra a humanidade, no etnocdio a violncia tambm inscrita
no corpo, mediante um processo de desumanizao. A vtima tratada, pela sua cultura, como
um ser no humano, pois no caso, a desumanizao decorre da cultura considerada inferior e
objeto de supresso total, pela violncia. A vtima, tambm, para recuperar sua humanidade,
levada a escolher entre a integrao ao projeto colonialista de abandono de sua cultura, religio ou lngua, ou ao perecimento, como a morte ou a destruio fsica. Assim como no crime
contra a humanidade, a reificao e desumanizao do outro fazem parte integrante da prtica
etnocida.
3.2.3 Etnocdio e apartheid
O apartheid outra espcie de violao de direitos humanos que de certa forma pode
ser comparada com o etnocdio o que ser visto adiante. A prtica do apartheid foi conheci576
ARENDT, Hannah. Eichmann em Jerusalm um relato sobre a banalidade do mal. So Paulo: Companhia
das Letras, 2006, p. 291.
151
da principalmente a partir dos acontecimentos ocorridos na frica do Sul, pas que viveu este
sistema por mais de quarenta anos. Este sistema imps o critrio de que a maioria africana no
estava qualificada para gozar de um tratamento igual ao da minoria de origem europia. Assim, a populao nativa foi marcada pelo apartheid como uma raa inferior, sendo justificvel
ainda a privao dos direitos mais bsicos.
Este regime de segregao se caracterizava pela separao completa, em que os africanos no podiam usufruir das necessidades bsicas (como moradia, livre movimento, etc) e
eram constantemente mantidos sob explorao. Havia leis especficas que proibiam casamentos entre brancos e negros, escolas separadas para negros e brancos, dentre outras medidas de
Estado, alm da violncia e explorao laboral.
De acordo com Samuel Duran Bachler, o problema racial na frica do Sul, resultante
da poltica de segregao, no seria algo novo neste pas, e no comeou em 1948 quando o
Partido Nacionalista passou a aplicar a doutrina do apartheid. Em realidade, desde o princpio
da colonizao europia, em meados do sculo XVII, a segregao existia entre negros e
brancos. Esta segregao foi estabelecida ou como resultado das circunstncias histricas ao
produzir-se o contato entre grupos raciais completamente diferentes e reforada pelos prejuzos religiosos e raciais peculiares da poca; ou tambm mediante legislao originada em vestgios de conceitos polticos e sociais predominantes durante os perodos coloniais e semicoloniais da histria do pas. Contudo foi durante a administrao britnica no territrio africano que se generalizaram prticas equivalentes ao que viria ser o apartheid577.
Para iniciar a exposio, faz-se necessrio um breve esboo histrico, o qual podemos
dividir em: a) antes de 1948; b) desde 1948 at 1980; c) de 1980 a 1989; d) de 1989 at hoje.
No perodo anterior a 1948, os indcios do que viria a ser o apartheid comeam a surgir com a constituio britnica para a Unio Sul-Africana de 1910, que reservou praticamente todo o poder poltico para a populao branca. Assim, o regime do apartheid, instaurado em
1948, se ergueu com base nesta constituio, que favorecia a dominao poltica por parte da
populao branca. Em 1913, as autoridades sul-africanas, mediante a lei de posse de terra,
restringiram os direitos dos africanos a possuir a terra, e demarcaram reas de ocupao segregadas578.
577
BACHLER,
Samuel
Duran.
Derechos
humanos
y
apartheid.
Disponvel
<http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2649825>. Acesso em: 04 jul. 2011, p. 823.
578
Ibidem, p. 823.
em:
152
Uma lei de 1936 tornou mais graves estas restries. Estas leis sobre a terra passaram
a reservar 87% do territrio populao branca, ao passo que aos negros foram concedidos os
13% restantes, divididos em redues tnicas, denominados territrios ptrios. Com estas
medidas, estima-se que durante o primeiro meio sculo, trs milhes de negros foram desarraigados e deportados a solo estranho para deixar lugar aos brancos579.
Em 1916 se ditaram as leis sobre passes, que abateram a populao negra e foram sendo cada vez mais estritas sob o regime do apartheid. As leis sobre passes constituram uma
fonte constante de sofrimentos para a populao negra. Esta medida se configurou como um
elemento corrosivo que destruiu a estrutura da sociedade e mostrou desprezo populao negra. Se estima que dezessete milhes de negros foram presos por violaes a estas leis, desde
sua edio em 1916, at que foram abolidas em 1981580.
Ao chegar idade de 16 anos, toda pessoa negra era fotografada, se tomavam as digitais e se obrigava a solicitar um documento de identidade e uma livreta conhecida como livreta de passe. O nmero era parte de uma srie de dados que indicavam o sexo, data de nascimento e a classificao racial. O documento de passe tambm continha dados sobre o distrito
de residncia habitual do solicitante, seu grupo tnico, a tribo a qual era vinculado, etc. As leis
sobre passes exigiam que os mesmos fossem levados a todo momento581.
Ainda, em 1923 se proibiu aos negros de viver nas cidades, exceto quando os brancos
requeressem seus servios. No entanto, afora estas medidas, a partir de 1948 a prtica do apartheid levou discriminao racial a extremos nunca antes vistos.
No perodo de 1948 at 1980, as medidas de segregao se intensificaram. Nas eleies gerais de 1948, o Partido Nacionalista venceu o Partido nico, e Daniel Malam se converteu em Primeiro Ministro. A plataforma poltica do Partido Nacionalista nestas eleies foi
o apartheid, palavra que em afrikans (dialeto holands falado na frica do Sul) significa
separado ou separao. Do seu ponto de vista poltico, seu significado era o desenvolvimento
separado de duas distintas raas. Hendrick Verwoerd, conhecido como o arquiteto do apartheid, passou a integrar o gabinete do Primeiro Ministro582.
Em 1949 ditou-se uma lei que proibiu os matrimnios inter-raciais e as relaes entre
pessoas de distintas raas. Em 1959 se ditou uma lei de reas de grupo, que atribuiu aos sul-
579
Ibidem, p. 824.
Ibidem, p. 824.
581
Ibidem, p. 824.
582
Ibidem, p. 824.
580
153
africanos um lugar de residncia em funo de sua raa. As cidades propriamente ditas ficaram reservadas para os brancos. De acordo com esta legislao, at 1984, se havia expulsado
de seus lugares 126.000 famlias que residiam em bairros reservados para outro grupo racial.
Esta lei estabelecia que, dentro do territrio das reservas brancas (87% do territrio do pas),
as pessoas que pertenciam a diferentes grupos raciais deveriam viver em reas designadas
para seu grupo em particular. As reas urbanas, como assinalado, foram quase totalmente designadas como brancas, e os no-brancos foram relegados aos povoados fora da rea principal. Isto implicou na remoo de milhares de famlias583.
Ainda quando a legislao sobre reas de grupo estava em vigor desde 1950, foi somente a partir da dcada de 1960 quando se comeou a aplicar de forma massiva. Durante
1970, o governo transferiu 33.851 africanos desde as cinco reas urbanas principais aos territrios ptrios bants. Em 1970, se estimava que quatro milhes de africanos estavam destinados a ser finalmente transferidos. Para a convenincia de sua poltica, o governo sul-africano
dividiu a populao africana em oito unidades nacionais, a cada uma das quais se distribuiu
uma parte dos 13% da superfcie do pas reservada para os no-brancos584.
A tarefa de manter esta forma opressiva de governo requeria uma classificao racial e
uma regulamentao repressiva da populao. O principal ato deste sistema foi o Ato de Registro da Populao, de 1950. O resultado da aplicao desta legislao foi a destruio das
liberdades civis, tanto para a maioria negra como para a minoria branca. Este ato ainda estabeleceu uma classificao racial sistemtica das pessoas em brancos, mestios, ndios e negros.
Esta classificao inseria uma etiqueta nos indivduos desde seu nascimento, e que condicionava o resto de sua existncia. A classificao racial penetrava em todos os aspectos da sociedade sul-africana e seu sistema jurdico: determinava a escola que uma pessoa poderia freqentar, o bairro em que deveria residir e o cemitrio onde seria enterrado585 586.
Ainda quando no existia uma disposio que obrigasse ao registro do nascimento dos
negros, a lei estabelecia que cada nascimento registrado deveria identificar a classificao por
583
Ibidem, p. 824.
Ibidem, p. 824.
585
Ibidem, p. 825.
586
Isso demonstra como o apartheid buscava fazer com que o indivduo interiorizasse desde cedo sua inferioridade. O apartheid supe que desde criana, antes de haver desenvolvido por completo sua personalidade, o negro
no deveria internalizar sua inferioridade seno com base na cor de sua pele. Assim, o homem negro se v impedido desde pequeno a aceder a certos espaos da sociedade, a jogar com crianas de raa branca e a receber uma
educao igualitria, subordinando-se a um destino predeterminado no qual no seria considerado por boa parte
da sociedade como totalmente humano. Este estigma, que aparece como algo objetivo, faz com que o grupo
estigmatizador resulte absolvido de toda culpa. Vide PERRIG, Sara. El poder se tie de blanco. Una relacin de
establecidos
y
marginados
en
el
caso
del
Apartheid.
Disponvel
em:
<http://www.ides.org.ar/shared/practicasdeoficio/2009_nro4/artic12.pdf>. Acesso em: 04 jul. 2011, p. 4.
584
154
raa dos pais e da criana. Com o tempo, o governo sul-africano foi capaz de desenvolver um
registro da populao sobre uma base modernizada para uma discriminao racial rgida. Cada pessoa, viva ou morta, estava classificada de acordo com a raa. Esta classificao era fundamentalmente importante para toda pessoa em toda a etapa de sua vida, j que de sua classificao emanavam todos os direitos e privilgios, ou a falta deles587.
Em 1960, o governo declara ilegais todos os partidos negros do Congresso Nacional
Africano e Congresso Panafricano, declarando estado de emergncia, em que se deteve milhares de africanos e outros oponentes ao regime do apartheid. Entre 1960 e 1989 seis mil negros
foram mortos pelas foras de segurana enquanto realizavam manifestaes em favor de seus
direitos588.
Durante a dcada de 1960 se levou a cabo um programa de leis de segurana nacional
que restringiu extraordinariamente as liberdades da populao. A base desta lei foi a lei de
supresso ao comunismo de 1950, que havia concentrado amplos poderes repressivos nas
mos do Ministro da Justia. Esta lei permitia ao Ministro proibir, sem julgamento, a qualquer
pessoa que executasse qualquer ato que ele especificava. A chamada lei dos 90 dias foi agregada quela, em 1963, para permitir polcia de segurana deter suspeitos sem submet-los a
processo, e mant-los incomunicveis por perodos sucessivos de 90 dias. Uma ampla srie de
disposies legislativas foi instaurada pela lei contra o terrorismo em 1967, que foi a legislao usada para autorizar drsticos mtodos de investigao. Em 1964, Nelson Mandela e outros lderes do Congresso Nacional Africano foram condenados priso perptua por opor-se
ao apartheid589.
No perodo de 1980 a 1989, algumas prticas concernentes ao apartheid comeam a
ser extintas, principalmente no incio da dcada de 1980. Em 1981, se derrogam as leis sobre
passes; em 1984, a Repblica da frica do Sul adota uma nova constituio que outorga direitos polticos limitados aos cidados mestios e ndios.
J no perodo de 1989 at hoje, os acontecimentos polticos na frica do Sul na dcada de 1980, somados crescente oposio internacional, haviam demonstrado que o monoplio de poder que detinha a minoria branca j se mostrava insustentvel. Em 16 de maio de
1990, o governo anuncia a abolio imediata da segregao racial em 80% dos hospitais pblicos. Em 5 de junho do mesmo ano foram abolidas as leis de posse da terra, vigentes desde
587
BACHLER, Samuel Duran, op. cit., p. 825.
Ibidem, p. 825.
589
Ibidem, p. 826.
588
155
1913 e 1936, que atribuam aos brancos 87% das terras do pas. Em 17 de junho do mesmo
ano foi derrogado o Ato de Registro da Populao, vigente desde 1950. Em 11 de fevereiro de
1990 Nelson Mandela posto em liberdade, aos 71 anos, aps permanecer preso durante vinte
e sete anos590.
Em suma, elaborando um breve histrico do apartheid na frica do Sul, podemos inserir todos estes fatos como os de mais destaque na histria do regime.
No tocante prtica efetiva do apartheid, deste regime de separao total, pode-se dizer que ele foi inserido, em maior ou menor grau, em todos os aspectos da vida domstica,
familiar, social, poltica e econmica da populao no-branca, que era constituda de 83% da
populao da frica do Sul. Disposies legais, administrativas e policiais foram conjugadas
para atentar contra o direito vida e permitir tratamentos inumanos e detenes arbitrrias;
interferir arbitrariamente na vida privada; discriminar por motivos de raa, cor ou ideologia
poltica; estabelecer a ausncia de julgamentos imparciais; interferir na liberdade de movimento e residncia; proibies a respeito do direito ao trabalho; a contrair matrimnio; a adquirir propriedades; a reunir-se e associar-se livremente; a participar de eleies e a aceder a
cargos pblicos591.
A vida diria era o que caracterizava o apartheid. A grande maioria da populao bant deveria viver em redues tnicas; os no-brancos no podiam contrair matrimnio com
membros do grupo tnico branco; uma pessoa no podia cruzar a fronteira de sua rea para
transferir-se a outra sem obter previamente autorizao por escrito; nenhum bant poderia ir a
um restaurante ou passar a noite em um hotel que no fosse um dos poucos reservados para
no brancos; nenhum bant podia andar livremente durante a noite nas zonas urbanas brancas;
nenhum bant que vivesse em uma reduo poderia abandon-la para buscar trabalho em uma
cidade, sem antes obter autorizao; nenhum no branco poderia matricular-se na universidade, etc592.
Estas condies se repetiam por toda frica do Sul como resultado direto da poltica
de governo, em um pas em que os brancos disfrutavam de um dos mais altos nveis de vida
do mundo. Nos territrios ptrios havia pobreza, desemprego, enfermidade e sofrimentos. Os
ancios, os enfermos, as mulheres e as crianas eram enviados para perecer, fora da vista da
frica do Sul branca, ao passo que os jovens eram recrutados para trabalhar nas fbricas
590
Ibidem, p. 827.
Ibidem, p. 830.
592
Ibidem, p. 830.
591
156
brancas, nas minas brancas, nas reas brancas. Era a realidade do desenvolvimento separado593.
Durante os anos do apartheid, houve significativas mudanas no mbito das Naes
Unidas para buscar solucionar o problema no territrio sul-africano. Assim, a Assemblia
Geral, em 21 de dezembro de 1965, aprova mediante a resoluo n. 2.106 A (XX), a Conveno Internacional sobre a Eliminao de Todas as Formas de Discriminao Racial, que entrou em vigor em 4 de janeiro de 1969594 595.
Ainda, em 1973 a Assemblia Geral aprovou a Conveno Internacional sobre a Supresso e Punio do Crime de Apartheid. Esta Conveno dispe em seu artigo III que a responsabilidade internacional por crime de apartheid recair sobre os indivduos, membros de
organizaes e instituies, bem como representantes de Estado. Um detalhe importante da
Conveno que esta constitui o primeiro documento vinculante que qualifica diretamente o
apartheid como crime internacional596 597.
Correlacionando o apartheid com o fenmeno do etnocdio, cabe mencionar que o
crime de apartheid se aproxima com o que constitui as prticas etnocidas, pois ambos se baseiam na crena da superioridade racial ou tnica, bem como na excluso do outro. Tanto os
crimes de apartheid como o etnocdio buscam a eliminao do outro, seja pela segregao,
caracterstica bsica do apartheid, ou pela integrao forada e violenta, prtica constante no
etnocdio598.
Os meios empregados pelo apartheid e pelo etnocdio podem ser diferentes, mas a finalidade permanece a mesma: a degradao e a eliminao do outro, quer por meio de regimes institucionais de isolamento e segregao, quer pela incluso forada do outro sem sua
593
Ibidem, p. 831.
Ibidem, p. 843.
595
Para fins da Conveno, no seu artigo I, entende-se por discriminao toda distino, excluso, limitao ou
preferncia fundada em raa, cor, classe ou origem nacional ou tnica que tenha por objeto ou como resultado
anular ou cercear o reconhecimento, gozo ou exerccio, em condies de igualdade, dos direitos humanos e das
liberdades fundamentais na esfera poltica, econmica, social, cultural ou em qualquer outra esfera da vida pblica. Vide RODRGUEZ, Victor. Instrumentos internacionais sobre racismo no sistema das naes unidas e no
sistema interamericano de proteo dos direitos humanos. Sistematizao, anlise e aplicao. Disponvel em:
<http://www.iidh.ed.cr>. Acesso em: 04 jul. 2011, p. 8.
596
BACHLER, Samuel Duran, op. cit., p. 846.
597
Nesse sentido, a Conveno, em seu artigo I, estabelece que o apartheid um crime contra a humanidade e
que os atos desumanos resultantes destas polticas e prticas, dentre outras polticas e prticas de segregao e
discriminao racial, conforme definido no artigo II da Conveno, so crimes de violao aos princpios do
direito internacional. Vide Conveno Internacional sobre a Supresso e Punio do Crime de Apartheid. Disponvel em: <http://www.oas.org>. Acesso em: 04 jul. 2011.
598
BRITO, Antnio Jos Guimares. Etnicidade, alteridade e tolerncia. In COLAO, Thais Luzia (Org.). Elementos de antropologia jurdica. Florianpolis: Conceito, 2008, p. 47.
594
157
cultura, tradio e lngua599. Se no apartheid prevalece um sistema de separao total, no etnocdio prevalece um regime de integrao total; contudo ambos compartilham a violncia
como elemento basilar de sua sustentao, seja para separao, seja para a integrao.
3.3 CARACTERSTICAS PRINCIPAIS DO ETNOCDIO NO MBITO JURDICOPENAL
Neste ponto, buscar-se- elaborar um esboo ainda que seja muito preliminar com
o objetivo de se apresentar uma construo do conceito jurdico de etnocdio. No obstante
seja conhecido no mbito da etnologia, principalmente com os estudos de Robert Jaulin e Pierre Clastres (cujos autores j mencionamos), a concepo de etnocdio ainda no possui contornos especficos no mbito jurdico, principalmente penal.
Para tanto, para se iniciar uma exposio acerca de um conceito jurdico, deve-se partir
de alguns conceitos etnolgicos que podero auxiliar na compreenso do etnocdio enquanto
fenmeno jurdico. Dentre eles esto a noo de identidade tnica, etnia e grupo tnico.
Seguindo a exposio de Jos Maria Alencar e Jos Heder Benatti600, pode-se denominar grupo tnico como sendo uma populao em que: a) se perpetua principalmente por meios
biolgicos; b) compartilha de valores culturais fundamentais, postos em prtica em formas
culturais num todo explcito; c) compe um campo de comunicao e interao; d) tem um
grupo de membros que se identifica e identificado por outros como constituinte de uma categoria distinguvel de outras categorias da mesma ordem.
Grupo tnico um tipo organizacional, cujos limites so demarcados pela autoidentificao e oposio. Os membros da populao se auto-identificam como tais e essa identificao/identidade oposta e reconhecida por outros. Trata-se de uma identidade contrastiva, em que subsiste a caracterstica de auto-atribuio e atribuio por outros601. Trata-se,
portanto, de um tipo de organizao, cujos atributos caracterizadores so: a) conglomerado
social capaz de reproduzir-se biologicamente; b) que reconhece uma origem comum; c) cujos
599
Ibidem, p. 47.
ALENCAR, Jos Maria; BENATTI, Jos Heder. Os crimes contra etnias e grupos tnicos: questes sobre o
conceito de etnocdio. In Os Direitos Indgenas e a Constituio. Porto Alegre: Fabris, 1993, p. 209.
601
Ibidem, p. 210.
600
158
membros se identificam entre si como parte de um ns distinto dos outros e d) que compartilham certos elementos e aes culturais, entre os quais tem especial relevncia a lngua602.
Grupo tnico , portanto, um conjunto relativamente estvel de indivduos que mantm uma continuidade histrica porque se reproduz biologicamente e seus membros estabelecem entre si vnculos de identidade social distinta, a partir do que assumem como unidade
poltica, que tm direito exclusivo e controle de um universo de elementos culturais que consideram prprios. A existncia de um grupo tnico pressupe um momento prvio em seu
processo histrico, no qual o grupo dispe de autonomia cultural necessria para delimitar e
estruturar o universo inicial de seus elementos culturais prprios, capazes de garantir para si
mesmo a existncia e a reproduo do grupo603.
Porm, isto no quer dizer que o grupo tnico no se relacione com outros grupos ou
com uma sociedade mais complexa, constituindo uma ilha isolada. O que o caracteriza que
mesmo tendo relaes com outros grupos, ele possui uma origem comum, identidade coletiva,
territrio, unidade e organizao poltica, lngua e outros elementos comuns604.
J no que concerne ao conceito de etnia, os autores esclarecem que esta seria o resultado de uma expanso do conceito de grupo tnico; etnia se constitui como uma ampliao,
uma expanso do conceito de grupo tnico, para abarcar uma totalidade onde esto presentes a
auto-atribuio e a oposio, larga o bastante para abrigar no seu interior inclusive o prprio
conceito de grupo tnico. A diferena entre um e outro estaria em uma relao de continncia
e contedo. Etnia seria larga o bastante para abarcar um grupo tnico; este seria uma das unidades tnicas constitutivas da etnia605.
Segundo os autores, etnia seria uma entidade caracterizada por uma lngua, uma mesma tradio cultural e histrica, ocupando um dado territrio, tendo uma mesma religio e,
sobretudo, a conscincia de pertencer a essa comunidade. Os indivduos pertencem mesma
cultura e se reconhecem como tal. Isso ocorre a partir da idia de identidade tnica, que se
fundamenta na cooparticipao de uma cultura prpria comum, que por sua vez define os limites do sistema social que constitui um grupo tnico606.
602
Ibidem, p. 210.
Ibidem, p. 211.
604
Ibidem, p. 211.
605
Nesse aspecto, podemos identificar a diferena entre etnia e grupo tnico com base na organizao os indgenas Yanomami. Dentro da etnia Yanomami subsistem outros grupos que possuem diferentes denominaes, se
constituindo como grupos dentro de uma etnia.
606
ALENCAR, Jos Maria; BENATTI, Jos Heder, op. cit., p. 212.
603
159
Quanto a uma possvel concepo de etnocdio, este se constitui como a imposio
forada de um processo de aculturao a uma cultura por outra mais poderosa, quando esta
conduz destruio dos valores sociais e morais tradicionais da sociedade dominada, levando
sua desintegrao e depois ao seu desaparecimento. O etnocdio a ao que promove ou
tende a promover a destruio ou o desaparecimento da identidade cultural de uma etnia ou de
um grupo tnico607.
Benjamim Whitaker, que foi Relator Especial designado pela Subcomisso de Preveno de Discriminaes e Proteo s Minorias, redigiu em 1985 um informe sobre a questo
da preveno e sano ao crime de genocdio. Ainda que nesta ocasio no foi includo na
Conveno sobre o Genocdio o conceito de genocdio cultural (ou etnocdio), este conceito
foi expressado no informe conhecido como Relatrio Whitaker que define o genocdio
cultural como todo ato premeditado, cometido com a inteno de destruir o idioma, a religio
ou a cultura de um grupo nacional, racial ou religioso por razo de origem nacional ou racial
ou das crenas religiosas de seus membros608.
Ainda no relatrio, buscou-se incluir dentro do conceito de genocdio cultural os atos
de: a) proibio de empregar o idioma do grupo nas relaes cotidianas ou nas escolas ou a
proibio de imprimir ou de difundir publicaes redigidas no idioma do grupo e b) a destruio das bibliotecas, dos museus, das escolas, dos monumentos histricos, dos lugares de culto
ou outras instituies e de objetos culturais do grupo ou a proibio de us-los609. Contudo,
ainda que tenha sido proposta uma definio sobre o genocdio cultural, esta ainda no foi
reconhecida no mbito das Naes Unidas.
Quanto a um possvel conceito jurdico-penal de etnocdio, de acordo com a orientao de Jos Maria Alencar e Jos Heder Benatti 610, este seria a conduta delituosa da qual resulta a vitimizao, a destruio de uma etnia ou grupo tnico. Caso reconhecido, poderia se
constituir como um crime que consiste na destruio parcial ou total da identidade tnica e
cultural que do a cada grupo tnico ou etnia o seu carter prprio.
No Direito Penal Internacional, o etnocdio ainda no possui contornos definidos, embora seja formalmente mencionado que ele se constitui como uma violao de direitos humanos igual ao genocdio. Mario Leonardo Rustrian Dieguez, em tese de doutorado defendida
607
Ibidem, p. 214.
ABADJIAN, Juan Augusto (Org.). Aproximacin informativa y estudios analticos sobre el genocdio armnio. Buenos Aires: Centro de estudios e investigaciones Urartu, 2004, p. 186.
609
Ibidem, p. 186.
610
ALENCAR, Jos Maria; BENATTI, Jos Heder, op. cit., p. 219.
608
160
em 1998 na Universidade San Carlos da Guatemala611, expe que as primeiras manifestaes
de carter internacional que tratam do etnocdio advm de 1981, onde a UNESCO convocou
diversos setores dos pases da Amrica Latina, ocasio na qual se firmou a Declarao de San
Jos, anunciando a necessidade de medidas contra o etnocdio612.
Na ocasio, os participantes da reunio que gerou a Declarao ressaltaram que o etnocdio (ou genocdio cultural) seria um delito de Direito Internacional igual ao genocdio,
condenado pela Conveno das Naes Unidas, de 1948. Afora esta questo, a Declarao
teve por base de abordagem a problemtica indgena na Amrica Latina, fazendo muitas referncias a isso. Dentre estas questes que podem ser aqui explicitadas para ilustrar um possvel tratamento jurdico do etnocdio destaca-se a meno feita pela Declarao de que constituem parte essencial do patrimnio cultural dos povos indgenas sua filosofia de vida e suas
experincias, conhecimentos e conquistas acumuladas historicamente nas esferas culturais,
sociais, polticas, jurdicas, cientficas e tecnolgicas e, por isso, tem direito ao acesso, utilizao, difuso e transmisso de todo este patrimnio.
No mbito legislativo, existem ainda algumas tentativas de implementao de um possvel crime de etnocdio, embora subsistam controvrsias sobre a definio dada aos projetos
legislativos613. A Assemblia Nacional do Equador, por exemplo, buscou tipificar como crime
a prtica do etnocdio, mediante alterao no seu Cdigo Penal 614. Por sua vez, no Mxico615,
no Estado-Provncia de Quertaro616, apresentou-se um projeto de lei de tipificao do etnocdio, mediante a adio de tal previso ao Cdigo Penal deste Estado em matria de direitos e
cultura indgena.
No entanto, como se pde apresentar no decorrer do trabalho, o etnocdio no est
adstrito questo indgena, mas envolve outros grupos que sofrem esta forma de violncia
611
RUSTRIAN DIGUEZ, Mario Leonardo. Regulacin legal del delito de etnocidio en la legislacin penal
guatemalteca y sus consecuencias jurdico-sociales en los ltimos 30 aos. 1998. 69f. Tesis (Doctorado en Derecho) Facultad de Ciencias Juridicas e Sociales Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala, 1998.
612
Nesse sentido, vide o item 3.1 deste trabalho, o qual igualmente aborda sobre a Declarao de San Jos e sua
definio de etnoccio.
613
Nesse sentido, vide os artigos dos autores Bartolom Clavero e Pablo Dvalos, que expem algumas questes
crticas a respeito da tipificao do etnocdio. Vide DVALOS, Pablo. Ecuador: Ley de etnocidio y genocidio:
una batalla perdida? Disponvel em: <http://www.vidadelacer.org>. Acesso em: 04 mai. 2011; CLAVERO,
Bartolom. Delito de Genocidio y Pueblos Indgenas en el Derecho Internacional. Disponvel em:
<http://clavero.derechosindigenas.org/?p=109>. Acesso em: 28 abr. 2011.
614
As referncias sobre o assunto constam no site da Assemblia Nacional do Equador, na pgina:
<http://www.asambleanacional.gov.ec>. Acesso em: 25 mar. 2011.
615
Projeto de lei de tipificao do delito de etnocdio. Disponvel em: <http://www.legislaturaqro.gob.mx>.
Acesso em: 25 mar. 2011.
616
Quertaro um dos 31 Estados que junto ao Distrito Federal constituem as 32 entidades federativas de Mxico.
161
como os monges tibetanos na China, por exemplo, principalmente durante a Revoluo Cultural comunista. Assim, o etnocdio, embora seja mais conhecido dentro da questo indgena,
estendido a outros grupos humanos que passaram pela mesma experincia.
No caso do Brasil, h slida base constitucional para uma possvel tutela (penal e extrapenal) da identidade cultural, supervalorizando a cultura como elemento essencial da etnia.
A Constituio de 1988 atribuiu significativa importncia cultura, abarcando a noo de
identidade e memria dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Tal noo
referida nos seus artigos 23, III; 24, VII; 30, IX; 215 (garantia, pelo Estado, do pleno exerccio dos direitos culturais e acesso s fontes da cultura nacional, com a valorizao e difuso
das manifestaes culturais), e especificamente quanto etnia, o artigo 231. A preocupao
com a questo cultural to significativa que poderia se cogitar da existncia de uma constituio cultural, ao lado de uma constituio poltica, de uma constituio econmica e de uma
constituio social617.
Ainda, o patrimnio cultural brasileiro constitudo dos bens de natureza material e
imaterial618, desde que portadores de referncia identidade e memria dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem as formas de expresso, os modos de criar, fazer e viver, dentre outros (arts. 215 e 216 da Constituio Federal)619.
Por sua vez, h o reconhecimento explcito da organizao social, costumes, lnguas e
crenas como componentes da existncia de minorias nacionais, particularmente indgenas, e
a instituio de normas para garantir a proteo dessas etnias (art. 231 da Constituio). Outro
mandamento constitucional que reconhece e se preocupa em dar proteo singularidade dos
617
ALENCAR, Jos Maria; BENATTI, Jos Heder, op. cit., p. 220.
No que tange ao patrimnio imaterial, esta se caracteriza pela impossibilidade de ser tocada (mas no de ser
percebida). Assim, podemos tocar nos instrumentos musicais, nas pessoas e nas roupas, mas uma dana popular
no pode, enquanto conjunto de representao, ser tocada. Aqui se configura a imaterialidade. Assim, a evoluo que se produziu, desde a Conveno de Haia para a Proteo dos Bens Culturais (1954), at a Conveno
para a Salvaguarda do Patrimnio Cultural Imaterial (2003), passando pela Conveno das Medidas a Adotar
para Proibir e Impedir a Importao, Exportao e Transferncia da Propriedade Ilcita de Bens Culturais (1970),
a Conveno para a Proteo do Patrimnio Mundial Cultural e Natural (1972) e a Conveno sobre a Proteo
do Patrimnio Cultural Subaqutico (2001), reflete uma paulatina ampliao do conceito de patrimnio cultural
que, cada vez mais frequentemente, se entende como incluindo no somente as expresses materiais das diferentes culturas do mundo, mas tambm as manifestaes intangveis, a compreendidas as tradies orais, as artes e
o saber tradicional. Pode-se tambm destacar que a proteo do patrimnio imaterial passou a se consolidar com
a Conveno para a Salvaguarda do Patrimnio Imaterial, formulada em 2003, que passou a definir o patrimnio
imaterial como as prticas, representaes, expresses, conhecimentos e tcnicas junto com os instrumentos,
objetos, artefatos e lugares culturais que lhes so associados que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivduos reconhecem como parte integrante de seu patrimnio cultural. O patrimnio cultural imaterial
transmitido de gerao em gerao conceituado a partir de uma perspectiva da alteridade. Vide PELEGRINI,
Sandra C. A; FUNARI, Pedro Paulo. O que patrimnio cultural imaterial. So Paulo: Brasiliense, 2008, p. 2746; Relatrio mundial da UNESCO sobre diversidade cultural. Disponvel em: <http://www.unesco.org>. Acesso em: 04 mai. 2011, p. 8.
619
ALENCAR, Jos Maria; BENATTI, Jos Heder, op. cit., p. 220.
618
162
grupos tnicos brasileiros est contido nos artigos 231, 1, da Constituio, e art. 68, do Ato
das Disposies Constitucionais Transitrias620.
Por fim, cumpre ressaltar que a Constituio tambm visa a garantia e proteo do
patrimnio cultural brasileiro, afirmando no seu art. 216, 4, que os danos e ameaas ao patrimnio cultural sero punidos, na forma da lei. Dentre esses danos pode-se incluir o etnocdio621.
Nesse sentido, pode-se afirmar que diante da relevncia da matria em questo, bem
como do bem objeto de estudo (a identidade cultural de comunidades humanas) subsistem
fundamentos importantes para se buscar uma recepo do etnocdio como crime internacional,
equiparando-o ao genocdio. As prticas etnocidas apontam que a violncia que cometida
nesta prtica segue o mesmo patamar do genocdio enquanto grau de brutalidade. Com efeito,
seria adequado que a comunidade jurdica buscasse alternativas para se dar maior relevncia a
este tema, buscando recepcionar, talvez, o etnocdio enquanto crime internacional equiparado
ao genocdio, como j descreveu a Declarao de San Jos, na dcada de oitenta.
Contudo, necessrio salientar que medidas de ndole criminal no so suficientes para
a soluo deste problema. Tambm so necessrias medidas governamentais e internacionais
de proteo ao patrimnio cultural, bem como polticas pblicas de proteo de idiomas em
extino, polticas de reconhecimento de comunidades tnicas pela preservao da memria
coletiva, dentre outras alternativas. So medidas de carter extrapenal, que podem auxiliar na
preveno ao etnocdio.
Finalizado este ponto, seguir-se- a abordagem final, que trata acerca da tica, memria e reconhecimento s vtimas como medida de observncia aos direitos dos povos. Trata-se
de elementos que, vinculados ao tema dos direitos dos povos (de terceira dimenso), podem
se constituir como base terica para a busca de proteo de coletividades humanas, bem como
orientao para se formar diretrizes de preveno e represso ao etnocdio (tanto medidas de
carter penal como extrapenal).
620
621
Ibidem, p. 220.
Ibidem, p. 221.
163
3.4 TICA, MEMRIA E RECONHECIMENTO S VTIMAS COMO IMPERATIVO DE OBSERVNCIA AOS DIREITOS HUMANOS DOS POVOS
Nesta etapa do presente estudo, finalizando a exposio concernente ao etnocdio, impe-se destacar alguns elementos que podem contribuir para nortear medidas que sejam capazes de prevenir esta espcie de violao de direitos humanos. Nesse sentido, destaca-se a temtica dos direitos dos povos, vertente terica dos direitos humanos que se qualifica como
direito de terceira dimenso622.
Dentro do tema relativo aos direitos humanos dos povos, buscamos inserir o que consideramos trs pilares para a sua observncia: a) uma tica libertadora como princpio, apoiando-se nos estudos do filsofo Enrique Dussel; b) uma valorizao da memria uma justia
anamntica, na viso de Reyes Mate como aspecto importante na preveno da repetio da
barbrie e c) o processo de reconhecimento das vtimas como prtica tico-jurdica, com base
na teoria do reconhecimento de Axel Honneth. Todos estes trs elementos compem a estrutura que pode dar sustentao a uma maior observncia dos direitos dos povos, a fim de se
buscar prevenir o etnocdio. Esta proposta no visa solucionar completamente a problemtica
do etnocdio o que seria uma demasiada pretenso mas se prope apenas apontar determinados caminhos tericos que podem servir como parmetro para uma melhor garantia de sobrevivncia de muitos grupos humanos sob ameaa de extino fsica e cultural.
Inicialmente, antes de se tratar pontualmente sobre cada um dos pilares para uma observncia dos direitos dos povos (e, consequentemente, para a preveno e represso ao etnocdio), cabe expor primeiramente algumas consideraes sobre os direitos humanos em si,
para posteriormente tecer breves consideraes especficas sobre os direitos humanos dos
povos.
No que tange aos direitos humanos, para alguns estes seriam aqueles inerentes vida,
segurana individual, aos bens, etc; para outros, direitos humanos significa valores superiores que regem os homens; uns entendem que so direitos inerentes natureza humana; outros
sustentam que uma conquista social atravs da luta poltica623. E nesse sentido, pertinente
esclarecer que os direitos humanos, antes de qualquer coisa, provm historicamente de um
contedo poltico624. Ou seja, se os direitos humanos no plano histrico j foram entendidos
622
A seguir, ser feita uma melhor explanao da concepo dos direitos humanos, especialmente sobre os de
terceira dimenso, bem como sobre este termo que empregado.
623
DORNELLES, Joo Ricardo W. O que so direitos humanos. So Paulo: Brasiliense, 2007, p. 09.
624
Ibidem, p. 10.
164
de diferentes maneiras (provenientes da vontade divina; direitos que j nascem com o indivduo; emanados do poder do Estado; ou um produto da luta de classes), isso significa que cada
uma dessas concepes representou distintos momentos na histria do pensamento e das sociedades humanas625. So noes de direitos ou valores fundamentais que se transformaram de
acordo com o modo de organizao social. Com efeito, impossvel concluir que exista apenas uma nica fundamentao e concepo para os direitos humanos626. Mas de certa forma, o
que fundamenta a doutrina jurdica dos direitos humanos a dignidade da pessoa humana627.
As origens mais antigas da fundamentao filosfica dos direitos fundamentais da pessoa humana advm dos primrdios da civilizao. No mundo antigo, diversos princpios serviam como base dos sistemas de proteo marcados pelo humanismo ocidental judaico-cristo
e greco-romano, ou pelo humanismo oriental, atravs das tradies hindu, chinesa e islmica.
Assim, diferentes ordenamentos jurdicos da Antigidade, como as leis hebraicas, estabeleciam princpios de proteo de valores humanos mediante uma hermenutica religiosa628.
Com o passar dos tempos, surgiram trs principais concepes, com seus respectivos
fundamentos: A primeira concepo idealista fundamentava os direitos do homem atravs
de uma viso metafsica, pela qual se identificava direitos e valores supremos a partir de uma
ordem transcendental, manifestada na vontade divina (como no feudalismo), ou na razo natural humana (como ocorreu a partir do sculo XVII, com o advento da Escola do Direito Natural). Desta concepo vinha a idia de que os direitos so inerentes ao homem, ou nascem
pela fora da sua natureza (os homens j nascem livres, dignos, iguais). Direitos segurana e
liberdade existiriam independentemente da existncia do Estado629.
A segunda concepo a positivista fundamentava os direitos essenciais ao homem
desde que reconhecidos pelo Estado por uma ordem jurdica positiva. Com efeito, os direitos
humanos seriam resultantes da fora do Estado, mediante o processo de legitimao e reconhecimento legislativo (reconhecimento pelo Poder Pblico), e no produto de uma fora superior estatal, como Deus ou a razo humana. Cada direito humano existe quando est previsto na lei630.
A terceira concepo crtico-materialista desenvolveu-se no sculo XIX, por uma
fundamentao histrico-estrutural. Ela surge como uma crtica ao pensamento liberal, e en625
Ibidem, p. 12.
Ibidem, p. 16.
627
PERELMAN, Cham. tica e Direito. So Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 401.
628
DORNELLES, Joo Ricardo W, op. cit., p. 14.
629
Ibidem, p. 16.
630
Ibidem, p. 16.
626
165
tende que os direitos do homem, previstos nas declaraes de direitos e nas Constituies dos
sculos XVIII e XIX seriam uma expresso formal de um processo poltico-social e ideolgico, realizado pelas lutas sociais quando a burguesia ascendeu ao poder poltico. Esta concepo surge principalmente a partir das obras filosficas de Karl Marx631.
Assim, com base nestas diferentes concepes e fundamentaes acerca dos direitos
humanos que se desenvolveram as chamadas geraes de direitos humanos. Contudo, ao
nosso entender e seguindo a doutrina de Ingo Sarlet632 o termo geraes porventura pode causar a impresso de que haveria uma substituio gradativa de uma gerao por outra, o
que no seria conveniente em termos de direitos humanos e fundamentais. Ou seja, h em
verdade uma complementaridade, que advm de um processo cumulativo de novas reivindicaes. Assim, seguindo a lio do autor, faz-se mais adequada a utilizao do termo dimenses. Esta estrutura vincula os direitos humanos, mas tambm os direitos fundamentais de
cunho constitucional633.
A primeira dimenso caracterizada pelos direitos individuais. Com as idias contratualistas do sculo XVII, especialmente de Hobbes com o Estado poltico e John Locke com a
teoria da liberdade natural do ser humano e o direito fundamental propriedade, se desenvolve a concepo dos direitos individuais634. J no sculo XVIII com Rousseau, numa poca em
que houve o confronto direto da burguesia revolucionria com o regime absolutista, este filsofo defendia que a propriedade era a fonte da desigualdade humana, e que o princpio da
igualdade era a condio essencial para o exerccio da liberdade635. Neste perodo revolucionrio sobrevieram a Declarao da Virgnia de 1776 e a Declarao Universal dos Direitos do
Homem e do Cidado, de 1789.
Essa primeira dimenso marcada eminentemente pelas reivindicaes da burguesia,
dentro do processo de constituio do mercado livre. Direitos como a liberdade, a livre iniciativa, livre manifestao da vontade, liberdade de ir e vir, liberdade de pensamento e expresso
e mo-de-obra livre criavam a consolidao do modo de produo capitalista e do Estado Liberal636. Trata-se de direitos de cunho negativo, exigindo-se uma resistncia, uma oposio
perante o Estado.
631
Ibidem, p. 17.
SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficcia dos Direitos Fundamentais. 8 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado,
2007, p. 54.
633
Ibidem, p. 55.
634
DORNELLES, Joo Ricardo W, op. cit., p. 19.
635
Ibidem, p. 20.
636
Ibidem, p. 21.
632
166
A segunda dimenso definida pelos direitos coletivos. Com a consolidao do Estado Liberal (e da burguesia, a qual deixa de ser revolucionria) e o modelo de desenvolvimento
da economia nos primeiros setenta anos do sculo XIX (concentrao de mo-de-obra, ampliao dos mercados, lucros e incorporao do maquinrio moderno ao processo produtivo),
passa a emergir uma massa de pessoas pobres, expropriadas e insatisfeitas por no usufruir
das conquistas alcanadas na luta pela liberdade, igualdade e fraternidade, bandeira da batalha contra o absolutismo monrquico. Assim, o desenvolvimento do modelo industrial e a
concentrao de trabalhadores em uma mesma unidade de produo, que eram submetidos a
uma nica disciplina imposta pela fbrica, fizeram com que surgisse uma nova classe social: o
proletariado (classe operria urbano-industrial)637.
O surgimento da classe operria no sculo XIX e incio do sculo XX, o domnio da
burguesia industrial e o Estado Liberal no-intervencionista propiciaram o desenvolvimento
de uma crtica social pelas idias socialistas dos setores mais populares, principalmente desenvolvido pelo pensamento de Karl Marx. Assim, houve uma reflexo crtica sobre os direitos fundamentais proclamados pelas declaraes anteriores, que seriam enunciados de carter
individualista a todos os povos. Para tanto, principalmente com o texto A questo judaica
de Marx (em 1844) questionava-se a existncia de uma grande contradio entre os princpios
consagrados nas declaraes e a realidade vivida pela maioria do povo (especialmente as condies degradantes impostas aos trabalhadores europeus)638.
Para tanto, as lutas operrias e populares marcaram a reivindicao por direitos sociais, econmicos e culturais, atravs de uma ao efetiva do Estado com a revoluo mexicana, a revoluo russa de 1917, a Constituio da Repblica de Weimar na Alemenha e a criao da OIT em 1919. So os direitos de ao positiva do ente estatal, direitos de dimenso
positiva. Dentre eles, sobrevieram o direito ao trabalho, direito organizao sindical, direito
previdncia social, direito greve, direito a servios pblicos, moradia, etc., frutos das crticas socialistas, com o Estado como agente interventor639.
A terceira dimenso dos direitos humanos tambm chamada de direitos de solidariedade ou direitos de fraternidade, ou direito dos povos. Com os regimes totalitrios da Unio
Sovitica e da Alemanha nazista, bem como com o trmino da Segunda Guerra Mundial, iniciaram-se novas demandas em termos de direitos humanos. Os direitos dos povos so ao
637
Ibidem, p. 23.
Ibidem, p. 25.
639
Ibidem, p. 30.
638
167
mesmo tempo direitos individuais e direitos coletivos640. Outro fator que tambm contribuiu
para o advento da terceira dimenso de direitos foi o constante estado de medo que o mundo
enfrentou com a Guerra Fria, mediante a constituio do bloco americano e de outro lado, o
sovitico. O mundo presenciava, aps os genocdios destruidores de classes, de grupos tnicos, raas ou grupos culturais, uma outra ameaa: a atmica, a partir da qual poderia haver
uma guerra em que no existiriam vencidos, mas uma catstrofe que atingiria toda a espcie
humana641.
Por fim, outra questo que marca o advento dos direitos de terceira dimenso foi a nova diviso do trabalho e a Era das multinacionais. Especialmente no perodo de 1945 at
1960, o grande impulso econmico com base no capital das multinacionais e o uso intensivo
das fontes de energia e recursos naturais de todas as regies do mundo levaram a um nvel de
desenvolvimento da produo que causou e ainda hoje se estende um grande quadro de
destruio ambiental642.
Para tanto, no sculo XX houve uma constante ameaa de extermnio de grupos humanos, dos recursos naturais, e at mesmo uma ameaa de destruio total da vida no planeta,
o que ensejou a emergncia de uma nova concepo acerca dos direitos humanos: Direito
paz, direito ao ambiente, direitos de proteo aos grupos humanos (represso ao genocdio,
discriminao, proteo s minorias, podendo ser inserida neste contexto o etnocdio). Estes
direitos, portanto, desprendem-se da figura do homem enquanto indivduo passando proteo de grupos humanos; direitos eminentemente de titularidade coletiva ou difusa 643. Visam
proteger, portanto, a famlia, o povo, a nao, coletividades regionais ou tnicas, e inclusive a
prpria humanidade644. No magistrio de Antnio Carlos Wolkmer645, trata-se de direitos em
que seu titular no seria o homem individual, mas diz respeito proteo de categorias ou
grupos de pessoas.
Com todos estes fatores, foi necessria a criao de mecanismos que estabelecessem
um limite atuao dos Estados pelas leis internacionais, embora a maioria no disponha de
poder coercitivo, mas apenas de contedo moral646.
640
Ibidem, p. 33.
Ibidem, p. 34.
642
Ibidem, p. 35.
643
SARLET, Ingo Wolfgang, op. cit., p. 58.
644
LAFER, Celso, op. cit., p. 131.
645
WOLKMER, Antnio Carlos; LEITE, Jos Rubens Morato. Os novos direitos no Brasil natureza e perspectivas. So Paulo: Saraiva, 2003, p. 9.
646
DORNELLES, Joo Ricardo W, op. cit., p. 39.
641
168
Hoje se desenvolve um processo de universalizao da temtica dos direitos humanos,
que acompanha a poltica e a economia internacional. O ser humano passa a ocupar destaque
na seara internacional, tendo direitos universalmente reconhecidos647 - ainda que formalmente. Leis internacionais de proteo ao meio ambiente, leis contra a discriminao racial e pela
proteo dos povos, lutas contra opresso, explorao econmica e contra a misria, so caractersticas do processo de universalizao dos direitos humanos, embora estas no tenham
carter cogente. Todavia, esta universalidade deve ser parcial, pois no existem direitos humanos universais, mas um direito universal de cada povo elaborar seus direitos humanos com
a condio de no violar os direitos dos outros povos648. No se trata, portanto, de uma absoro da concepo ocidental de direitos humanos, mas de se estabelecer uma convivncia, reconhecendo a pluralidade, a scio-diversidade e os problemas que so comuns aos povos,
estabelecendo uma reflexo intercultural649.
Especialmente no tocante aos direitos dos povos, como referido anteriormente, com os
novos problemas advindos do sculo XX (extermnio em massa de grupos humanos, degradao ambiental e o perigo de extino da vida no planeta), surge a emergncia de se criar mecanismos de proteo dos grupos humanos, da natureza e da humanidade. O Direito dos Povos direitos de terceira dimenso um elemento importante para situar nosso estudo, pois
esta dimenso de direitos (complementada com as demais dimenses) propicia a proteo de
grupos humanos, em especial etnias distintas que se situam dentro do Estado de Direito contemporneo. Este Direito restringe a soberania absoluta dos Estados de fazer o que quiser com
os povos dentro de suas fronteiras. A proteo dos povos, portanto, independe da condio de
se pertencer a um Estado-Nao650.
647
Ibidem, p. 40.
SOUZA FILHO, Carlos Frederico Mars de. A universalidade parcial dos direitos humanos. In GRUPIONI,
Lus Donisete Benzi; VIDAL, Lux; FISCHMANN, Roseli. Povos indgenas e tolerncia: construindo prticas
de respeito e solidariedade. So Paulo: Editora da Universidade de So Paulo, 2001, p. 258-261.
649
Nesse sentido, pertinente ainda a abordagem crtica que Boaventura de Souza Santos traa sobre os direitos
humanos. Na sua viso, no devem se constituir como uma poltica universal cultural hegemnica (do ocidente
industrial, por exemplo, ocasionando um imperialismo cultural). Ou seja, deve haver um dilogo intercultural no
que tange aos direitos humanos, a partir da igualdade e do reconhecimento da diferena. Na proposta de uma
poltica contra-hegemnica de direitos humanos, Boaventura parte das seguintes premissas, dentre outras: a)
superar o debate entre universalismo x relativismo, e estabelecer um dilogo intercultural sobre preocupaes
convergentes entre as diferentes sociedades; b) identificar as preocupaes entre as diferentes culturas, pois todas
possuem uma concepo de dignidade humana, mas nem todas tratam em termos de direitos humanos; c) propor
uma concepo multicultural de direitos humanos, atravs da conscincia da incompletude das culturas, do dilogo entre elas; d) buscar compreender a luta pela igualdade e a luta pela diferena a fim de promover uma poltica emancipatria de direitos humanos. Mais detalhes em SANTOS, Boaventura de Souza. A gramtica do
tempo para uma nova cultura poltica. 2 ed. So Paulo: Cortez, 2008, p. 445-447.
650
Ao nosso parecer, a condio de povo tem muito mais um valor antropolgico e sociolgico, o que permite
atribuir uma proteo a determinados povos que se situam no mago dos Estados Nacionais, possuindo cultura e
modo de vida distintos, embora estejam dentro deste mesmo Estado. So etnias que constituem uma identidade
648
169
Esta necessidade de proteo de povos que se encontram dentro do Estado advm das
conquistas histricas e da imigrao, o que causou a mistura e coexistncia de grupos humanos com culturas e memrias histricas diferentes651. Assim, com relao ao Direito dos Povos na proteo de grupos humanos especficos (por sua vulnerabilidade e condio de vtima
em potencial, por exemplo), ele surge visando coibir grandes males da histria humana, como
guerras, opresso, perseguio religiosa, negao da liberdade de expresso e de conscincia,
alm dos genocdios dos regimes totalitrios e do etnocdio e genocdio provenientes das conquistas histrico-coloniais e do expansionismo econmico e modernizador.
Dentro deste campo do Direito dos Povos, temos como um ramo deste a questo atinente proteo de etnias, portadoras de identidade cultural distinta da sociedade majoritria,
e que so detentoras de direitos coletivos especiais para a proteo de sua existncia enquanto
grupo humano.
No campo jurdico internacional, dentre os documentos que podem ser inseridos no
contexto do direito dos povos, tem-se a Declarao de San Jos (j referida), celebrada na
Costa Rica, sob os auspcios da UNESCO em dezembro de 1981, que prev expressamente
sobre a prtica do etnocdio e afirma ainda que se trataria de uma forma de violncia equivalente ao genocdio. Ademais, tem-se a Declarao sobre os Direitos das Pessoas pertencentes
a Minorias Nacionais ou tnicas, Religiosas e Lingusticas652, a qual visa proteger a identidade de um grupo humano dentro do territrio dos Estados; a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Direitos dos Povos, aprovada em 1981 em Nairbi, no Qunia, visando afirmar
que os povos tambm so titulares de direitos humanos no plano interno e internacional, bem
como assegurar o direito dos povos existncia (art. 20)653; a Declarao sobre Raa e Preconceito Racial, aprovada pela UNESCO em 1978, que objetiva reconhecer aos grupos hucultural distinta. Nesse sentido, necessrio no se vincular a noo de povo com a existncia de um Estado;
podem existir povos dentro deste Estado. Vide AGUIRRE, Francisco Balln. Manual del Derecho de los Pueblos Indgenas. Doctrina, principios y normas. 2 ed. Lima: Defensoria del Pueblo. Programa de comunidades
nativas, 2004.
651
RAWLS, John. O Direito dos Povos. So Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 32.
652
Aprovada pela Assemblia Geral da ONU de 18 de dezembro de 1992, atravs da Resoluo 47/135. Nesse
sentido, o art. 2, item 1, estabelece que As pessoas pertencentes a minorias nacionais, tnicas, religiosas e lingusticas tm o direito de desfrutar de sua prpria cultura, de professar e praticar sua prpria religio, de fazer
uso de seu idioma prprio, em ambientes privados ou pblicos, livremente e sem interferncia de nenhuma forma de discriminao. Vide MONTEIRO, Adriana Carneiro, BARRETO, Gley Porto; OLIVEIRA, Isabela Lima
de;
ANTEBI,
Smadar.
Minorias
tnicas,
Lingusticas
e
Religiosas.
Disponvel
em:
<http://www.dhnet.org.br/dados/cursos/dh/br/pb/dhparaiba/5/minorias.html>. Acesso em: 22 jul. 2010, p. 5.
653
COMPARATO, Fbio Konder. A Afirmao Histrica dos Direitos Humanos. 5 ed. So Paulo: Saraiva,
2007, p. 395. Outro ponto de necessrio destaque que a Carta Africana adota uma perspectiva coletivista, que
empresta nfase nos direitos dos povos; ela prev no apenas direitos civis e polticos, mas engloba direitos econmicos, sociais e culturais. Vide PIOVESAN, Flvia. Carta africana dos direitos humanos e dos povos. Disponvel em: http://www.esmpu.gov.br/dicionario/>. Acesso em: 04 mai. 2011, p. 1.
170
manos o direito diferena654, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Polticos, em seu art.
27655, e a Declarao da ONU sobre os Direitos dos Povos Indgenas, aprovada em 13 de dezembro de 2007 pela Assemblia Geral da ONU.
Nesse mesmo sentido, subsistem ainda outros instrumentos que de certa forma fazem
parte da valorizao da cultura e dos grupos humanos, dentro da temtica dos direitos dos
povos. Neste aspecto destacam-se a Declarao Universal dos Direitos dos Povos (conhecida
como Carta de Argel), que reafirma o direito existncia (semelhante Carta Africana dos
Direitos dos Povos), bem como o direito ao respeito por sua identidade nacional e cultural. No
mesmo documento, destaca-se que nenhuma pessoa pode ser submetida, por causa de sua identidade nacional ou cultural, ao massacre, tortura, deportao expulso ou a condies
de vida que possam comprometer a identidade ou a integridade do povo ao qual pertence.
Tambm destaca que todo povo tem o direito de falar sua lngua, de preservar e desenvolver
sua cultura, contribuindo assim para o enriquecimento da cultura da humanidade. Ainda destaca que todo povo tem direito a que no se lhe imponha uma cultura estrangeira (art. 15);
nesse campo, destaca-se o repdio ao etnocdio, ainda que indiretamente656.
No tocante ao direito identidade, tem-se a Declarao Universal dos Direitos Coletivos dos Povos, que afirma que todo povo tem o direito a identificar-se como tal. Nenhuma
outra instncia pode substitu-lo para defini-lo. Ainda no texto da Declarao, busca-se conceituar povo como qualquer coletividade humana que tenha referncias comuns a uma cultura e de uma tradio histrica, desenvolvidas em um territrio geograficamente determinado
ou em outros mbitos657.
No que diz respeito lngua, tem-se a Declarao Universal dos Direitos Lingusticos,
de 1966, que no seu art. 3 considera como direitos individuais o direito a ser reconhecido
como membro de uma comunidade lingstica; o direito ao uso da lngua em mbito privado e
pblico e, dentre outros, o direito a manter e desenvolver a prpria cultura, mediante o ensino
654
COMPARATO, Fbio Konder, op. cit., p. 398. No entanto, como dispe o art. 1, item 2 da Declarao, a
diversidade das formas de vida e o direito diferena no podem servir como pretexto aos preconceitos raciais e
no podem legitimar prticas discriminatrias. Vide Declarao sobre raa e os preconceitos raciais. Disponvel em: <http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/discrimina/dec78.htm>. Acesso em: 28 abr. 2011, p. 2.
655
Refere o art. 27: Nos Estados em que haja minorias tnicas, religiosas ou lingsticas, as pessoas pertencentes a essas minorias no podero ser privadas do direito de ter, conjuntamente com outros membros de seu grupo, sua prpria vida cultural, de professar e praticar sua prpria religio e usar sua prpria lngua. Vide MONTEIRO, Adriana Carneiro; BARRETO, Gley Porto; OLIVEIRA, Isabela Lima de; ANTEBI, Smadar. Minorias
tnicas, Lingsticas e Religiosas, op. cit., p. 04.
656
Declarao
Universal
dos
Direitos
dos
Povos.
Disponvel
em:
<http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/textos/direitos_povos.html>. Acesso em: 28 abr. 2011.
657
Declarao
Universal
dos
Direitos
Coletivos
dos
Povos.
Disponvel
em:
<http://www.ciemen.org/pdf/port.PDF>. Acesso em: 28 abr. 2011, p. 3.
171
da prpria lngua e da prpria cultura658. Tambm subsiste a Declarao dos Princpios da
Cooperao Cultural Internacional, celebrada em 1966, que a afirma que todas as culturas
fazem parte do patrimnio comum da humanidade, alm de referir que todos os povos tm o
direito e o dever de desenvolver as respectivas culturas659.
Por fim, encerrando esta descrio dos instrumentos jurdicos de meno aos direitos
dos povos (e, por conseqncia, de preveno e represso ao etnocdio), tem-se a Declarao
Universal sobre a Diversidade Cultural, que reafirma a diversidade cultural como patrimnio
comum da humanidade, devendo ser reconhecida e consolidada em benefcio das geraes
presentes e futuras (art. 1). Ainda ressalta, dentre outros aspectos, que a defesa da diversidade
cultural um imperativo tico, inseparvel do respeito dignidade humana. Ela implica o
compromisso de respeitar os direitos humanos e as liberdades fundamentais, em particular os
direitos das pessoas que pertencem a minorias e os povos autctones660.
Por derradeiro, subsiste a Conveno sobre a Proteo e Promoo da Diversidade das
Expresses Culturais, ratificado pelo Brasil por meio do Decreto Legislativo 485/2006, que
dentre outros objetivos inclui proteger e promover a diversidade das expresses culturais. Ainda, o texto da Conveno estabelece princpios diretores; dentre eles destacam-se o princpio do respeito aos direitos humanos e s liberdades fundamentais e o princpio da igual dignidade e do respeito por todas as culturas661.
A partir de todos estes instrumentos internacionais relatados, pode-se afirmar que subsiste uma tendncia ateno proteo da identidade cultural, que por conseguinte visa prevenir e reprimir a prtica do etnocdio. Nesse campo, os instrumentos internacionais citados
expressam uma inteno de se efetivar os direitos humanos dos povos, especialmente visando
a preservao de suas respectivas lnguas e culturas.
No entanto, a simples existncia destes documentos no pode servir como nico parmetro para a efetivao dos direitos humanos dos povos e a preveno e represso ao etnocdio. Como j referido, so necessrias polticas governamentais de preservao de identidades
(como manuteno de idiomas em extino, preservao da memria histrica e medidas de
658
Declarao
Universal
dos
Direitos
Lingusticos.
Disponvel
em:
<http://www.dhnet.org.br/direitos/deconu/a_pdf/dec_universal_direitos_linguisticos.pdf>. Acesso em: 28 abr.
2011, p. 2.
659
Declarao dos Princpios de Cooperao Cultural Internacional. Disponvel em: <http://www.neppdh.ufrj.br/onu16-1.html>. Acesso em: 09 jun. 2011, p. 1.
660
UNESCO.
Declarao
Universal
sobre
a
Diversidade
Cultural.
Disponvel
em:
<http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127160por.pdf>. Acesso em: 28 abr. 2011.
661
UNESCO. Conveno sobre a proteo e promoo da diversidade das expresses culturais. Disponvel em:
<http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001502/150224por.pdf>. Acesso em: 29 abr. 2011.
172
proteo e preservao de grupos humanos, notadamente indgenas, como no caso do Brasil).
A seguir, trataremos dos trs pilares que consideramos importantes em se tratando de direito
dos povos, iniciando nossa abordagem pela tica na acepo dusseliana.
3.4.1 Uma tica libertadora como princpio produo, reproduo e desenvolvimento da vida humana na sua dimenso corpreo-cultural
Como um possvel fundamento a auxiliar na observao e efetivao dos direitos dos
povos, faz-se necessrio expor primeiramente a questo relativa tica. No uma tica no
sentido geral da palavra, como preceitos de conduta que guiam as relaes humanas, mas uma
tica libertadora, na acepo de Enrique Dussel. Tal reflexo nos auxilia a compreender a
identidade cultural no a partir de um relativismo cultural, mas entendendo a proteo da identidade cultural como um elemento centrado na ideia de preservao da vida humana em
seus vrios aspectos, principalmente histrico-corpreo-cultural.
A filosofia e a tica da libertao tambm so fatores importantes para se conseguir
uma projeo tico-crtica com o intuito de se compreender a realidade existente e a possibilidade de se buscar transform-la pela via informativo-terica, ou em termos de ao visando
proteo da existncia de grupos humanos vulnerveis, bem como sua identidade cultural. A
prtica filosfica, mediante o exerccio do juzo tico-crtico, uma alternativa para se buscar
compreender a diversidade que inerente condio humana, ou seja, a pluralidade. A filosofia, portanto, entendida como prtica libertadora na proteo aos grupos humanos e etnias
diversas.
Destarte, necessrio tratar, ainda que brevemente, sobre a origem e a concepo da
filosofia da libertao, para posteriormente explanar sobre a possibilidade de sua contribuio
primazia ao direito existncia e identidade cultural, bem como a sua importncia para se
promover um juzo filosfico e tico-crtico por parte dos agentes sociais662.
A filosofia da libertao surge ao final da dcada de sessenta e incio da dcada de
setenta na Argentina, quando um grupo de filsofos proclamou a opo por se voltar condio dos pobres desde o mbito filosfico. Este grupo de filsofos crticos seguia uma linha de
662
Entendemos por agentes sociais os diversos atores que desenvolvem atividades na relao direta ou indireta
com os direitos humanos e direito dos povos, enfim, todos aqueles que podem ter as condies de agir na esfera
pblica ou privada para garantir os direitos dos grupos humanos ameaados pelo extermnio fsico ou cultural,
seja pela falta de territrio, falta de assistncia sade ou violncia ocorrente em localidades prximas a determinadas etnias (comunidades indgenas no Brasil, por exemplo).
173
pensamento que se caracterizava a partir dos seguintes elementos663: a) consideravam que a
filosofia desenvolvida at ento no tratava da realidade latino-americana, e era preciso desenvolver um estudo que trabalhasse esta realidade e que se tomasse conscincia de sua existncia; b) para fazer isto, era preciso romper com o sistema de dependncia e com o componente filosfico que o representava e o legitimava. Assim, o grupo de estudiosos argentinos
voltou-se necessidade de desmascarar e superar o discurso filosfico convencional, atravs
do qual o Ocidente influenciava significativamente: o discurso da modernidade. Alm disto, o
filsofo deveria ser um intrprete crtico e considerar a figura do pobre e oprimido, fato sobre
o qual aquele deveria pensar. A essncia autntica do latino-americano emergia nesta sua
condio como marginalizado664.
Principalmente pelos trabalhos do filsofo mexicano Leopoldo Zea que inclusive foi
um dos primeiros estudiosos a tematizar a questo da libertao, opondo a uma cultura de
dominao europia uma cultura de libertao latino-americana passou-se a desenvolver
uma filosofia da histria que abordava sobre o tratamento desigual do Ocidente frente Amrica Latina. A temtica dos filsofos criadores da filosofia da libertao tambm assentava
suas bases tericas na diversidade humana como um expoente universal. A idia de libertao
o elemento basilar do pensamento latino-americano que originou este movimento. Em sntese, um movimento filosfico contemporneo, que surgiu na Amrica Latina no incio da
dcada de setenta na Argentina, e que desenvolve muitos temas comuns entre seus membros,
principalmente relativos pobreza, tica da alteridade, humanismo e identidade cultural, entre
outros. Para David Snchez Rubio, um dos movimentos filosficos mais interessantes e de
maior originalidade665.
Os expoentes da filosofia da libertao, dentre outros estudiosos, so Leopoldo Zea e
Enrique Dussel. Enquanto Zea considerado precursor desta idia (com um estudo centrado
na temtica da identidade nacional e cultural dos pases latino-americanos), Dussel muito
conhecido pelos seus estudos a partir da filosofia da libertao na atualidade. So, dentre outros, os personagens que interpretam a realidade latino-americana desde a descrio de todos
os elementos discriminadores e opressores do ser humano666.
663
RUBIO, David Snchez. Filosofa, Derecho y Liberacin en Amrica Latina. Bilbao: Descle de Brouwer
1999, p. 29.
664
Ibidem, p. 30.
665
Ibidem, p. 31.
666
Ibidem, p. 47.
174
A filosofia da libertao do mexicano Leopoldo Zea667, partindo do pressuposto de
que a filosofia o resultado do enfrentamento do homem e sua circunstncia, foi um elemento
importante para a compreenso da realidade e para responder necessidade de afirmar a identidade cultural de cada povo e a condio humana de seus membros, objetivando contribuir
para a libertao dos dominados e voltar-se contra a fundamentao terica do poder opressor
entre os homens. As primeiras idias sobre a filosofia da libertao partem do pressuposto de
que o filsofo deveria despertar a conscincia na sociedade para atuar em cada pessoa que a
integra, orientando-a at a libertao mediante o reconhecimento do ser humano como sujeito
de direitos668. Nesse sentido, destaca-se a obra intitulada La filosofia americana como filosofia sin ms, publicada em 1969, que buscava dar incio ao questionamento sobre a possibilidade de uma filosofia latino-americana, partindo da condio real do povo latino-americano,
de suas circunstncias669.
Outro autor que contribuiu para o nascimento da filosofia da libertao foi Augusto
Salazar Bondy670, que afirmava a necessidade de uma filosofia da libertao que ajudasse a
superar o subdesenvolvimento e a dominao da Amrica Latina. Seria, em suma, uma filosofia que convertesse a conscincia de nossa condio deprimida como povo em uma reflexo
capaz de desencadear e promover a superao desta condio671.
Tanto na proposta de Leopoldo Zea quanto na de Augusto Salazar, a filosofia seria
vista como um instrumento de libertao, com o escopo de contribuir para criar a conscincia
da situao histrica da Amrica Latina, bem como orientar no mbito terico e prtico para
alcanar esta libertao. Era uma filosofia tambm prtica, encarando a realidade para buscar
mtodos que discutissem sobre os problemas que se apresentavam ao ser humano na sua luta
pela existncia672.
A nica forma para o oprimido tomar conscincia da opresso era descobrir a relao
de dominao. A tarefa da filosofia latino-americana seria buscar superar o discurso terico
do processo de modernizao, detectando os riscos desta dialtica de dominao que estavam
em seu prprio ser oprimido e dependente, para transformar esta relao673.
667
Rubio refere que uma das obras que marcam a gnese da filosofia da libertao com Leopoldo Zea a sua
obra Amrica en la historia, de 1957, descrevendo que a Amrica Latina estava fora da histria. Ibidem, p. 48.
668
Ibidem, p. 46.
669
Nesse sentido, vide ZEA, Leopoldo. La filosofia americana como filosofia sin ms. Mxico: Editorial Siglo
XXI, 1989, p. 44.
670
Vide BONDY, Augusto Salazar. Existe una filosofia de nuestra Amrica? Mxico: Siglo XXI, 1988.
671
RUBIO, David Snchez, op. cit., p. 32.
672
Ibidem, p. 32.
673
Ibidem, p. 33.
175
Enrique Dussel, por sua vez, relata que a experincia originria da filosofia da libertao consiste em descobrir o elemento de dominao: no plano mundial, com o comeo da
modernidade que criou o eixo centro-periferia (1492); no plano nacional (elite e massas); no
plano ertico (submisso da mulher pelo homem); no plano pedaggico (imposio da cultura
imperial, elitria, frente cultura perifrica, popular); no plano religioso (imposio de uma
religio em detrimento da crena do colonizado); e tambm no nvel racial (discriminao das
raas no-brancas), etc. Esta experincia originria da filosofia da libertao, portanto, ocorre
com o olhar sobre o pobre, o dominado, o ndio, o negro, a mulher como objeto, a criana no
processo de manipulao ideolgica; o oprimido, o torturado, destrudo em sua corporalidade
em muitos aspectos. O fator excluso o ponto de partida da filosofia da libertao (excluso
das culturas dominadas, da comunidade filosfica latino-americana, etc). Uma filosofia voltada realidade do Terceiro Mundo, em especial a latino-americana674.
Nos dias atuais, a filosofia da libertao (com os estudos de Enrique Dussel) est em
nova etapa. Nesse sentido, Dussel refere que
A filosofia da libertao um contradiscurso, uma filosofia crtica que
nasce na periferia (e a partir das vtimas, dos excludos) com pretenso de mundialidade. Tem conscincia expressa de sua perifericidade e excluso, mas ao mesmo
tempo tem pretenso de mundialidade. Enfrenta conscientemente as filosofias europias, ou norte-americanas (tanto ps-moderna como moderna, procedimental ou
675
comunitarista, etc)...
A partir de uma tica da alteridade, Dussel apresenta uma nova etapa da filosofia da
libertao no sculo XXI, a partir da exterioridade do pobre, da mulher, da cultura popular
marginalizada, das raas no-brancas, da destruio ecolgica da terra, fatores que se lanam
num discurso filosfico crtico e que so assuntos importantes na abordagem da filosofia da
libertao. Esta prtica filosfica ter como fundamento o princpio material universal de
produo, reproduo e desenvolvimento da vida humana676. E nesta linha, advoga-se que a
realidade dependente dos excludos exige uma filosofia totalmente voltada defesa dos seres
humanos, em especial aqueles que se encontram em situao de marginalizao e pobreza.
Para isto, uma reflexo crtica e tica sobre a condio poltica, social e econmica dos seres
674
Vide a biografia de Enrique Dussel em <http://www.enriquedussel.org/Home_cas.html>. Acesso em: 28 out.
2010.
675
DUSSEL, Enrique. tica da libertao na idade da globalizao e da excluso. Petrpolis: Vozes, 2007, p.
73.
676
RUBIO, David Snchez, op. cit., p. 115.
176
humanos oprimidos em todos os aspectos, olhando o ser humano que est fora do sistemamundo e da sociedade que o exclui; este ser o princpio da libertao677.
A filosofia da libertao importante para compreendermos a posio do ser humano
e da vida em si inclusive frente ao sistema-mundo. Partindo de todas as consideraes
anteriores, possvel buscar entender a necessidade do reconhecimento dos direitos dos povos, grupos humanos e suas diversas etnias, principalmente pelo fato de no estarem includos
no sistema-mundo dominante, o que leva excluso (e muitas vezes ao extermnio).
As reflexes da filosofia da libertao (no s voltando-se Amrica Latina, mas no
mbito mundial) retratam que a subjugao de povos ao processo modernizador globalizado
se constitui como uma ameaa reproduo da vida humana em si, e tambm existncia de
grupos humanos que possuem modo de vida prprio e suas tradies. A prtica filosfica
libertadora permite contribuir para o direito dos povos, principalmente na luta pela existncia
e pela identidade cultural.
No tocante questo da libertao contextualizada na sua relao com os direitos humanos e tambm com o direito dos povos pertinente esclarecer a sua contribuio neste
campo a partir de trs perguntas: desde onde? para quem? e para qu?678
Desde onde? necessrio responder esta questo para referir que devemos nos situar
na realidade latino-americana679, a qual vivenciamos.
Em segundo lugar, para quem? So as maiorias populares marginalizadas e oprimidas,
denominadas vtimas. Pode-se tambm, ao nosso parecer, inserir neste contexto das vtimas as
minorias tnicas (em especial comunidades indgenas), que so muitas vezes incorporadas de
maneira forada s maiorias marginalizadas, dentre outras aes violentas.
Terceiro, para qu? A libertao no contexto dos direitos humanos visa (do ponto de
vista jurdico) estar vinculada ao contedo fundamental de todos os direitos humanos: o direito de ter a possibilidade de exercer direitos, ou seja, a possibilidade de cada pessoa humana
ou grupo humano ser reconhecido como sujeito de direitos e de dignidade humana. Os grupos humanos e povos (numa acepo mais ampla) devem ter reconhecidos os direitos existncia e identidade cultural, alm de poder realizar aes que possam contribuir com a preservao destes direitos essenciais.
677
Ibidem, p. 118.
Ibidem, p. 160-162.
679
O que no quer dizer que ao nosso entender tambm no possa ser explorada a partir da realidade em outras
localidades, como a africana, a asitica, etc. O contexto local, em nossa opinio, ultrapassa as fronteiras, pois a
realidade dos processos populares e sociais corrente em diversos segmentos territoriais do planeta.
678
177
A partir dos estudos da filosofia da libertao, portanto, pode-se propor uma reflexo
tico-crtica que auxilia na compreenso da realidade, da violncia que envolve muitos grupos
ameaados, alm de contribuir para uma prtica filosfica que se empenhe na busca do reconhecimento dos direitos dos seres humanos enquanto membros de um povo, de uma etnia.
Enrique Dussel refere que estamos diante de um sistema-mundo que est se globalizando e excluindo, paradoxalmente, a maioria da humanidade. Um problema de vida ou morte. Para isso, a emergncia de uma tica da libertao, que afirme a vida humana 680 ante o
assassinato coletivo para o qual a humanidade se encaminha, um aspecto importante para se
compreender a necessidade de se reconhecer o direito existncia aos grupos humanos e
tambm da maioria excluda do sistema global.
A tica da libertao de Enrique Dussel nos ajuda a pensar filosfico-racionalmente
esta situao real da maioria da humanidade681. A partir dela, no final do sculo XX surgem
novos movimentos e aes sociais, polticos, raciais, ecolgicos e tnicos. Uma tica que se
fundamenta a partir do reconhecimento das vtimas, e que pode atuar nas normas, aes, microestruturas. uma tica da vida cotidiana, que questiona os efeitos negativos (as vtimas)
dos modelos vigentes682. A espantosa misria que aniquila a maioria da humanidade no final
do sculo XX, a contaminao ecolgica da Terra e a destruio massiva de povos e culturas
exigem esta reflexo tica683. A tica da libertao, na acepo de Dussel, no busca ser uma
filosofia crtica para minorias, nem para pocas de conflito ou revoluo. uma tica cotidiana, a favor das imensas maiorias da humanidade excludas da globalizao684, as vtimas do
sistema-mundo.
Seu marco terico a globalizao e a excluso. Estas palavras indicam o duplo movimento em que est a Periferia Mundial: de um lado, a pretensa modernizao na globalizao formal do capital; por outro lado, a excluso material das vtimas deste processo. A tica
da libertao ajuda a compreender este processo contraditrio, permitindo pensar filosoficamente o sistema-mundo que vivemos, e afirmar uma tica da vida, que auxilie a pensar criticamente685. Com base no exerccio tico-crtico, afirma-se a dignidade negada da vtima humana, oprimida ou excluda. A partir da vtima, a verdade comea a ser descoberta. Nesse
680
Vida humana, para a tica da libertao, corresponde vida do ser humano em seu nvel fsico-biolgico,
histrico cultural, tico-esttico e at mesmo mstico-espiritual, sempre num mbito comunitrio.... Vide
DUSSEL, Enrique. tica da libertao na idade da globalizao e da excluso, op. cit., p. 632.
681
Ibidem, p. 11.
682
Ibidem, p. 13.
683
Ibidem, p. 15.
684
Ibidem, p. 15.
685
Ibidem, p. 17.
178
sentido, importante reconhecer as vtimas como sujeitos ticos, como seres humanos que
no podem reproduzir ou desenvolver sua vida, que foram excludas da participao na discusso, e que so afetados por alguma situao de morte686.
Destarte, partindo da razo tico-crtica, aquele que pensa sobre o sistema e seus fundamentos descobre a dignidade dos sujeitos e a impossibilidade de reproduo da vida da vtima, constata a excluso vivida por esta687. Precisamos reconhecer a alteridade da vtima688,
da dor da sua corporalidade; isto a origem de toda a crtica tica possvel, na lio de Dussel689. Uma tica crtica aquela que parte da negao da vida humana e que se expressa no
sofrimento das vtimas, seja escravo, operrio, explorado asitico, criana de rua abandonada,
imigrante estrangeiro refugiado, geraes futuras que sofrero em sua corporalidade a destruio ecolgica, povos indgenas e outros sob ameaa de extermnio fsico e cultural. A tomada
de conscincia desta negatividade elementar para a tica da libertao. A verdade do sistema-mundo negada a partir da impossibilidade de viver das vtimas. Nas palavras de
Dussel, a existncia da vtima sempre refutao material ou falsificao da verdade do
sistema que a origina690 691.
686
Ibidem, p. 303.
Ibidem, p. 303.
688
Cabe ressaltar, a respeito deste tema, que Dussel toma por destaque justamente a temtica da alteridade. Para
Dussel, a ideia de alteridade, ou seja, de abertura ao Outro, situa-se numa categoria de encontro deste Outro em
uma relao de proximidade, de face-a-face. Este o momento mximo de proximidade. nessa experincia
primeira que se encontra o ponto de partida para a tica de Dussel, em que o Outro significa criao, novidade
em relao ao mesmo. Para Dussel, o Outro, em relao ao sistema vigente, ser sempre aquele que oprimido,
excludo, alienado; o Outro o pobre. Quando fala-se no Outro oprimido, mais do que referir-se a indivduos,
Dussel pretende apontar o povo, uma coletividade. Nesse sentido, vide FILHO, Jos Carlos Moreira da Silva.
Filosofia jurdica da alteridade por uma aproximao entre o pluralismo jurdico e a filosofia da libertao
latino-americana. Curitiba: Juru, 2006, p. 48.
689
DUSSEL, Enrique. tica da libertao na idade da globalizao e da excluso, op. cit., p. 306.
690
Ibidem, p. 375.
691
Um trabalho que esboa uma sntese da estrutura da tica da libertao de Dussel o artigo intitulado A
contribuio terica de Franz Hinkelammert ao projeto tico de libertao formulado por Dussel. Nele, so
expostas resumidamente a estrutura de fundamentao da tica da libertao de Dussel, em que observam seis
etapas, ou seis momentos necessrios: a) o primeiro material (a vida humana como modo de realidade do sujeito
tico); b) o momento formal (a necessria deciso coletiva, intersubjetiva); c) o momento da factibilidade, em
que no basta que algo seja verdadeiro e vlido: deve ser tambm factvel, realizvel, para que seja bom. Os
outros trs momentos possuem uma conotao crtica; se antes se partia da afirmao da vida, nestes trs ltimos
elementos parte-se de uma negao da vida, tendo em vista a realidade das vtimas. Assim, como quinto elemento temos: d) a crtica material, ao se verificar que existem situaes que impossibilitam o desenvolvimento da
vida; e) a crtica formal, em que o procedimento discursivo intersubjetivo deve ser pensado a partir da validade
anti-hegemnica, possibilitando a participao das vtimas; e f) o ltimo momento, o da nova factibilidade, em
que se cogita a possibilidade ou no de frentes de libertao, a partir de uma prxis de libertao factvel, que
transforme a realidade para a superao das negatividades.
Em sntese, parte-se da afirmao da vida, sendo esta fonte de todos os direitos. Por isso deve ser produzida,
reproduzida e desenvolvida em todos os atos. E diante da negao da vida na realidade, deve-se criticar o sistema
vigente, com contedo que explicite as vtimas e possibilite a transformao. Para mais informaes, vide HONRIO, Cludia; KROL, Helosa da Silva. A contribuio terica de Franz Hinkelammert ao projeto tico de
687
179
No mbito da tica da libertao, portanto, so situaes-limite como a discriminao
de etnias, as culturas populares e indgenas sufocadas, a situao de no-direito na maioria
dos Estados da Periferia (diga-se Amrica Latina e frica, por exemplo), que propiciaro trazer tona uma reflexo a partir da tica da libertao.
Para Dussel, a vida humana o modo-de-realidade do ser humano e preceito elementar
de sua tica. O ser humano, que no um anjo nem uma pedra, e nem sequer um primata superior, um ser vivente lingustico, autoconsciente ou autoreflexivo e por isso autorreferente:
o nico vivente que recebe a vida a cargo de ou sob sua responsabilidade. Essa autoconscincia lhe permite vida de cada vivente viver-se: o elo organismo-vivente se constitui como
um eu-corpreo, que se reflete como um si-mesmo-corporal em um mundo, desde uma comunidade de vida com outros seres humanos e em meio da realidade como natureza, descoberta
como mediao para a vida humana692.
Para tanto, a vida humana o contedo da tica de Dussel, para quem possui implicaes fundamentais no sentido de uma tica de contedo ou material. A vida humana, como
modo de realidade, a vida concreta de cada ser humano, a partir de onde se encara a realidade, constituindo-as desde um horizonte ontolgico, onde o real se atualiza como verdade prtica. Trata-se do critrio material universal da tica por excelncia. Ademais, ela exposta em
trs momentos693:
a) O da produo da vida humana, nos nveis vegetativo ou fsico, material e contendo
as funes superiores da mente (conscincia, autoconscincia, funes lingsticas, valorativas, com liberdade e responsabilidade, etc) como processo inicial que continuado no tempo
pelas instituies na reproduo (histrico, cultural, etc). o mbito da razo prticomaterial.
b) O da reproduo da vida humana nas instituies e nos valores culturais: vida humana nos sistemas de eticidade histricos motivados pelas pulses reprodutivas. o mbito
da razo reprodutiva;
c) O do desenvolvimento dessa vida humana no quadro das instituies ou culturas
reprodutivo-histricas da humanidade. A mera evoluo ou crescimento deixou lugar para o
libertao
formulado
por
Dussel.
Disponvel
em:
<http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/cejur/article/view/16758>. Acesso em: 28 abr. 2011, p. 62-64.
692
DUSSEL, Enrique. Principios, mediaciones y el bien como sintesis (de la etica del discurso a la etica de
la liberacin. In Princpios Revista de Filosofia UFRN. Ano V, n. 6, 1998, p. 14-15.
693
DUSSEL, Enrique, citado por OLIVEIRA, Rosa Maria Rodrigues de. tica da libertao em Enrique Dussel.
In WOLKMER, Antonio Carlos (Org.). Direitos humanos e filosofia jurdica na Amrica Latina. Rio de Janeiro:
Lumen Jris, 2004, p. 110.
180
desenvolvimento histrico. Alm disso, porm, na tica crtica, a pura reproduo de um sistema de eticidade que impede seu desenvolvimento exigir um processo transformador ou
crtico libertador. o mbito da razo tico-crtica.
Na acepo de Dussel, como j enfatizamos, a vida humana, para a tica da libertao,
corresponde vida do ser humano em seu nvel fsico-biolgico, histrico cultural, ticoesttico e at mesmo mstico-espiritual, sempre num mbito comunitrio. Este elemento
basilar para inserirmos a questo referente a uma possvel contribuio da tica da libertao
para a preservao da identidade cultural e como fundamento para o direito dos povos afora
as justificativas anteriores apresentadas.
Com base nesta acepo de Dussel, pode-se afirmar que a produo, reproduo e desenvolvimento da vida humana possui uma dimenso tambm histrico cultural e at mesmo
mstico-espiritual. Estes pontos so relevantes para se trazer tona a idia de que a reproduo da vida humana igualmente ocorre sob um enfoque corpreo-cultural, pois a cultura
parte integrante e sustentadora da reproduo da vida humana, sempre em comunidade.
Como foi ressaltado no primeiro captulo deste trabalho, a identidade cultural possui
uma estreita vinculao com a corporalidade humana, o que com base na reflexo de Dussel
nos conduz concepo de que aquela, por seu contedo corporal, parte integrante da reproduo da vida humana. Para tanto, uma tica libertadora como princpio faz-se necessria,
observando-se a vida humana na sua acepo corpreo-cultural. Este o primeiro passo para
uma observncia aos direitos humanos dos povos e, por conseguinte, para uma preveno ao
etnocdio.
3.4.2 Uma justia anamntica como antdoto repetio da barbrie
Alm de uma tica libertadora como elemento de construo, de fundamentao de um
direito dos povos, situa-se o que podemos denominar de uma justia anamntica, na perspectiva de Reyes Mate. Esta justia se caracteriza, em sntese, pelo papel central e importante que
a memria possui. Ela se torna o fundamento basilar de uma justia voltada para os acontecimentos passados, em especial aqueles que geraram um trauma coletivo, em face da violncia
exercida.
181
Johann Baptist Metz telogo cristo o qual Reyes Mate adota como uma de suas
bases possui uma viso voltada para a memria, e em particular a memria do sofrimento,
advertindo que a memria da histria do sofrimento do mundo se converte em meio da realizao da razo e da liberdade694. A fim de fundamentar esta premissa, Metz, reportando-se a
Marcuse (filsofo alemo), leciona que a reposio da memria como meio de libertao seria
uma das mais nobres tarefas do pensamento. Isto significa que a memria do passado pode
permitir apresentar-se ideias perigosas e a sociedade estabelecida pareceria temer os contedos subversivos da recordao. Recordar, na viso de Marcuse, seria uma maneira de libertarse dos fatos presentes, rompendo o todo-poderoso poder dos fatos presentes. A recordao
evocaria na memria as restries passadas como esperana passada, e nos dados pessoais,
que aparecem de novo na recordao pessoal, se estabeleceriam as angstias e inquietudes da
humanidade o geral no particular695.
Sobre a relao entre memria e liberdade, com base na descrio anterior, Metz destaca que o conceito de memria compreende o devir prtico da razo como liberdade; assim,
nesta determinao, a memria se constitui como uma memria da liberdade, que como memria do sofrimento, se converte em orientao para a ao relacionada com a liberdade. Mas
em sua inteno prtica, esta memria de liberdade primariamente memria do sofrimento
(memoria passionis)696. Portanto, na base de uma filosofia da memria, mostra-se importante
fazer referncia de que se trata de uma memria do sofrimento.
Outro fator importante abarcar a memria igualmente como uma questo de justia,
como um problema de justia. Reyes Mate, expondo suas consideraes sobre os fundamentos de uma filosofia da memria, refere que se trata de uma sntese filosfica sobre a importncia da memria para a filosofia como um todo e para a justia em particular. Primeiramente, o autor discorre acerca da tica como filosofia primeira, apontando no sentido de que a
constituio do ser (ou do ser humano) depende do Outro. Trata-se de uma referncia a Levins. Na oportunidade, faz uma crtica vertente idealista da filosofia, com relao s suas
conseqncias prticas (morais e polticas). O idealismo levaria ao totalitarismo porque quando reduzimos o conhecimento das coisas apreenso de um nico elemento, que chamamos
essncia, o que estamos fazendo reduzir a riqueza da realidade a um nico elemento que
694
METZ, Johann Babtist. Por una cultura de la memoria. Barcelona: Antropos, 1999, p. 10.
Ibidem, p. 11.
696
Ibidem, p. 12.
695
182
definimos como essencial. O essencial pode ser a substncia, a raa, o sangue, o homem, o
proletariado, cifras absolutas e excludentes697.
Outro ponto importante de seu pensamento no sentido de que se costuma predominar
a ideia de que a realidade o que est a, o que se faz presente. No entanto, tambm forma
parte da realidade o que no ; o que restou frustrado. O que est a um momento da histria, ela faz parte deste objeto. Assim, o elemento tempo fundamental. E quando introduzimos o tempo estamos falando de memria, chave do seu projeto filosfico. Pensar o tempo
histrico e a memria implica o aparecimento, luz do ser, do negativo, do esquecido, do
conflito698.
Seu pensamento, portanto, advoga um giro tico. A dimenso tica aparece em um
gesto ontolgico de desvelar a realidade. Na invisibilizao do oculto, a tica e a ontologia se
unem. Isto afeta, por conseqncia, o conhecimento, pois o negativo, o oculto ou ocultado, o
ausente, tomam a iniciativa e colocam o conhecimento em uma posio de mxima fragilidade, obrigando sempre a recompor o equilbrio anterior. Como exemplo, quando tratamos de
uma teoria, como a da justia, nos equivocamos se pensamos que somos ns os sujeitos da
teoria. No somos ns, o Outro, ou seja, a justia s pode ser uma resposta injustia como
resposta inacabvel e inacabada a algo exterior a ns699.
Em Reyes Mate, a justia e sua crtica possuem uma potente raiz religiosa, que se remete a Walter Benjamim, que em sua primeira tese estabelece uma reviso da crtica ilustrada
e marxista da religio. Por exemplo, experincias fundamentais do homem tm sido abarcadas
pela religio, como a imprescribitilidade da injustia feita aos mortos; no podemos dar uma
resposta justia convencional se no temos presente a significao da injustia passada. O
que se est dizendo a partir disso que no h injustia sem memria da injustia. H que
estabelecer a hiptese de uma memria que no esquea se queremos chegar a uma teoria da
justia. A resposta filosfica injustia irreparvel causada s vtimas mant-la viva na
memria da humanidade, em no d-la por prescrita sem que no seja saldada. A injustia
cometida siga vigente, com independncia do tempo transcorrido e da capacidade que tenhamos de reparar o dano causado700.
697
MATE, Reyes. Sobre os fundamentos de uma filosofia da memria. In RUIZ, Castor Bartolom (Org.). Justia e memria para uma crtica tica da violncia. So Leopoldo: Editora Unisinos, 2009, p. 13-18.
698
Ibidem, p. 19.
699
Ibidem, p. 19-20.
700
Ibidem, p. 21-22.
183
A partir desta perspectiva, mostra-se possvel buscar uma justia que leve em conta o
tempo e a memria como categorias que guiam o pensamento filosfico. Assim, a memria
passa a se constituir como um antdoto repetio da barbrie, ou seja, a recordao das injustias passadas passa a fundamentar nosso projeto de futuro.
Vale mencionar que a memria digna desse nome a memria de um passado ausente.
H um passado que presente, que o dos vencedores. Porm, tambm h um passado vencido, ausente do presente. Esse o passado moral e politicamente criativo. No entanto, esse
passado no se celebra, mas se recorda para fazer atual a injustia passada e para marcar um
sentido ao futuro. A razo de ser da memria tomarmos cargo das injustias passadas, ainda
que seja sob a forma modesta de proclamar a vigncia da injustia. Somente em segundo lugar cabe falar de recordar para que a barbrie no se repita. O conceito de memria tambm
remete ao fato de que no fizemos diretamente as injustias, mas herdamos estes acontecimentos. Aqui aparece o conceito de responsabilidade histrica que se volta para trs e no s
para adiante. Por isso no h que perder de vista a formulao do novo imperativo categrico
de Adorno, citado por Reyes Mate: repensar a verdade, a poltica e a moral, tendo em conta
Auschwitz, para que a barbrie no se repita701.
Nesse aspecto, vinculada a uma justia anamntica, que considerada como fator fundamental a memria, cabe destacar que esta est vinculada a uma memria individual e a uma
memria coletiva. Na descrio de Paul Ricoeur, a memria individual seria a tradio do
olhar interior, ao passo que a memria coletiva se configuraria a partir do olhar exterior. Cabe
ressaltar que elas no se opem num mesmo plano, mas em universos de discursos que se
tornaram alheios um ao outro702.
Sob a perspectiva da memria individual, da tradio do olhar interior, podemos destacar trs traos que costumam ser evidenciados em favor do carter eminentemente privado
da memria. Por primeiro, a memria parece ser radicalmente singular: minhas lembranas
no so as de outrem. No se pode transferir as lembranas de um para a memria de outro.
Enquanto minha, a memria , na descrio de Ricoeur, um modelo de possesso privada,
para todas as experincias vivenciadas pelo sujeito703.
Por segundo, o vnculo original da conscincia com o passado parece residir na memria. Foi elucidado por Aristteles e posteriormente por Santo Agostinho que a memria pas701
Ibidem, p. 34-36.
RICOEUR, Paul. A memria, a histria, o esquecimento. Campinas: Unicamp, 2007, p. 106.
703
Ibidem, p. 107.
702
184
sado, e esse passado seria o de minhas impresses; com efeito, esse passado seria o meu passado. Seria por este trao que a memria garante a continuidade temporal da pessoa e, por
esse vis, essa identidade cujas dificuldades e armadilhas enfrentamos acima. Essa continuidade me permitiria remontar sem ruptura do presente vivido at os acontecimentos mais longnquos de minha infncia. De um lado, as lembranas distribuem-se e se organizam em nveis de sentido, em arquiplagos, eventualmente separados por abismos; de outro, a memria
continua sendo a capacidade de percorrer, de remontar no tempo, sem que nada, em princpio,
proba prosseguir esse movimento sem soluo de continuidade. principalmente na narrativa que se articulam as lembranas no plural e a memria no singular, a diferenciao e a continuidade. Assim, retrocedemos nossa infncia, com o sentimento de que as coisas se passaram numa outra poca. Para Ricoeur, essa alteridade que, por sua vez, servir de base para a
diferenciao dos lapsos de tempo qual a histria procede na base do tempo cronolgico704.
Finalmente, em terceiro lugar, memria que est vinculado o sentido da orientao
na passagem do tempo; orientao em mo dupla, do passado para o futuro, de trs para a
frente, segundo a flecha do tempo da mudana, mas tambm do futuro para o passado, segundo um movimento inverso de trnsito de expectativa lembrana, atravs do presente vivo705.
Na perspectiva da memria individual, Santo Agostinho descreve a relao entre a
memria (e tambm o tempo), nos livros X e XI das Confisses. Na sua fundamentao, a
busca de Deus se d, imediatamente numa dimenso de altura, de verticalidade, meditao
sobre a memria. na memria que Deus primeiramente buscado706.
No trabalho de Agostinho, citado por Ricoeur, sobre a maravilha da recordao que
o exame se concentra: a recordao do nosso jeito de tudo o que evocamos em nossa memria
atestaria que interiormente que realizamos esses atos, no ptio imenso do palcio de nossa
memria. De fato, a memria seria duas vezes admirvel: primeiro em razo de sua amplitude. As coisas recolhidas na memria no se limitariam s imagens das impresses sensveis
que a memria arranca disperso para reuni-las, mas se estendem s noes intelectuais, que
se podem chamar de aprendidas e doravante sabidas707.
A segunda operao da memria: ao se tratar das noes, no so apenas as imagens
das coisas que voltam ao esprito, mas os prprios inteligveis. A memria das coisas e a
memria de mim mesmo coincidem: a, encontro tambm a mim mesmo, lembro-me de mim,
704
Ibidem, p. 108.
Ibidem, p. 108.
706
Ibidem, p. 109.
707
Ibidem, p. 110.
705
185
do que fiz, quando e onde o fiz e da impresso que tive ao faz-lo. Assim, grande seria o poder da memria ao ponto de nos lembrarmos at de ter nos lembrado. O esprito seria tambm
a prpria memria708.
Contudo, Ricoeur igualmente ressalta o que ele denomina como o olhar exterior: a
memria coletiva. A partir dos estudos de Maurice Halbwachs, em sua obra A Memria Coletiva, deve-se a este autor a ideia que consiste em atribuir memria diretamente a uma entidade coletiva que ele chama de grupo ou sociedade. Sua tese central de que para se lembrar,
precisa-se dos outros. a partir de uma anlise sutil da experincia de pertencer a um grupo, e
na base do ensino recebido dos outros, que a memria individual toma posse de si mesma709.
Sendo esta estratgia escolhida, no seria de admirar que o apelo ao testemunho dos
outros constitua o tema de abertura. Para Halbwachs, essencialmente o caminho da recordao e do reconhecimento, esses dois fenmenos mnemnicos maiores de nossa tipologia da
lembrana, que nos deparamos com a memria dos outros. Nesse contexto, o testemunho no
considerado enquanto proferido por algum para ser colhido por outro, mas enquanto recebido por mim de outro a ttulo de informao sobre o passado. E a esse respeito, as primeiras
lembranas encontradas nesse caminho so as lembranas compartilhadas, as lembranas comuns. Elas permitem afirmar que na realidade, nunca estamos sozinhos. Assim, do papel do
testemunho dos outros na recordao da lembrana passa-se gradativamente aos papis das
lembranas que temos enquanto membros de um grupo710. Desta forma, a noo de mbito
social deixa de ser uma noo simplesmente objetiva, para se tornar uma dimenso inerente o
trabalho de recordao.
Por fim, cabe ressaltar que embora a memria coletiva extraia sua fora e durao do
fato de que um conjunto de homens lhe serve de suporte, so indivduos que se lembram enquanto membros do grupo. Pode-se dizer que cada memria individual um ponto de vista
sobre a memria coletiva, que esse ponto de vista muda segundo o lugar que nele ocupo e
que, por sua vez, esse lugar muda segundo as relaes que mantenho com outros meios711.
Com base nestas descries, pode-se dizer que a relao memria individual-memria
coletiva sempre estar presente quando se trata de recordar os sofrimentos passados, especialmente aqueles marcados por medidas de violncia extrema. Atravs da dor passada e da sua
partilha com os outros, sobrevm todos os acontecimentos que marcaram as vtimas, seja in708
Ibidem, p. 110.
Ibidem, p. 130.
710
Ibidem, p. 131.
711
Ibidem, p. 133.
709
186
dividualmente, seja coletivamente. Nos casos de violncia massiva principalmente ditaduras
e totalitarismos memria individual e memria coletiva esto estreitamente ligadas, guardando em seus arquivos os eventos traumticos sofridos.
No caso do etnocdio (e principalmente do genocdio), esta estreita relao de complementaridade entre memria individual e coletiva ainda mais presente e arraigada, principalmente pelo fato de que as vtimas destas espcies de violaes de direitos humanos carregam consigo as experincias trumticas vivenciadas. Memria individual e coletiva habitam
como irms, provenientes da mesma fonte: os sobreviventes da violncia.
Tratadas estas primeiras linhas de uma valorizao da memria como fator importante
quando queremos abordar o tema da justia, pode-se inserir igualmente outra questo: o que
significa uma justia que leve em conta o passado?
Em primeiro lugar, significaria responder a uma sensibilidade moral nova. Os julgamentos de Nuremberg no obstante suas crticas se inserem dentro desta temtica. Neste
julgamento se formulou o que ficou conhecido como crimes contra a humanidade; h crimes que atentam contra a humanidade, mutilando-a em alguns de seus momentos vitais. Assim como na natureza, em que ocorrem atentados que supem um dano irreversvel que
pode significar o desaparecimento de uma espcie animal ou vegetal, o mesmo ocorre com a
humanidade: h atentados que pem em perigo qualidades, convices ou convenes forjadas ao longo dos sculos712.
Em 1964, o Parlamento francs votou uma lei que declarava a imprescritibilidade dos
crimes contra a humanidade, referindo-se, logicamente, ao genocdio ocorrido. Para Reyes
Mate, estas medidas o julgamento de Nuremberg e a votao da lei francesa significam
um passo considervel na histria moral do direito. Para tanto, estamos ante uma nova sensibilidade a respeito da responsabilidade atual por crimes passados que vem crescendo713.
Em segundo lugar, o que define a justia anamntica entender a justia como resposta experincia da injustia, que fundamenta toda a teoria da justia. Contudo, em que consiste a experincia da injustia? A resposta, sob a tica de Reyes Mate, a remisso dos fatos, a
escuta dos gritos que causa o sofrimento humano. O sofrimento resume a histria mais secreta
de cada qual e a chave do que realmente somos714.
712
MATE, Reyes. En torno a una justicia anamntica. In MARDONES, Jos M.; MATE, Reyes (Org.). La etica
ante las vctimas. Barcelona: Antropos, 2003, p. 106.
713
Ibidem, p. 106.
714
Ibidem, p. 108.
187
Terceiro, a justia anamntica pertence ao descobrimento de que h duas vises da
realidade: a dos vencedores e a dos vencidos. Nesse sentido, advm a tese oitava de Walter
Benjamim, a qual refere que a tradio dos oprimidos nos ensina que o estado de exceo a
regra. Para os vencedores a suspenso dos direitos, o tratamento do homem como vida nua, ou
seja, tudo o que o estado de exceo leva uma medida excepcional, transitria, que conduz
superao de um conflito. Para os oprimidos, justamente esta excepcionalidade a regra. Os
oprimidos sempre tm vivido desta maneira, suspendidos seus direitos. No entanto, h que
construir um conceito de histria em torno desta experincia de injustia permanente715. E o
papel da memria neste processo devolver-nos o olhar do oprimido.
Este modelo de justia visa uma universalidade. Para a justia anamntica, a universalidade consiste na restituio, ou seja, no reconhecimento do direito de todos e cada um dos
homens, tambm dos mortos e fracassados, e recuperao do perdido716. Esta uma forma
de universalidade que objeto da justia anamntica. Esta teoria da justia se mostra como
um constante resgate de vidas frustradas, como processo aberto de salvao de histrias esquecidas ou como resposta incessante a demandas de direitos insatisfeitos717. Nesse sentido,
para a justia anamntica, a memria no um adereo seno a referncia fundamental. Implica a salvao da vtima, mediante a atualidade de sua recordao.
Em um primeiro nvel, a memria tem por tarefa evitar a repetio da catstrofe. Se
esquecemos o passado, o crime passado, nada impede que o assassino ande solto, e que a histria se repita. Se esquecemos a injustia ou se damos por prescrita, ento tudo possvel,
tudo est permitido. Em segundo lugar, a recordao mantm vivos, vigentes, os direitos que
uma vez foram negados ou pisoteados; a memria equivale ento exigncia de justia e o
esquecimento a sano da injustia. A memria, portanto, no o um adorno, seno um ato
de justia. Terceiro, se a memria um ato de justia, ento no podemos frustrar as vtimas,
oferecendo-lhes uma justia retrica, pois o que est em jogo no somente o reconhecimento
do direito felicidade das vtimas, seno muito mais: a exigncia de felicidade, dessa felicidade que tiveram tantos seres humanos e da qual as vtimas foram privadas, injustamente718.
Portanto, o que caracteriza a teoria anamntica da justia o lugar central que a memria possui719, valorizando o passado violento vivido pelas vtimas. Manter viva a memria
715
Ibidem, p. 108.
Ibidem, p. 113.
717
Ibidem, p. 115.
718
Ibidem, p. 117-118.
719
Vide JUNGES, Mrcia. A memria como antdoto repetio da barbrie. Disponvel em:
<http://www.ihuonline.unisinos.br>. Acesso em: 14 jul. 2010.
716
188
na perspectiva das vtimas contribuir com a realizao da Justia. Jos Carlos Moreira Filho720 leciona inclusive que a dignidade humana passa, antes de tudo, pela memria.
Reyes Mate aduz ainda que o interesse atual pelas vtimas resultaria da confluncia
entre a cultura reconstrutiva e a cultura da memria. A reconstrutiva tem por objeto a reconstruo da justia das vtimas atravs da substituio dos vnculos entre justia e castigo, pelo
vnculo da justia e reparao s vtimas. A cultura da memria, por sua vez, o que permite
romper a lgica dominante e ver os ventos da catstrofe que surgiram com o progresso. A
cultura da memria estaria muito presente nos filmes, museus e narrativas de testemunhas
sobreviventes como resistncia hegemonia da histria dos vencedores721.
Assim, graas memria, a uma justia voltada memria, o deprecivel e insignificante passa a ganhar importncia e significao. Ela se converte em uma potncia maior, rebelando-se contra as runas do esquecimento. Quem l o passado com os olhos da memria se
assemelha a um recolhedor que recolhe pedaos, no para destru-los ou recicl-los, seno
para ler neles o que pode ser e o que restou frustrado, para descobrir possibilidades latentes
que podem ser ativadas. Quanto falamos de um crime, por exemplo, h que considerar a morte fsica e a morte hermenutica, pois quem mata empenha-se em privar de sentido, de tirar a
importncia desta morte. Nesse aspecto, a memria enfrenta o assassinato hermenutico; da o
fato de recordar supe salvar o sentido da morte ao explicar o dano inferido ao outro como
uma injustia, dizer, como negao de algo prprio e inalienvel que pede justia. Isto explica que justia e memria so sinnimos, como so o esquecimento e a injustia722.
nesse estado de viglia onde se produz o relmpago da recordao do passado que
ilumina todo o presente. A recordao das vtimas capaz de questionar a vitria eterna dos
720
SILVA FILHO, Jos Carlos Moreira da. O anjo da histria e a memria das vtimas: o caso da ditadura militar no Brasil. In: RUIZ, Castor Bartolom (org.). Justia e memria: por uma crtica tica da violncia. So
Leopoldo: UNISINOS, 2009. p.121-157. Vale mencionar as seguintes consideraes do autor: Recuperar a
memria no significa apenas reforar a garantia de que as ditaduras e os totalitarismos nunca mais ocorrero.
mais do que isso. Significa fazer justia quelas vtimas que caram ao longo do caminho. Fazer justia significa dar voz aos emudecidos pela marcha amnsica do progresso; significa resistir destruio do diverso e do
plural sob a desculpa da unidade, seja ela a da soberania nacional, a do desenvolvimento econmico ou a da
razo cientfica; significa renunciar ao frio e distante ponto de observao neutro, universal e abstrato e dar
lugar ao olhar da vtima, pois este nunca desinteressado e distante, pois este recompe a realidade esquecida
e negada, restaurando a humanidade em quem lhe d ouvidos. O ouvinte passa a ser cmplice da testemunha. O
relato passa a ser um acontecimento.
721
MATE, Reyes. Memrias de Auschwitz: atualidade e poltica. So Leopoldo: Nova Harmonia, 2005, p. 264.
722
MATE, Reyes. Justicia de las victimas terrorismo, memria, reconciliacin. Barcelona: Antropos, 2008, p.
25-26.
189
vencedores, capaz de exorcizar os germes letais do presente sempre dispostos a repetir a
histria e capaz de neutralizar a parte assassina que todos levamos dentro de si723.
Com efeito, a tarefa da memria consiste em preservar a dimenso escandalosa do
acontecimento, a manter o que monstruoso como inesgotvel pela explicao. Graas memria e s narrativas que preservam essa memria, a unicidade do horrvel preservada de
um nivelamento pela explicao724.
Eis mais um elemento que pode contribuir para uma maior efetivao dos direitos humanos dos povos: uma justia que tome a cargo a memria, preservando a lembrana dos acontecimentos passados, a fim de se buscar no repeti-los e garantir um legado de reconhecimento das violncias sofridas.
3.4.3 O reconhecimento como prtica tico-jurdica
Um terceiro possvel fundamento para uma observncia aos direitos humanos dos povos o reconhecimento. Este elemento se caracteriza pela busca de uma no instrumentalidade do ser humano, visando preservar sua humanidade e sua dignidade. A fim de fundamentar
o reconhecimento como prtica tico-jurdica e de base para os direitos humanos dos povos,
expomos estas consideraes com base na teoria do reconhecimento, de Axel Honneth.
Axel Honneth considerado o atual representante da tradio filosfica da Escola de
Frankfurt725, aliando-se a pensadores como Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Jrgen
Habermas, dentre outros. Giovani Saavedra e Emil Sobottka referem que sua teoria foi desenvolvida em dois momentos distintos726. Em um primeiro momento, Honneth procura mostrar
as insuficincias da verso da teoria crtica desenvolvida por Jrgen Habermas. Para os autores, Honneth sustenta a tese de que a teoria habermasiana da sociedade precisaria ser criticada
do ponto de vista do horizonte de dimenso de intesubjetividade social, dentro da qual as instituies estariam inseridas. Em um segundo momento, os autores referem que Honneth procura desenvolver sua prpria verso da teoria crtica, estabelecendo que a primeira verso da
teoria habermasiana da sociedade poderia ser melhor desenvolvida com base no conceito he723
MATE, Reyes. La razn de los vencidos. Barcelona: Antropos, 1991, p. 213.
RICOEUR, Paul. A hermenutica bblica. So Paulo: Loyola, 2006, p. 240-241.
725
SAAVEDRA, Giovani Agostini; SOBOTTKA, Emil Albert. Introduo teoria do reconhecimento de Axel
Honneth. In Civitas Revista de Cincias Sociais, vol. 8, n. 1, janeiro-abril de 2008. Disponvel em:
<http://redalyc.uaemex.mx/pdf/742/74211531002.pdf>. Acesso em: 05 jun. 2011, p. 1.
726
Ibidem, p. 1.
724
190
geliano de luta por reconhecimento727. Nesse sentido, uma teoria crtica da sociedade deveria
estar voltada em interpret-la a partir da categoria reconhecimento.
Pode-se dizer que a ideia de reconhecimento proposta por Honneth possui uma profunda influncia da filosofia de Hegel. Para tanto, antes de se abordar a teoria do reconhecimento proposta por Honneth, faz-se necessrio traar alguns elementos constitutivos da ideia
de reconhecimento na acepo hegeliana.
Cabe ressaltar que embora possa haver certa contradio entre as propostas tericas
anteriores (partindo de Dussel e Reyes Mate) e a filosofia de Hegel j que autores como
Dussel elaboram sua filosofia a partir de uma crtica principalmente ao modelo hegeliano a
proposta nesta breve exposio agregar a teoria de reconhecimento como fator importante
em termos de direitos dos povos. No obstante a filosofia de Hegel seja conhecida por seu
vis eurocntrico e linear, as suas ideias fundadas em termos de liberdade e reconhecimento
podem contribuir para uma fundamentao dos direitos dos povos, sobretudo considerando
que as filosofias realizadas, emanadas de uma certa circunstncia, dos problemas de uma certa
realidade, podem de alguma forma servir soluo dos problemas de outra realidade e dar
luzes sobre a mesma, ainda que as solues que ofeream no seja necessariamente as mesmas. Tomar, selecionar, eleger esta ou aquela soluo filosfica para ajudar a resolver a prpria no implica renunciar a esta forma de originalidade que a Europa nos tem ensinado 728.
Para tanto, tendo conscincia das peculiaridades da filosofia hegeliana, buscamos agregar a
teoria do reconhecimento como base de um direito dos povos.
Joaquim Carlos Salgado729, tecendo consideraes a respeito da temtica relativa ao
reconhecimento, assevera que o trao caracterstico do ser humano o pensar. Pelo pensar o
homem se diferencia substancialmente de todos os outros seres. O homem, diferentemente do
animal, capaz de se conhecer como indivduo, particular. Um homem enquanto individualidade. Esse sujeito que somente pode ser ele mesmo, sujeito irrepetvel, dotado de uma conscincia de si. E na conscincia de si que ele se eleva condio de sujeito, esse sujeito que
sabe que s pode ser ele mesmo, sujeito irrepetvel como em si e para si, pelo reconhecimento
do outro, o qual, pela mesma forma, sujeito, individualidade para si, que o reconhece 730. Na
acepo de Hegel, a conscincia-de-si s alcana sua satisfao em uma outra conscincia-
727
Ibidem, p. 1.
ZEA, Leopoldo, op. cit., p. 29.
729
SALGADO, Joaquim Carlos. A idia de justia em Hegel. So Paulo: Loyola, 1996, p. 245.
730
Ibidem, p. 247.
728
191
de-si731; ainda na descrio do filsofo alemo, a conscincia-de-si em si e para si quando
e por que em si e para si para uma Outra; quer dizer, s como algo reconhecido732.
Nesse sentido, como individualidade que o homem se conhece e pretende ser. E para
s-lo como tal necessrio o reconhecimento do outro; no reconhecimento, ele sabe ser nico
ao mesmo tempo que igual. Nessa dialtica do ser nico e ao mesmo tempo igual est a possibilidade de uma sociedade de seres iguais, mas livres, individualizados, sujeitos. Pelo reconhecimento como indivduo revela-se a socialidade do homem. Com efeito, Hegel acompanhar os passos do indivduo livre na histria para a construo de uma nova ordem social: a
sociedade racional do indivduo livre, pelo reconhecimento733.
Na obra Fenomenologia do Esprito, Hegel ir descrever o processo de formao do
homem livre, no s apenas por um processo abstrato do conhecer, mas concretamente nas
relaes que os homens travam entre si no curso da histria. Para ele, o processo de formao
do homem livre tem o seu momento de maior significao na luta pelo reconhecimento, vale
dizer, pela afirmao da liberdade da individualidade do homem na relao com o outro, precisamente na figura da relao de trabalho travada entre o senhor e o escravo. Contudo, esta
dialtica da relao senhor-escravo no deve ser vista como algo restrito a um perodo histrico, mas como uma explicitao radical de toda relao de dominao entre seres livres, risco
decorrente do prprio fato da liberdade; para tanto, explicitao radical da realidade revelada na ideia de liberdade734.
Esta ideia de liberdade ao mesmo tempo o vrus deletrio das estruturas de dominao e o germe vital da plena reconciliao do Esprito consigo mesmo numa organizao poltica de liberdade. A afirmao dessa liberdade ou o seu reconhecimento, primeiro como liberdade do sujeito, depois como liberdade de todos na unidade da substncia e do sujeito, cujo
saber a demonstrao da necessidade histrico-dialtica do reconhecimento universal, o
que mostra o discurso da Fenomenologia na matria da histria735.
Em sntese, portanto, a descrio de Hegel sobre o processo do reconhecimento (em
correlao com a dialtica do senhor e do escravo, narrada pelo filsofo), somente como
conscincia de si para outra conscincia de si, na medida em que eu e objeto ao mesmo tempo, ela Esprito cuja dialtica comea pela ciso da luta de morte e da desigualdade do se731
HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Fenomenologia do esprito. 3 ed. So Paulo: Vozes, 2005, p. 141.
Ibidem, p. 142.
733
SALGADO, Joaquim Carlos, op. cit., p. 247.
734
Ibidem, p. 249.
735
Ibidem, p. 250.
732
192
nhor e do escravo, ciso decorrente do fato de reivindicar a conscincia de si, isoladamente, a
absoluta universalidade e reconhecimento, at o advento do ns ou do momento em que a
conscincia um eu e um ns. Esse momento luminoso s ser realizado quando a conscincia de si reconhecer a outra conscincia de si como tal, ou seja, conhecendo-se como livre,
como para si, conhea a outra como tambm livre e para si, como igual. O processo de reconhecimento exatamente essa conquista da igualdade das conscincias de si, como para si,
em que o eu se conhece em primeiro lugar nele mesmo e, em segundo lugar, se conhece no
outro, ou se v tambm no outro (num duplo conhecimento), por que igual736. Em resumo,
seriam estas as linhas gerais da concepo de reconhecimento em Hegel.
No tocante linha adotada por Honneth, cabe salientar que em sua obra, Luta por reconhecimento, Honneth apresenta pela primeira vez sua teoria de forma sistemtica 737. Na
obra citada, o autor desenvolve o que se denomina de conceito negativo do reconhecimento.
Por negativo significa dizer que Honneth no pretende definir o que significa reconhecimento,
mas pretende, a partir das chamadas experincias de desrespeito, comprovar de forma dialtica a importncia e a necessidade das relaes de reconhecimento738. Honneth diferencia trs
esferas de reconhecimento e trs formas de desrespeito, sendo que cada forma de reconhecimento corresponde respectiva forma de desrespeito. Na forma de reconhecimento do amor,
temos a violao como desrespeito; na forma de reconhecimento do direito, temos a privao
de direitos como desrespeito e, por fim, forma de reconhecimento da solidariedade, temos a
degradao como forma de desrespeito739. Cabe destacar que estas formas de reconhecimento
e seu respectivo desrespeito seriam, em um primeiro momento, consideradas como fonte de
conflitos sociais, os quais por sua vez seriam ligados a processos histricos de aprendizagem,
em que o objetivo principal seria a ampliao horizontal das relaes de reconhecimento740.
Elaborando uma explicitao da estrutura da teoria do reconhecimento de Honneth,
pode-se dizer que os primeiros passos de seu construto terico remetem categoria de dependncia absoluta, de Winnicot. Esta categoria corresponde primeira fase do desenvolvimento
736
Ibidem, p. 253.
SAAVEDRA, Giovani Agostini. Reificao versus reconhecimento sobre a dimenso antropolgica da
teoria
de
Axel
Honneth.
Disponvel
em:
<http://www.editoraufjf.com.br/revista/index.php/TeoriaeCultura/article/viewFile/1107/911>. Acesso em: 07
jun. 2011, p. 27.
738
Ibidem, p. 27.
739
Aprofundaremos a anlise das experincias de desrespeito posteriormente.
740
SAAVEDRA, Giovani Agostini. Reificao versus reconhecimento sobre a dimenso antropolgica da
teoria de Axel Honneth, op. cit., p. 27.
737
193
infantil, na qual a me e o beb se encontram em estado de relao simbitica741, ou seja, de
dependncia recproca, uma vida em comum estreitamente ligada. Assim, a carncia e a dependncia total da criana, bem como o direcionamento completo da ateno da me para a
satisfao das necessidades do beb fazem com que entre eles no exista nenhuma espcie de
individualidade, e ambos se sintam como unidade742. Aos poucos, com o retorno gradativo s
tarefas dirias, este estado de dependncia absoluta vai se dissolvendo, por um processo de
ampliao da independncia de ambos, porquanto com a volta s atividades dirias, a me no
est mais em condies de satisfazer as carncias da criana imediatamente743.
Com mdia de 6 anos de idade, a criana precisa se acostumar com a ausncia da me.
Esta situao estimula na criana o desenvolvimento de capacidades que a tornam capaz de se
diferenciar do seu ambiente744. Ela sai do estado de absoluta dependncia porque a prpria
dependncia em relao me entra em seu campo de viso, de modo que ela agora aprende a
referir seus impulsos pessoais, propositadamente, a certos aspectos da assistncia materna745.
Nesse sentido, a criana sai do estgio de dependncia absoluta e passa para o estgio de dependncia relativa, em que a criana reconhece a me no mais como parte de seu mundo,
mas como objeto com direito prprio746.
A criana pequena capaz de resolver esta tarefa de reconhecimento na medida em
que seu ambiente social lhe permite a aplicao de dois mecanismos psquicos que servem em
comum elaborao afetiva da nova experincia: o primeiro mecanismo tratado por Winnicot como destruio e o segundo tratado como fenmenos transicionais747. O primeiro
mecanismo interpretado por Honneth a partir dos estudos de Jessica Benjamin. Esta autora
constata que os fenmenos de expresso agressiva da criana nesta fase acontecem em uma
forma de luta, que ajuda a criana a reconhecer a me como um ser independente com reivindicaes prprias748. Por outro lado, a me precisa aprender a aceitar o processo de amadurecimento que o beb est passando. Assim, a partir desta experincia de reconhecimento recproco, os dois comeam a vivenciar tambm uma experincia de amor recproco sem regredir
741
SAAVEDRA, Giovani Agostini; SOBOTTKA, Emil Albert. Introduo teoria do reconhecimento de Axel
Honneth, op. cit., p. 10.
742
Ibidem, p. 10.
743
Ibidem, p. 10.
744
Ibidem, p. 10.
745
HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento. So Paulo: Ed. 34, 2003, p. 167.
746
SAAVEDRA, Giovani Agostini; SOBOTTKA, Emil Albert. Introduo teoria do reconhecimento de Axel
Honneth, op. cit., p. 10.
747
HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento, op. cit., p. 168.
748
SAAVEDRA, Giovani Agostini; SOBOTTKA, Emil Albert. Introduo teoria do reconhecimento de Axel
Honneth, op. cit., p. 10.
194
ao estado simbitico. Contudo, a criana somente estar em condies de desenvolver o segundo mecanismo se ela tiver desenvolvido com o primeiro uma experincia elementar de
confiana na dedicao da me749.
Assim, com base nos estudos de Winnicot, Honneth esboa os princpios fundamentais
do primeiro nvel de reconhecimento: o amor. Quando a criana experimenta a confiana no
cuidado paciencioso e duradouro da me, ela passa a estar em condies de desenvolver uma
relao positiva consigo mesma750. Honneth denomina esta nova capacidade da criana de
autoconfiana; com esta capacidade, ela estar em condies de desenvolver a sua personalidade; inclusive esta capacidade de autoconfiana seria a base das relaes sociais entre adultos751. O nvel do reconhecimento do amor seria o ncleo fundamental de toda moralidade.
Com efeito, este tipo de reconhecimento seria responsvel no somente pelo desenvolvimento
do auto-respeito, mas tambm pela base de autonomia necessria para a participao na vida
pblica752.
Na esfera de reconhecimento do direito, a argumentao desenvolvida por Honneth
consiste em apresentar o surgimento do direito moderno em uma perspectiva histrica, o que
possibilita encontrar uma nova forma de reconhecimento. Giovani Saavedra e Emil Sobottka
referem que o autor pretende demonstrar que o tipo de reconhecimento das sociedades tradicionais seria aquele estabelecido na idia de status. Ou seja, em sociedades desse tipo, um
sujeito somente conseguiria obter reconhecimento jurdico quando ele reconhecido como
membro da comunidade e apenas em funo de sua posio ocupante nesta sociedade753. Na
transio para a modernidade, no entanto, h uma espcie de mudana estrutural na base da
sociedade, o que corresponderia tambm a uma mudana estrutural nas relaes de reconhecimento: no seria mais permitido atribuir excees e privilgios s pessoas em funo de seu
status; ao contrrio, o sistema jurdico deve combater estes privilgios e excees, devendo o
direito ser geral e suficiente para levar em considerao todos os interesses de todos os participantes da comunidade. Com efeito, com base nesta constatao, a anlise do direito desenvolvido por Honneth explicita uma nova forma de reconhecimento jurdico que surge com a
modernidade754.
749
Ibidem, p. 10.
Ibidem, p. 11.
751
Ibidem, p. 11.
752
Ibidem, p. 11.
753
Ibidem, p. 11.
754
Ibidem, p. 11.
750
195
Para Honneth, os sujeitos de direito necessitam estar em condies de autonomia, a
fim de decidir racionalmente sobre questes morais755. Nesse sentido, o autor desenvolve seu
segundo nvel de reconhecimento a partir da tradio dos direitos fundamentais liberais e do
direito subjetivo. Com base nestes aspectos, a luta por reconhecimento vista como uma
presso, sob a qual permanentemente novas condies para a participao na formao pblica vem tona. O autor, influenciado pelos estudos de T. H. Marshall, vem mostrar que a histria do direito moderno deve ser reconstruda como um processo direcionado ampliao
dos direitos fundamentais756.
Para ele, os atores sociais somente conseguem desenvolver a conscincia de que eles
so pessoas de direito no momento em que surge historicamente uma forma de proteo jurdica contra a invaso da esfera da liberdade, que proteja a chance de participao na formao
pblica da vontade e que garanta um mnimo de bens materiais para a sobrevivncia 757. Honneth sustenta que as trs esferas dos direitos fundamentais, com suas respectivas diferenas
histricas, so o fundamento da forma de reconhecimento do direito. Por conseqncia, reconhecer-se reciprocamente como pessoas jurdicas significaria hoje muito mais do que no incio do desenvolvimento do direito: a forma de reconhecimento do direito contemplaria no s
as capacidades abstratas de orientao moral, mas tambm as capacidades concretas necessrias para a existncia digna; ou seja, a esfera do reconhecimento jurdico criaria as condies
que permitem ao sujeito desenvolver auto-respeito758.
Na esfera de reconhecimento da solidariedade ou comunidade de valores, desenvolvese o que Giovani Saavedra e Emil Sobottka consideram um tipo normativo ao qual correspondem as diversas formas prticas de auto-relao valorativa; diferentemente do caso da forma
de reconhecimento do direito, em que so postas em relevo as propriedades gerais do ser humano, no caso da valorao social so postas em destaque as propriedades que tornam o indivduo diferente dos demais, ou seja, as propriedades de sua singularidade759. Para o direito, a
pergunta ser: como a propriedade constitutiva das pessoas de direito deve ser definida? No
caso do juzo de valor a questo : como se pode desenvolver um sistema de valor que est
em condies de medir o valor das propriedades caractersticas de cada pessoa760.
755
Ibidem, p. 12.
Ibidem, p. 12.
757
Ibidem, p. 12.
758
Ibidem, p. 12.
759
Ibidem, p. 12.
760
Ibidem, p. 12.
756
196
Nesse sentido, Honneth procura mostrar que com a transio da sociedade tradicional
para a sociedade moderna surge um tipo de individualizao que no pode ser negado. A terceira esfera do reconhecimento deveria ser vista como um meio social a partir do qual as propriedades diferenciais dos seres humanos venham tona de forma genrica, vinculativa e intersubjetiva761. Como no caso das relaes jurdicas, Honneth analisa a transio da sociedade
de tipo tradicional para a moderna como uma espcie de mudana estrutural desta terceira
esfera do reconhecimento: assim que a tradio hierrquica de valorao social, progressivamente, vai sendo dissolvida, as formas individuais de desempenho comeam a ser reconhecidas. O autor parte do princpio de que uma pessoa desenvolve a capacidade de sentir-se valorizada somente quando as suas capacidades individuais no so mais avaliadas de forma coletivista. Disso resulta que uma abertura do horizonte valorativo de uma sociedade s variadas
formas de auto-realizao pessoal somente se d com a transio para a modernidade762.
Porm, em funo dessa mudana estrutural existe no centro da vida moderna uma
permanente tenso, um permanente processo de luta, porque nesta nova forma de organizao
social h, de um lado, uma busca individual por diversas formas de auto-realizao e, de outro, a busca de um sistema de avaliao social763. Essa espcie de tenso social que oscila entre a ampliao de um pluralismo valorativo que permita o desenvolvimento da concepo
individual de vida boa e a definio de um pano de fundo moral que sirva de ponto de referncia para a avaliao social da moralidade faz da sociedade moderna uma espcie de arena,
na qual se desenvolve permanentemente uma luta por reconhecimento764: os diversos grupos
sociais necessitam desenvolver sua capacidade de influenciar a vida pblica a fim de que sua
concepo de vida boa encontre reconhecimento social e passe, ento, a fazer parte do sistema
de referncia moral que constitui a autocompreenso cultural e moral da comunidade em que
esto inseridos765.
Alm disso, como referem Giovani Saavedra e Emil Sobottka, com o processo de individualizao das formas de reconhecimento surge nesta esfera de reconhecimento a possibilidade de um tipo especfico de auto-relao: a autoestima. A solidariedade na sociedade moderna est vinculada condio de relaes sociais simtricas de estima entre indivduos autnomos e possibilidade de os indivduos desenvolverem a sua auto-realizao. Simetria
761
Ibidem, p. 13.
Ibidem, p. 13.
763
Ibidem, p. 13.
764
Ibidem, p. 13.
765
Ibidem, p. 14.
762
197
aqui significaria que os atores sociais adquirem a possibilidade de vivenciarem o reconhecimento de suas capacidades numa sociedade no-coletivista766.
Como referido anteriormente, medida que Honneth desenvolve as trs esferas do reconhecimento (amor, direito ou igualdade jurdica e solidariedade, valorizao social ou princpio do xito), o autor distingue trs formas de desrespeito, as quais seriam as fontes de conflito social767: a) maus tratos, violao e constrangimento; b) privao de direitos e excluso e
c) degradao.
Honneth adverte que estas formas de desrespeito ou de reconhecimento recusado,
como refere o autor designam um comportamento que no representa uma injustia s porque ele estorva os sujeitos em sua liberdade de ao ou lhes inflige danos; alm disso, visa-se
quele aspecto de um comportamento lesivo pelo qual as pessoas so feridas numa compreenso positiva de si mesmas, que elas adquiriram de maneira intersubjetiva768. Tambm acrescenta a existncia de um nexo indissolvel entre a incolumidade e a integridade dos seres humanos e o assentimento por parte do outro. Seria a partir do entrelaamento interno de individualizao e reconhecimento, esclarecido por Hegel e Mead, que resulta a vulnerabilidade
particular dos seres humanos, identificada com o conceito de desrespeito: visto que a autoimagem normativa de cada ser humano depende da possibilidade de um resseguro constante
no outro, vai de par com a experincia de desrespeito o perigo de uma leso, capaz de desmoronar a identidade da pessoa inteira769.
Especificamente com relao primeira forma de desrespeito maus-tratos, violao
ou constrangimento, Honneth assevera que se trata de um tipo de desrespeito que toca a camada da integridade corporal de uma pessoa: seriam aquelas formas de maus-tratos prticos,
em que so tiradas violentamente de um ser humano todas as possibilidades de livre disposio sobre seu corpo, representando a espcie mais elementar de rebaixamento pessoal 770. A
razo disso seria que toda tentativa de se apoderar do corpo de uma pessoa, empreendida contra a sua vontade e com qualquer inteno que seja, provocaria um grau de humilhao que
interferiria destrutivamente na autorrelao prtica de um ser humano, com mais profundidade do que outras formas de desrespeito; pois a particularidade dos modos de leso fsica, co766
Ibidem, p. 14.
SAAVEDRA, Giovani Agostini. Criminologia do reconhecimento: linhas fundamentais de um novo paradigma criminolgico. In GAUER, Ruth Maria Chitt (Org.). Criminologia e sistemas jurdico-penais contemporneos
II.
Porto
Alegre:
Edipucrs,
2010.
Disponvel
em:
<http://www.pucrs.br/edipucrs/Crimin.eSist.Jurid.PenaisContemp.II.pdf>. Acesso em: 07 jun. 2011, p. 98.
768
HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento, op. cit., p. 213.
769
Ibidem, p. 213-214.
770
Ibidem, p. 215.
767
198
mo ocorre na tortura ou na violao, no constituda pela dor puramente corporal, mas por
sua ligao com o sentimento de estar sujeito vontade de um outro, sem proteo, chegando
perda do senso de realidade771.
Os maus-tratos fsicos de um sujeito representariam um tipo de desrespeito que fere
duradouramente a confiana, aprendida atravs do amor, na capacidade de coordenao autnoma do prprio corpo; da a conseqncia ser tambm, com efeito, uma perda de confiana
em si e no mundo, que se estenderia at as camadas corporais do relacionamento prtico com
outros sujeitos772. Para tanto, o que seria aqui subtrado da pessoa pelo desrespeito em termos
de reconhecimento seria o respeito natural por aquela disposio autnoma sobre o prprio
corpo que, por seu turno, foi adquirida primeiramente na socializao mediante a experincia
da dedicao emotiva; a integrao bem-sucedida das qualidades corporais e psquicas do
comportamento depois como que arrebentada de fora, destruindo assim, com efeitos duradouros, a forma mais elementar de autorrelao prtica: a confiana em si mesmo773. Esta
primeira forma de desrespeito est, portanto, inscrita nas experincias de maus-tratos corporais que destroem a autoconfiana elementar de uma pessoa774.
Na segunda forma de desrespeito ou experincias de rebaixamento que afetam seu
autorrespeito moral, qual seja, a privao de direitos, trata-se de uma experincia de desrespeito infligida a um sujeito pelo fato de ele permanecer estruturalmente excludo da posse de
determinados direitos no interior de uma sociedade775. Por direitos, o autor entende como
aquelas pretenses individuais com cuja satisfao social uma pessoa pode contar de maneira
legtima, j que ela, como membro de igual valor em uma coletividade, participa em p de
igualdade de sua ordem institucional; se agora lhe so denegados certos direitos dessa espcie,
ento estaria implicitamente associada a isso a afirmao de que no lhe concedida imputabilidade moral na mesma medida que aos outros membros da sociedade776.
Por isso, de acordo com Honneth, a particularidade nas formas de desrespeito, como as
existentes na privao de direitos ou na excluso social, no representaria somente a limitao
violenta da autonomia pessoal, mas tambm sua associao com o sentimento de no possuir
o status de um parceiro da interao com igual valor, moralmente em p de igualdade; para o
indivduo, a denegao de pretenses jurdicas socialmente vigentes significaria ser lesado na
771
Ibidem, p. 215.
Ibidem, p. 215.
773
Ibidem, p. 215.
774
Ibidem, p. 216.
775
Ibidem, p. 216.
776
Ibidem, p. 216.
772
199
expectativa intersubjetiva de ser reconhecido como sujeito capaz de formar juzo moral; nesse
sentido, iria de par com a experincia da privao de direitos uma perda de auto-respeito, ou
seja, uma perda da capacidade de se referir a si mesmo como parceiro em p de igualdade na
interao com todos os prximos; para tanto, o que se subtrai aqui da pessoa pelo desrespeito
em termos de reconhecimento seria o respeito cognitivo de uma imputabilidade moral que,
por seu turno, teria de ser adquirida a custo em processos de interao socializadora777.
Contudo, Honneth adverte que essa forma de desrespeito representaria uma grandeza
historicamente varivel, visto que o contedo semntico do que considerado como uma pessoa moralmente imputvel tem se alterado com o desenvolvimento das relaes jurdicas; por
isso, a experincia da privao de direitos se mediria no somente pelo grau de universalizao, mas tambm pelo alcance material dos direitos institucionalmente garantidos. Esse segundo tipo de desrespeito, portanto, lesaria uma pessoa nas possibilidades de seu autorrespeito778.
Por fim, como terceira forma de desrespeito, tem-se a degradao. Honneth destaca
que este tipo de rebaixamento se refere negativamente ao valor social de indivduos ou grupos; em verdade seria somente com essas formas, de certo modo valorativas, de desrespeito,
de depreciao de modos de vida individuais ou coletivos, que se alcanaria a forma de comportamento que se designaria hoje em termos como ofensa e degradao779. A honra, a
dignidade ou status de uma pessoa referir-se-ia medida de estima social que concedida
sua maneira de autorrealizao no horizonte da tradio cultural; se agora essa hierarquia de
valores se constitui de modo que ela degrada algumas formas de vida ou modos de crena,
considerando-as de menor valor ou deficientes, ela tiraria dos sujeitos atingidos toda a possibilidade de atribuir um valor social s suas prprias capacidades780.
Ademais, a degradao valorativa de determinados padres de autorrealizao teria para seus portadores a conseqncia de eles no poderem se referir conduo de sua vida como a algo a que caberia um significado positivo no interior de uma coletividade; por isso, para
o indivduo, iria de par com a experincia de uma tal desvalorizao social, uma perda da autoestima social, ou seja, uma perda de possibilidade de se entender a si prprio como um ser
estimado por suas propriedades e capacidades caractersticas. Para tanto, o que aqui seria subtrado da pessoa pelo desrespeito em termos de reconhecimento seria o assentimento social a
777
Ibidem, p. 217.
Ibidem, p. 217.
779
Ibidem, p. 217.
780
Ibidem, p. 217.
778
200
uma forma de autorrealizao que ela encontrou arduamente com o encorajamento baseado
em solidariedades de grupos781.
No entanto, para Honneth, um sujeito somente poderia se referir a essas espcies de
degradao cultural a si mesmo, como pessoa individual, na medida em que os padres institucionalmente ancorados de estima social se individualizariam historicamente, isto , na medida em que se referem de forma valorativa s capacidades individuais, em vez de propriedades coletivas; da essa experincia de desrespeito estar inserida tambm, como a da privao
de direitos, num processo de modificaes histricas782.
Honneth descreve que seria tpico destes trs grupos de experincias de desrespeito o
fato de suas conseqncias individuais serem sempre descritas com metforas que se referem
a estados de abatimento do corpo humano. Nos casos de tortura e violao, corresponderia a
morte psquica; nos casos de privao de direitos e de excluso social, corresponderia a
morte social; e no caso da degradao cultural de uma forma de vida, corresponderia a categoria de vexao783.
Com base nestas aluses metafricas dor fsica e morte, Honneth expressa que corresponderia s diversas formas de desrespeito pela integridade psquica do ser humano o
mesmo papel negativo que as enfermidades orgnicas assumem no corpo humano: com a experincia do rebaixamento e da humilhao social, os seres humanos seriam ameaados em
sua identidade da mesma maneira que o so em sua vida fsica com o sofrimento de doenas784. Tambm a experincia de desrespeito estaria sempre acompanhada de sentimentos
afetivos que em princpio podem revelar ao indivduo que determinadas formas de reconhecimento lhe so socialmente denegadas785.
Por fim, Honneth sustenta que pelo fato de os sujeitos humanos no poderem reagir de
modo emocionalmente neutro s ofensas sociais, representadas pelos maus-tratos fsicos, pela
privao de direitos e pela degradao, os padres normativos do reconhecimento recproco
teriam uma certa possibilidade de realizao no interior do mundo da vida social em geral,
pois toda reao emocional negativa que vai de par com a experincia de um desrespeito de
pretenses de reconhecimento conteria novamente em si a possibilidade de que a injustia
781
Ibidem, p. 218.
Ibidem, p. 218.
783
Ibidem, p. 218.
784
Ibidem, p. 219.
785
Ibidem, p. 220.
782
201
infligida ao sujeito se revele em termos cognitivos e se torne o motivo da resistncia poltica786.
A seguir, trataremos do processo de reificao com base no pensamento de Honneth,
cujo contedo, como se ver, est vinculado s formas de desrespeito expostas por este autor,
especialmente a primeira (maus-tratos, violao e constrangimento). Posteriormente, trataremos a respeito da vinculao entre reificao e etnocdio como um sistema de violncia relacionado s formas de desrespeito.
O conceito de reificao expressa, em sua acepo originria, tanto os processos negativos do trabalho diagnosticados a partir da Revoluo Industrial como as experincias histricas que marcaram a Repblica de Weimar, sobretudo as concernentes ao desemprego crescente e de crises econmicas787. Com base nestas experincias, procurou-se mostrar que as
relaes sociais estariam cada vez mais submetidas a uma finalidade calculadora, que a relao dos sujeitos com seu mundo circundante no comportaria mais uma dimenso de trabalho
artesanal, mas seria claramente substituda por uma atitude de disposio meramente instrumental e indiferente cuja conduta calculadora caracterstica atingiria as prprias experincias
mais ntimas dos sujeitos e suas condies de autorrealizao788. Georg Lukcs foi o pensador
que conseguiu, em sua obra Histria e conscincia de classe de 1923, caracterizar esse conceito por meio de uma juno de temas retirados de autores como Karl Marx e Max Weber. A
obra de Lukcs, Reificao e a conscincia do proletariado influenciou a recepo marxista
da teoria weberiana da racionalizao como expresso da reificao social, incluindo expoentes da tradio de pensamento da teoria crtica, dentre os quais Max Horkheimer, Theodor
Adorno e Jrgen Habermas789.
Na obra de Axel Honneth, intitulada Reificao: um estudo de teoria do reconhecimento, o autor procura fazer uma reatualizao do conceito de reificao. Esta reatualizao
consiste na possibilidade de abarcar uma srie de experincias que no estariam limitadas
quelas patologias da sociedade industrial anteriormente diagnosticadas790.
Por sua vez, em artigo publicado com o ttulo Observaes sobre a reificao, Honneth adverte que a reificao no se trataria de uma instrumentalizao das pessoas, j que esta
786
Ibidem, p. 224.
MELO, Rrion. Reificao e reconhecimento: um estudo a partir da teoria crtica da sociedade de Axel
Honneth. Disponvel em: <http://www.cfh.ufsc.br/ethic@/Art%206%20Rurion.pdf>. Acesso em: 06 jun. 2011,
p. 1.
788
Ibidem, p. 232.
789
Ibidem, p. 232.
790
Ibidem, p. 232.
787
202
instrumentalizao significaria tomar outras pessoas como meio para fins puramente individuais; geralmente neste caso, as habilidades especificamente humanas destas pessoas so utilizadas para, com sua ajuda, realizar os propsitos de outrem791.
Diferentemente da instrumentalizao, a reificao pressuporia que ns nem percebamos mais nas outras pessoas as suas caractersticas que as tornam propriamente exemplares
do gnero humano: tratar algum como uma coisa significaria justamente tom-la como
algo despido de quaisquer caractersticas ou habilidades humanas. Honneth adverte que os
casos puros de reificao ocorreriam apenas quando algo que em si no tem caractersticas de
objeto percebido ou tratado como um objeto792. Para tanto, o autor esclarece que se quisermos nos ater ao significado literal, deveremos entender por reificao um atentado contra
pressupostos necessrios de nosso mundo socialmente vivido; nesse ponto surgiria a intimao conceitual para fixar as condies sob as quais um relacionamento entre sujeitos humanos
pode valer como adequado scio-ontologicamente793.
Honneth formula a tese de que na relao do ser humano com seu mundo, o reconhecer sempre antecede o conhecer, de tal modo que a reificao seria uma violao contra esta
ordem de precedncia794. Essa primazia do modo do reconhecer caracteriza o que Honneth
chama de modo existencial do reconhecimento. O autor entende que este modo existencial
deve ser compreendido como uma forma mais fundamental do reconhecimento recproco dos
seres humanos como seres dignos de respeito e igual tratamento jurdico (dimenso antropolgica do reconhecimento). O fenmeno da reificao pode ser compreendido como uma forma de esquecimento do reconhecimento795.
Honneth enfatiza que aquilo que se realiza, que perfaz o seu carter especial, seria o
fato de assumirmos perante o outro uma postura que alcana at a afetividade, postura na qual
podemos reconhecer nele o outro de ns mesmos, o prximo796. Ns s poderamos assumir a
perspectiva do outro depois que previamente reconhecermos no outro uma intencionalidade
que nos familiar, ou seja, sem a experincia de que o outro indivduo seja um prximo/semelhante, ns no estaramos em condies de dot-lo com valores morais que contro791
HONNETH, Axel. Observaes sobre a reificao. In Civitas Revista de Cincias Sociais, vol. 8, Nm. 1,
janeiro-abril
de
2008.
Disponvel
em:
<http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/civitas/article/view/4322>. Acesso em: 05 jun. 2011, p. 70.
792
Ibidem, p. 70.
793
Ibidem, p. 71.
794
Ibidem, p. 71.
795
SAAVEDRA, Giovani Agostini. Criminologia do reconhecimento: linhas fundamentais de um novo paradigma criminolgico, op. cit., p. 95.
796
HONNETH, Axel. Observaes sobre a reificao, op. cit., p. 72.
203
lam ou restringem o nosso agir; assim, primeiramente precisaria ser consumado esse reconhecimento elementar, ou seja, precisaramos tomar parte do outro existencialmente, antes de
podermos aprender a orientar-nos por normas de reconhecimento que nos intimam a determinadas formas de considerao ou de benevolncia797.
No caso da reificao, de acordo com Honneth anulado aquele reconhecimento elementar que geralmente faz com que ns experimentemos cada pessoa existencialmente como
o outro de ns mesmos; no caso, ns concedemos a ele pr-predicativamente uma autorelao que partilharia com a nossa prpria caracterstica de estar voltada emocionalmente
para a realizao dos objetivos pessoais. Se este reconhecimento prvio no se realizar, se no
tomamos mais parte existencialmente no outro, ento ns o tratamos repentinamente apenas
como um objeto inanimado, uma simples coisa798.
Outro aspecto importante na exposio de Honneth sobre a reificao reside no fato de
que o maior desafio para a tentativa de reabilitar a categoria de reificao consistiria na dificuldade de explicar a condio de possibilidade desta supresso do reconhecimento elementar. Nesse sentido, Honneth reporta-se Lukcs, para afirmar que o processo de reificao
concebe uma determinada forma de prxis contnua, exercida rotineiramente, como causa
social da reificao799, do esquecimento do reconhecimento. A concluso do autor expe uma
tentativa de uma etiologia social da reificao: nesse caso, sujeitos podem esquecer ou aprender a negar posteriormente aquela forma elementar de reconhecimento que em geral eles
manifestam a toda pessoa se eles participam continuamente numa forma de prxis altamente
unilateral, que torna necessria a abstrao das caractersticas qualitativas de pessoas humanas800.
No caso, Honneth busca exemplificar com os atos de guerra, em que se autonomizam
a tal ponto (perseguio de um nico objetivo) que pode se levar eliminao de todas as
referncias ao mundo que lhe haviam antecedido. No caso, a finalidade da destruio do adversrio se autonimiza a tal ponto, que mesmo na percepo de pessoas no participantes (crianas, mulheres) gradativamente se perde toda ateno para suas caractersticas humanas; no
final, todos os membros dos grupos que presuntivamente so atribudos ao inimigo so considerados apenas como objetos inanimados, coisificados, face aos quais a morte ou a violao
797
Ibidem, p. 73.
Ibidem, p. 75.
799
Ibidem, p. 75.
800
Ibidem, p. 75.
798
204
seriam justificadas sem dificuldade801. Neste caso, para o autor, pareceria ter sido apagado
qualquer trao de ressonncia existencial, a tal ponto que no se poderia falar simplesmente
de indiferena ou dio emocional, mas sim de reificao.
Contudo, Honneth adverte que nem toda forma de prxis na qual a observao de pessoas tornou-se o nico objetivo (autonomizao) leva necessariamente a sua reificao, pois a
observao pode estar a servio da percepo das caractersticas especificamente humanas.
Como exemplo, o autor cita o caso de um psiclogo de desenvolvimento que observa o comportamento de um beb e coleta dados empricos para ampliar nosso conhecimento sobre a
maturao de determinadas habilidades que se tornam acessveis to somente na postura primria do reconhecimento; por outro lado, o soldado que observa um campo inimigo, e que
estaria interessado em informaes sobre onde possam surgir perigos ou empecilhos para seu
objetivo da destruio militar do adversrio, nesse caso, a autonomizao do objetivo da observao poderia levar a um esquecimento daquele reconhecimento elementar que originalmente havia sido concedido a toda pessoa802.
Neste ltimo caso, o objetivo de simplesmente obter dados para o afastamento do perigo poderia levar a que qualidades pessoais inicialmente percebidas no adversrio possam
posteriormente ser novamente esquecidas. O autor sugere que a autonomizao de todas
aquelas prticas poderia levar a uma reificao intersubjetiva, cuja execuo bem-sucedida
exige uma desconsiderao de todas as caractersticas humanas do prximo803. No entanto,
no seria a consecuo de uma prxis em si, mas sim a sua rotinizao e habitualizao que
poderiam levar a esquecer no final todo o reconhecimento original e a tratar o outro realmente apenas como um simples objeto. Para tanto, seria necessria uma rotina naturalizada,
pois apenas este tipo de habitualizao possuiria a fora para neutralizar posteriormente a postura antes assumida de reconhecimento804. Conjuntamente com este aspecto, Honneth enfatiza
novamente que no caso da reificao, o outro no apenas imaginado como um simples objeto, mas perde-se efetivamente a percepo de que ele seja um ser com caractersticas humanas805.
Elaborando uma relao com o processo de reificao, pode-se dizer que o etnocdio,
igualmente ao genocdio, parte de um processo de desumanizao da vtima. Primeiramente, a
801
Ibidem, p. 76.
Ibidem, p. 77.
803
Ibidem, p. 77.
804
Ibidem, p. 77.
805
Ibidem, p. 78.
802
205
vtima tratada, pela sua cultura, como um ser no humano, pois no caso a desumanizao
decorre da cultura considerada inferior e objeto de supresso total. A vtima, tambm, para
recuperar sua humanidade, levada a escolher entre a integrao ao um projeto colonialista
de abandono de sua cultura, ou ao perecimento, como a morte ou a destruio fsica. Medidas
como esta foram caractersticas, por exemplo, da conquista da Amrica, em que os indgenas
eram levados a se converter religio do colonizador ou sofrerem violncia fsica.
Para tanto, no caso do etnocdio, o processo de reificao presente, como no genocdio. Porm, contrariamente ao genocdio, onde os seres humanos so privados de sua existncia no mundo, no etnocdio as vtimas podem ser poupadas da morte e destruio caso optem
pela converso s idias propagadas pelo agressor, tornando-se submissas a seu projeto totalizante. Contudo, em ambos os casos subsiste o processo de reificao: no genocdio, a desumanizao decorre da simples existncia da vtima; no etnocdio, a desumanizao decorre
pelo fato da coletividade ter uma cultura especfica, considerada inferior, sendo necessrio o
extermnio desta cultura (pela violncia aos seres humanos) para a expanso de uma forma
nica.
Diante de toda a exposio sobre a relao entre o etnocdio e a reificao, faz-se necessrio abordar sobre a importncia do reconhecimento como prtica tica de preservao da
diversidade humana. Como abordado anteriormente, o processo de reconhecimento se traduz
em uma relao de confiana, no reconhecimento do outro como ser humano, como semelhante.
A capacidade de sofrer com o sofrimento alheio uma capacidade humana normal,
base da socialidade. Infligir dor em corpo alheio, portanto, no pertenceria ao comportamento
normal dos seres humanos. Isso acontece porque nos reconhecemos mutuamente como iguais;
portanto, aprender a ver-se no outro se constitui como parte do ser humano806. No caso do
processo de reificao e do etnocdio, necessrio que o agressor aprenda a no se ver mais
no outro, a no ver mais o seu semelhante como humano, mas como algo que no merece existir (no caso do genocdio) ou que pode existir, desde que se submeta e se integre ao seu
projeto totalizador (etnocdio).
No caso, o reconhecimento combate o fundamento do etnocdio, visto que restabelece
esta relao intersubjetiva, em que o ser humano reconhece-se no outro, igualmente como um
ser dotado de liberdade e necessidades para sua vida. Reconhecimento do outro como um ser
806
SAAVEDRA, Giovani Agostini. Criminologia do reconhecimento: linhas fundamentais de um novo paradigma criminolgico, op. cit., p. 97.
206
humano: este o objetivo e princpio de reproduo da vida e de preservao da diversidade
que inerente condio humana. Nela, manifestamos nossa unidade, enquanto seres humanos. Com base na relao de reconhecimento, medidas de preservao do idioma e valorizao da cultura do grupo, visando a manuteno da sua existncia, podem se constituir como
exemplos de medidas voltadas ao reconhecimento.
Estas so, em linhas gerais, as possveis propostas de fundamento para uma observncia dos direitos humanos dos povos: uma tica libertadora como princpio, visando garantir a
produo, reproduo e desenvolvimento da vida humana (especialmente na sua dimenso
corpreo-cultural); uma justia anamntica que possa valorizar a memria das vtimas (individual e coletiva), para que os eventos violentos do passado no se repitam na histria; e o
reconhecimento como prtica tico-jurdica, valorizando o ser humano, em sua corporalidade,
em detrimento de uma possvel reificao do mesmo. Por certo, estas propostas no visam
limitar e esgotar a questo, mas se mostram como um possvel caminho para uma preveno e
represso ao etnocdio.
207
CONSIDERAES FINAIS
Este breve estudo marca uma iniciativa de se abordar uma temtica pouco explorada
nos estudos jurdicos, ainda mais nos segmentos jurdico-penais e criminolgicos: o etnocdio.
Neste trabalho desenvolvido, buscou-se fundamentar um possvel tratamento jurdico-penal e
criminolgico do tema, colhendo dados e bases tericas principalmente da antropologia e etnologia, que ainda hoje se mostram como as reas mais ricas em informaes sobre esta forma de violncia.
Com efeito, nada mais conveniente do que iniciar a exposio neste breve estudo com
aspectos relativos cultura e identidade cultural (temas iniciais expostos no primeiro captulo). Este foi o primeiro passo para se buscar fundamentar e delinear o que o etnocdio concretamente visa eliminar: a identidade cultural de um grupo humano.
O primeiro captulo marcado por uma perspectiva histrico-antropolgica. As notas
sobre cultura foram realizadas visando introduzir o leitor ao tema, uma vez que a abordagem
da cultura e da identidade cultural foram fatores preponderantes para se iniciar o trabalho.
Neste ponto, buscou-se destacar a identidade cultural (e principalmente a idia de identidade)
dentro de um enfoque informativo para situar a importncia da identidade na formao de
uma cultura.
Aps abordar estes pontos, desenvolveu-se uma explanao sobre o etnocdio nas razes da modernidade, destacando o processo de encobrimento do Outro a partir da conquista da
Amrica. Este acontecimento histrico foi o que efetivamente marcou talvez o maior etnocdio j ocorrido na Histria, pela sua carga de violncia que pretendia converter os indgenas
religio do colonizador. Este ponto do primeiro captulo tambm refere que na conquista da
Amrica, o Outro (o indgena) passou por um processo de encobrimento, sendo-lhe negada
totalmente sua cosmoviso e inclusive seu carter humano. Para tanto, o marco da conquista
da Amrica inaugura uma etapa sem precedentes na Histria, pois marca uma conquista material vinculada a uma conquista espiritual, qual seja, a prtica do etnocdio.
Na terceira fase do primeiro captulo, buscamos elucidar e situar a identidade cultural
e sua ligao com a corporalidade humana. Nesse sentido, pde-se destacar que a identidade
cultural possui uma matriz concreta, corporal, que liga os seres humanos entre si em torno de
uma viso de mundo particular. Para tanto, considerando a identidade vinculada corporali-
208
dade, pde-se esclarecer melhor como o etnocdio opera: no corpo das vtimas, visando o objetivo de um projeto totalizador, de negao da diferena que reproduz a vida humana de um
grupo. Identidade e corporalidade, portanto, so elementos ligados, vinculados, que caracterizam um grupo humano especfico; a relao corporal constitui a identidade de um grupo.
O segundo captulo, na sua perspectiva sociolgica, definiu-se inicialmente a relao
entre o risco social e a homogeneizao (ou a produo da igualdade totalizadora). Produo
de uma sociedade totalmente homognea, que pode eliminar diversas outras comunidades
humanas destaque-se os indgenas, por exemplo um fator de relevncia ao se falar de
risco social. Este foi o propsito da primeira parte do segundo captulo.
J na segunda parte do segundo captulo, esclarecidos alguns pontos essenciais sobre o
risco e a homogeneizao, pretendeu-se nesta parte do estudo proposto delinear algumas consideraes acerca de dois fatores que so muito presentes no etnocdio: o colonialismo e a
violncia. O colonialismo traduz que um povo, para conquistar outro, no apenas atua visando
explorar outro economicamente ou tomar um territrio: o colonialismo pode operar tambm
visando agir nos corpos das vtimas, convertendo-as no modelo de ideal de ser humano projetado pelo colonizador. Nesse sentido, podemos destacar como a conquista da America veio
no somente para extrair as riquezas no novo continente, mas tambm para converter os indgenas ao saber do colonizador. Da mesma forma se destaca a concepo de raa, predominante no sculo XIX, em que se praticava o genocdio e o etnocdio sob justificava da misso
civilizadora das naes europias a todos os cantos do planeta. Com efeito, o ponto referente
ao colonialismo buscou tratar como este fenmeno geralmente est atrelado ao etnocdio.
Na parte relativa privao de direitos e negao da vida humana, o propsito foi de
situar justamente o instrumento de todas as prticas etnocidas: a violncia. Esta opera principalmente negando a vida humana e privando a vtima de seus direitos mais elementares, principalmente a integridade fsica. Pois como j ressaltamos, a prtica do etnocdio no se efetiva
sem a inscrio da violncia no corpo do indivduo, buscando a sua converso ao sistema de
mundo do colonizador (ou agressor). A violncia, portanto, condio sine qua non para a
instaurao do etnocdio.
Nos dois ltimos pontos do segundo captulo, o objetivo principal foi elucidar dois
estados em que geralmente a vtima do etnocdio se encontra: em condio de vulnerabilidade
e de vtima em potencial. A vulnerabilidade resulta do fato de que o grupo humano vitimado
no tem condies de alterar o destino de extermnio ao qual submetido frente ao agressor;
j a condio de vtima em potencial resulta do fato de que determinados grupos humanos
209
geralmente minorias so mais propensas a ser alvo do etnocdio, tendo em vista suas condies de fragilidade dentro de determinado territrio. A vulnerabilidade e a potencialidade de
se tornar vtima podem marcar um grupo humano, passando este a ser alvo da prtica do etnocdio, aliando-se a este fato o elemento risco, sempre presente nestes casos.
O captulo terceiro, por sua dimenso jurdico-filosfica, props-se a determinar inicialmente o histrico e o desenvolvimento do conceito de etnocdio, destacando principalmente
a concepo proveniente da Declarao de San Jos, na qual se definiu expressamente o etnocdio, equiparado-o inclusive ao genocdio enquanto forma de violncia. Aps esta explanao, o tpico seguinte se props a delinear uma comparao entre o etnocdio e determinados
tipos de crimes internacionais, quais sejam, o genocdio, os crimes contra a humanidade e o
apartheid. A comparao com o primeiro (o genocdio) foi de profunda importncia, uma vez
que o etnocdio surge justamente a partir da idia j concebida sobre o genocdio; para tanto,
um paralelo entre ambos os crimes foi algo a ser destacado no estudo. Por sua vez, a comparao entre o etnocdio e os crimes contra a humanidade foi elaborado com o propsito de
evidenciar que tanto neste como naquele, a sua prtica se inscreve no corpo da vtima, por
vezes se efetivando igualmente a partir de uma prtica desumanizadora (desumanizao do
ser humano e de sua cultura). Por ltimo, o destaque realizado entre o etnocdio e o apartheid
foi proposto com o intuito de ilustrar como o etnocdio se efetiva como uma prtica que justamente o inverso do apartheid; se diante deste crime temos um projeto violento de separao
total de grupos humanos, privados dos direitos humanos mais elementares, no etnocdio temos
um projeto de integrao total, mediante a violncia, com o propsito de controle e converso
da populao alvo desta espcie de prtica.
O terceiro ponto do terceiro captulo pretendeu fundamentar-se em torno de aspectos
mais jurdicos, destacando-se a legislao internacional principalmente a partir de determinadas declaraes e convenes e uma provvel fundamentao para o etnocdio no campo
jurdico. Tambm se destaca que, alm da possibilidade de recepo do etnocdio enquanto
crime internacional equiparado ao genocdio, deve-se atentar tambm para a possibilidade de
utilizao de medidas extrapenais, ou seja, polticas de reconhecimento que favoream a manuteno da identidade dos grupos humanos ameaados (como preservao do idioma, da
cultura, territrio, etc).
Por sua vez, no terceiro e ltimo ponto do terceiro captulo tratou-se de buscar fundamentar uma possvel preveno ao etnocdio vinculando-o observncia dos direitos humanos
dos povos, direitos considerados de terceira dimenso. Contudo, para sua efetivao, desta-
210
camos trs pilares que poderiam auxiliar em uma maior fundamentao dos direitos humanos
dos povos, na preveno e represso ao etnocdio: uma tica libertadora, uma justia que valorize a memria e o reconhecimento como prtica tico-jurdica.
No campo relativo tica da libertao, constata-se que esta tica possui uma fundamental importncia quando se quer buscar uma proteo de grupos humanos em se tratando
de direitos dos povos, porquanto a tica da libertao de Dussel prope como preceito basilar
a produo, reproduo e desenvolvimento da vida humana em mbito comunitrio. A tica
da libertao auxilia a fundamentar os preceitos dos direitos dos povos, na medida em que
destaca esta busca de preservao da vida, e no caso do etnocdio, trata-se de uma preservao
da vida humana em seu mbito coletivo, em sua dimenso corpreo-cultural. Cabe ressaltar
que a preservao de uma identidade cultural deve ocorrer a partir deste critrio, preservandose da hiptese de um relativismo cultural.
De igual importncia em termos de fundamentao para os direitos dos povos a fim de
uma preveno ao etnocdio, destacamos uma justia anamntica, ou seja, que valorize a memria do passado violento vivido das vtimas. Neste caso, preservar a memria das experincias de genocdio (e etnocdio) podem auxiliar no sentido de que a barbrie vivenciada no se
repita, ou seja, que estas formas extremas de violao de direitos humanos no voltem a ocorrer.
Por derradeiro, o terceiro pilar para os direitos dos povos seria um projeto de reconhecimento, no sentido de se preservar a dignidade dos grupos humanos vitimados ou ameaados
pelo etnocdio. Uma prtica de cunho tico e jurdico, proporcionando o reconhecimento do
Outro como ser humano, no instrumentalizado, e dotado de seu direito existncia e sua
cultura, responsvel pela reproduo de sua vida.
Com efeito, pode-se concluir que o etnocdio, embora no explorado profundamente
no mbito jurdico, pode ser objeto de maior estudo. No decorrer deste trabalho, buscamos
expor o que caracteriza o etnocdio, como ele atua enquanto forma de violncia e o que ele
visa eliminar.
Portanto, com base em todas estas consideraes sobre o etnocdio, temos a certeza de
que cabe ao agente social, a partir do juzo tico-crtico, constituir um saber jurdico libertador, que seja voltado ao respeito e defesa da existncia fsica e cultural dos grupos humanos em condio de vulnerabilidade. E nesse mbito, a informao essencial. Aqueles que
no se preocupam em saber, bem como aqueles que se abstm de informar so responsveis
211
diante de sua sociedade; ou seja, a funo da informao uma funo social muito significativa807.
guisa de concluso, o presente estudo, em suma, foi abarcado a partir de trs pilares
que ligam o tempo: o passado, o presente e o futuro. Sem eles no seria possvel a concretizao do trabalho.
Por primeiro, entendemos que conhecer o passado e vinculando-o idia de memria, como exposto buscar os fundamentos da histria da conquista, a formao do que hoje
entendemos por Amrica, e de que modo fomos constitudos. O conhecer o passado e question-lo foi um elemento fundamental, buscando as origens, as causas, para entender o hoje.
Segundo, o presente. Os problemas que hoje se enfrenta com a constante ameaa de
extermnio de grupos humanos algo real, presente, que necessita ser combatido. Enfrentar o
presente pensar o sistema-mundo no qual estamos contidos e apresentar propostas para
transformar este presente.
Por fim, o futuro. Na medida em que formamos propostas para mudar o presente, temos o objetivo de construir um futuro, projet-lo como tarefa. Garantir a vida, a existncia
dos seres humanos, notadamente grupos diversos. Uma projeo para o futuro que parte da
nossa reflexo e ao. Para tanto, este estudo, ainda que limitado, se props e se conclui nesta
seguinte ideia: conhecer o passado como necessidade, enfrentar o presente como responsabilidade e projetar o futuro como tarefa808.
807
TODOROV, Tzvetan, op. cit, p. 265.
BOLESO, Hctor Hugo. Memoria, Derecho y Liberacin. Disponvel em:
<http://www.cienciared.com.ar/ra/usr/3/561/n7_v5pp11_20.pdf>. Acesso em: 24 set. 2010, p. 16.
808
212
REFERNCIAS
ABADJIAN, Juan Augusto (Org.). Aproximacin informativa y estudios analticos sobre el
genocdio armnio. Buenos Aires: Centro de estudios e investigaciones Urartu, 2004.
AGAMBEN, Giorgio. Homo sacer o poder soberano e a vida nua I. Belo Horizonte:
UFMG, 2002.
AGUIRRE, Francisco Balln. Manual del Derecho de los Pueblos Indgenas. Doctrina, principios y normas. 2 ed. Lima: Defensoria del Pueblo. Programa de comunidades nativas, 2004.
ALENCAR, Jos Maria; BENATTI, Jos Heder. Os crimes contra etnias e grupos tnicos:
questes sobre o conceito de etnocdio. In Os Direitos Indgenas e a Constituio. Porto Alegre: Fabris, 1993.
ALVES, Paulo Csar (Org.). Cultura mltiplas leituras. Bauru: EDUSC, 2010.
AMBOS, Kai. La Parte General del Derecho Penal Internacional. Montevideo: Fundacin
Konrad-Adenauer, 2005.
__________. A parte geral do direito penal internacional. So Paulo: Revista dos Tribunais,
2008.
ANGEL, Fabio Zuluaga. Oro, evangelio y reino memoria de un etnocidio. Medelln: Prosaico, 1992.
ARENDT, Hannah. Eichmann em Jerusalm um relato sobre a banalidade do mal. So
Paulo: Companhia das Letras, 2006.
_______________. Origens do totalitarismo. So Paulo: Companhia das Letras, 2007.
_______________. Sobre a Violncia. 3 ed. Rio de Janeiro: Relume Dumar, 2001.
BACHLER, Samuel Duran. Derechos humanos y apartheid. Disponvel em:
<http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2649825>. Acesso em: 04 jul. 2011.
BARTOLOM, Miguel Alberto. Los pobladores del desierto Genocidio, etnocidio y etnognesis en la Argentina. Disponvel em: <http://alhim.revues.org/document103.html>. Acesso em: 10 fev. 2011.
BAUMAN, Zygmunt. Globalizao: as conseqncias humanas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,
1999.
_________________. Modernidade e Ambivalncia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999.
_________________. Modernidade Lquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.
213
_________________. Vidas desperdiadas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005.
BECK, Ulrich. Sociedade do risco. So Paulo: Ed. 34, 2010.
___________. O que globalizao? So Paulo: Paz e Terra, 1999.
Biblioteca Salvat de Grandes Temas. Colonialismo e neocolonialismo. Rio de Janeiro: Salvat,
1979.
BONDY, Augusto Salazar. Existe una filosofia de nuestra Amrica? Mxico: Siglo XXI,
1988.
BRASIL. Decreto n 30.822, de 6 de maio de 1952. Promulga a conveno para a preveno
e a represso do crime de Genocdio, concluda em Paris, a 11 de dezembro de 1948, por
ocasio da III Sesso da Assemblia Geral das Naes Unidas. Disponvel em:
<http://www2.mre.gov.br/dai/genocidio.htm>. Acesso em: 31 out. 2010.
BRASIL. Decreto n 4.388, de 25 de setembro de 2002. Disponvel em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4388.htm>. Acesso em: 31 out. 2010.
BRITO, Antnio Jos Guimares. Etnicidade, alteridade e tolerncia. In COLAO, Thais
Luzia (Org.). Elementos de antropologia jurdica. Florianpolis: Conceito, 2008.
BULHAN, Hussein Abdilahi. Frantz Fanon and the psychology of oppression. New York:
Plennum Press, 2010.
CABEZAS LPEZ, Joan Manuel. Racismo y pensamiento moderno: el ejemplo de la invencin de los camitas y de los subsaharianos. Disponvel em:
<http://www.bibgirona.net/salt/activitats/planes/razisme.pdf>. Acesso em: 28 abr. 2011.
CAMPOS, Paula Drumond Rangel. O crime internacional de genocdio: uma anlise da efetividade da Conveno de 1948 no Direito Internacional. Disponvel em:
<http://www.cedin.com.br/revistaeletronica/artigos/O%20CRIME%20INTERNACIONAL%
20DE%20GENOC%CDDIO%20Paula%20Campos.pdf>. Acesso em: 30 jan. 2011.
CANTOR, Renan Vega. Explotacin petrolera y etnocidio en Catatumbo: Los Bar y la consesion Barco. Disponvel em: <http://www.espaciocritico.com/articulos/rev07/n7_a12.htm>.
Acesso em: 14 fev. 2011.
CARVALHO, Lucas Borges de. Direito e barbrie na conquista da Amrica indgena. Disponvel em: <http://www.buscalegis.ufsc.br/arquivos/direito%20e%20barb%E1rie.pdf>. Acesso em: 30 jan. 2010.
CASTELLS, Manuel. O poder da identidade. Lisboa: Fundao Calouste Gulbenkian, 2003.
CASTRO, Edgardo. Vocabulrio de Foucault. Belo Horizonte: Autntica Editora, 2009.
CSAIRE, Aim. Discurso sobre el colonialismo. Madrid: Akal, 2006.
214
CHARNY, Israel W. Toward a generic definition of genocide. In ANDREOPOULOS, George
J. Genocide conceptual and historical dimensions. Philadelphia: University of Pennsylvania
Press, 1997.
CIFUENTES, Jos Emilio Rolando Ordoez. La cuestin tnico nacional e derechos humanos: el etnocidio los problemas de la definicin conceptual. Mxico: Instituto de Investigaciones Jurdicas de la UNAM, 1996.
___________________________________. El aporte doctrinario de la antropologia crtica
latinoamericana y sus premissas scio/jurdicas. Disponvel em:
<http://www.juridicas.unam.mx/sisjur/internac/pdf/10-487s.pdf>. Acesso em: 14 fev. 2011.
CINTRA JNIOR, Dyrceu Aguiar Dias. Judicirio, violncia, genocdio. In Revista Trimestral da FASE, Ano 22, n. 60, maro de 1994.
CLASTRES, Pierre. Arqueologia da Violncia. So Paulo: Cosac & Naify, 2004.
CLAVERO, Bartolom. Delito de Genocidio y Pueblos Indgenas en el Derecho Internacional. Disponvel em: <http://clavero.derechosindigenas.org/?p=109>. Acesso em: 28 abr. 2011.
Comite Hindu del Congresso por la Libertad de la Cultura. El Tibet y el nuevo imperialismo
chino. Mxico: Libro Mex, 1961.
Comit juridique dnqute sur la question du Tibet. Le Tibet et la Rpublique Populaire de
Chine. Comission Internationale de Juristes, 1960.
COMPARATO, Fbio Konder. A Afirmao Histrica dos Direitos Humanos. 5 ed. So Paulo: Saraiva, 2007.
Conveno Internacional sobre a Supresso e Punio do Crime de Apartheid. Disponvel
em: <http://www.oas.org>. Acesso em: 04 jul. 2011.
COX, Maria Ins Pagliarini. A noo de etnocdio: para pensar a questo do silenciamento
das lnguas indgenas no Brasil. Disponvel em:
<http://cpd1.ufmt.br/meel/arquivos/artigos/133.pdf>. Acesso em: 28 abr. 2011.
CRUZ-NETO, Otvio. Extermnio: violentao e banalizao da vida. Disponvel em:
<http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X1994000500015>.
Acesso em: 30 jan. 2011.
CUSTDIO, Helita Barreira. Poluio ambiental e genocdio de grupos indgenas. In Revista
de Direito Civil, imobilirio, agrrio e empresarial. Ano 16, n. 59, Jan/Mar/1992.
CUVILLIER, Armand. Sociologia da cultura. Porto Alegre: Ed. da Universidade de So Paulo, 1975.
DVALOS, Pablo. Ecuador: Ley de etnocidio y genocidio: una batalla perdida? Disponvel
em: <http://www.vidadelacer.org>. Acesso em: 04 mai. 2011.
215
Declaracon de Barbados II. Disponvel em:
<http://www.nativeweb.org/papers/statements/state/barbados2.php>. Acesso em: 14 fev.
2011.
Declaracin de San Jos. Disponvel em:
<http://www.politicaspublicas.cl/iwgia/1982_1.pdf>. Acesso em: 14 fev. 2011.
Declarao dos Princpios de Cooperao Cultural Internacional. Disponvel em:
<http://www.nepp-dh.ufrj.br/onu16-1.html>. Acesso em: 09 jun. 2011.
Declarao sobre raa e os preconceitos raciais. Disponvel em:
<http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/discrimina/dec78.htm>. Acesso em: 28 abr. 2011.
Declarao Universal dos Direitos dos Povos. Disponvel em:
<http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/textos/direitos_povos.html>. Acesso em: 28 abr. 2011.
Declarao Universal dos Direitos Coletivos dos Povos. Disponvel em:
<http://www.ciemen.org/pdf/port.PDF>. Acesso em: 28 abr. 2011.
Declarao Universal dos Direitos Lingusticos. Disponvel em:
<http://www.dhnet.org.br/direitos/deconu/a_pdf/dec_universal_direitos_linguisticos.pdf>.
Acesso em: 28 abr. 2011.
DORNELLES, Joo Ricardo W. O que so direitos humanos. So Paulo: Brasiliense, 2007.
DUSSEL, Enrique. tica da libertao na idade da globalizao e da excluso. Petrpolis:
Vozes, 2007.
_______________. Oito ensaios sobre cultura latino-americana e libertao. So Paulo: Paulinas, 1997.
_______________. Poltica de la liberacin histria mundial y crtica. Madrid: Trotta,
2007.
_______________. Principios, mediaciones y el bien como sintesis (de la etica del discurso a la etica de la liberacin). In Princpios Revista de Filosofia UFRN. Ano V, n. 6,
1998.
_______________. 1492 el encobrimiento del Otro hacia el origen del mito de la modernidad. La Paz: Plural Editores, 1994.
EAGLETON, Terry. A idia de cultura. So Paulo: UNESP, 2005.
ELIAS, Norbert. O Processo Civilizador. Vol. 2. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008.
ESPARZA, Jos Javier. El etnocidio contra los pueblos: Mecnica y consecuencias del neocolonialismo cultural. Disponvel em:
<http://www.paginadigital.com.ar/articulos/2004/2004terc/educacion1/e106068-4pl.asp>.
Acesso em: 28 abr. 2011.
216
ESPINOSA, Mnica. Esse indiscreto asunto de la violencia: modernidad, colonialidad y genocdio en Colombia. Disponvel em:
<http://uniandes.academia.edu/MonicaEspinosaArango/Papers/89243/Ese_indiscreto_asunto_
de_la_violencia_modernidad_colonialidad_y_genocidio_en_Colombia>. Acesso em: 04 mai.
2011.
ESPLUGUES, Jos Sanmartn. Que es violencia? Uma aproximacin al concepto y a la clasificacin de la violencia. Disponvel em: <http://revistas.um.es/daimon/article/view/95881>.
Acesso em: 28 abr. 2011.
Etnocidio. Disponvel em: <http://www.iidh.ed.cr/>. Acesso em: 04 nov. 2010.
FANON, Frantz. Em defesa da revoluo africana. Lisboa: Livraria S da Costa Editora,
1980.
_____________. Los condenados de la tierra. Mxico: Fondo de cultura econmica, 1983.
FERRO, Marc (Org.). O livro negro do colonialismo. Rio de Janeiro: Ediouro, 2004.
FERRO, Marc. Histria das colonizaes das conquistas s independncias sculos XII a
XX. So Paulo: Companhia das Letras, 1996.
FILHO, Carlos Frederico Mars de Souza. A universalidade parcial dos direitos humanos. In
GRUPIONI, Lus Donisete Benzi; VIDAL, Lux; FISCHMANN, Roseli. Povos indgenas e
tolerncia: construindo prticas de respeito e solidariedade. So Paulo: Editora da Universidade de So Paulo, 2001.
FILHO, Robrio Nunes dos Anjos. Minorias e grupos vulnerveis: uma proposta de distino.
In FILHO, Robrio Nunes dos Anjos (Org.). Direitos humanos estudos em homenagem ao
professor Fbio Konder Comparato. Salvador: JusPodivm, 2010.
FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. So Paulo: Forense Universitria, 2005.
_________________. Em defesa da sociedade. So Paulo: Martins Fontes, 2005.
GALKIN, Alexandr A. Genocidio. Moscou: Progreso, 1986.
GARAPON, Antoine. Crimes que no se podem punir nem perdoar. Lisboa: Instituto Piaget,
2002.
GAUER, Ruth M. Chitt. A fundao da norma para alm da racionalidade histrica. Porto Alegre: ediPUCRS, 2009.
GAUER, Ruth Maria Chitt; GAUER, Gabriel Jos Chitt (Org.). A fenomenologia da violncia. Curitiba: Juru, 2008.
GEERTZ, Clifford. A interpretao das culturas. Rio de Janeiro: LTC, 2008.
GIDDENS, Anthony. As conseqncias da modernidade. So Paulo: UNESP, 1991.
217
GIDDENS, Antony; BAUMAN, Zigmunt; LUHMANN, Nicklas; BECK, Ulrich; Las consecuencias perversas de la modernidad modernidad, contingencia y riesgo. Barcelona: Antropos, 1996.
GIL, Alicia Gil. Los crmenes contra la humanidad y el genocidio en el Estatuto de la Corte
penal internacional a la luz de los elementos de los crmenes. In O Direito Penal no estatuto
de Roma: leituras sobre os fundamentos e a aplicabilidade do tribunal penal internacional.
AMBOS, Kai e CARVALHO, Salo de (Org.). Rio de Janeiro: Lmen Jris, 2005.
GIL, Laura Prez. Corporalidade, tica e identidade em dois grupos pano. Disponvel em:
<http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/ilha/article/view/15240>. Acesso em: 09 jun. 2011.
GOUVEIA, Jorge Bacelar. Direito internacional penal uma perspectiva dogmtico-crtica.
Coimbra: Almedina, 2008.
GREEN, Penny; WARD, Tony. State crime governments, violence and corruption. London:
Pluto Press, 2004.
GUIMARES, Byron Seabra. Genocdio. In Repositrio oficial da jurisprudncia do Supremo Tribunal Federal, ano V, n.19, julho a setembro de 1976.
GUTIRREZ, Germn. Vulnerabilidad, corporalidad, sujeto y poltica popular. Disponvel
em: <www.dei-cr.org/uploaded/content/publicacione/1531536690.pdf>. Acesso em: 28 abr.
2011.
HALL, Stuart. A identidade cultural na ps-modernidade. Rio de Janeiro: DPA, 2006.
HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Fenomenologia do esprito. 3 ed. So Paulo: Vozes,
2005.
HEIDEGGER, Martin. Identidade e diferena. Petrpolis: Vozes, 2006.
HINKELAMMERT, Franz. As armas ideolgicas da morte. So Paulo: Paulinas, 1983.
SOTER Sociedade de Teologia e Cincias da Religio (Org.). Corporeidade e Teologia.
So Paulo: Paulinas, 2005.
HINTON, Alexander Laban. Annihilating difference: the anthropology of genocide. Berkeley:
University of California Press, 2002.
HONRIO, Cludia; KROL, Helosa da Silva. A contribuio terica de Franz Hinkelammert ao projeto tico de libertao formulado por Dussel. Disponvel em:
<http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/cejur/article/view/16758>. Acesso em: 28 abr. 2011.
HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento. So Paulo: Ed. 34, 2003.
______________. Observaes sobre a reificao. In Civitas Revista de Cincias Sociais,
vol. 8, Nm. 1, janeiro-abril de 2008. Disponvel em:
<http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/civitas/article/view/4322>. Acesso em: 05
jun. 2011.
218
JAULIN, Robert. El etnocidio atravs de las Amricas. Mxico: Siglo XXI Editores, 1976.
_____________. Ethnocide, Tiers Monde et ethnodveloppement. In Tiers-Monde, anne 1984,
vol. 25, n. 100, p. 913-927. Disponvel em: <http://www.persee.fr>. Acesso em: 04 mai. 2011.
_____________. La Paz Blanca Introducin al etnocdio. Buenos Aires: Tiempo Contemporaneo, 1973.
JUNGES, Mrcia. A memria como antdoto repetio da barbrie. Disponvel em:
<http://www.ihuonline.unisinos.br>. Acesso em: 14 jul. 2010.
KHTSUN, Tubten. Memories of life in Lhasa under chinese rule. New York: Columbia
University Press, 2008.
KOUBI, Genevive. Entre sentimentos e ressentimento: as incertezas de um direito das minorias. In BRESCIANI, Stella; NAXARA, Mrcia. Memria e (res)sentimento indagaes
sobre uma questo sensvel. Campinas: Unicamp, 2001.
KOLYNIAK, Helena Marieta Rath. Identidade e corporeidade: prolegmenos para uma abordagem psicossocial. 2002. 180f. Tese (Doutorado em Psicologia Social) Programa de
Ps-Graduao em Psicologia Social da PUCSP, So Paulo, 2002.
___________________________. Uma abordagem psicossocial de corporeidade e identidade. Disponvel em: <ftp://www.usjt.br/pub/revint/337_43.pdf>. Acesso em: 09 jun. 2011.
KUHN, Tomas. A estrutura das revolues cientficas. So Paulo: Perspectiva, 1998.
LAFER, Celso. A reconstruo dos direitos humanos. 6 ed. So Paulo: Companhia das Letras, 2006.
LAPLAZA, Francisco P. El Delito de Genocidio o Genticidio. Buenos Aires: Aray, 1954.
LARAIA, Roque de Barros. Cultura um conceito antropolgico. 24 ed. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar, 2009.
LARIOS, Eligio Sanchez. El genocidio, crimen contra la humanidad. Mexico: Ediciones Botas, 1966.
LAS CASAS, Bartolom de. O Paraso destrudo. Porto Alegre: L&PM, 1984.
LVI-STRAUSS, Claude. Raa e histria. 10 ed. Lisboa: Presena, 2010.
LOZANO, Bernardo Rengifo. Naturaleza y etnocidio: relaciones de saber e poder en la conquista de Amrica. Bogot: Tercer Mundo Editores, 2007.
LUKUNKA, Barbra. Ethnocide. Disponvel em:
<http://www.massviolence.org/Article?id_article=8>. Acesso em: 04 mai. 2011.
219
MATE, Reyes. En torno a una justicia anamntica. In MARDONES, Jos M.; MATE, Reyes
(Org.). La tica ante las vctimas. Barcelona: Antropos, 2003.
___________. Justicia de las victimas terrorismo, memria, reconciliacin. Barcelona: Antropos, 2008.
___________. La razn de los vencidos. Barcelona: Antropos, 1991.
___________. Memrias de Auschwitz: atualidade e poltica. So Leopoldo: Nova Harmonia,
2005.
___________. Sobre os fundamentos de uma filosofia da memria. In RUIZ, Castor Bartolom (Org.). Justia e memria para uma crtica tica da violncia. So Leopoldo: Editora
Unisinos, 2009.
MELO, Rrion. Reificao e reconhecimento: um estudo a partir da teoria crtica da sociedade de Axel Honneth. Disponvel em:
<http://www.cfh.ufsc.br/ethic@/Art%206%20Rurion.pdf>. Acesso em: 06 jun. 2011.
MENNDEZ, Luis. Guatemala: la persistencia del terror estatal. Disponvel em:
<http://www.herramienta.com.ar/revista-herramienta-n-27/guatemala-la-persistencia-delterror-estatal>. Acesso em: 28 abr. 2011.
METZ, Johann Babtist. Por una cultura de la memoria. Barcelona: Antropos, 1999.
MOLINA, Lucrecia. Glossario Elementos conceptuales y vocabulrio includos em los documentos. Disponvel em:
<http://www.iidh.ed.cr/comunidades/diversidades/docs/div_vocabulario/capiracismo05.pdf>.
Acesso em: 10 fev. 2011.
MONSTERLEET, Jean. El imprio de Mao-Tse-Tung. Madrid: Nacional, 1955.
MONTENEGRO, Miguel. Robert Jaulin and Ethnocide. Disponvel em:
<http://www.miguel-montenegro.com/EthnocideWik.htm>. Acesso em: 14 fev. 2011.
MONTEIRO, Adriana Carneiro; BARRETO, Gley Porto; OLIVEIRA, Isabela Lima de; ANTEBI, Smadar. Minorias tnicas, Lingusticas e Religiosas. Disponvel em:
<http://www.dhnet.org.br/dados/cursos/dh/br/pb/dhparaiba/5/minorias.html>. Acesso em: 22
jul. 2010.
MORIN, Edgar. Cultura e barbrie europias. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2009.
MUOZ-ARRACO, Jos Manuel Prez-Prendes. Sobre los colonialismos consideraciones
acerca de la Declaracin de la ONU, de 14 de diciembre de 1960. Disponvel em:
<http://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/1430>. Acesso em: 04 mai. 2011.
NERSESSIAN, David. Rethinking cultural genocide under international law. Disponvel em:
<http://www.carnegiecouncil.org>. Acesso em: 04 mai. 2011.
NIETZSCHE, Friedrich. A genealogia da moral. So Paulo: Escala, 2007.
220
NIZKOR. Genocidio: un trmino y un concepto nuevos para referirse a la destruccin de
naciones. Disponvel em: <http://www.derechos.org/nizkor/impu/lemkin1.html>. Acesso em:
04 mai. 2011.
NKRUMAH, Kwame. Neocolonialismo ltimo estgio do capitalismo. Rio de Janeiro:
Civilizao Brasileira, 1967.
ODALIA, Nilo. O que violncia? So Paulo: Brasiliense, 2004.
OLIVEIRA, Lcia Maciel Barbosa de. Identidade cultural. Disponvel em:
<http://www.esmpu.gov.br/dicionario/tiki-index.php?page=Identidade%20cultural>. Acesso
em: 28 abr. 2011.
OLIVEIRA, Rosa Maria Rodrigues de. tica da libertao em Enrique Dussel. In WOLKMER, Antonio Carlos (Org.). Direitos humanos e filosofia jurdica na Amrica Latina. Rio de
Janeiro: Lumen Jris, 2004.
O que etnocdio. Disponvel em: <http://karipuna.blogspot.com/2007/04/o-queetnocdio.html>. Acesso em: 04 mai. 2011.
PACHECO, Joice Oliveira. Identidade cultural e alteridade: problematizaes necessrias.
Disponvel em: <http://www.unisc.br/spartacus/edicoes/012007/pacheco_joice_oliveira.pdf>.
Acesso em: 28 abr. 2011.
PACHECO, Rosely Aparecida Stefanes. A violncia contra os povos indgenas: uma estrutura invisvel que impe a fronteira entre a vida e morte. Disponvel em:
<http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/salvador/rosely_aparecida_stefanes_pach
eco.pdf>. Acesso em: 04 mai. 2011.
PAJUELO TEVES, Ramn. El lugar de la utopia. Aportes de Anibal Quijano sobre cultura y
poder. Disponvel em: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/cultura/pajuelo.doc>.
Acesso em: 28 abr. 2011.
PARS POMBO, Mara Dolores. Estudios sobre el racismo en Amrica Latina. Disponvel
em: <http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/267/26701714.pdf>. Acesso em: 04 mai. 2011.
PELEGRINI, Sandra C. A; FUNARI, Pedro Paulo. O que patrimnio cultural imaterial.
So Paulo: Brasiliense, 2008.
PERELMAN, Cham. tica e Direito. So Paulo: Martins Fontes, 2002.
PEREA, Luciano. La Idea de Justicia en la Conquista de Amrica. Madrid: Mapfre, 1992.
PERRAULT, Giles. O Livro Negro do Capitalismo. 4 ed. Rio de Janeiro: Record, 2005.
PERRIG, Sara. El poder se tie de blanco. Una relacin de establecidos y marginados en el
caso del Apartheid. Disponvel em:
<http://www.ides.org.ar/shared/practicasdeoficio/2009_nro4/artic12.pdf>. Acesso em: 04 jul.
2011.
221
PIPAON Y MENGS. Javier Saenz. Delincuencia Politica Internacional. Madrid: Instituto de
Criminologia de la Universidad Complutense de Madrid, 1973.
PIOVESAN, Flvia. Carta africana dos direitos humanos e dos povos. Disponvel em:
http://www.esmpu.gov.br/dicionario/>. Acesso em: 04 mai. 2011.
PRADO, Rafael Clemente Oliveira; BRITO, Antnio Jos Guimares; AMARAL, Jos Janurio de Oliveira. Alm do Genocdio: o Etnocdio do Povo Oro-Win e a frico intertnica nas
cabeceiras do Rio Pacas-Novos: um caso de violao de direitos humanos. In Revista Jurdica da Universidade de Cuiab, v. 8, n. 2, UNIC, jul/dez, 2006.
Projeto de lei de tipificao do delito de etnocdio. Disponvel em:
<http://www.legislaturaqro.gob.mx>. Acesso em: 25 mar. 2011.
QUIJANO, Anbal. Colonialidad del poder y classificacin social. Disponvel em:
<http://cisoupr.net/documents/jwsr-v6n2-quijano.pdf>. Acesso em: 28 abr. 2011.
_______________. Colonialidade do poder, eurocentrismo e Amrica Latina. Disponvel em:
<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/lander/pt/Quijano.rtf>. Acesso em: 30 jan.
2011.
_______________. Colonialidade e Modernidade/Racionalidade. Disponvel em:
<http://pt.scribd.com/doc/36091067/Anibal-Quijano-Colonialidade-e-ModernidadeRacionalidade>. Acesso em: 04 mai. 2011.
_______________. Dom Quixote e os moinhos de vento na Amrica Latina. Disponvel em:
<http://www.scielo.br/pdf/ea/v19n55/01.pdf>. Acesso em: 04 mai. 2011.
RAMELLA, Pablo A. Crimes contra a Humanidade. Rio de Janeiro: Forense, 1987.
RAWLS, John. O Direito dos Povos. So Paulo: Martins Fontes, 2001.
Relatrio mundial da UNESCO sobre diversidade cultural. Disponvel em:
<http://www.unesco.org>. Acesso em: 04 mai. 2011.
Revista Leituras da Histria especial - Grandes Genocdios, ano I, n. 2, Editora Escala, 2008.
RIBEIRO, Darcy. Os ndios e a Civilizao. So Paulo: Companhia das Letras, 2005.
______________. O processo civilizatrio. 6 ed. Petrpolis; Vozes, 1981.
RICOEUR, Paul. A hermenutica bblica. So Paulo: Loyola, 2006.
_____________. A memria, a histria, o esquecimento. Campinas: Unicamp, 2007.
ROBINSON, Nehemiah. La Convencion sobre Genocidio. Buenos Aires: Bibliogrfica, 1960.
ROCHA, Everardo. O que etnocentrismo. So Paulo: Brasiliense, 2006.
222
RODRIGUES, Nina. As raas humanas e responsabilidade penal no Brasil. Rio de Janeiro:
Guanabara, 1891.
RODRGUEZ, Victor. Instrumentos internacionais sobre racismo no sistema das naes unidas e no sistema interamericano de proteo dos direitos humanos. Sistematizao, anlise e
aplicao. Disponvel em: <http://www.iidh.ed.cr>. Acesso em: 04 jul. 2011.
RUBIO, David Snchez. Filosofa, Derecho y Liberacin en Amrica Latina. Bilbao: Descle
de Brouwer 1999.
___________________. Sobre la racionalidad econmica eficiente y sacrificial, la barbrie
mercantil y la exclusin de los seres humanos concretos. Disponvel em:
<http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/sistemapenaleviolencia/article/viewArticle/6
635>. Acesso em: 28 abr. 2011.
RUIZ, Castor Bartolom. Justia e memria para uma crtica tica da violncia. So Leopoldo: Unisinos, 2009.
RUSTRIAN DIGUEZ, Mario Leonardo. Regulacin legal del delito de etnocidio en la legislacin penal guatemalteca y sus consecuencias jurdico-sociales en los ltimos 30 aos. 1998.
69f. Tesis (Doctorado en Derecho) Facultad de Ciencias Juridicas e Sociales Universidad
de San Carlos de Guatemala, Guatemala, 1998.
SAAVEDRA, Giovani Agostini. Criminologia do reconhecimento: linhas fundamentais de
um novo paradigma criminolgico. In GAUER, Ruth Maria Chitt (Org.). Criminologia e
sistemas jurdico-penais contemporneos II. Porto Alegre: Edipucrs, 2010. Disponvel em:
<http://www.pucrs.br/edipucrs/Crimin.eSist.Jurid.PenaisContemp.II.pdf>. Acesso em: 07 jun.
2011.
_________________________; SOBOTTKA, Emil Albert. Introduo teoria do reconhecimento de Axel Honneth. In Civitas Revista de Cincias Sociais, vol. 8, n. 1, janeiro-abril
de 2008. Disponvel em: <http://redalyc.uaemex.mx/pdf/742/74211531002.pdf>. Acesso em:
05 jun. 2011.
_________________________. Reificao versus reconhecimento sobre a dimenso antropolgica da teoria de Axel Honneth. Disponvel em:
<http://www.editoraufjf.com.br/revista/index.php/TeoriaeCultura/article/viewFile/1107/911>.
Acesso em: 07 jun. 2011.
SACHS, Ignacy. Aculturao. Disponvel em:
<http://jmir3.no.sapo.pt/Ebook2/Aculturacao_Einaudi.pdf>. Acesso em: 28 abr. 2011.
SAHLINS, Marshall. Cultura e razo prtica. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003.
SALGADO, Joaquim Carlos. A idia de justia em Hegel. So Paulo: Loyola, 1996.
SANTOS, Boaventura de Sousa. A Globalizao e as Cincias Sociais. 2 ed. So Paulo: Cortez, 2002.
223
_________________________. A gramtica do tempo para uma nova cultura poltica. 2
ed. So Paulo: Cortez, 2008.
SANTOS, Roberto Lima. Crimes da ditadura militar responsabilidade internacional do
Estado brasileiro por violao aos direitos humanos. Porto Alegre: Nuria Fabris, 2010.
SANTOS, Jos Luiz dos. O que cultura. So Paulo: Brasiliense, 2006.
SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficcia dos Direitos Fundamentais. 8 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007.
SHAKYA, Tsering. The dragon in the land of snows. London: Penguin Compass, 2000.
SILVA, Carlos Augusto Cando Gonalves da. O genocdio como crime internacional. Belo
Horizonte: Del Rey, 1999.
SILVA, Gladson Jos da. A antiguidade romana e a descontrao das identidades nacionais.
In FUNARI, Pedro Paulo A.; JR, Charles E. Orser; SCHIAVETTO, Solange Nunes de Oliveira (Org.). Identidades, discurso e poder: estudos de arqueologia contempornea. So Paulo:
Annablume, Fapesp, 2005.
SILVA, Tomaz Tadeu da. (Org.). Identidade e diferena a perspectiva dos estudos culturais. Petrpolis: Vozes, 2009.
SILVA, Wilson Matos da. Etnocdio, crime contra etnias ou grupos tnicos. Disponvel em:
<www.netlegis.com.br>. Acesso em: 04 mai. 2011.
SILVA FILHO, Jos Carlos Moreira da. A Repersonalizao do Direito Civil em uma sociedade de indivduos: o exemplo da questo indgena no Brasil. In: Jos Luis Bolzan de Morais;
Lenio Luiz Streck. (Org.). Constituio, Sistemas Sociais e Hermenutica: programa de psgraduao em Direito da UNISINOS: Mestrado e Doutorado: Anurio 2007. 1 ed. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2008.
_____________________________. Crimes do Estado e Justia de Transio. In Sistema
penal e violncia revista eletrnica da Faculdade de Direito. Porto Alegre, vol. 2, n. 2, julho/dezembro 2010. Disponvel em:
<http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/sistemapenaleviolencia/article/viewArticle/8
276>. Acesso em: 06 jul. 2011.
_______________________________. Da invaso da Amrica aos sistemas penais de hoje:
o discurso da inferioridade latino-americana. In WOLKMER, Antonio Carlos (Org.). Fundamentos de histria do direito. 3. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2006.
_____________________________. Filosofia jurdica da alteridade por uma aproximao
entre o pluralismo jurdico e a filosofia da libertao latino-americana. Curitiba: Juru,
2006.
_______________________________. O anjo da histria e a memria das vtimas: o caso da
ditadura militar no Brasil. In: RUIZ, Castor Bartolom (org.). Justia e memria: por uma
crtica tica da violncia. So Leopoldo: UNISINOS, 2009.
224
________________________________. Pessoa humana e boa-f objetiva: a alteridade que
emerge da ipseidade. In: Jos Carlos Moreira da Silva Filho; Maria Cristina Cereser Pezzella.
(Org.). Mitos e Rupturas no Direito Civil Contemporneo. 1 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2008.
SOUSA, Susana Aires de. Sobre o bem jurdico-penal protegido nos crimes contra a humanidade. Disponvel em: <http://www.defensesociale.org/xvcongreso/pdf>. Acesso em: 06 jul.
2011.
SOUZA, Patrcio Pereira Alves de. Ensaiando a corporeidade: corpo e espao como fundamentos da identidade. Disponvel em:
<http://periodicos.ufes.br/geografares/article/viewFile/149/75>. Acesso em: 04 mai. 2011.
STEIN, Stuart. Ethnocide. Disponvel em: <http://www.bookrags.com>. Acesso em: 04 mai.
2011.
STORK, Ricardo Yepes; ECHEVARRA, Javier Aranguren. Fundamentos de antropologia
um ideal de excelncia humana. So Paulo: Instituto Brasileiro de Filosofia, 2005.
TEIXEIRA, Luiz Sertrio. Territorialidades no centro de Rondnia Brasil. Disponvel em:
<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/becas/2008/deuda/serto.pdf>. Acesso em: 04
mai. 2011.
TERNON, Yves. El Estado criminal los genocdios del siglo XX. Barcelona: Pennsula,
1995.
TODOROV, Tzvetan. A Conquista da Amrica a questo do Outro. So Paulo: Martins
Fontes, 2003.
TORRES, Lus Wanderley. Crimes de Guerra e Crimes contra a Humanidade. So Paulo:
1955.
TRINDADE, Otavio Augusto Drummond Canado. Consideraes acerca da Tipificao dos
Crimes Internacionais Previstos no Estatuto de Roma. Disponvel em:
<http://www.dhnet.org.br/dados/revistas/ibdh/revista_do_ibdh_numero_4.pdf#page=167>.
Acesso em: 04 jul. 2011.
TRINDADE, Antnio Augusto Canado. Direitos Humanos e Meio Ambiente: paralelo dos
sistemas de proteo ambiental. Porto Alegre: Srgio Antnio Fabris Editor, 1993.
UNESCO. Conveno sobre a proteo e promoo da diversidade das expresses culturais.
Disponvel em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001502/150224por.pdf>. Acesso em:
29 abr. 2011.
UNESCO. Declarao Universal sobre a Diversidade Cultural. Disponvel em:
<http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127160por.pdf>. Acesso em: 28 abr. 2011.
VSQUEZ, Ladislao Landa. Pensamientos indgenas en nuestra Amrica. Disponvel em:
<http://www.bibliotecavirtual.clacso.org.ar>. Acesso em: 14 out. 2010.
225
VERDUZCO, Alonso Gomez Robledo. El crimen de genocidio en derecho internacional.
Boletn Mexicano de Derecho Comparado. Disponvel em:
<http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/105/art/art6.htm>. Acesso em: 03
ago. 2010.
VIEIRA, Manuel A. Derecho penal internacional y derecho internacional penal. Montevideo: Fundacion de cultura universitaria, 1970.
VIEIRA, Gustavo Jos Correia. Do genocdio e etnocdio: povo, identidade cultural e o caso
yanomami. So Paulo: Modelo, 2011.
WELZEL, Hans. Direito Penal. Campinas: Romana, 2003.
WOLKMER, Antnio Carlos; LEITE, Jos Rubens Morato. Os novos direitos no Brasil
natureza e perspectivas. So Paulo: Saraiva, 2003.
WOODWARD, Kathryn. Identidade e diferena: uma introduo terica e conceitual. In
SILVA, Tomaz Tadeu da. (Org.). Identidade e diferena a perspectiva dos estudos culturais. Petrpolis: Vozes, 2009.
ZAFFARONI, Eugenio Ral. Em busca das penas perdidas. Rio de Janeiro: Revan, 1991.
_______________________. En busca de las penas perdidas deslegitimacin y dogmatica
jurdico-penal. Buenos Aires: Ediar, 1998.
_______________________. O inimigo no direito penal. Rio de Janeiro: Revan, 2007.
ZEA, Leopoldo. La filosofia americana como filosofia sin ms. Mxico: Editorial Siglo XXI, 1989.
S-ar putea să vă placă și
- Declaração de Princípios Sobre A Tolerância - UnescoDocument19 paginiDeclaração de Princípios Sobre A Tolerância - UnescoVini SantosÎncă nu există evaluări
- Acao - Promessa de Emprego - TrabalhoDocument8 paginiAcao - Promessa de Emprego - Trabalhogjcorreia7368Încă nu există evaluări
- Protecao Genocidio Yanomami Haximu PDFDocument34 paginiProtecao Genocidio Yanomami Haximu PDFgjcorreia7368Încă nu există evaluări
- O Crime de Genocídio No Estatuto de RomaDocument17 paginiO Crime de Genocídio No Estatuto de Romagjcorreia7368Încă nu există evaluări
- Mussolini Roman I DadeDocument22 paginiMussolini Roman I DadeAdriane SchroederÎncă nu există evaluări
- Andre - Rogerio - Tarcisio - Biopolitica e Racismo de Estado em Michel Foucault - ArtigoDocument11 paginiAndre - Rogerio - Tarcisio - Biopolitica e Racismo de Estado em Michel Foucault - Artigogjcorreia7368Încă nu există evaluări
- Artigo 1984 e Etnocidio - Versao Pronta - Mais AtualizadoDocument48 paginiArtigo 1984 e Etnocidio - Versao Pronta - Mais Atualizadogjcorreia7368Încă nu există evaluări
- Direitos Fundamentais No Islamismo - ArtigoDocument14 paginiDireitos Fundamentais No Islamismo - Artigogjcorreia7368Încă nu există evaluări
- Postscriptum Sobre As Sociedades de ControleDocument5 paginiPostscriptum Sobre As Sociedades de ControleNoéliRammeÎncă nu există evaluări
- A Teoria Das Elites Como Uma Ideologia para Perpetua Ço No GDocument12 paginiA Teoria Das Elites Como Uma Ideologia para Perpetua Ço No GVitor OgiboskiÎncă nu există evaluări
- 1984 e Etnocidio - Versao Original - CorrigidoDocument43 pagini1984 e Etnocidio - Versao Original - Corrigidogjcorreia7368Încă nu există evaluări
- Franz Hinkelammert e o Projeto Etico de Henrique DusselDocument26 paginiFranz Hinkelammert e o Projeto Etico de Henrique Dusselgjcorreia7368Încă nu există evaluări
- Nietzsche Foucault Os Corpos PDFDocument36 paginiNietzsche Foucault Os Corpos PDFgjcorreia7368Încă nu există evaluări
- 2011 MarianadeMattosRubianoDocument132 pagini2011 MarianadeMattosRubianoJúlia SilveiraÎncă nu există evaluări
- Tempestade Global Da Lei e Da Ordem - WacquantDocument15 paginiTempestade Global Da Lei e Da Ordem - Wacquantgjcorreia7368Încă nu există evaluări
- Gobernando A Traves Del DelitoDocument18 paginiGobernando A Traves Del DelitoRenzo EspinozaÎncă nu există evaluări
- BOBBIO, Norberto. Direito e Estado No Pens Amen To de Emanuel KantDocument134 paginiBOBBIO, Norberto. Direito e Estado No Pens Amen To de Emanuel KantNunes AndressaÎncă nu există evaluări
- Crimes Contra A Humanidade e Justica Anamnetica - Artigo AtualizadoDocument9 paginiCrimes Contra A Humanidade e Justica Anamnetica - Artigo Atualizadogjcorreia7368Încă nu există evaluări
- Direito Penal Humano Ou Inumano - ZaffaroniDocument21 paginiDireito Penal Humano Ou Inumano - Zaffaronigjcorreia7368Încă nu există evaluări
- Extermínio Cultural Como Violação de Direitos Humanos - Etnocídio.Document226 paginiExtermínio Cultural Como Violação de Direitos Humanos - Etnocídio.gjcorreia7368Încă nu există evaluări
- Trabalho Marx VygotskiDocument11 paginiTrabalho Marx Vygotskigjcorreia7368Încă nu există evaluări
- O Conceito de Poder em Ibn Khaldun - para Univ Maringá em PDFDocument15 paginiO Conceito de Poder em Ibn Khaldun - para Univ Maringá em PDFBeatriz BissioÎncă nu există evaluări
- Artigo HayekDocument11 paginiArtigo Hayekgjcorreia7368Încă nu există evaluări
- Theodor Adorno - Introdução À "A Personalidade Autoritária"Document8 paginiTheodor Adorno - Introdução À "A Personalidade Autoritária"Dalvan LinsÎncă nu există evaluări
- Nietzsche - Sobre Verdade e Mentira PDFDocument90 paginiNietzsche - Sobre Verdade e Mentira PDFgjcorreia7368Încă nu există evaluări
- A Teoria Da Constituição em Carl SchmittDocument18 paginiA Teoria Da Constituição em Carl SchmittEvandro AlencarÎncă nu există evaluări
- 30 60 1 SMDocument7 pagini30 60 1 SMJanilson GomesÎncă nu există evaluări
- Nietzsche e o Diagnóstico de Decadência para A Alemanha Do Século XIXDocument17 paginiNietzsche e o Diagnóstico de Decadência para A Alemanha Do Século XIXgjcorreia7368Încă nu există evaluări
- Castigos e Punicoes - Pensamentos LibertariosDocument23 paginiCastigos e Punicoes - Pensamentos Libertariosgjcorreia7368Încă nu există evaluări
- Max Stirner - O Único E Sua PropriedadeDocument330 paginiMax Stirner - O Único E Sua PropriedadeGus Pradell75% (4)
- Apostila D PrevidenciarioDocument203 paginiApostila D PrevidenciarioTatiana Grazziane GandraÎncă nu există evaluări
- 77 - Documentos de Identificação - Documentos de Identificação 3Document8 pagini77 - Documentos de Identificação - Documentos de Identificação 3Luiz Fernando ChalhoubÎncă nu există evaluări
- Scythe Manual em Port Automata 98510 PDFDocument12 paginiScythe Manual em Port Automata 98510 PDFPedro VillanovaÎncă nu există evaluări
- 13 LIBANEO, Editora Alternativa, 5Document26 pagini13 LIBANEO, Editora Alternativa, 5Felipe PessoaÎncă nu există evaluări
- FICHAMENTO - Os Assassinos Da MemóriaDocument3 paginiFICHAMENTO - Os Assassinos Da Memóriasirlenesf100% (1)
- PlataoDocument3 paginiPlataoRoger MarxÎncă nu există evaluări
- APS - A Confusa Extraterritorialidade Da Lei Penal Brasileira PDFDocument27 paginiAPS - A Confusa Extraterritorialidade Da Lei Penal Brasileira PDFSms SilvaÎncă nu există evaluări
- O Milagre de DunquerqueDocument2 paginiO Milagre de DunquerqueFernando Santos AmorimÎncă nu există evaluări
- A Era Da Eficiência, Transição para A Sociedade Do Conhecimento e MagatendênciasDocument23 paginiA Era Da Eficiência, Transição para A Sociedade Do Conhecimento e MagatendênciasAndre Luis LuisÎncă nu există evaluări
- Peace Theory - Kenneth Boulding (Resumo) (Paper)Document3 paginiPeace Theory - Kenneth Boulding (Resumo) (Paper)Anonymous Ume5MkWHK2Încă nu există evaluări
- REAÇÕES AO GIRO LINGUÍSTICO Silvio Sánchez Gamboa PDFDocument14 paginiREAÇÕES AO GIRO LINGUÍSTICO Silvio Sánchez Gamboa PDFEstêvão FreixoÎncă nu există evaluări
- Oficial Do Quadro Complementar Do Exercito AdministracaoDocument20 paginiOficial Do Quadro Complementar Do Exercito AdministracaoLeonardo AragãoÎncă nu există evaluări
- Pré Projeto PPGHS UERJ FFP 234Document8 paginiPré Projeto PPGHS UERJ FFP 234Du OliveiraÎncă nu există evaluări
- O Conto de Luís de Sttau Monteiro Descreve A Revolução Dois Cravos Do Ponto de Vista Da Filha de Um TrabalhadorDocument3 paginiO Conto de Luís de Sttau Monteiro Descreve A Revolução Dois Cravos Do Ponto de Vista Da Filha de Um TrabalhadorGazzy ColonÎncă nu există evaluări
- Bases Legais - SUSDocument21 paginiBases Legais - SUSRenato Gomes100% (1)
- Relatório de Filme Título Do Filme: GANDHI - Ed 25º AniversárioDocument9 paginiRelatório de Filme Título Do Filme: GANDHI - Ed 25º AniversárioJOSÉ MAURÍCIO DA SILVAÎncă nu există evaluări
- INTRODUÇÃO AO Monitoramento de Águas SubterrâneasDocument35 paginiINTRODUÇÃO AO Monitoramento de Águas SubterrâneasErik OliveiraÎncă nu există evaluări
- Teoria e Crítica Pós-Colonialista - BonniciDocument61 paginiTeoria e Crítica Pós-Colonialista - BonniciWilma Avelino de Carvalho100% (1)
- Tiago Pavinatto - Como É Ser Gay de Direita - Revista OesteDocument8 paginiTiago Pavinatto - Como É Ser Gay de Direita - Revista OesteCleverson TaffarelÎncă nu există evaluări
- Dia Do Índio - Interpretação de TextoDocument5 paginiDia Do Índio - Interpretação de TextoAdriano Silva CorreiaÎncă nu există evaluări
- AT - Direito Redução Coimas PDFDocument2 paginiAT - Direito Redução Coimas PDFFrancisco FalcaoÎncă nu există evaluări
- Hgpa6 FCR E1Document4 paginiHgpa6 FCR E1veralemos9050% (2)
- 2015 - Inverno - IntegradoDocument15 pagini2015 - Inverno - IntegradoCristiane AldavezÎncă nu există evaluări
- Filme Cultura n60Document100 paginiFilme Cultura n60RayÎncă nu există evaluări
- Resenha Crtica Do Livro 1984Document11 paginiResenha Crtica Do Livro 1984alesuzcal80% (5)
- Afinidades EletivasDocument3 paginiAfinidades EletivasFabio Apolinario EscobarÎncă nu există evaluări
- Primeira Dinastia de PortugalDocument9 paginiPrimeira Dinastia de Portugalbeli37Încă nu există evaluări
- Resenha Formação Das AlmasDocument8 paginiResenha Formação Das AlmasLeonardo PereiraÎncă nu există evaluări
- Resumo Homem e Sociedade Unidade 1Document7 paginiResumo Homem e Sociedade Unidade 1Sergio SunoharaÎncă nu există evaluări
- Analise Eli Rubinho PDFDocument1 paginăAnalise Eli Rubinho PDFMiguel FreitasÎncă nu există evaluări