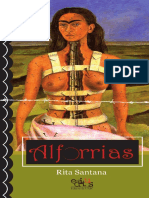Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Dissertacao Jorge de Nascimento Nonato Otinta
Încărcat de
ThaíseSantanaDescriere originală:
Drepturi de autor
Formate disponibile
Partajați acest document
Partajați sau inserați document
Vi se pare util acest document?
Este necorespunzător acest conținut?
Raportați acest documentDrepturi de autor:
Formate disponibile
Dissertacao Jorge de Nascimento Nonato Otinta
Încărcat de
ThaíseSantanaDrepturi de autor:
Formate disponibile
UNIVERSIDADE DE SO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CINCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE LETRAS CLSSICAS E VERNCULAS
Estudos Comparados de Literaturas de Lngua Portuguesa
Mia Couto: Memria e Identidades em Um rio
chamado tempo, uma casa chamada terra
Jorge de Nascimento Nonato Otinta
SO PAULO
2008
UNIVERSIDADE DE SO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CINCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE LETRAS CLSSICAS E VERNCULAS
Estudos Comparados de Literaturas de Lngua Portuguesa
Mia Couto: Memria e Identidades em Um rio
chamado tempo, uma casa chamada terra
Jorge de Nascimento Nonato Otinta
Dissertao apresentada Faculdade de Filosofia,
Letras e Cincias Humanas da Universidade de So
Paulo para a obteno do ttulo de Mestre em Letras.
rea
de
concentrao:
Estudos
Comparados
de
Literaturas de Lngua Portuguesa.
Orientadora: Profa. Dra. Rita de Cssia Natal Chaves
SO PAULO
2008
Autorizo a reproduo total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio
convencional ou eletrnico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte.
Catalogao na Publicao
Faculdade de Filosofia, Letras e Cincias Humanas
Universidade de So Paulo
OTINTA, Jorge de Nascimento Nonato,
Mia Couto, Moambique, identidades, memria, romance / Jorge de
Nascimento Nonato Otinta, Orientadora: Rita de Cssia Natal Chaves So Paulo, 2008
Dissertao ( mestrado Programa de Estudos Comparados de Literaturas de
Lngua Portuguesa)
Faculdade de Filosofia, Letras e Cincias Humanas Universidade de So Paulo.
1. Mia Couto 2. Moambique 3. identidades 4. Memria 5. Romance
Dedicatria
Para minha filha Ylse Bobiny (Adah), pelo sorriso cndido e meigo e pelo amor que
nutrimos um pelo outro, apesar da distncia
a minha av Bah-yn Koh &
meu pai Raimundo Otinta in memoriam pelo afeto e pela educao;
minha me Ana Afame Dj &
meus irmos Zeca, Eurizanda, Denilson, Cosme e Marilda Otinta pela saudade
.
Agradecimentos
Longos anos de aprendizado. De certezas e incertezas. De estmulos e cansaos;
dores e alegrias. Afinal a vida tem destas faces. Tenho para mim guardados, em silncio,
todos estes fatos, sinal de que o caminho faz-se caminhando. Este caminhar pelas
identidades e memrias me conduziu por terras do ndico, mas por uma em especial:
Moambique. E especial tambm por um autor de grande magnitude, celebrado e
consagrado nas letras africanas: Mia Couto. Eu, que vim do Atlntico para desaguar-me
no ndico, por motivaes de vria ordem, sendo a principal de todas a escrita da utopia
necessria de Couto num pas que me fascina, apesar de ainda me ser desconhecido. Foi
difcil a caminhada; mas, fi-la apesar das agruras e dos pedregulhos da estrada, sempre
paciente, mesmo nos momentos de grandes dvidas. Fui aceitando as minhas; afinal
Kada nha na psiloh* Cada um com os seus problemas/suas dificuldades. Mesmo sem
Kbs, sabendo-a keya* (sem dinheiro), teriam me respondido os balantas. Reconheo
que Ulemp kalilan* ( gostoso trabalhar mesmo assim), acrescentaro os manjacos.
Porque isto produto de alma nobre, aquela de uma anura makan*, beleza de uma
mulher esplendida, em Mancanha. Afinal se tratava do meu ophyr, meu interesse, me
rematariam os pepeis. Enfim, nestas incurses pela ptria de Samora Machel e Eduardo
Mondlane, algumas figuras so-me, desde logo, especiais e que, por isso mesmo,
merecem os meus humildes agradecimentos:
Profa. Dra. Rita Chaves que orientou-me nesta dissertao, pela compreenso e
presena sempre amiga; pelas aulas-viagem no imaginrio africano;
Ao Prof. Dr. Benjamin Abdala Junior, por suas aulas singulares e por ter aceite
participar da minha banca de qualificao, juntamente com o Prof. Dr. Carlos Serrano, a
quem tambm dirijo minhas manteas guineenses;
Profa. Dra. Tnia Macedo pela presena alegre e estupendas aulas;
Ao Z Lus pelas poucas mas valiosas conversas sobre as fricas que carregamos
dentro de ns, o meu Kanimambo**;
Aos colegas com que de, correria em correria, pelos corredores da Faculdade,
pude estabelecer uma certa amizade, em especial a Lilian Moraes. E tambm ao
Camarada Roberto, amigo dos tempos da PUC-SP;
Aos colegas guineenses, no posso nome-los a todos, mas aqui vo alguns
nomes: Ju Nancassa, Caram C Junior, Nen Barbosa, Justino C, aquelas manteas
da terra ;
Creusa e Mary do Centro de Estudos Portugueses pela disponibilidade sempre
amiga;
Mais uma vez, aos meus irmos Zeca, Eurizanda, Denilson, Cosme e Marilda; aos
meus primos Janurio Mendes (Beb), Junior Ophys C e a Suzete; nossa me Ana
Afame Dj que sozinha soube nos ajudar a construir o melhor dos mundos possveis, no
to difcl viver nosso de cada dia;
A minha filha, Ylse Bobiny (Adah), com saudades e carinho;
Enfim, CAPES e ao CNPq, pela bolsa de estudos; pois sem o apoio financeiro
das duas instituies a realizao deste trabalho no teria sido possvel;
A todos os que no nomeei, o meu imenso onjarama***.
* Expresses em itlicos so de algumas das lnguas nacionais da Guin-Bissau,
cujo significado neste contexto foi supra traduzido: pepel, balanta, manjaco e mancanha,
respectivamente.
** Significa Obrigado numa das lnguas nacionais de Moambique
*** Onjarama, l-se ondjarama, significa Obrigado em fula, uma das lnguas da
Guin-Bissau.
Resumo
O presente trabalho, fruto de nossas incurses pela obra de Mia Couto, aborda
mais especificamente as relaes entre a memria e as identidades no romance Um rio
chamado tempo, uma casa chamada terra, considerando a sua participao na
construo da moambicanidade. Para este estudo apoiamo-nos em vrios autores, que
vo desde Amlcar Cabral e Frantz Fanon, dois autores de relevncia nas revolues
africanas (e, especialmente, nas revolues dos pases que alcanaram as suas
independncias por via armada como o caso de Moambique) at Stuart Hall e Terry
Eagleton, dois estudiosos das questes da ps-modernidade como migrao, disporas,
e identidades. O trabalho focaliza ainda as relaes entre a oralidade e a escrita, entre o
ps-colonialismo e ps-independncia, o ps-modernismo e a ps-modernidade. E, por
fim, busca-se refletir sobre o lugar da literatura e o papel do narrador num romance que
se movimenta num terreno pleno de conflitos, tais como aqueles que encontramos no par
tradio/modernidade, cidade/campo, passado e presente.
Palavras-Chave: 1. Mia Couto; 2. Moambique; 3. Identidades; 4. Memria; 5. Romance.
Abstract
The present study is based on our readings on Mia Couto and deals specifically
with the relations between memory and identities in Um rio chamado tempo, uma casa
chamada terra, from the perspective of its contribution to the building of a
Mozambicanship.
Amlcar Cabral and Franz Fanon, two key authors on the issue of African revolution
(mainly in the countries that attained their independence through a armed liberation
struggle, which is the case of Mozambique), were among my most important theoretical
references about Africa. On the questions of migration, diasporas and identities I
supported my work in post-modern authors, in particular in Stuart Hall and Terry Eagleton.
My work focus also on the relations between postcolonialism and postindependence, postmodernism and postmodernity, oral tradition and novel.
Finally, I try to elaborate on the place of literature and the role of the narrator in a
romance whose action occurs in a field of conflicts as those between urban and rural
environment, tradition and modernity, past and present.
Key words: 1. Mia Couto; 2. Mozambique; 3. Identities; 4. Memory; 5. Novel.
Sumrio
Introduo...................................................................................................................... 11
I. Identidade e Identidades: um contraponto .............................................................. 24
1. Conceito de Identidade ......................................................................................... 24
2. Identidade cultural no imprio portugus em frica .............................................. 26
3. A revoluo, um marco para a nova identidade .................................................... 33
II. Ps-Independncia e Ps-Colonialismo: um contraponto.................................... 49
1. A escrita como resistncia .................................................................................... 64
2. Contar estrias para fazer Histria........................................................................ 67
III. A Identidade cultural na sociedade ps-independncia....................................... 70
1. Memria: o papel do passado na construo da histria ...................................... 81
2. A perpetuao da herana .................................................................................... 82
3. O desejo de viver em conjunto .............................................................................. 83
IV. A questo da ambigidade na construo da identidade cultural do narrador
de Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra, de Mia Couto.................. 87
1. Ou isto ou aquilo a questo de identidade na tica de Descartes...................... 87
2. Marianinho: da memria ambgua construo da identidade............................. 92
3. O passado um pas estrangeiro: a (des)locao do narrador .......................... 100
4. Passado colonial, memria e romance ............................................................... 105
5. Os fios da identidade de uma nao atravs da narrao .................................. 109
6. O cortejo fnebre como uma forma de identidade cultural do povo .................... 110
7. A oralidade como fonte da escrita ....................................................................... 114
8. As cartas do av Mariano.................................................................................... 118
9. A valorizao da oralidade .................................................................................. 124
Consideraes Finais ................................................................................................. 130
Bibliografia .................................................................................................................. 135
10
O Outro
Sem famlia
Nem etnia
Sem fiana
Nem finana
Sem peso at
Que d
Para perder
O p
Todo este circo feito
Sem rede.
Queda, portanto, no.
Sem rede,
s.
Ruy Duarte de Carvalho. Ordem de Esquecimento. In: Lavra Incerta. Luanda: Editorial Nzila, 2001, p. 98.
11
Introduo
O futuro do indivduo determinado pelo
passado coletivo; o indivduo no constri seu futuro,
este se revela; da o papel do calendrio, dos
pressgios, dos augrios.
Tzvetan Todorov1
Neste trabalho procuramos refletir sobre a literatura moambicana, movidos pelo
desejo de saber como a atividade literria pode gerar e revelar a estrutura cultural de
movimentos polticos que levaram criao e consolidao do Estado-nao. Para tal,
centramos nossa ateno em Mia Couto, um de seus mais expressivos escritores,
focalizando especialmente, um de seus romances: Um rio chamado tempo, uma casa
chamada terra, publicado em 2003.
Procuramos compreender a idia da construo da identidade cultural de
Moambique, examinando sinais da influncia desta literatura no despertar das
conscincias cvicas e polticas, sem perder de vista o processo que culminou com a
autonomia poltico-administrativa e jurdica do pas.
Devemos frisar que durante as dcadas de 60 e 70 do sculo XX, marcantes no
cenrio de libertao de naes no continente africano, o Estado-nao moambicano,
que, na altura era colnia, estava ainda a ser engendrado em termos da prxis
revolucionria. Deste modo, recordamos a opinio de Patrick Chabal, para quem o
estabelecimento do Estado precedeu a construo da nao.2 Sem nos alongarmos
muito, assinalamos que o nosso objetivo foi sobretudo o de, atravs de uma das obras de
Mia Couto, refletir sobre Moambique e seu povo. "Povo" no sentido de Amlcar Cabral,
que faz a seguinte observao ao alertar que a conscincia do povo deve ser um produto
da histria e, portanto, construda historicamente, em cada momento da sua evoluo;
considerando esta a evoluo tambm fruto da prpria histria:
A nao do povo depende do momento histrico que vive o pas. Populao todo
o mundo, mas povo deve ser definido em relao sua prpria histria.
necessrio definir claramente o povo em cada momento da vida de uma populao.
(...) Pertence ao nosso povo [moambicano] [aquele] que defende os interesses do
povo e para ele foi capaz de criar esse movimento [a FRELIMO, em Moambique,
para libert-lo e promover o seu bem-estar].3
TODOROV, Tzevetan. A Conquista da Amrica: a questo do outro. So Paulo: Martins Fontes, 1996, p.
67.
2
CHABAL, Patrick. Vozes Moambicanas: literatura e nacionalidade. Lisboa: Vega, 1994, p. 17.
3
CABRAL, Amlcar apud SERRANO, Carlos. Angola: Nasce uma Nao Um estudo sobre a construo
da identidade nacional. FFLCH/USP. So Paulo: Departamento de Antropologia, 1988, p. 19-20. TD.
12
Na verdade, "identidade no tem s dimenso poltica",4 pois, de acordo com
Cabral, a formao da identidade individual e coletiva surge dos aspectos econmicos,
polticos, sociais e culturais caractersticos do crescimento e da histria da sociedade em
questo.
Assim, no primeiro captulo, numa tentativa de aproximar a literatura e a histria,
observamos alguns aspectos acerca da distino ps-colonialismo versus psindependncia, numa tentativa de iniciar nossa discusso sobre questes relativas
identidade nacional da literatura moambicana. Desta maneira, fazemos nossas as
palavras de Cornejo Polar, para quem as literaturas, so postulaes objetivas e
desiderativas de uma identidade nacional que vo alm do signo lingstico, na medida
em que remetem para "categorias supra-estticas: o homem, a sociedade, a historia".5
Sabendo que a literatura , acima de tudo, uma forma de dilogo entre o real, o
imaginrio e o fictcio e, ao mesmo tempo, se institui como um espao simblico capaz de
possibilitar uma catarse dos momentos problemticos do passado, ou at mesmo, dos
desassossegos que o porvir provoca; de salientar tambm que ela uma forma de
resistncia face s atitudes que visem silenciar o povo.
Se em Moambique o contexto histrico-social parece ser o da plena crise instaurada
no momento inaugural da emergncia do Estado-nao, isto , do ps-independncia, devese dizer que, de um lado, vivenciam-se os estertores do sistema de dominao colonial e, de
outro, a luta pela independncia que desponta para o to almejado fim da opresso. Por
isso, a literatura como tal serve de resgate histrico, mas jamais pode ser vista como a
construo de uma nova verdade histrica que, ao que nos parece, est no reino do
inatingvel, porque condenada ao inapreensvel em termos de origem.
Deve-se ter em conta que, alm dos aspectos organizativos levados a cabo pelas
trs maiores foras de libertao nacional nas ex-colnias portuguesas em frica (a
FRELIMO em Moambique; o PAIGC, na Guin-Bissau e o MPLA, em Angola) que se
traduziram na montagem de uma estrutura orgnica e de estratgia militar em termos
regionais (como a criao da Frente Revolucionria Africana para a Independncia
Nacional), interferiu ainda no processo a contestao, pelos nacionalistas, no campo
cultural, manifestada nas tentativas de afirmao da personalidade dos ento
colonizados.
SERRANO, Carlos. Op. Cit. p. 19.
POLAR, Antonio Cornejo. O Condor Voa: Literatura e Cultura Latino-americana. VALDS, Mario J. (Org).
Belo Horizonte, Editora da UFMG, 2000, p. 16.
5
13
Apesar da preocupao e dos esforos, os problemas que se situam no plano da
dependncia cultural sobreviveram conquista da independncia. Os contornos do
verdadeiro drama lingsticos, comuns a tantos pases africanos, comprovam as
dificuldades. A lngua do colonizador, depois de simbolicamente dilacerada e, portanto,
violentada, ser inscrita no corpo do colonizado, "tornando-se, metaforicamente, uma
tatuagem, uma marca irremovvel".6
O contexto presente vem ao encontro da constatao de Wesseling para quem o
fim da colonizao pressupe a desativao das trs foras que decidem as suas formas,
mas no o resultado do processo: o poder colonial, a situao na colnia e o fator
internacional.7 Impunha-se, portanto, a necessidade de construir sobre as novas
sociedades a serem fundadas uma viso que refletisse a sua condio perifrica, tanto no
nvel estrutural como conjuntural. Seria esse o quadro do ps-colonialismo, isto , a fase
posterior ao colonialismo que procuraria constituir uma ruptura em relao fase anterior.
Neste sentido, coube aos escritores ps-coloniais o papel de alertar as
conscincias para o fato de que as "feridas no cicatrizadas e os fantasmas da histria
poderiam ressurgir inesperadamente",8 de modo a comprometer a nova nao que se
ergue dos pesados escombros do recente passado colonial africano, em geral, e
moambicano, em especial.
Os textos de Mia Couto denunciam, cumprindo o papel acima citado, o despertar
da conscincia dos cidados moambicanos, retratando a realidade cotidiana do pas e
dos indivduos, com uma lcida viso poltica. Por outro lado, eles vo traando, atravs
do desejo de construo de um novo pas, o "mapa de uma nao re-imaginada,
procura de sua prpria identidade".9
No retrato da realidade, a prosa coutiana navega pelos vrios assuntos que, direta
ou indiretamente, assolam o seu pas: o consumismo da elite moambicana, o
desemprego crnico, os deslocados de guerra e da seca a incharem os bairros de canios
na periferia urbana, a corrupo, o conflito entre os espaos urbanos e rurais, o conflito
idiomtico entre a lngua portuguesa, a lngua oficial do Estado moambicano, e as vrias
6
SALGADO, Maria Teresa. A presena do cmico nas literaturas africanas de lngua portuguesa. In: LEO,
ngela vaz (Org.). Contatos e Ressonncias: literaturas africasnas de lngua portuguesa. Belo Horizonte:
PUC Minas, 2003, p. 111.
7
WESSELING, Henk Apud MATA, Inocncia. A condio ps-colonial das literaturas africanas de lngua
portuguesa: algumas diferenas e convergencias e muitos lugares comuns. In: LEO, Angela Vaz (Org.).
Contatos e Ressonncias: literaturas africanas de lngua portuguesa. Belo Horizonte: PUC Minas, 2003, p.
45-46.
8
SECCO, Carmen Lcia Tind Ribeiro. Mia Couto: E a Incurvel doena de sonhar. In: SEPLVEDA,
Maria do Carmo & SALGADO, Maria Teresa. (Orgs.). frica & Brasil: Letras em laos.So Caetano do Sul:
Yendis Editora, 2006, p. 280.
9
Id Ibid p. 281.
14
lnguas nacionais a conviverem no mesmo espao, as querelas polticas entre a
FRELIMO (partido atualmente no governo) e a RENAMO (partido da oposio).
No segundo captulo procuramos desenvolver a noo de identidade cultural do
sujeito, desde o sujeito cartesiano o sujeito suficiente ou aquele que se basta ,
passando pela noo do sujeito sociolgico, o da insero social at o sujeito psmoderno, o sujeito descentrado, inacabado; portanto em construo, compsito, enfim.
Essas noes de sujeito reafirmam que h lugar para grandes relatos onde os
mitos se decifram, espao onde se cr ser possvel abrigar o precrio, o instvel, e no
qual, ao mesmo tempo, conforme Laura Padilha "se pode matar, como faziam e ainda
fazem os nmades do deserto africano, o que metaforicamente pode representar a
necessidade da preservao da cultura".10 Tal seria a marca da ps-modernidade e, por
extenso, no contexto das literaturas perifricas, da ps-colonialidade: o lugar da
alteridade em permanente construo e desconstruo para construir algo que dure, ao
menos provisoriamente.
Assim, podemos dizer que o repertrio cultural ps-colonial permite a construo
de pontos de encontro entre as culturas tradicionais africanas e a modernidade importada
do ocidente, onde o local, o nacional e tnico "confluem supranacionalmente para o
comunitrio, e este imbricado no social".11 Tais imbricamentos culturais desenham as
experincias histricas que fazem com que o indivduo ao interagir com o mundo vai
modelando seus pensamentos e aes. Mas sempre trazendo em si a marca da
alteridade, e na dinmica do diverso vo se erguendo as laadas/troncos da identidade
nacional. "Na perspectiva dessa dinmica que aspira plenitude, aparecem o relativo, o
no acabado. Enfim, um processo crtico e autocrtico de vozes diferentes que constroem
mas no se reduzem ao canto coletivo".12
neste contexto que Stuart Hall prope repensar a cultura em meio a uma
globalizao complexa e contraditria, focalizando suas dimenses poltico culturais na
dispora negra, confrontando as antigas colnias com a antiga metrpole, por meio das
"relaes [que os pases perifricos estabelecem] com o centro imperial e as formas pelas
10
PADILHA, Laura Cavalcante. Novos Pactos, Novas Intenes: ensaios sobre literaturas afro-lusobrasileiras. Lisboa: Novo Imbondeiro, 2002, p. 314.
11
ABDALA JR., Benjamin. Literatura, Histria e Poltica: literaturas de lngua portuguesa. 2. Ed. Cotia, So
Paulo: Ateli Editorial, 2007, p. 22.
12
Id Ibid p. 278-279.
15
quais lhes permitido 'estar no centro sem ser dele'".13 isso, em suma, o que
procuraremos desenvolver em nosso segundo captulo.
Adicionalmente, se consideramos que se h margem h rio, o ps-colonialismo
pode apontar para respostas sobre os problemas e as estratgias poltico-culturais das
naes ex-coloniais em frica, e o ps-modernismo obrigar-nos- a indagaes sobre o
sujeito humano, em seu modo de existir, pensar, aspirar e construir.
, portanto, pertinente aqui recorrer ao escritor angolano Manuel Rui e perguntar
com ele:
Quem do rio? Quem nasceu por causa da margem?
Quem margem?
Quem faz voar o rio e nunca por renncia ao dio o fez secar?
Os da margem ( claro)14
No terceiro capitulo nos debruaremos sobre a memria e a identidade, focalizando
problemas pertinentes ao par oralidade/escrita, propondo uma anlise sobre as cartas
contidas no romance em estudo, como se tratando de uma segunda narrativa.
Para ilustrarmos o nosso estudo, fomos beber de outras fontes, a exemplo de outra
obra de Mia Couto, Terra Sonmbula, que focaliza o Moambique do ps-guerra, envolto
em runas e destroos, mas que palmilha, segundo Carmen Lcia Secco, "atravs da
enevoada memria popular, nesgas de iluses que [podem] atenuar as monstruosidades
do real".15 Segundo Virglio de Lemos, essa espcie de sonho, que ele batiza de barroco
esttico, "contm uma parte do sonho onde o imaginrio se serve ao vivo. Vivo, ele vai
metamorfosear a viagem ldica",16 empreendida pelos que procuram as razes de sua
cultura.
Desta maneira, as personagens Kindzu, Muidinga e Tuahir, efetuam, por assim
dizer, uma viagem inicitica para, em meio ao horror da violncia e da fome provocados
pela guerra, reaprenderem os caminhos dos sonhos e da paz. Nessa busca pelo amor e
pela amizade, com a conscincia de que "s sabiam sonhar em portugus", tambm
buscam a identidade perdida, em meio aos antigos fantasmas que povoam a memria
13
HALL, Stuart. Da Dispora: Identidades e Mediaes Culturais. Org. Liv Sovik. Trad. de Adelaide La
Guardia Resende et alii. Belo Horizonte: Editora da UFMG; Braslia: Representao da UNESCO no Brasil,
2003, p. 107.
14
MONTEIRO, Manuel Rui. Pensando o texto da memria. ANAIS do 2. Congresso da ABRALIC:
Literatura e memria cultural. Belo Horizonte: ABRALIC, 1991, pp 542-544.
15
SECCO, Camen Lcia Tind Ribeiro. Op. Cit., p. 281.
16
LEMOS, Virglio de. Eroticus mozambicanus. In: Panorama Congresso Intermacional: novas lieraturas
africanas de lngua portuguesa. Lisboa: Edio do grupo de trabalho do Minsitrio da Educao para a
Comemorao dos Descorimentos Portugueses, 1997, p. 133.
16
difusa das aldeias e das lnguas originrias, que passaram por uma tentativa de
dizimao ao longo dos sculos de opresso.
Mas, igualmente importante nesta busca de identidade a denncia que o
romance faz da colonizao portuguesa, principalmente atravs de sua poltica de
assimilao do indivduo africano na "civilizao" ocidental, uma tentativa de "apropriar-se
do Outro pela recusa de suas diferenas".17 Isso levou difuso de esteretipos pelo
tratamento como "outros", no somente os negros de origem banto, mas tambm os
rabes, os "mouros negros", e os indianos que ali viviam.
Em contraposio a um tal discurso etnocntrico, Terra Sonmbula traz a opinio
da personagem Surendra Val, um comerciante indiano, que no se v como um indiano
em frica, mas sim como um homem "do ndico", como o so tambm todos os
moambicanos. Assim ele diz: "Somos de igual raa, Kindzu. Somos ndicos". 18 Por meio
dessa personagem, o racismo criticado como uma questo universal, no mais apenas
particular e restrita realidade moambicana. Diferentemente de Surendra Val, o
portugus Romo Pinto, ainda guarda os preconceitos etnocntricos herdados da
colonizao.
Prosseguindo nossa linha de raciocnio, ainda na obra coutiana, desembocamos
em A Varanda de Frangipani, em que o passado das crenas e tradies moambicanas
lembrado pela personagem Nozinha que, preocupada com a "amnsia" em relao
aos ritos das tradies culturais, adverte: "Quem nos mandou afastar das tradies. Agora
perdemos os laos com os celestiais mensageiros. Restavam as escamas que o
halakavuma [peixe mitolgico] deixara escapar da ltima vez que tombara". 19 Por outro
lado, neste mesmo romance, temos uma passagem em que o narrador, sendo um xipoco
[esprito, fantasma], condensa os mitos presentes nas lembranas dos mortos e dos
vivos, para evitar o seu esquecimento. Isso porque, ele transita na esfera destes e
daqueles, mergulha nas razes do passado, resgatando lendas antigas que remetem "
semntica da perptua regenerao csmica, da qual a rvore do frangipani smbolo", 20
tanto que se torna o "lugar do milagre".21
Nesse sentido, veremos na obra que constitui o nosso corpus de analise Um Rio
Chamado Tempo, uma Casa Chamada Terra o percurso do narrador-protagonista,
Marianinho, em busca de sua origem, uma viagem que remete aos eventos do passado,
17
BHABHA, Homi. O local da cultura. Belo Horizinte: Ed. da UFMG, 1998, p. 29.
COUTO, Mia. Terra Sonmbula. Lisboa: Caminho, 1992, p. 29.
19
COUTO, Mia. A varanda de Frangipani. Lisboa: Caminho, 1996, P. 140.
20
SECCO, Carmen Lcia Tind Ribeiro. Op. Cit., p., 285.
21
COUTO, Mia. Op. Cit., p. 149.
18
17
os quais estimulam sua imaginao, num regresso por vezes nada agradvel, como na
cena em que se depara com as fotografias da vida da personagem-matriarca, a av
Dulcineusa, ou com as cartas do patriarca, o av Mariano. A sensao de desconforto se
d, principalmente, quando os eventos desse passado parecem ao mesmo tempo
prximos e distantes, na medida em que o protagonista encontra dificuldades para dar
sentido s experincias que est vivenciando. Por outro lado, esse "retorno ao passado"
remete de certa forma a um tempo presente, sem que, no entanto, o seu sentido e valor
sejam totalmente compreendidos.
Nas palavras do socilogo portugus Boaventura Sousa Santos: "em vez da
inveno de um lugar totalmente outro, [prope-se] a deslocao radical dentro de um
mesmo lugar, o nosso";22 no caso, o moambicano, agenciando, assim, a catarse dos
lugares coloniais, como as tenses ps-coloniais ainda presentes na vida de muitos
moambicanos, desiludidos com os rumos que o pas est tomando, como a corrupo,
por exemplo.
A visita ao passado fez o narrador, Marianinho, imaginar, conforme as palavras de
Benedito Nunes, com os olhos da
... memria, a me das musas, a palavra potica [que] retrocede ao manancial,
escavando nos vocbulos o que precisa ser lembrado. [Pois] A lembrana cria
proximidade com as coisas, chamando-as presena, desvelando-as na
linguagem.23
nesse sentido que retomando o tema de A varanda do frangipani a rvore
do frangipani na histria de Marianinho se erigiria como a figura axial que estabelece uma
comunicao entre o cu e a terra, entre a morte e a ressurreio, oferecendo-se como
caminho de acesso aos antepassados, aos que transitam entre o visvel e o invisvel.
Portanto, funciona como um espao sacralizado que abriga os mortos e as tradies
culturais. Em suma, o frangipani representaria o eixo do mundo, o eixo da memria, o eixo
da narrativa, a rvore ambivalente que deita razes na terra, enquanto seus galhos
estendem sonhos na direo do cu.
No quadro da relao entre oralidade e escrita, temos ainda que considerar o
contexto lingstico em que se confrontam a lngua portuguesa europia e estrangeira
e as lnguas nacionais africanas. A discusso sobre a oralidade ser desenvolvida,
22
SANTOS, Boaventura Sousa. Pela mo de Alice: o social e o poltico na ps-modernidade. 3. Ed. Porto:
Edies Afrontamento, 1994, p. 279-280.
23
NUNES, Benedito. Passagem para o Potido. Filosofia e Poesia em Heidegger. 2. Ed. So Paulo: tica:
1992, p. 275.
18
com mais detalhe, no capitulo quatro deste estudo. Concernente a anlise oralidade
versus escrita, Laura Cavalcante Padilha afirma haver uma incorporao cada vez mais
instigante de termos, expresses, estruturas asiticas e morfolgicas das lnguas
nacionais, ao mesmo tempo, que a lngua europia, "base da expresso, bafejada por
esses novos ventos, vai deixando de ser europia para ganhar contornos angolanos,
moambicanos, so-tomenses etc".24
Pois a lngua, tendo uma vez atravessado o Oceano Atlntico ou ndico,
transformar-se- numa margem terceira destes Oceanos, embora sem abdicar de ser ela
mesma, sofrer influncias significativas no contato com outras lnguas no europias,
mais especificamente as africanas.
Por isso, afirma Makhily Gassama, cuja experincia enquanto africano, senegals e
falante do francs: "so palavras da Frana, precisamente, que se devem dobrar,
submeter-se, para ganhar os contornos por vezes to sinuosos, to complexos dos
nossos pensamentos".25
No mesmo diapaso, diria o angolano Manuel Rui, na interao entre a lngua
portuguesa, que ele denomina a lngua do nmade , e as lnguas africanas, cujo
contato e imbricao inevitvel, confluem de tal modo que o retorno s origens, quer de
uma quer de outra, se torna quase impossvel; pois, para ele, "Somos muitas lnguas.
Muitas diferenas culturais. E h significantes na lngua do nmade que servem melhor o
poema que penso mesmo quando escrito na lngua em que me expresso. Interferida.
Hbrida".26
No contexto do ps-colonialismo em Moambique surgem escritores cuja temtica,
no exerccio da arte da palavra, passa a ser o cotidiano do tecido social moambicano.
Dentre vrios, destacamos, para fins deste estudo, Mia Couto. sobre este tpico o
cotidiano moambicano que refletir o quarto capitulo, destacando a busca da
identidade cultural e, portanto, lingstica do seu sujeito ps-colonial.
A questo lingstica nas literaturas africanas, em geral, e moambicana, em
especial, pode ser traduzida como um jogo simblico onde se encena o encontro de
culturas, as africanas e a europia, ou no caso de Moambique, a tambm a asitica, e
onde as fronteiras se esgaram. Assim, ao mesmo tempo, exalta-se o mltiplo e reafirma-
24
PADILHA, Laura Cavalcante. Op. Cit., p. 37.
GASSAMA, Makhily apud PADILHA, Laura Cavalcante. Op. Cit., p. 37.
26
MONTEIRO, Manuel Rui. Entre mim e o nmada a flor. Teses angolanas: documentos da IX
Conferncia dos Escritores Afro-asiticos. Lisboa: Edies 70, para a Unio dos Escritores Angolanos,
19981, p. 31.
25
19
se a diferena, tentando constru-la e desconstru-la, decifrando o real pelo caminho que
leva aos vrios "enclaves da identidade plural". 27
Em Mia Couto, a expresso literria revela a mestia existncia e convivncia do
criador e suas criaturas: mestios de cultura, espaos, de saberes e de sabores que,
segundo Inocncia Mata,
Trata-se, afinal, de um processo de recriao de desenredos verbais a que se
segue a incorporao de saberes no apenas lingsticos mas tambm de vozes
tradicionais, do saber gnmico que o autor vai recolhendo e assimilando nas
margens da nao campo, o mundo rural para revitalizar a nao que se tem
manifestado apenas pelo saber da letra e pensada segundo o modelo do agente
destinador: a elite urbana, em toda a sua contingncia colonial. Essa revitalizao
segue pela via da levedao em portugus de signos multiculturais transpostos
para a fala narrativa em labirintos idiomticos como forma de resistncia ao
aniquilamento da memria e da tradio.28
Por isso, na escrita coutiana as falas do narrador e das personagens so
rubricadas com atributos da representao dialgica do saber da letra e da voz, da funo
do prazer. A corroborar essa leitura da artesania re-inventiva do verbo, o prprio Mia
Couto confessa o seu fascnio pelas histrias que resulta da necessidade absoluta de
brincar29 como ele j o havia afirmado numa outra entrevista, relatando a vantagem de
ser conhecedor da lngua:
Beneficio-me de uma situao privilegiada, porque tenho um p na norma e outro
na errncia a que est sujeita a lngua portuguesa (...) A maior parte das
construes no as reproduzo mecanicamente. Tento reencontrar a lgica que leva
a essa possibilidade de reconstruo.30
Em O grau zero da escrita, Roland Barthes estabelece numa reflexo a partir da
obra de Cline, que "a escrita no est a servio de um pensamento, como cenrio bem
conseguido que estivesse justaposto pintura de uma subclasse social; ela representa
realmente o mergulho na opacidade viscosa da condio que descreve".31
Assim argumenta Mia Couto a respeito da oralidade e da escrita, e da influncia
que ambas podem ter uma da outra:
27
PADILHA, Laura Cavalcante. Op. Cit., p. 313-314.
MATA, Inocncia. Op. Cit., p. 67-68.
29
COUTO, Mia. O gato e o novelo. Entrevista a Jos Eduardo Agualusa. In: JL Jornal de Letras, Artes &
Ideias. Lisboa, Jos, 08 de Outubro de 1997.
30
COUTO, Mia. Em entrevista ao JL Jornal de Letras, Artes &Ideias. Lisboa, 18/08/1994, p. 14.
31
BARTHES, Roland. O grau zero da escrita. So Paulo: Cultrix, 1971, p. 67-68.
28
20
A escrita me deu a possibilidade de poder viajar entre identidades que esto dentro
de mim. Eu j fui mulher, j fui velho, j fui criana, j fui de todas as raas... isso
que a literatura d no s a quem escreve, mas a quem l. possvel transitar de
vidas, podemos ser mltiplos32.
O desafio da interao texto oral e texto escrito, segundo ele, est em ensinar a
escrita a dialogar com a oralidade, e vice-versa.
Assim tambm o contexto discursivo das metafices historiogrficas, como nos
parece ser a obra que ora analisamos, representa uma possibilidade de releituras do
passado, expresses de reinterpretaes para mold-lo s exigncias das interpretaes
eficazes e iluminar segmentos sociais, idias e eventos histricos, anteriormente na
opacidade. Trata-se, sem dvida, da utopia da escrita que ao mesmo tempo em que
uma escrita dessacralizante, que desvela a desconstruo dos sentidos, denuncia os
simulacros da Histria e repovoa os espaos vazios.
Maria Teresa Salgado constata isso do seguinte modo:
Diante das recriaes lingsticas miacoutianas, o prazer que sentimos parece
adquirir uma nova dimenso, tornando-nos aptos a perceber que o lugar da palavra
precisa ser urgentemente reconectado aos sonhos e imaginao. O espao do
sonho se mostra indispensvel para apreendermos no s a totalidade da vida
psquica, mas a de qualquer existncia.33
Sabe-se que a narrativa , desde as origens, uma maneira peculiar, porem
significativa, com que os homens buscam apreender o sentido de sua existncia,
relatando as estrias, passando e perpassando suas experincias de vida.
O relato, aqui entendido como narrativa, pressupe, antes de tudo, contar aquilo
que se sucedeu ou que se foi. Contar um fato nem sempre implica estar presente no
momento em que este se desenrola embora isso tambm seja muito importante ,
mas selecionar o que e como contar tal fato para um eventual leitor.
Em Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra temos o processo de
reconstituio da histria de uma famlia moambicana num momento da cerimnia
fnebre da "quase morte" do av de Marianinho, cuja chegada era aguardada para que se
ajustassem os detalhes cruciais da despedida, e das aes das personagens em
Nyumba-Kaya, a casa patriarcal, cujo nome composto pelas palavras que designam os
extremos do pas, "para satisfazer familiares do norte e do sul".34
32
COUTO, Mia. H armadilhas dentro de ns. Entrevista ao Jornal da USP. Jornal da USP. So Paulo, de
16 a 22 de Julho de 2007, p. 3.
33
SALGADO, Maria Teresa. Op. Cit., p. 132.
34
COUTO, Mia. Um Rio Chamado tempo, Uma Casa Chamada Terra. Lisboa: Caminho, 2002, p. 28.
21
O av, entre a vida e morte, fala com o neto atravs de cartas escritas pela mo do
prprio neto. Nas cartas ele diz coisas como: "Os vivos so vozes, os outros so ecos". 35
A racionalidade materialista vai, assim, cedendo ao passado da antiga tradio tanto a
africana quanto a greco-latina ou oriental, no dizer de Francis Utza, para quem "[na
tradio] vida e morte constituem dois aspectos de uma realidade nica de ordem
espiritual".36
Assim, a estrutura narrativa se apia na memria para, a partir dela, trazer luz
toda a tenso do enredo, e a memria funciona, a nosso ver, como ponto essencial para a
compreenso desta narrativa.
no vai-e-vem de lembranas e recordaes, que as personagens da fico vo
se confundindo muitas vezes com personagens reais da vida cotidiana, culminando em
lances magnficos. Tratar-se-, com certeza, de uma viagem para reconstituir, por meio
de idias, vivncias e lembranas, uma terra chamada memria, esse rio e casa ao
mesmo tempo, para vivenciar, de novo, o j vivido.
Em suma, procuraremos ao longo das pginas deste trabalho refletir sobre as
identidades (nacionais, regionais, tnico-rcicas, culturais, ideolgicas, estticas,
estilsticas) como processos geradores da capacidade de aceitao das diferenas. E,
conforme considera, Jacinto do Prado Coelho, "as imagens que os povos concebem de si
prprios, sendo em certa medida uma criao da literatura, acabam por exercer nesta
uma profunda influncia".37
No romance em estudo, nosso objetivo foi o de realizar uma abordagem da
problemtica do esboo-memria na concepo e criao do romance desse autor
moambicano tendo em vista a dimenso das questes ligadas identidade num pas de
independncia recente e marcado por crises estruturais como o caso de Moambique.
Em suma, Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra narra a histria de um
jovem estudante universitrio que regressa sua terra natal, aps longos anos na capital,
portanto na chamada "civilizao". Sua volta se faz necessria em funo do funeral de
seu av, Mariano, de quem herdou o prenome. Na verdade ningum sabe se ele est "de
fato" morto. De qualquer modo, na famlia h os que velam pela morte do patriarca e os
que rezam por sua sobrevida.
35
Id Ibid o. 56.
UTZA, Francis. Mia Couto: Mulher de mim ou da dialtica do eu e do inconsciente. In: LEO, ngela
Vaz (Org.) Contatos e Ressonncias: Literaturas africanas de lngua portuguesa. Belo Horizonte: PUC
Minas, 2003, p. 250.
37
COELHO, Jacinto do Prado. Fatores da personalidade nacional. In: MOURO-FERREIRA, David &
SEIXO, Maria Alzira. Portugal, a terra e o homem: antologia de terxtos dos escritores do sculo XX. Vol. II.
2. Srie. Lisboa: Fundao Caloutes Gulbenkian, 1980, p. 75-81.
36
22
Assim, enquanto Mariano Neto aguarda pela cerimnia, ele vai testemunhar
visitaes na forma de pessoas e de cartas que lhe chegam do alm-mundo com as
revelaes de um universo dominado por uma espiritualidade que ele vai redescobrir a
medida que se apercebe desse universo frgil e ameaado pelo medo, no qual
redescobrir a histria para a sua prpria vida e para a da sua terra, um pas da frica
Oriental, de colonizao portuguesa, o qual, alm de anos de luta pela independncia,
conheceu quase, duas dcadas de guerra civil entre duas foras polticas: a FRELIMO e a
RENAMO.
Couto v nesta obra que a clula familiar um elo de ligao que pode tornar um
povo dono de uma cultura mais homognea, no em termos de discurso estritamente
poltico ou ideolgico, mas pela criao de personagens diante da no-morte e da novida de um patriarca. Ele acaba por resgatar a relao do homem e seu passado; isto , o
artista representa no indivduo a relao do povo e da histria nacional.
Na narrativa surpreendem-se personagens que, numa espcie de passeio pelas
origens, pois elas so sempre uma busca, uma interrogao, um certo mito pessoal;
movimentam-se na tentativa de reconstituir sua histria e a de sua famlia atravs de
partes de objetos, de fragmentos da memria e pedaos de uma vida vivida e que se quer
re-significar.
Sabe-se que em sociedades que primam pela oralidade, como o caso da
Moambique tradicional, a palavra tem um peso enorme, porque o eco produzido pelo
som quando os narradores contam suas historias de viagens, de guerras, de experincias
de vida, deleitam seus ouvintes, alem de provocar neles a vontade de, pouco a pouco, ir
juntando, todos os fatos narrados, a fim de entender dados que possam ser teis a estas
pequenas estrias de vida que se vo tecendo e vivendo cotidianamente, ou ate mesmo,
(re)cont-las s novas geraes.
Mia Couto, em entrevista a Michel Laban, fala desta magia de contar histrias que
o remete infncia (ao passado) e, em seguida, o traz de volta ao presente, nos
seguintes termos:
(...) contavam [os velhos] a histria, havia uma coisa quase religiosa, um
sentimento de fascnio, de magia, em que de repente o mundo deixava de existir e
aqueles sujeito se transformavam em deuses. Era impossvel tu no acreditares, tu
no estares completamente presente e preso naquela fantasia que eles criavam.
(...) Eu pensei: seria necessrio transportar para o domnio da escrita, do papel,
este ambiente mgico que esses contadores de histrias criam.38
38
LABAN, Michel. Moambique - Encontro com Escritores. Vol. III. Porto: Fundao Engo Antnio de
Almeida, 1998, p. 1015.
23
O romance em questo ainda construdo, como assinala Pires Laranjeira, entre
as fronteiras do real e do inslito, do riso e da melancolia; por isso, prossegue autor,
O humor conseguido com seriedade, porque nunca sabemos onde acaba a
cosmologia ou a filosofia das personagens e comea a caricatura que o autor
pretende. (...) O passado pesa demasiado sobre a aldeia, como que perdida no
tempo, mas cujo o decorrer da Histria de Moambique a fez transformar as
pessoas, transformando as relaes, sob cuja mscara de normalidade se
escondem dramas profundos de amores, crueldades e manipulaes.
O av, meio falecido (numa narrao entre o realista e o fantstico), a me,
Mariavilhosa, guardadora de segredos demasiado cruis, ou o tio Ultmio, um novorico, ganancioso e poderoso, revelam-se personagens mais complexos do que se
poderia julgar39.
nesse contexto de uma literatura ps-colonial, por se tratar tambm de um autor
ps-colonial, que visa afirmar a diferena e reivindicar a ptria tal como era a
proposta/utopia dos intelectuais revolucionrios.
Nesse sentido, poderamos afirmar com segurana, de que se trata de uma obra
que partilha tanto da face ps-moderna como da face ps-colonial, pois "destri mitos e
dissemina dvidas e incertezas, sem fugir, contudo, crtica e reviso histrica
necessrias".40
Trata-se, sobretudo, do
despertar de vozes e memrias que na utopia poltico-social no tinha lugar. [Mas]
Pelo processo de viglia dessas vozes silentes e marginais resgatados da Histria,
descobrem-se as suas sombras, intervm-se na paisagem da cidadania e a nao
comea a emergir colorida.41
Desta maneira, mais do que narrar o passado, a escrita coutiana o reinventa para
mold-lo s exigncias das interpretaes eficazes para a sociedade moambicana e seu
povo nos tempos atuais. Foi esse fascnio que me levou, ao longo dos ltimos trs anos, a
fazer incurses pelas letras moambicanas, pela tica de Mia Couto.
39
PIRES LARANJEIRA, Jos Lus. Mia Couto: o riso e a melancolia. Pao dArcos, 30/10/2002. Disponvel
em http://www.instituto-camoes.pt/arquivos/literatura/risomelancolia.htm. Acesso em 24/07/2007.
40
SALGADO, Maria Teresa. Op. Cit., p. 129.
41
MATA, Inocncia. Op. Cit., p.59.
24
I. Identidade e Identidades: um contraponto
Se entendermos por Cultura todo o conjunto de valores ticos e comportamentais
que moldam uma determinada sociedade, cujos membros partilham as crenas, usos e
costumes e ideais, ento a identidade uma espcie de quadro de referncia que torna
os seres humanos aquilo que so, aquilo que os define enquanto pertencentes a esta ou
quela comunidade de indivduos.
Historicamente a identidade significou a ancoragem de valores que estabilizam o
indivduo de uma determinada sociedade, isto , um porto seguro no qual ele se aporta
para melhor se ver como um sujeito ntegro, estvel dentro de seu mundo social. Porm
hoje, o conceito de estabilidade da identidade no se justifica mais, na medida em que o
eu do sujeito est muito fragmentado, pois dentro dele h vrias outras identidades que
lhe moldam, num contexto de globalizao econmica que conduz tambm globalizao
cultural, em que as influncias entre culturas que interagem, intersecionam, tornam
menos crvel a noo de pureza cultural ou a sua genuinidade.
Abordaremos aqui esta fragmentao da identidade do sujeito, apoiados na teoria
da identidade cultural na ps-modernidade de Stuart Hall para melhor situarmos o nosso
trabalho.
Para Stuart Hall1 as identidades culturais so aqueles aspectos identitrios que
surgem do pertencimento a culturas tnicas, raciais, lingsticas, religiosas e, acima de
tudo, nacionais. Ou seja, aos fenmenos estveis. Mas quando estes fenmenos entram
em declnio, isto , quando comeamos a sentir que estamos perdendo algo, entramos
em crise, que o que poderamos chamar de crise de identidade.
Assim, a identidade somente se torna uma questo quando est em crise, quando
algo que se supe como fixo, coerente e estvel deslocado pela experincia da dvida e
da incerteza.2
1. Conceito de Identidade
Stuart Hall, apresenta-nos trs concepes de identidade. A saber, sujeito do
Iluminismo, sujeito sociolgico e sujeito ps-moderno.
1
HALL, Stuart. A identidade Cultural na Ps-Modernidade. Trad. Tomaz Tadeu da Silva & Guacira Lopes
Louro. 10a Ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2005, p. 9.
2
MERCER, Kobena apud HALL, Stuart. Op. Cit., p. 9.
25
1.1.
O sujeito do Iluminismo 3 estaria baseado numa concepo da pessoa
humana
como
um indivduo totalmente
centrado,
unificado,
dotado das
capacidades de razo, conscincia e de ao. O centro deste indivduo consistia
num ncleo interior, o qual lhe era inato e deste modo este (ncleo) se desenvolvia
com ele ao longo de sua existncia, porm permanecia com ele. Portanto, o centro
essencial do eu era a identidade de uma pessoa.
1.2.
O sujeito sociolgico 4 seria, todavia, resultado da crescente complexidade
do mundo moderno e, ao mesmo tempo, da conscincia de que este ncleo interior
no era autnomo e auto-suficiente, mas sim era formado na relao com outras
pessoas importantes para ele, que mediavam para o sujeito os valores, sentidos e
smbolos a cultura dos mundos que ele/ela habitava. Em suma, a identidade
do sujeito era formada na interao, no contato, nas relaes de troca entre ele e a
sociedade, num dilogo contnuo com os mundos culturais e as identidades que
esses mundos oferecem. A identidade, ento, costura ou sutura o sujeito
estrutura.
1.3.
O sujeito ps-moderno5. Com a entrada, digamos assim, em colapso, da
identidade do sujeito sociolgico devido s mudanas ocorridas nas sociedades
modernas, como resultado das mudanas estruturais e institucionais, que deram
novos parmetros ao prprio processo de identificao dos indivduos em relao
s identidades culturais, surge este novo modelo no contexto das identidades, mais
provisrio, varivel e problemtico. Por isso, a identidade do sujeito ps-moderno
torna-se uma celebrao mvel: formada e transformada continuamente em
relao s formas pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas
culturais que nos rodeiam. Esse processo produz o sujeito ps-moderno,
conceitualizado como no tendo uma identidade fixa, essencial e permanente.
Pois, de acordo com Stuart Hall, a identidade plenamente unificada, completa,
segura e coerente uma fantasia.
Para sintetizar o conceito de identidade, especialmente no que diz respeito
evoluo histrica da concepo do sujeito moderno e a respectiva constituio no
discurso da modernidade, vejamos o que Raymond Williams escreve a propsito:
HALL, Stuart. Op. Cit., p. 10-11.
Id Ibid p. 11-12.
5
HALL, Stuart. Op. Cit., p. 12-13.
4
26
A emergncia de noes de individualidade, no sentido moderno, pode ser
relacionada ao colapso da ordem social, econmica e religiosa medieval. No
movimento geral contra o feudalismo houve uma nova nfase na experincia
pessoal do homem, acima e alm de seu lugar e sua funo numa rgida sociedade
hierrquica. Houve uma nfase similar, no Protestantismo, na relao direta e
individual do homem com Deus, em oposio a esta relao mediada pela Igreja.
Mas foi s ao final do sculo XVII e no sculo XVIII que um novo modo de anlise,
na Lgica e na Matemtica, postulou o indivduo como a entidade maior (...), a partir
da qual outras categorias (especialmente categorias coletivas) eram derivadas. O
pensamento poltico do Iluminismo seguiu principalmente este modelo. O
argumento comeava com os indivduos, que tinham uma existncia primria e
inicial. As leis e as formas de sociedade eram deles derivadas: por submisso,
como em Hobbes; por contrato ou consentimento, ou pela nova verso da lei
natural, no pensamento liberal. Na economia Clssica, o comrcio era descrito
atravs de um modelo que supunha indivduos separados que possuam
propriedade e decidiam em algum ponto de partida, entrar em relaes econmicas
ou comerciais. Na tica utilitria, indivduos separados calculavam as
conseqncias desta ou daquela ao que eles poderiam empreender.6
Apoiados nesta concepo de sujeito, diramos h dois princpios bsicos: de um
lado, o princpio de que o sujeito indivisvel, uma entidade unificada no seu interior,
por isso sua identidade no pode ser dividida; de outro, o que estava assente no fato de
que ele tambm (sujeito) era uma entidade singular, nica, portanto sua existncia o torna
distinto dos demais sujeitos que, como ele, so singulares tanto em relao a ele como
em relao a outros sujeitos.
Por conseguinte, a identidade uma relao de igualdade aplicvel no somente
cidadania (pertencimento a um dado pas), mas tambm a outros fatores: religio, sexo,
cor partidria, entre outros. Isto quer dizer que todos os fatores ora citados tm uma
relao de igualdade entre si vlida para todos os valores das variveis envolvidas.
Portanto no algo nico, mas plural. Em suma, identidade uma pluralidade.
2. Identidade cultural no imprio portugus em frica
Nesta histria so muitos os chamados e poucos os escolhidos.
Frantz Fanon7
Abordar a questo da identidade cultural na sociedade colonial pressupe falar do
homem ou do sujeito que ali se encontrava, isto , do homem branco, europeu, e do
homem negro, africano. Portanto de sujeitos com culturas e identidades dspares: o
colonizador portugus e o colonizado africano. Ou seja, teremos um embate entre as
6
7
WILLIAMS, Raymond apud HALL, Stuart. Op. Cit, p. 28-29.
FANON, Frantz. Os Condenados da Terra. Lisboa: Ulisseia, 1961, p. 38.
27
duas culturas que so, no fundo, o mundo do colonizador que pauta pela imposio
cultural e o mundo do colonizado que resistir a esta imposio, causando tenses
permanentes entre ambos.
Em outras palavras, o europeu afirmando o carter universal da cultura Ocidental,
considerando-a a nica civilizao possvel,8 no admitia, com certeza, reconhecer as
outras racionalidades, e, em conseqncia disso, as outras humanidades. Por isso a
legitimao ideolgica da poltica colonial teve como base a concepo do outro, do
diferente, que o pensamento ocidental construiu sobre os povos que se situavam fora da
racionalidade europia para lhes impor seus interesses econmicos e polticos. 9 Logo
sua forma de pensar, de ser e de sentir, por isso sua cultura, isto , sua identidade.
Trata-se, sem dvida, de fronteiras culturais distintas. Por isso, o colonizador,
partindo de sua superioridade cultural, vai tentar criar compartimentos estanques que no
permitam mobilidade entre as culturas em questo, a dele e a do colonizado.
A poltica colonial portuguesa residia, segundo Cabral, no desprezo secular que
sempre
manifestaram os colonialistas portugueses pelo homem africano que
consideravam e consideram como naturalmente inferior, incapaz de organizar a sua vida
e defender seus interesses, fcil de enganar, sem cultura e sem civilizao. 10
Assim, procuraremos entender, a partir da concepo do sujeito do Iluminismo, a
questo da identidade do sujeito na sociedade colonial, por nos parecer a que est mais
prxima a ela, j que o sujeito do Iluminismo se traduzia em um indivduo centrado,
unificado, cujo eu interior constitua sua identidade enquanto pessoa. Isto , um sujeito
integral. Trata-se do sujeito cartesiano, Cogito, ergo sum - Penso, logo existo.
Traduzindo isso, no caso do imprio portugus em frica, diramos que o homem
portugus que existe de fato e de jure como sujeito; o outro, o Indgena, existe a partir
do olhar que o portugus lhe lanava, das consideraes que tinha sobre ele. O
colonizador era tudo e podia tudo. O colonizado era o nada e podia o que se lhe permitia.
Partindo do fato de que sociedade colonial fundamentava-se no princpio da
desigualdade entre os sujeitos que conviviam no mesmo espao geogrfico, temos, de
um lado, o europeu que o que veio para a colnia, de outro, o africano, aquele que j ali
se encontrava. Deve-se, contudo, dizer que o contato entre essas duas identidades, como
era de se esperar, no se deu de forma pacfica; menos ainda revelavam entre si algum
8
Cf. GMEZ, Miguel Buenda. A educao moambicana: a histria de um processo: 1962 1984. So
Paulo; FAE/USP, 1993, p. 37 (Tese de Doutorado).
9
LOPES, Jos de Souza Miguel. Literatura em Lngua Portuguesa: Na praia do oriente a areia nufraga do
ocidente. Scripta. N. 2. Belo Horizonte, 1998. v. I., p. 270.
10
CABRAL, Amlcar. A prtica revolucionria. Unidade e Luta II. Lisboa: Seara Nova, 1977, p. 94-95.
28
tipo de afinidade tnica, lingstica, religiosa, racial. Tampouco elas tinham uma histria e
interesses econmicos comuns.
O que vai acontecer, na verdade, um choque, um choque de culturas dentro
desta sociedade, a qual ser marcada por uma relao de constantes tenses que
permear a dominao do colonizador europeu ao colonizado africano. Pois o europeu,
branco, ser "superior", "racional", cujo desenvolvimento cientfico e tecnolgico estava
alm do desenvolvimento que o colonizado conhecia, por isso o outro lhe tratar como
atrasado, primitivo. Este por sua vez tentar resistir no sentido de manter suas crenas,
seus dados culturais e histricos.
A respeito disso, nos aponta Edward Said,11 o colonizador vai construir um conjunto
de elementos que efetivamente silencia o Outro [colonizado], reconstitui a diferena
como identidade, regula e representa espaos dominados (... ).
Na mesma linha de pensamento, afirma Rita Chaves
A alteridade, como marca vertical da diferena, no se atualiza no discurso, que
tem como razo de ser o aprisionamento desse Outro, s vezes incompreendido e,
no raro, invisvel aos olhos de quem exercita, incessantemente, a sua recusa.12
Este fato to relevante que no caso especfico da colonizao portuguesa em
frica se observa a existncia de um instituto jurdico-poltico que o fundamenta. Assim,
em 20 de Maio de 1954, Portugal aprova o Estatuto dos Indgenas Portugueses das
Provncias da Guin, Angola e Moambique,13 no qual configurava, juridicamente, a
diviso das populaes em trs grupos: indgenas, assimilados e brancos.
O homem colonial tinha uma identidade bem definida e localizada no mundo social
e cultural a que pertencia. Do mesmo modo podemos afirmar que as trs categorias dos
indivduos que compunham a sociedade colonial constituam, por assim dizer, sociedades
diferentes, porque, a colnia, segundo E. A Walker,
composta, em geral, de um nmero de grupos mais ou menos conscientes de sua
existncia, freqentemente opostos uns aos outros pela cor e que se esforam em
levar vidas diferentes, tm uma alimentao diferente, tm freqentemente
ocupaes diferentes que lhes so [asseguradas] pela lei ou pelo costume, usam
vestimentas diferentes ... vivem em diferentes tipos de habitaes, cultivam
11
SAID, Edward apud CHAVES, Rita. Angola e Moambique nos anos 60: a periferia no centro do territrio
potico. In: CHAVES, Rita & MACEDO, Tnia. (Orgs.).Literaturas em movimento: hibridismo cultural e
exerccio crtico. So Paulo: Arte & Cincia, 2003, p. 209.
12
CHAVES, Rita. Op. Cit. p. 210.
13
AFONSO, Aniceto & GOMES, Carlos de Matos. Guerra Colonial: Angola, Guin, Moambique. Lisboa:
Dirio de Notcias, s.d.
29
tradies diferentes, adoram diferentes deuses, tm idias diferentes sobre o bem e
o mal. Tais sociedades no so comunidades.14
Podemos frisar a partir disso se tratar de grupos diferentes cujas especificidades se
assentavam em termos de raa, de sua heterogeneidade radical e as relaes
antagnicas que eles mantm e a obrigao em que se encontram de coexistir nos
limites de um quadro poltico nico.15 Assim, a partir da classificao constante do
Estatuto do Indgena, acrescidas s noes de colonizao desenvolvidas por George
Balandier e Albert Memmi, sintetizamos, a seguir, as trs categorias de Classes que
podemos encontrar na sociedade colonial:16
1.
O portugus, branco, oriundo de Portugal ou nascido na colnia, porm de
pais portugueses. Embora constitua uma minoria, em termos numricos, ele faz
parte da sociedade dominante, usufrui os privilgios negados aos demais. Trata-se
de um civilizado, no sentido de que detm hbitos e comportamentos distintos
daqueles dos nativos. Podia estudar at Universidade. Tinha o poder aquisitivo.
Era protegido pelo poder poltico e militar. Fazia parte da "raa superior", a branca.
Era cristo, catlico, apostlico romano. Lembremos que, como diz Balandier 17, a
diferena na sociedade colonizada se d pela raa e pela civilizao. Portanto eis
a imagem: pioneiro generoso, humanista e filantropo, missionrio da cultura e do
progresso, evangelizador dos incrdulos.18
2.
O assimilado. Nesta categoria procuraremos distinguir trs subgrupos, a
saber:
2.1. Mestio o mestio racial. Este sujeito que, em termos
raciais e culturais, resulta, predominantemente, da miscigenao, isto ,
em geral filho de pai branco (europeu) com me negra (africana). Embora
no seja filho legtimo do colonizador, o fato de ter com ele o vnculo
consangneo, pode gerar alguns privilgios em relao ao indgena,
como por exemplo, o uso do sobrenome do pai, o acesso educao
14
WALKER, E. A. apud BALANDIER, George. A Noo de Situao Colonial. In: Cadernos de Campo.
Revista dos Alunos de Ps-Graduao em Antropologia da Universidade de So Paulo. Ano III, N. 3. So
Paulo: USP, 1993, p. 115.
15
BALANDIER, George. Op. Cit., p. 115.
16
No item 2, relativo ao assimilado, procuramos assinalar quilo que, a nosso ver, se fazia na prtica
colonial, como forma de demonstrar a incongruncia que existia entre esta (filosofia do sistema colonial) e a
legislao ento vigente, conforme o estatudo pelo Estatuto; especialmente em Moambique.
17
BALANDIER, G. Op. Cit., p. 119.
18
Cf. MEMMI, Albert. Retrato do colonizado precedido do retrato do colonizador. Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 1967, p. 6.
30
formal, o emprego na administrao colonial. Muitas vezes, domina a
lngua do colonizador, enfim, tem trnsito entre os dois plos antagnicos:
colonizador e colonizado.
2.2. O estrangeiro assimilado: o chins e o indiano, em
Moambique. Para Memmi 19 assimilados so aqueles que no so nem
colonizadores nem colonizados; porm tm certas vantagens que o
colonizado no possui: emprego mais fcil, menor insegurana contra a
total misria e a doena, escolarizao menos precria; alguns cuidados
enfim da parte do colonizador, a dignidade mais ou menos respeitada.
Embora seus esforos sejam no sentido de no esquecer o passado de
sua origem, eles, na colnia, sofrero influncias dos hbitos coletivos. Ao
adotarem a lngua do colonizador, usam-no porque neste espao devemse seguir as regras de quem est no poder; porm preservaro seus
valores culturais. Como se poder concluir, a resistncia , de novo,
mantida nesse cenrio.
2.3. O nativo assimilado o mestio cultural. Nesta categoria
esto os filhos dos nativos que trabalham para a administrao colonial e
que so protegidos por ela. Podem ter tambm sobrenome de origem
portuguesa ou africana, estudam, alguns conseguem concluir um curso
superior. um nmero muito nfimo, digamos assim dos eleitos, que
consegue fazer parte do seleto grupo dos estudantes da Casa dos
Estudantes do Imprio (C.E.I.),20 em Lisboa. Contudo nem todos os
estudantes das ex-colnias que obtiveram curso superior passaram pela
casa21. a tal histria da pirmide dos tiranetes: cada um, socialmente
oprimido por outro mais poderoso, encontra sempre um menos poderoso
19
Id Ibid p. 28-29.
CEI a Casa dos Estudantes do Imprio, como o prprio nome indica a residncia que o Governo
Portugus mantinha em Lisboa, nos idos dos anos 50, na qual acolhia estudantes mestios e negros, os
assimilados, que terminavam o ensino Liceal nas provncias do ultramar, a saber, Angola, Cabo Verde,
Guin Portuguesa, atual Guin-Bissau, Moambique e So Tom e Prncipe, para mais tarde ajudarem na
administrao colonial. De salientar que foram justamente esses jovens que iro desencadear a resistncia
ao regime ditatorial de Salazar e a sua poltica ultramarina e, conseqentemente, as guerras de libertao
nas colnias que culminar com as autonomias poltico-administrativa e jurdica das mesmas em relao a
Portugal nos anos 70. Alm disso, tiveram influncia na realizao da Revoluo dos Cravos em Portugal,
por intermdio da qual esta potncia colonial legitima as independncias nas ex-colnias, reconhecendo-as
o direito autodeterminao. Cf. IGNATIEV, Oleg. Amlcar Cabral Filho de frica. Trad. Hudson C. Lacerda.
Lisboa: Prelo, 1975, pp. 7-20.
21
Cf. PEPETELA. A Gerao da Utopia. 3a. Ed. Lisboa: Planeta, 2000. [Coleo Clssicos
Contemporneos]
20
31
em quem se apoiar, tornando-se por sua vez, tirano.22 Podemos, enfim,
concluir que a relao entre assimilado e indgena passa a ser esta: o
primeiro evita, ao mximo, a condio deste e, se possvel, demonstra
sua superioridade em relao a ele.
3. O Indgena ou nativo. Pertencem classe dos sem direitos
formalmente estabelecidos pela Constituio Portuguesa. So os que
precisavam ser civilizados, educados, convertidos em cristos, por serem
pagos, por no acreditarem na existncia de um nico Deus, por no
possurem histria nem desenvolvimentos cientfico, por isso, esto
atrasados, primitivos. Dos indivduos que esto nesta categoria, s
poucos, mas mesmo poucos tinham acesso a uma educao que
chegasse 4a. srie. Uma educao que era dada, em grande escala,
pela Igreja Catlica. O restante nem ler, nem escrever sabiam. Muito
menos poderiam sonhar em atingir os patamares estabelecidos pelo
colonizador. De acordo com Balandier,23 a doutrina de poltica indgena,
visa, segundo os termos clssicos, assimilao, associao (desigual)
ou ao compromisso para com a mquina colonial, que se traduz em
servir os interesses da Metrpole. E conforme afirma Fanon,24 O
indgena um ser encurralado (...) [Pois] A primeira coisa que o indgena
aprende colocar-se no seu lugar, no passar dos seus limites. Porque o
chicote est sua disposio para corrigir seus eventuais excessos.
Apesar deste quadro rgido, o colonizador no completamente alheio existncia
do colonizado enquanto povo, porque segundo Memmi: 25
(...) [o colonizador] descobriu o colonizado, sua originalidade existencial, porque
subitamente o colonizado deixou de ser elemento de um sonho extico para tornarse humanidade viva e sofredora, [por isso] o colonizador se recusa a participar do
seu esmagamento, decide vir em seu socorro. [Porque sabe que] tem diante de si
uma outra civilizao, costumes diferentes dos seus, homens cuja reao
freqentemente o surpreendem, com os quais no possui afinidades profundas.
A questo da identidade no perodo colonial torna-se um fato extremamente delicado,
porque apesar do colonizador admitir a existncia do colonizado como um ser diferente de
22
MEMMI, Albert. Op. Cit., p. 31.
BALANDIER, G. Op. Cit., p. 113.
24
FANON, Frantz. Op. Cit., p. 47.
25
MEMMI, Albert. Op. Cit., p. 37.
23
32
si, sabemos tambm que muitos dos atos ou comportamentos do colonizado o "irritam",
causam-lhe estranhamento. Porque ele (o colonizador) ainda apresenta e representa o
colonizado como um ser inferior, sem histria, portanto.
Vejamos como George Orwel,26 em 1939, descreve o colonizado em Marrakech:
Quando se anda por uma cidade como esta 200 mil habitantes, dos quais pelo
menos 20 mil no tm literalmente nada exceto trapos que vestem -, quando se v
como as pessoas vivem e, mais ainda, com que facilidade elas morrem, sempre
difcil acreditar que se est caminhando entre os seres humanos. Todos os imprios
coloniais esto baseados neste fato. As pessoas tm caras morenas e, alm
disso, tm tantas delas! Ser que elas so mesmo feitas da mesma carne que ns?
Eles tm nomes, pelo menos? Ou sero apenas uma matria morena
indiferenciada, to individuais quanto as abelhas ou insetos ou coral? Eles se
erguem da terra, suam e passam fome por alguns anos e depois afundam
novamente nos montes sem nomes dos cemitrios, e ningum nota que se foram. E
at tmulos logo se dissolvem na terra.
Sem dvida, temos nesta passagem o real retrato do colonizado feito pelo colonizador e,
a partir do qual, este far surgir outros estigmas. Alis, o que mesmo colonizado seno
um ser estigmatizado? Afinal as relaes na sociedade colonial foram mediadas por
estigmas, pelas imagens que o colonizador constri do colonizado e procura faz-lo
acreditar nela: que ele seja inferior, incapaz de ascender social e culturalmente.
Tudo isso baseado no desequilbrio constante na colnia, o colonizador, com
imensos privilgios, o colonizado com poucos direitos. Acrescidos ainda pelo fato de, em
nome do cristianismo, todos serem iguais perante Deus. Como se justifica ento a idia
de misso cujo objetivo era salvar as almas perecidas destas ovelhas desgarradas, se
Deus um s e pai de todos os homens?
No entender de Memmi 27 a complexa relao de convivncia na sociedade colonial
se d por dois motivos: em primeiro lugar, pelo conformismo, a aceitao passiva, a
tentativa de convivncia do colonizado com o grupo colonizador, portanto, a alienao;
em segundo lugar, a tomada de conscincia da impossibilidade, do malogro da
assimilao. Logo por razes vrias, o colonizado parte em busca de algo que lhe
permita romper com a ordem at ento vigente. Da a revoluo e o papel que ela
desempenhou na transformao da sociedade colonial para a sociedade psindependncia nas ex-colnias.
26
27
ORWELL, George. In: LOPES, Jos de Souza Miguel. Op. Cit., p. 272.
MEMMI, Albert. Op. Cit, p. 11.
33
3. A revoluo, um marco para a nova identidade
Revoluo, do Lat. Revolutione, significa ato ou efeito de revolver (-se) ou revoltar
(-se). Revolta, conflagrao, sublevao. Transformao radical e, por via de regra,
violenta, de uma estrutura poltica, econmica e social.
Do conceito ao ato chegamos ao que nos interessa: a questo da subverso da
identidade que at ento vigorava nas colnias. Uma minoria portuguesa mandando
numa maioria africana considerada inferior e cuja existncia dependia dela.
Esta maioria no gozava de quaisquer privilgios, pois Portugal, por intermdio do
Estatuto do Indgena, elegeu uma minoria desta parcela majoritria da populao
autctone, outorgando-lhe certos direitos, sobre os quais j nos debruamos, como forma
de mostrar ao mundo que estava cumprindo sua misso civilizadora. Alis, como defendia
a propaganda salazarista, Portugal, contrariamente s outras potncias coloniais no
tinha colnias, e sim, provncias ultramarinas. 28
Entendemos que, com este gesto, o colonizador portugus pretendia, efetivamente,
calar o assimilado, amansando-o com privilgios em relao aos demais. Julgamos que
isso aconteceu no porque este (o assimilado) o tenha consentido, alis, nem isso
importava; mas porque talvez tenha aceitado isso para poder alcanar uma posio que o
permitisse levar adiante seu projeto emancipador como ocorreu com as guerras de
libertao nacionais.
No esclarecedor e, ao mesmo tempo, instigante prefcio ao livro, A Libertao da
Guin: aspectos de uma revoluo africana, de Basil Davidson, Cabral nos chama a
ateno sobre um fato cuja influncia se tornou decisiva para o desenvolvimento das lutas
de libertao nas ex-colnias portuguesas em frica, quer na sua dinmica interna, quer
nas suas relaes com o mundo: a parede de silncio erguida volta dos nossos povos
pelo colonialismo portugus. Isto porque, segundo ele, a poderosa mquina colonial foi
posta a trabalhar no sentido de convencer a opinio pblica mundial de que os nossos
povos viviam no melhor dos mundos possveis, descrevendo felizes portugueses de cor
cuja nica mgoa estava na saudade que sentiam pela sua ptria branca, da qual se
encontravam tragicamente afastados pelos factos da geografia.29 E assim foram
construindo toda a mitologia concernente colonizao em frica.
28
Em 15/06/1951, o Ministrio das Colnias passa a designar-se Ministrio do Ultramar. Cf. AFONSO,
Aniceto & GOMES, Carlos de Matos. Op. Cit..
29
CABRAL, Amlcar. Prefcio. In: DAVIDSON, Basil. A Libertao da Guin: aspectos de uma revoluo
africana. Lisboa: S da Costa, 1975, p. 3.
34
Assim, dividindo a populao das colnias em frica em indgenas, assimilados e
portugueses, o imprio colonial portugus no podia esperar nada pior do que a
insurreio armada sob sua alada, encabeada justamente pelos assimilados.
O brao direito do colonizador em sua empreitada educativa era a Igreja Catlica,
pois sua ao missionria visava exatamente conduzir o colonizado, segundo Fanon, 30 ao
caminho do branco, do amo, do opressor, no ao caminho de Deus. Por isso, o
colonizado, ao mesmo tempo em que descobre a sua humanidade, comea a polir as
suas armas para as fazer triunfar.
Entretanto se na sociedade colonial o conceito do sujeito vinha da idia de uma
sociedade de indivduos, onde cada qual se encerra na sua subjetividade,31 teremos uma
situao de cansao, de impacincia, de revolta dos indgenas em relao aos
portugueses situados no topo da pirmide desta sociedade sui generis. Ou seja, os
ltimos que eram os africanos pretendem agora ser os primeiros desta relao. Isto
porque, segundo o mesmo autor:32
O colonizado, portanto, descobre que a sua vida, a sua respirao, as pulsaes do
seu corao, so as mesmas que as do colono. Descobre que uma pele do colono
no vale mais do que uma pele de indgena. Deve dizer-se que essa descoberta
introduz uma agitao essencial no mundo. Toda a segurana nova e
revolucionria do colonizado dimana disso.
A violncia da mquina colonial e seu trabalho forado, pesado imposto, ou outras
agresses fsicas e psicolgicas, ir conduzir, paulatinamente, s aes de sabotagem e,
posteriormente, guerrilha. Uma vez que todas as formas de convvio se revelaram
impossveis. Por isso, afirma Memmi 33 que o colonialismo que fabricou o colonizador e o
colonizado, revelou-se uma doena incurvel.
Deste modo, a situao colonial impossibilitaria reverter a situao de impasse
vivida na colnia, na medida em que trazia em si mesma a sua prpria contradio que,
cedo ou tarde, a faria morrer. Isto, por si s, j revelava, em amplitude e profundidade, o
fracasso do sistema colonial
Na opinio de Carlos Lopes, socilogo guineense, perante tal impasse, Cabral
defendia que o colonizador acabaria por ser libertado pelo colonizado, numa
interpretao baseada no entendimento que a contradio revolucionria principal era a
30
FANON, Frantz. Op. Cit., p. 38-39.
Id Ibid p. 43.
32
Id Ibid p. 41.
33
MEMI, Albert. Op. Cit., p. 184.
31
35
que opunha os povos dominados aos dominadores, mais do que a do proletariado contra
a burguesia dos pases dominadores.34 Isto porque o mundo colonial dividido em duas
zonas que se negam e se legitimam reciprocamente, separadas e ligadas pela violncia.
O colono criou o colonizado e este que est fadado a destru-lo, libertando-se e
libertando-o.35
Como resultado desta prtica cnica do colonialismo, surge uma potncia que se
tornou agressiva em relao aos povos dominados quando estes comearam a reivindicar
a sua autonomia poltica, administrativa, econmica, social e cultural. Com seus avies,
bombardearam a esmo o povo, arruinando as aldeias sob os fogos do napalm. Um retrato
real daquilo que era a poltica colonial portuguesa que, com a sua filosofia de dividir para
reinar, empreendeu uma campanha de sorrisos, de abraos abertos e de simpatia
visando desmobilizar o nosso povo36 para melhor reinar. E assim, comearam a aliciar
representantes da populao com promoo de quadros africanos para altas funes
administrativas; a autoridade dos chefes tradicionais fiis ao colonialismo foi reforada;
jovens africanos foram alistados compulsivamente no exrcito colonial, etc.
O africano vendo-se, neste contexto, como um homem perdido em seu universo e,
ao mesmo tempo, roubado em sua dignidade, principalmente pelas contradies e
misrias que o sistema colonial lhe impunha, torna-se num homem impotente perante a
sombra da escassez em que era votado a viver pelo regime.
Mediados, por fortes sinais da ameaa, da deteriorao e da morte, dominador e
dominado, se vem perante uma nica soluo: um tem que destruir o outro. Para ilustrar
essa afirmao, recorremos ao escritor angolano Castro Soromenho em seu livro Homens
sem caminho, nesta passagem da narrativa em que ele ilustra uma cena de extrema
violncia, que caracterizava a relao entre o dominado e dominador em Angola:
Como jaguar sobre a gazela, o invasor caiu nas senzalas do Camba-Camba.
Durante dias e noites, os gritos de dio e de desespero de lundas e quiocos
misturavam-se como rufar dos tambores de guerra. Dos milhares de homens que
jogaram a sorte das armas por o amor ao seu cho, poucas centenas conseguiram
refugiar-se, sob chuvas de setas e perseguidos por ondas de fogo que rolavam na
savana de ls a ls, no alto da montanha, onde o soba tinha a sua aldeia. Os outros
34
LOPES, Carlos. O legado de Amlcar Cabral face aos desafios da tica contempornea. In: Jornada
Internacional de Cinema da Bahia. Trocas culturais afro-luso-brasileiras. ARAJO, Guido (Org.) & RUBIM,
Albino Canelas (Coord.). Salvador: Contraste, 2005, p. 44.
35
CABAO, Jos Lus & CHAVES, Rita. Colonialismo, violncia e identidade cultural. In: ABDALA JR.,
Benjamin (Org.). Margens da Cultura: mestiagem, hibridismo & outras misturas. So Paulo: Boitempo,
2004, p. 73.
36
CABRAL, Amlcar. A prtica revolucionria. Unidade e Luta II. Lisboa: Seara Nova, 1977, p. 58.
36
seguiram o destino da guerra a morte ou o cativeiro. Das senzalas e lavras do
Camba-Camba restavam as cinzas que enegreciam a savana.37
Nas palavras de Rita Chaves,38 o autor tematiza o desnorteio como dado final de
uma situao de extrema violncia, cujas alternativas se perdem entre o cativeiro
degradante e a morte. Nisso esto as razes objetivas para que os revolucionrios
africanos, mobilizando as populaes de seus pases, decidissem, com afinco e coragem,
lutar, no mais por via pacfica, mas pela via armada, na tentativa de pr termo a esta
situao de extrema violncia fsica e psicolgica.
Deste modo, diramos que o objetivo central da libertao nacional a destruio
do sistema colonial, sua aniquilao completa. Cada dirigente e militante em seu pas
concebia sua estratgia de luta, atravs da qual encorajava tambm aos outros
revolucionrios dos pases africanos.
Para Cabral, por exemplo, impossvel pensar que qualquer movimento de
libertao nacional que no tenha por base e por objetivo a libertao nacional alicerada
na destruio do regime colonial consiga libertar-se do seu jugo. Poder at estar a lutar
contra o imperialismo, mas no estar a lutar pela libertao nacional, pois o fenmeno
de revoluo nacional necessariamente um fenmeno de revoluo. Portanto, o
problema da violncia justificvel. Isto porque, os fatos, por si ss, dispensam
comentrios, pois,
O instrumento essencial da dominao imperialista a violncia. [Portanto] Se
aceitarmos o princpio de que libertao nacional uma revoluo, e que ela no
acaba no momento em que se ia a bandeira e se toca o hino nacional, veremos
que no h nem pode haver libertao nacional sem o uso da violncia libertadora,
por parte das foras nacionalistas, para responder violncia criminosa dos
agentes do imperialismo. Ningum duvida de que, sejam quais forem as suas
caractersticas locais, a dominao imperialista, implica sempre um estado de
violncia permanente contra as foras nacionalistas. (...) O que importa de
determinar quais as formas de violncia que devem ser utilizadas pelas foras de
libertao nacional, para no s responderem violncia do imperialismo mas
tambm para garantirem, atravs da luta, a victria final da sua causa, isto , a
verdadeira independncia nacional.39
Nisso podemos perceber o sinal do vento da mudana a soprar, sinal de uma
resistncia, ainda que tmida, a ecoar, cujos frutos j se fazem sentir no canto, no som
dos tambores, a conscientizar os irmos pelo drama que esto vivendo. Como frisa Vasco
37
CASTRO SOROMENHO, Fernando Monteiro. Homens sem caminho. 4a Ed. Lisboa: Ulisseia, 1966, p. 14.
CHAVES, Rita. A Formao do Romance Angolano: entre intenes e gestos. So Paulo: EDUSP/FBLP,
1999, p. 17. [Coleo Via Atlntica]
39
CABRAL, Amlcar. A arma da teoria. Unidade e Luta I. Lisboa: Seara Nova: 1977, p. 211.
38
37
Serra: "o colonialismo ter o que buscou ao disseminar um to alto grau de dor e
injustia".40 A seguir, temos uma clara ilustrao disso noutro romance de Castro
Soromenho:
(...) S h vinte anos que foram submetidas s ltimas tribos. Destribalizou-se
para os dominar, depois de vencidos pela guerra. Mas o negro refugiou-se nas
associaes secretas e nos movimentos proftico-messinicos. Eles resistem,
Eduardo. No esto vencidos. Ests a ouvir este batuque, mas no sabes o que
significa. Para os brancos, o batuque festa, libertinagem, bebedeira. Mas para
eles muito diferente. Este um batuque religioso. Ontem foi enterrado um preso e
esto a fazer o batuque dos mortos, atrs do muro do cemitrio. Ns estamos entre
a priso onde o homem morreu, na senzala dos cipaios, e o cemitrio. O tambor a
grande voz da frica. Nunca me esqueci do que me disse um africano que conheci
em Benguela: s se conhece a frica depois de se compreenderem todos os
toques de tambores. Quando se deixarem de ouvir os tambores a frica estar
morta. Sempre que ouo um tambor, lembro-me desse amigo de Benguela. Ouo e
sinto que a frica est bem viva na voz de seus tambores.41
Isto demonstra como a aparente passividade dos africanos era transitria, como ir
comprovar a resistncia e luta armada pela libertao nacional. Alm disso, segundo
Roland Corbisier,42
Sem dvida, na recusa do colonialismo, a negao total do colonizador e na
aceitao total de si mesmo, o colonizado, (...) ainda est em grande parte,
determinado pelo colonizador. No processo dialtico da emancipao, no entanto,
esse momento necessrio, pois torna possvel o momento seguinte, em que da
negao da negao, se passa plena positividade da afirmao de si.
Assim, para Patrick Chabal,43 um dos aspectos mais dignos de ateno da
perspectiva nacionalista/revolucionria foi a necessidade de abolir a referncia ao
sentido de etnicidade, regionalismo e tribalismo durante a luta para que, juntos, os povos
de vrias regies constitussem um s e, para isso, lutar contra o inimigo comum de
todos: o colonizador.
O romance que ilustra com preciso e coerncia esta questo Mayombe, da
autoria do escritor angolano Pepetela que retrata a luta por meio de personagens que
vivem a problemtica dos valores e das contradies relacionada, sobretudo,
diversidade cultural e tnica que compunham o exrcito de libertao nacional angolana.
Assim, destacamos o personagem Teoria, um mestio:
40
SERRA, Vasco apud CHAVES, Rita. Op. Cit., p. 125.
CASTRO SOROMENHO, Fernando Monteiro. A Chaga. 4a. Ed. Luanda, Unio dos escritores Angolanos,
1985, p. 189-190.
42
CORBISIER, Roland. Prefcio. In: MEMMI, Albert. Op. Cit., . 16.
43
CHABAL, Patrick. Vozes Moambicanas: literatura e nacionalidade. Lisboa: Vega, 1994, p. 52.
41
38
Criana ainda, queria ser branco, para que os brancos no me chamassem negro.
Homem, queria ser negro, para que os negros no me odiassem. Onde estou eu,
ento? E Manuela, como poderia ela situar-se na vida de algum perseguido pelo
problema da escolha, do sim ou do no? Fugi dela, sim, fugi dela, porque ela
estava a mais na minha vida; a minha vida o esforo de mostrar a uns e a outros
que h sempre um talvez.44
O angolano Mrio de Andrade, escritor, pensador, ex-presidente do MPLA e amigo
de Cabral, num texto no qual sintetiza da seguinte forma a ambigidade com que ele e os
demais colegas estudantes africanos, em Portugal, se debatiam, sendo simultaneamente
assimilados e africanos:
O antagonismo entre a situao de africanos explorados e a possibilidade de uma
assimilao so inconciliveis. Ns sentimos essa realidade como um dilema que
preciso resolver. Por um lado somos africanos, assimilados cultura portuguesa e
nos impem a cidadania portuguesa. Ao mesmo tempo somos capazes de adquirir
uma preparao intelectual e cultural avanada. Esse antagonismo gera o conflito:
os estudantes ou entram no caminho de uma ascenso social individual para serem
bons mdicos, bons advogados, bons tcnicos ou so pessoas que vo utilizar a
sua capacidade, a sua profisso para servir a grande massa.45
Exprime-se assim o esprito nacionalista que, segundo Cabral, consistia em
reafricanizao dos espritos46 que, nada mais era do que a primeira forma de
manifestao da conscincia de uma alienao sobre a qual era preciso pr termo, de
modo a evitar a perda da identidade africana por parte destes estudantes revolucionrios.
preciso negar o colonizado [que cada um trazia dentro de si], negar o assimilado a
Portugal. Mrio de Andrade47 prossegue: Sentimos necessidade de nos despojar, de nos
fazer uma lavagem cerebral, para nos libertarmos da assimilao imposta pelo ensino
colonial.
Trata-se de uma busca, nem sempre fcil, mas que vale a pena pelo fato de
existirem homens dispostos a pensar o futuro do continente e de seus pases. Um futuro a
ser conquistado. Mas como se poder conquistar este futuro que ningum sabe ao certo o
que ele significa, nem no que ele vai dar? O ponto de partida a realidade concreta que
estes jovens vivenciaram na colnia e na metrpole: segregao e racismo. Isto gerou
indagaes, as quais os conduzem aos dilemas centrais de uma frica que se esfacela.
44
PEPETELA. Mayombe. 5a. Ed. Lisboa: Dom Quixote, 1993, p. 19.
ANDRADE, Mrio de. Amlcar Cabral. In: AZEVEDO, Licnio & RODRIGUES, Maria da Paz. Dirio da
Libertao A Guin-Bissau da Nova frica. So Paulo: Versus, 1977, p. 88-89. (Coleo Testemunhos).
46
CABRAL, Amlcar. Op. Cit., p. 226.
47
ANDRADE, Mrio de. In: AZEVEDO, Licnio & RODRIGUES, Maria da Paz. Op. Cit., p. 91.
45
39
Por isso, Cabral, Agostinho Neto, Mondlane, e Mrio de Andrade, entre outros, se
propuseram a nobre tentativa de construir uma sociedade livre e igualitria sobre os
escombros do nada (ou quase nada).48
De fato isto significava que a mudana histrica essencial ao continente
pressupunha uma mudana de mentalidade baseada na suplantao destes sentimentos
divisionistas.
Outro personagem do romance acima citado, Muatinvua, nativo que se v s
avessas com a desconfiana dos seus camaradas guerrilheiros que pertenciam s outras
etnias angolanas, sendo ele prprio, era fruto de duas etnias africanas, alm do mais,
disse que tinha convivido em sua infncia, com meninos de raa e de etnia diferente; pelo
prega a suplantao do sentimento de diviso entre as etnias e raas em todas as
configuraes.
Meu pai era um trabalhador bailundo do Diamang, minha me uma kimbundo do
Songo. (...) O primeiro bando a que pertenci tinha mesmo meninos brancos, e tinha
midos nascidos de pai umbundo, tchokwe, kimbundo, fiote, kuanhama. (...)
Querem hoje que eu seja tribalista! De que tribo?, pergunto eu. De que tribo, se eu
sou de todas as tribos, no s de Angola, como de frica? No falo eu o swahili,
no aprendi eu o hausa com um nigeriano? Qual a minha lngua, eu, que no
dizia uma frase sem empregar palavras de lnguas diferentes? E agora, que utilizo
para falar com os camaradas, para deles ser compreendido? O portugus. A que
tribo angolana pertence a lngua portuguesa? (...) eu no preciso de me apoiar
numa tribo para sentir a minha fora.49
Este um personagem cuja preocupao se fundava numa idia de nao,
enquanto espao aberto multiplicidade tnica e cultural. O curioso tambm que ele
definia a sua pertena como sendo supra-racial e tnica, na medida em que se sentia
angolano, ou africano.Nada mais que isso.
O prprio autor numa entrevista ao Prof. Carlos Serrano50 diz que O Muatinvua
tambm tem muito de mim, no aspecto da preocupao com unidade nacional, d uma
idia internacional, aps informar na mesma entrevista que o comandante Sem Medo
tinha idias suas, notadamente, as de carter poltico.
Conforme o referido professor,
48
FERNANDES, Florestan. Apresentao. In: AZEVEDO, Licnio & RODRIGUES, Maria da Paz. Op. Cit., p.
6.
49
PEPETELA. Op. Cit., p. 138-141.
SERRANO, Carlos. O romance como documento social: o caso Mayombe. In: Via Atlntica. FFLCH. USP
No. 3. So Paulo: Departamento de Letras Clssicas e Vernculas, 1999, p. 135.
50
40
As diferentes formas de ver o outro ou de se ver a si mesmo e de tomar conscincia
da prpria luta em relao aos demais grupos que [o] compem ... so vivenciados
pelos guerrilheiros no momento da mobilizao nacional. nesse momento que se
procura transpor esses obstculos a fim de se obter uma unio que leve luta
maior de libertao do todo, momento em que um sentimento nacionalista os
motiva o combate frente a um inimigo comum.51
Pode-se dizer que a revoluo independentista nada mais era do que o
questionamento da lgica colonial, uma lgica que segundo Carlos Lopes estava j
desenquadrada no espao e no tempo, relativamente evoluo do processo de
integrao capitalista.52
Porm, algumas propostas emergem, desde logo, durante as guerras de libertao
nacional, atravs dos congressos dos principais partidos libertadores da Guin e CaboVerde, Angola e Moambique. Chamamo-las de propostas-utopias, na medida em que
todas elas visavam alcanar os objetivos preconizados pelos seus lderes e, ao mesmo
tempo, no se sabia se tudo se concretizaria ou no. Portanto so como miragens.
Estes lderes, Cabral, Agostinho Neto, Eduardo Mondlane e Samora Moiss
Machel entre outros, eram figuras preocupadas com os processos de profunda
transformao social que ocorria em seus pases e, imbudos de esprito revolucionrio,
procuraram exprimir as aspiraes superiores de seus povos, mobilizando para a luta
homens que faziam parte dos setores mais conscientes e mais determinados de suas
sociedades, a burguesia, o operrio e o campesinato, instigando-os para que
avanassem, resolutamente, na construo de uma nova sociedade, livre da explorao
colonial. Para isso ancorou-se em algumas propostas/utopias para que o objetivo
proposto fosse alcanado.
Embora a nossa proposta de estudo esteja voltada para Moambique, nos
serviremos de outros movimentos libertadores lusfonos para ilustrar algumas
semelhanas
em
relao
aos
objetivos
preconizados
por
estes
movimentos
revolucionrios, dentro do contexto histrico colonial portugus em frica como as que
frisamos a seguir. Por outro lado, seguiremos a linha de pensamento de Amlcar Cabral,
um dos maiores tericos das lutas de libertao em frica.
No mbito poltico-ideolgico, os movimentos de libertao nacional dos pases
africanos de lngua portuguesa pautam por alguns princpios basilares de sua atuao,
princpios estes que nos parecem perpassar a todos eles. Embora o nosso estudo se
debruce sobre a situao moambicana, portanto com a FRELIMO, vimos to logo
51
52
Id Ibid p. 135.
LOPES, Carlos. Op. Cit., p. 43.
41
necessrio apoiarmo-nos noutros movimentos como PAIGC, da Guin-Bissau e Cabo
Verde e o MPLA em Angola para ilustramos algumas propostas revolucionrias.
Assim, para o PAIGC
(...) a mobilizao nacional para o desenvolvimento s realizvel no quadro de
uma democracia que estimule e garanta a participao de todas as camadas
sociais. Esta democracia nacional deve orientar-se no sentido da defesa dos
interesses das massas trabalhadores, as quais constituem a grande maioria das
populaes. Assim ela se define como revolucionria.53
Isto quer dizer que a democracia nacional revolucionria do PAIGC consistia, em
primeiro lugar, num sistema que implicava a participao de todo o povo guineense e
caboverdiano sem distino de classes; e segundo lugar, uma democracia
revolucionria porque se orienta para a defesa dos interesses das massas trabalhadoras.
O MPLA, em Angola, se define com uma proposta de democracia popular e
socialista. Diz-nos Agostinho Neto:
(...)
Efetivamente, o contedo de classe da Democracia Popular e do Socialismo e a
conseqente agudizao da luta de classes no plano interno e internacional exigem
que uma classe operria como fora dirigente possua o instrumento capaz de
realizar esta tarefa. Este instrumento, organizado e estruturado de acordo com os
princpios marxistas-leninistas, que dirigir as classes revolucionrias, ser o
Partido de Vanguarda da Classe Operria. (...) O MPLA ser pois o Partido da
classe operria que unir numa slida aliana os operrios, os intelectuais
revolucionrios e outros trabalhadores dedicados causa do proletariado.54
A FRELIMO, por seu lado, constata que sem Partido revolucionrio e sem ideologia
revolucionria no ser possvel desenvolver-se a revoluo em Moambique, por isso:
(...)
As duras batalhas de classe exigem que a classe operria, em estreita aliana com
o campesinato, seu aliado fundamental, e com elementos progressistas de outras
classes trabalhadoras disponham de um partido de vanguarda, orientado pela
ideologia cientfica do proletariado. A criao do Partido surge como uma
necessidade do desenvolvimento da Revoluo. (...) Nesta perspectiva o Comit
Central prope ao III Congresso a criao do Partido da vanguarda, Partido
marxista-leninista.55
53
MOITA, Lus. Os Congressos da FRELIMO, do PAIGC e do MPLA Uma anlise comparativa. Lisboa:
CIDAC; Ulmeiro, 1979, p. 39.
54
MPLA Relatrio do I Congresso do Comit Central. In: MOITA, Lus. Op. Cit., p. 48.
55
Relatrio do Comit Central da FRELIMO. In: MOITA, Lus. Op Cit., p. 42-43.
42
No plano econmico e social, o PAIGC, atravs do Relatrio do Conselho Superior
de Luta, embora enfoque os princpios sobre os quais se desenvolvero as bases
econmicas e sociais do futuro Estado, continua firme no princpio do reforo ideolgico e
organizativo, e confirma-o, assim, no relatrio de 1966:
A luta pela independncia econmica e social mais complexa e difcil que a luta
pela independncia poltica, tanto pelas suas caractersticas externas que tem de
enfrentar, como pelas contradies geradas pelas mutao cada vez mais
profundas no processo de desenvolvimento das foras produtivas e sociais,
medida que os objetivos programticos foram sendo atingidos e a diferenciao das
vrias camadas sociais, com os seus interesses especficos, se for acentuado. Ela
exige, por isso, uma vanguarda poltica cada vez mais coeso do ponto de vista
ideolgico e bem estruturado do ponto de vista organizativo.56
Ou seja, este texto do relatrio tenta esclarecer o grande objetivo do PAIGC que
o do desenvolvimento social e econmico, sem descurar no prosseguimento da luta de
libertao nacional e, ao mesmo tempo, que prev para o futuro, ps-luta, a agudizao
das tenses sociais, isto , a luta de classes que se travar mais adiante.
Acima, temos apontado algumas linhas gerais que, de acordo com os princpios
basilares dos trs movimentos libertadores, vem desde logo, a questo da autonomia das
organizaes das massas atravs dos sindicatos, organizaes das mulheres, dos jovens
e associaes culturais e o papel dirigente dos partidos em face de estes rgos. Porm,
estes, os partidos libertadores, sem monopolizar toda a actividade poltica, deve
dinamizar as lutas das massas nas diversas frentes e sectores, de modo a alargar sempre
mais o campo da revoluo57 e, simultaneamente, traar estratgias de desenvolvimento.
Para a FRELIMO, o desenvolvimento econmico e social, na etapa da Democracia
Popular, tomar a agricultura como base e a indstria como fator dinamizador e decisivo.
Assim, numa primeira fase do nosso desenvolvimento, a agricultura, criando a
maior parte do excedente, constitui a fonte principal de acumulao para o nosso
desenvolvimento, assegurando a produo de matrias-primas para a indstria,
garantindo o abastecimento em produtos alimentares e produzindo excedentes para
a exportao. A indstria, transformando as matrias-primas do solo, do subsolo e
do mar e fornecendo os meios de produo a diversos sectores, em especial
agricultura, elevar a capacidade de produo do conjunto da economia e, num
processo dinmico, impulsionar o desenvolvimento econmico acelerado. Numa
segunda fase, o processo de crescimento econmico exigir a criao e
desenvolvimento da indstria pesada, factor decisivo do desenvolvimento. Com
efeito, a indstria pesada que permitir a industrializao da agricultura, o
desenvolvimento impetuoso das foras produtivas em todos os sectores e
56
57
Relatrio do Conselho Superior de Luta do PAIGC. In: MOITA, Lus. Op. Cit., p. 46.
MOITA, Lus. Op. Cit., p.51.
43
contribuir decisivamente para nos libertar da situao de profunda dependncia
econmica e tecnolgica em que nos encontramos. A indstria pesada, pela sua
grande dimenso e nmero de operrios envolvidos em complexos industriais
integrados, criar as condies objectivas que permitem a elevao do nvel da
conscincia de classe e reforar o papel dirigente do operariado no
desenvolvimento da sociedade.58
Em seu relatrio do Conselho Superior de Luta de 1966, o PAIGC contatava que
eram imprescindveis a coordenao e planificao dos projetos de desenvolvimento
econmico, de modo a encarar o necessrio auxlio externo, sem deixar de contar com as
prprias foras. Por isso, enseja: (...) aumentarmos a produtividade, diversificar as
culturas, promover a iniciativa criadora das massas e, Assim, pautar pela criao de
condies que conduzam ao estabelecimento do equilbrio da nossa balana de
pagamentos e a outras necessidades tendentes a quebrar o crculo fechado da autosubsistncia, em que se encontram 80% da nossa populao. Por isso, o partido
defende,
(...) devemos dar prioridade s indstrias essencialmente voltadas para o mercado
exterior ou susceptveis de, rapidamente, gerar excedente exportvel. Assim,
crimos empresas no domnio das pescas e da transformao da madeira e temos
em curso a instalao de um complexo agro-industrial em Cumer, cujos produtos
se destinam essencialmente exportao. (...) a indstria e os servios tero
papis importantes a desempenhar. A indstria ter de ir ao encontro das
necessidades vitais da populao rural de forma a produzir e colocar no mercado
artigos utilitrios que, provocando no campons a necessidade da sua aquisio,
iro estimul-lo a produzir mais e melhor com o fim de vender o excedente e aplicar
o produto dessa venda na compra dos referidos artigos. Para a dinamizao e
aumento da produtividade na agricultura, a indstria dever dedicar-se ao
incremento das tcnicas culturais agrcolas, nomeadamente no que respeita ao
fabrico de alfaias agrcolas e de fertilizantes (...). Deste modo, a agricultura e a
indstria articulam-se num desenvolvimento equilibrado a agricultura como base e
a indstria como dinamizadora do seu desenvolvimento.59
O MPLA, em suas Linhas mestras, traa perfil igual aos outros dois movimentos
tomando a agricultura por base e a indstria como dinamizadora deste processo que
visava, essencialmente, ao bem de todas as classes sociais; acrescentando, deste modo,
os seguintes setores:
(...) de considerar o petrleo, as pescas, a construo civil e indstrias conexas,
como sectores de arranque da economia nacional a curto prazo, e a indstria
mineira como sector de arranque a mdio prazo. (...) H que alargar continuamente
o sector social (estatal e cooperativo) da economia, aplicar s empresa estatais as
58
59
Directivas da FRELIMO. In: MOITA, Lus. Op. Cit., p.56.
Relatrio do Conselho Superior de Luta do PAIGC. In: MOITA, Lus. Op. Cit., p.60-61.
44
novas formas de gesto e de clculo econmico (...) a criar novas cooperativas de
produo e de consumo, dando prioridade s cooperativas de produo no
campo.60
Todos estes movimentos revolucionrios acreditavam no desenvolvimento de seus
pases, considerando que existem fases para o processo de desenvolvimento em nveis
gerais e particulares de produo, isto , de muito trabalho por parte de todos os atores
da revoluo, a saber intelectuais, operrios, o campesinato, o povo e pequena burguesia
urbana. Pois como disse Cabral os nossos povos [na frica] tm realmente a
possibilidade de passar de uma situao de subdesenvolvimento e explorao para uma
nova fase do processo histrico, fase que os pode levar as formas mais altas de vida
econmica, social e cultural.61 Em outras palavras, o conceito central de libertao
nacional de todos estes movimentos, poderia ser definido, no tanto como o direito do
povo a governar-se a si prprio, mas, sobretudo, como o direito do povo a recuperar a sua
prpria histria, libertando os meios e o processo de desenvolvimento das suas foras
produtivas.
Neste sentido, serviremos de uma citao de Basil Davidson, a respeito da forma
como Amlcar Cabral que tinha a insistncia teimosa em
analisar factualmente a maquinaria da sociedade, da sociedade tradicional, da
sociedade colonial; em inspeccion-la pea a pea; em considerar-se, e at que
ponto, essas peas poderiam ser usadas na construo de uma mquina
inteiramente diferente; em decidir com grande rigor que novas peas seriam
necessrias; numa palavra, em conceptualizar o processo real e pormenorizado de
mudana scio-econmica62.
Pode-se deduzir o seguinte, a partir desta proposio de Davidson: primeiro a
anlise e a fixao dos objetivos principais da luta de libertao nacional e, atravs dela, o
avano rumo ao desenvolvimento; depois, poder-se- perguntar, por que meios seguir
para a obteno deste desenvolvimento? Talvez encontremos a resposta com Cabral no
trecho a seguir:
Cada povo que melhor sabe o que fazer para seu benefcio: mas parece-nos [a
ns do PAIGC] que preciso criar uma vanguarda unida e consciente do
verdadeiro significado e objectivo da luta de libertao nacional que vai dirigir. Esta
necessidade parece-nos ainda mais urgente porquanto a situao colonial, embora
com algumas excepes, no permite e nem admite a existncia de classes de
60
Linhas mestras do MPLA. In: MOITA, Lus. Op. Cit., p.64.
CABRAL, Amlcar apud DAVIDSON, Basil. Op. Cit., p. 90.
62
DAVIDSON, Basil. Op. Cit., p. 92.
61
45
vanguarda (uma classe operria consciente de si mesma, um proletariado rural).
[...] Por outro lado, a natureza embrionria das classes laboriosas e a situao
econmica, social e cultural dos camponeses que so a mais forte das foras
fsicas na luta pela libertao nacional no permitem que estas duas principais
foras da luta compreendam, sozinhas, a diferena entre uma independncia
nacional genuna e a independncia poltica artificial. S uma vanguarda
revolucionria, geralmente uma minoria activa, pode compreender esta diferena
desde o incio e pode gradualmente explic-la, durante a luta, s grandes massas
do povo63.
No plano cultural, reportando-nos, mais uma vez ao grande terico revolucionrio
da luta de libertao nacional nas ex-colnias portuguesas em frica que Amlcar
Cabral, ele dizia que a luta de libertao , antes de mais, um acto de cultura, 64 devido
ao seu carter civilizatrio de libertao nacional e de emancipao dos povos. Ao
mesmo tempo, no plano individual, a luta permitiu ao homem africano constituir-se
enquanto sujeito da Histria e, portanto, sujeito de uma nao.
A cultura, base e fonte de inspirao da luta, passa a ser influenciada por esta,
influncia que se reflete, de forma mais ou menos evidente, quer na evoluo das
categorias sociais e dos indivduos, quer no desenrolar da prpria luta. O ato de
mobilizao e organizao que o partido da Guin e Cabo Verde, PAIGC, levava (e
tambm outros movimento de libertao nacionais nas antigas colnias portuguesas,
MPLA, em Angola e FRELIMO, em Moambique) para lutar contra a dominao
estrangeira, era uma forma de proteger a sua cultura, preservando-a e preservando-se
enquanto povo. Ora, isso quer dizer, que se tratava tanto da preservao e sobrevivncia
dos valores culturais do povo como da harmonizao e desenvolvimento desses valores.
Mas, para que se preservem os valores culturais positivos de cada grupo social
bem definido, de cada categoria, realizando a confluncia desses valores no sentido da
luta, dando-lhes uma nova dimenso a dimenso nacional,65 era necessrio
reconhecer que
A luta de libertao nacional, que a mais complexa expresso do vigor cultural do
povo, da sua identidade e da sua dignidade, enriquece a cultura e abre-lhe novas
perspectivas de desenvolvimento. As manifestaes culturais adquirem um novo
contedo e novas formas de expresso, tornando-se assim um poderoso
instrumento de informao e formao poltica, no apenas na luta pela
independncia como tambm na primordial batalha do progresso.66
63
CABRAL, Amlcar apud DAVIDSON, Basil. Op. Cit., p. 93.
CABRAL, Amlcar. Op. Cit., p. 244.
65
CABRAL, Amlcar. Op. Cit., p. 245.
66
Id Ibi, p. 247.
64
46
Explicitando melhor a sua idia, Cabral recorre flor:
Como sucede com a flor numa planta, na cultura que reside a capacidade (ou a
responsabilidade) da elaborao e da fecundao do germe que garante a
continuidade da histria, garantindo, simultaneamente, as perspectivas da evoluo
e do progresso da sociedade em questo. (...) [ por isso que] a opresso cultural e
a tentativa, directa ou indirecta, [do colonizador em liquidar os] dados essenciais da
cultura do povo dominado [no surtiu o efeito desejado, porque este resistiu].67
A afirmao da personalidade cultural dos povos das ex-colnias portuguesas em
frica, testemunha a resistncia face cultura do opressor, ainda que se deva reconhecer
que, da mesma forma que, do ponto de vista econmico e poltico, existem vrias fricas,
h tambm vrias culturas africanas no interior de um mesmo pas. Por isso, apoiandonos, mais uma vez em Cabral, diramos que so os seguintes os objetivos da resistncia
cultural, perseguidos pela revoluo nacional pelas independncias das colnias
portuguesas em frica:68
a)
desenvolvimento de uma cultura popular e de todos os valores culturais
positivos, autctones;
b)
desenvolvimento de uma cultura nacional baseada na histria e nas
conquistas da prpria luta;
c)
elevao constante da conscincia poltica e moral do povo (e de todas as
categorias sociais) e do patriotismo, esprito de sacrifcio e de dedicao causa
da independncia, da justia e do progresso;
d)
desenvolvimento de cultura cientfica, tcnica e tecnolgica, compatvel
com as exigncias do progresso;
e)
desenvolvimento, com base numa assimilao crtica das conquistas da
humanidade nos domnios da arte, da cincia, da literatura, etc., de uma cultura
universal tendente a uma progressiva integrao no mundo atual e nas
perspectivas da sua evoluo;
f)
elevao constante e generalizada dos sentimentos de humanismo,
solidariedade, respeito e dedicao desinteressada pessoa humana.
67
68
Id Ibid p. 224.
CABRAL, Amlcar. Op. Cit., p. 232-233.
47
Com o seu olhar de engenheiro Cabral no se esqueceu de tratar tambm dos
temas relativos mulher, criana e s riquezas do seu pas: a flora e a fauna. Temas
que podem estendidos realidade moambicana. Numa passagem do Prefcio ao livro
de Davidson, Cabral traa uma de suas grandes preocupaes: a igualdade entre o
homem e mulher que est explcito no tratamento que o autor d a Lebete: a me de
famlia e ao mesmo tempo a mulher revolucionria cuja opinio respeitada pelo marido,
e tambm uma mulher trabalhadora, descrevendo-a da seguinte maneira: mulher, a
jovem rebelde, fina como uma gazela, a me de famlia, a mulher cuja opinio escutada
pelo marido, a cultivadora de arroz. Mas, o mais importante do que temos afirmado at
agora, est explcita na seguinte pergunta Poder uma luta, mesmo a mais justa, como
a nossa, arrogar-se o direito de monopolizar o tempo a tal ponto que chegue a silenciar a
voz de Lebete, a mulher?.69 A mulher que tambm era a metfora da fauna, a mulher fina
como a gazela.
As crianas so, no dizer de Cabral, a razo da nossa luta, o futuro do nosso
pas, justamente as que foram abandonadas pelo colonizador, sem roupas, crianas
deformadas pela subalimentao, crianas que no tm brinquedos, mas tm estmagos
intumescidos
habitados
por
vermes,
crianas
que
parecem
crianas-bales,70
contrariamente s crianas da terra dos brancos, cujas barrigas no so grandes. Uma
luta que visa tambm proteger os ancios, nossos museus, as nossas bibliotecas, os
nossos livros de histria o presente e o passado.71
No poderia escapar ao olhar crtico do engenheiro, a floresta, que abriga as bases
dos guerrilheiros, como tambm elas sos os basties sagrados dos irans e de toda a
casta de espritos.72 Uma floresta que j no lhes mete medo, porque segundo Cabral
conquistamos e mobilizamos para o nosso lado os espritos da floresta, transformando
esta fraqueza numa fora. Pois era este o sentido da luta: tornar as fraquezas foras. E
claro as flores no escaparam s suas consideraes: Flores azuis-amarelas-lilases,
flores cor de arco-ris, flores vermelhas como o Sol poente, e tambm brancas (mas no
como os colonos), brancas e puras como a pomba de Picasso.73
Com a revoluo, estes pases passaro a Estados nacionais, soberanos e os
homens que lutaram por sua autonomia passam a ser sujeitos de sua histria, no mais
pacientes dela, como vinham sendo tratados pelo colonizador. Ainda que depois das
69
CABRAL, Amlcar. Prefcio. In: DAIDSON, Basil. Op. Cit., p. 6-7.
Id Ibid p. 7
71
Id Ibid. p. 7.
72
Id Ibid. p. 8.
73
Id Ibid. p. 6.
70
48
independncias estejamos assistindo frustraes em relao aos ideais que nortearam as
lutas.
Um fato, porm, merece nossa ateno: o fato de que aqueles que foram ao longo
do tempo objetos da Histria, passam com a revoluo a sujeitos da Histria.
Para Fanon,74
A descolonizao no passa nunca despercebida, dado que afecta o ser, modifica
fundamentalmente o ser, transforma espectadores esmagados pela falta do
essencial em atores privilegiados, amarrados de maneira quase grandiosa pelo
correr da histria. Introduz no ser um ritmo prprio provocado pelos novos homens,
uma nova linguagem, uma nova humanidade. A descolonizao realmente a
criao de homens novos.
Durante uma dcada os pases africanos, ex-colnias, lutaram contra ditadura de
Portugal salazarista, libertando-se dela e libertando tambm a prpria potncia
colonizadora, Portugal, de suas amarras fascistas. Os traumas, as perdas material e
humana permanecem vivas como lembrana na memria coletiva dos povos, colonizado
e colonizador. E assim abriu-se o caminho para a constituio de novas identidades
nacionais que ser, a seguir, nosso objeto de anlise.
74
FANON, Frantz. Op. Cit., p. 32-33.
49
II. Ps-Independncia e Ps-Colonialismo: um contraponto
Cada coisa a seu tempo
Pouco a pouco o passado recordemos
E as histrias contadas no passado
Agora duas vezes
Histrias, que nos falem.
Fernando Pessoa
Ao longo destas pginas, procuramos refletir acerca da relao entre a literatura e
a sociedade, entre a literatura e a histria, de modo a entender como esta relao se
projeta na construo da identidade cultural do sujeito-narrador do romance Um Rio
Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra. E, por outro lado, como esta construo da
identidade cultural se integra no tecido social moambicano.
Para melhor nos debruarmos sobre o tema em questo, procuraremos, nesta
etapa do trabalho, esboar a distino entre o ps-colonialismo e a ps-independncia,
para ver, at que ponto, os dois conceitos, simultaneamente, se imbricam um no outro, e
se negam em certos aspectos diferenciadores. Neste sentido recorremos a dois crticos,
Terry Eagleton e Stuart Hall, para ilustrarmos algumas propostas de estudo.
Surgido depois da Segunda Guerra Mundial, o termo ps-colonialismo designava
os pases recm independentes; portanto tinha um sentido cronolgico. Entretanto, a
partir dos anos setenta, torna-se o termo usado pela crtica, em diversas reas de estudo,
para discutir os efeitos culturais da colonizao. Embora o ps-colonialismo no designe
um conceito histrico, mas um conceito de anlise que nos conduz s literaturas que
nasceram num contexto marcado pela colonizao europia, diramos que a crtica pscolonial se volta contra as formas e os temas coloniais, considerando-as ultrapassadas;
ao mesmo tempo, em que se esfora por combater e refutar as suas categorias e idias
geradoras, propondo uma nova viso de um mundo cuja caracterstica se traduz pela
coexistncia e negociao de lnguas e culturas.
a partir deste princpio de contradio que Stuart Hall nos chama a ateno para
as suas discriminaes e especificidades e para a necessidade de estabelecer com mais
clareza em que nvel de abstrao o termo est sendo usado, ou at que ponto este
conceito deveria nos ajudar a descrever ou caracterizar a mudana nas relaes globais,
50
que marca a transio, necessariamente irregular, segundo ele, da era dos imprios para
o momento da ps-independncia ou da ps-colonizao.1
Contudo, ser, sobretudo, a partir da publicao de Orientalism (1978), de Edward
Said que se desenvolvem terica e criticamente os estudos a respeito deste tema,
surgindo posteriormente obras de outros intelectuais na dispora, quer oriundos das excolnias, quer com razes nelas, que reclamam uma voz crtica ps-colonial.
Procurou-se articular, a partir deste perodo de 1978, o ps-colonialismo aos
estudos culturais, os quais permitem uma reflexo sobre a transmigrao das teorias,
sobre a relao entre o local e o global e assinala uma anlise das prticas culturais do
ponto de vista da sua imbricao com as relaes de poder.
Refletindo sobre as relaes de poder, Ella Sholat reconhece as suas implicaes
nas trs ltimas dcadas nos chamados pases de Terceiro Mundo, frisando que se
produziram um nmero bastante complexo e politicamente ambguo de
desdobramentos... [inclusive] a compreenso de que os condenados da terra no
so unanimemente revolucionrios... e [que] a despeito dos amplos padres de
hegemonia geopoltica, as relaes de poder no Terceiro Mundo so tambm
dispersas e contraditrias.2
A fim de melhor compreendermos como se delineava o quadro moambicano,
vamos tentar traar, num primeiro momento, a diferena entre ps-modernismo e psmodernidade para chegarmos, num segundo momento, a uma distino mais
esclarecedora entre ps-independncia e ps-colonialismo.
Ps-Modernidade, de acordo com Terry Eagleton, uma linha de pensamento que
questiona as noes clssicas de verdade, razo, identidade e objetividade, a idia de
progresso ou emancipao universal, os sistemas nicos, as grandes narrativas ou os
fundamentos definitivos de explicao.3 Enfim, diz respeito s mudanas que ocorre(ra)m
no contexto histrico de uma poca.
Nessa perspectiva, de salientar que a ps-modernidade enxerga o mundo como
contingente, gratuito, diverso, instvel, imprevisvel, um conjunto de culturas ou
interpretaes desunificadas gerando um certo grau de ceticismo em relao
objetividade da verdade, da histria e das normas, em relao s idiossincrasias e
coerncia de identidades.
HALL, Stuart. Op. Cit., p. 107.
SHOLAT, Ella apud HALL, Stuart. Op. Cit., p. 105.
3
EAGLETON, Terry. As Iluses do Ps-Modernismo. Trad. Elisabeth Barbosa. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,
1998, p. 7.
2
51
A sua viso, contudo, tem a ver com a mudana histrica ocorrida no Ocidente
para dar origem a uma nova forma de capitalismo, cujo panorama global nos conduz a um
mundo efmero e descentralizado de tecnologia, do consumo e da indstria cultural, no
qual as indstrias de servios, finanas e informao triunfam sobre a produo
tradicional, e a poltica de classes cede terreno a uma srie difusa de polticas de
identidade.4
Em contrapartida, o ps-modernismo um estilo de cultura que reflete um pouco
esta mudana memorvel por meio de uma arte superficial, descentrada, infundada,
auto-reflexiva, divertida, caudatria, ecltica e pluralista, que obscurece as fronteiras entre
a cultura elitista e a cultura popular, bem como entre a arte e a experincia cotidiana. 5
Dito de outro modo, a cultura elitista e a cultura popular se confundem; no h uma
fronteira ntida entre ambas, justamente por se tratar de um estilo hbrido de cultura.
Por isso, o ps-modernismo constitui um fenmeno hbrido, no qual tanto o
pessimismo precrio como a viso entusiasmada da diferena, mobilidade e rupturas
constantes se vem misturados.
Feita a aproximao entre as distines relativas ps-modernidade e ao psmodernismo, diramos que a primeira se aproxima mais da ps-independncia no sentido
de ser o marco histrico da virada de um sistema poltico para o outro, no caso, do
colonialismo para a independncia; enquanto que o segundo (o ps-modernismo) teria a
ver com o ps-colonialismo, porque alude ao aspecto cultural de um povo numa
determinada poca de sua histria.
Embora devamos proceder a uma diferenciao entre o ps-modernismo e o pscolonialismo, no que tange perspectiva histrica entre ambos, constatamos, desde logo,
que um se refere ao Ocidente ps-modernismo e outro ps-colonialismo aos
pases ex-colnias em frica, na sia e na Amrica Latina.
Desse modo, o ps-colonialismo se entrelaa com a ps-independncia, na medida
em que abrange questes to complexas, variadas e interdisciplinares, como
representao, sentido, valor, cnone, universalidade, diferena, hibridao, etnicidade,
identidade, dispora, nacionalismo, zona de contato, ps-modernismo, feminismo,
educao, histria, lugar, edio, ensino, etc., abarcando aquilo que se pode designar
4
5
EAGLETON, Terry. Op. Cit., p. 7.
Id Ibid p. 7.
52
como uma potica da cultura e criando alguma instabilidade nos domnios dos estudos
literrios tradicionais.6
Resumindo, recorremos a Russel Hamilton que nos d a possibilidade de
entendermos
ps-colonialismo
que
perodo
do
ps-independncia
se
circunscreveria apenas s questes sociopolticas.
O ps-modernismo transcende o modernismo, tanto cientfico, racional do
iluminismo como, no mbito literrio, o romntico e realista do sculo dezenove e,
no sculo vinte, o modernismo hispano-americano e brasileiro. Portanto, em termos
tericos o ps-modernismo uma espcie de vanguardismo. [J] com respeito ao
ps do ps-colonialismo, [h que se] levar em conta que o colonialismo, ao
contrrio do modernismo traz logo mente uma carga de significadores e
referentes polticos e scio-econmicos. Portanto, os antigos colonizados e seus
descendentes, mesmo com o fim do colonialismo oficial, avanam para o futuro de
costas, por assim dizer. Isto , ao contrrio dos ps-modernistas, que carregam o
passado nas costas mas que fixam os olhos no futuro, os ps-colonialistas encaram
o passado enquanto caminham para o futuro. Quer dizer que por mal e por bem o
passado colonial est sempre presente e palpvel.7
Em outras palavras, no caso especfico do ps-colonialismo caminhar para o futuro
significa tambm olhar para o passado. Eis porque T. S. Eliot afirma que o passado deve
ser modificado pelo presente tanto quanto o presente [deve estar] orientado pelo
passado.8
neste diapaso que Sholat observa que a nfase antiessencialista do discurso
ps-colonial por vezes parece constituir uma tentativa qualquer de recuperar ou
inscrever o passado comum como uma forma de idealizao, a despeito de sua
relevncia enquanto local de resistncia e identidade coletiva.9 Em contrapartida,
prossegue a autora, o discurso essencialista ps-colonial se traduziria como um
acontecimento de significncia global, pelo qual estaria assinalado no o seu carter
universal e totalizante, mas o seu carter deslocado e diferenciado.
Assim, na narrativa reencenada do ps-colonial, de acordo com Hall10, a
colonizao assume o lugar e a importncia de um amplo evento de ruptura histricomundial, pelo que no se restringe apenas ao fato colonial nos pases que sofreram com
Cf. LEITE, Ana Mafalda. Literaturas Africanas e Formulaes Ps-Coloniais. Lisboa: Edies Colibri, 2003,
p. 13-14.
7
HAMILTON, Russel. A literatura dos PALOP e a teoria ps-colonial. In: Via Atlntica. FFLCH. USP. No. 3.
So Paulo: Departamento de Letras Clssicas e Vernculas, 1999, p. 16-17.
8
ELIOT, T. S. A tradio e o talento individual. In: Ensaios de Doutrina Crtica. Lisboa: Guimares, 1962, p.
40.
9
SHOLAT, Ella apud HALL, Stuart. Op. Cit., p. 114.
10
HALL, Stuart. Op. Cit., p. 112.
53
a colonizao; embora tambm o seja, mas tambm pela prpria potncia colonizadora
pois ela tambm se libertou de suas amarras colonialistas.
Portanto, afastando-se da narrativa colonial, superando-a, o escritor moambicano
contemporneo vai definir a estrutura do entre-lugar do ps-colonial, na medida em que
ele [o ps-colonial] apresenta tanto ao colonizador quanto ao colonizado um problema de
identidade.11
Mas, a conjugao do passado com o presente com vista construo de um
futuro melhor para todos os moambicanos, deve ter por base, o respeito pelas diferenas
tnico-culturais, o que, em outros termos, significa que, ao partirmos da afirmao dos
elementos da pluralidade tnica, devemos considerar a moambicanidade como conceito
ps-colonial e, conseqentemente, do ps-independncia. Porque resultado de uma
conquista scio-cultural, que pressupe uma construo que se narra tal como a nao,
pelo que devemos pr em contato a sociedade rural com a sociedade urbana, gente do
Norte com gente do Sul e do Centro, como outrora acontecera na revoluo.
Alm disso, o direito de reivindicar a prpria liberdade surgiu, entretanto, como
necessidade da unificao das populaes, da necessidade de vencer o sentimento de
impotncia, de sujeio ao colonialismo. Para isso foi criada a FRELIMO com vista a
enfraquecer a implantao dos laos de tribalismo que o colonialismo visava para melhor
reinar, pois era na implementao do esprito divisionista no seio das populaes que o
colonizador ganhava mais fora para poder reinar.
Em frica, sem dvida,, o impulso radical que movia o esprito colonial, opondo
racionalmente, colonizador e colonizado, comea, por parte deste ltimo a mudar
gradualmente, transformando-o, a partir do momento em que ele toma conscincia da sua
opresso, num homem inquieto perante as injustias do sistema colonial, tentando, deste
modo, inverter essa pirmide social, que trazia o europeu no topo e o africano na base,
base esta que s servia para sustentar aquele que vivia no topo.
O socilogo portugus, Boaventura Sousa Santos, ao falar sobre identidade e pscolonialismo, procura, acima de tudo, exaltar, esperamos no estarmos a exagerar com o
emprego deste termo, e, simultaneamente, tentar justificar a peculiaridade da colonizao
portuguesa, no sentido de que, para ele, esta especificidade se fundava no fato de o
colonizador portugus ter sido indigenizado e, ao mesmo tempo, ter conseguido aculturar
o colonizado. Por isso, houve uma perda parcial da diferena entre ambos: colonizador e
colonizado:
11
DIRLIK, A. apud HALL, Stuart. Op. Cit., p. 122.
54
A primeira diferena que a experincia da ambivalncia e da hibridez entre
colonizador e colonizado, longe de ser uma reivindicao ps-colonial, foi a
experincia do colonialismo portugus durante longos anos.12
Isto porque, as colnias, segundo o autor, ora foram colnias, ora foram provncias
ultramarinas. Nesta mesma perspectiva, a miscigenao, entretanto, ora foi vista como a
degradao da raa, da raa branca, portanto, ora como a sua caracterstica, de interagirse com a raa negra, e, nesta mesma medida, os povos nativos, ora foram selvagens, ora
cidados nacionais do grande imprio portugus, isto , partes do imenso Portugal.
Ns nos perguntamos ento: se o colonialismo portugus era, assim, to
humanista, integrando o colonizado na cultura do colonizador e vice e versa, por que
teria havido um estatuto estatuindo, juridicamente, a diferenciao entre o branco, o
assimilado e o indgena nas ex-colnias portuguesas africanas? E, alm disso, por que
ser que o colonizador portugus no tratava, de forma igual, o filho seu com uma mulher
negra e o filho que nascia de seu casamento com uma mulher portuguesa? Ou at
mesmo, por que no levou os filhos mestios que tinha na colnia para a metrpole, logo
depois da independncia?
Quando se fala hoje em fraternidade e solidariedade entre povos tal como a
noo de uma comunidade lusfona (Comunidade de Pases de Lngua Portuguesa, a
sua poltica ps-colonial), em
que somos todos irmanados por um objetivo comum,
devido aos nossos laos histrico-culturais, deve-se atentar para o fato de a antiga
potncia no pode esquecer seu passado colonial, doloroso especialmente para os
colonizados cujas marcas ainda esto indelevelmente inscritas nas suas culturas.
Pois ao se esquecer do seu passado no justo nem fraterno, talvez esteja criando
argumentos que a eximam da responsabilidade colonial, qui como um mero atenuante,
ou uma espcie de mea culpa em relao ao ex-colonizado. Espera-se que a potncia
colonizadora no acoberte as atrocidades do sistema colonial com argumentos fteis e
inconseqentes em relao sua responsabilidade histrica.
Dizer, por outro lado, que partilhamos muitos sculos de trocas culturais o
mesmo que dizer que temos uma histria comum a nos unir. Fato que se esta histria
alguma vez nos uniu, foi, a nosso ver, para nos separar, com o racismo e a xenofobia,
que ainda repercutem em nossos dias.
12
SANTOS, Boaventura Sousa. Entre Prspero e Caliban: Colonialismo, Ps-Colonialismo e InterIdentidade. In: Entre Ser e Estar Razes, Percursos e Discursos da Identidade. Porto: Edies
Afrontamento, 2002, p. 41.
55
A troca cultural de longos anos que, pretensamente, fora estabelecida entre o
portugus e o africano, durante a colonizao, no corresponde mnima verdade, uma
vez que, qualquer que seja o tipo de troca que se estabelea entre os seres humanos
pressupe necessidade, desejo e interesse. At onde sabemos, no h interesse
econmico, nem poltico, muito menos cultural, em jogo, entre o colonizador e o
colonizado, na medida em que a pretensa superioridade civilizacional e ideolgica do
primeiro sufocava o segundo.
Afinal, ele se julgava superior e civilizador, como que poderia admitir ou permitir
se influenciar pelo fraco e primitivo?
O sujeito colonial foi um sujeito rechaado, incorporado ou metamorfoseado em
algo sem existncia;13 por isso que os intelectuais revolucionrios precisavam, com
urgncia, conseguir algum entendimento geral entre as populaes, para fazer-lhes tomar
conscincia de suas condies opressoras de vida, a fim de que fizessem algo para
mud-las. Isto teria como resultado o surgimento do novo sujeito que procuraria
compreender-se a si mesmo para poder se definir na relao estabelecida com o outro,
seja ele seu irmo ou no.
Ser, portanto, neste contexto, que o pensamento ideolgico ia se estruturando, a
partir da tomada de conscincia da prpria condio de colonizado e explorado que, em
plena poca da independncia, obriga o movimento a encontrar solues organizativas e
administrativas para criar alternativas eficazes s instituies governamentais, por forma a
romper com sistema colonial.
Como sabemos esta ruptura no se d de maneira fcil, afinal eram necessrios
muitos quadros tcnicos e administrativos para gerir o aparelho do Estado. E, obviamente,
em se tratando de um pas que fora colnia, esta tarefa se apresentar gigantesca,
porque dos poucos homens preparados pela mquina colonial, muitos foram embora para
Lisboa, temendo uma retaliao por parte dos revolucionrios.
Retomando, mais uma vez, a questo em anlise que ope os conceitos
ps-colonialismo e ps-independncia, serviremos da definio proposta por Graa Abreu
para o primeiro termo, ao afirmar que este se aplica no mbito da arte.
Trata-se [o ps-colonialismo] apenas, de discursos literrios, crticos, tericos
que, posteriores ao colonialismo em sentido restrito histrico-poltico e geogrfico
-, sobre ele refletem, independentemente da origem dos seus autores, numa
perspectiva de abertura de horizontes libertadores.14
13
14
EAGLETON, Terry. Op. Cit., p. 19.
GRAA ABREU. Op. Cit., p.1.
56
E a ps-independncia, por seu lado, se aplica no mbito jurdico-poltico e
administrativo do territrio de Moambique que fora colnia de Portugal at a
proclamao da Repblica em 25 de Junho de 1975.
Outro fato histrico relevante da histria recente do pas se d, em 1992, ano em
que a guerra civil que, at a esta altura, opunha a FRELIMO RENAMO, chega ao fim, e
se comea a desenhar a abertura ao pluralismo poltico-democrtico, que culminar, em
1994, com a realizao das primeiras eleies legislativas e presidenciais que do a
vitria FRELIMO, Frente de Libertao de Moambique, no poder desde 25 de Junho de
1975 e ao seu candidato, Joaquim Chissano. Deste modo, diz Ana Margarida Fonseca:
No se trata, ainda, da representao desse lugar/tempo ideal, a que
corresponderia, neste contexto, o surgimento de uma ptria fraterna e justa, liberta
das iniqidades presentes, mas da esperana na sua possibilidade aquilo que
chamaramos, preferentemente, a representao de uma vontade ou desejo
utpicos.15
Entretanto, como sabemos, iremos assistir ao embate entre as correntes
revolucionrias do movimento, pois, para uns, havia um projeto utpico, em que se mirava
para o futuro, cujo fundamento estava assente no passado que se queria re-significar e
re-valorizar, pelo menos, em termos das tradies africanas. Para isso, eles pregavam
que era preciso aprender com o povo, trabalhando a seu lado na soluo dos seus
problemas, conhecendo-o para ganhar uma sensibilidade popular. Esta corrente era
defendida tanto por Eduardo Mondlane como por Samora Moiss Machel.
Por outro lado, havia aqueles que tinham a conscincia dos limites da grandeza do
trabalho que os revolucionrios artistas e polticos tinham pela frente. Estes defendiam
a modernidade, com vista a implementar no pas uma viso moderna de histria, da
sociedade e do mundo, baseados na educao poltica, tcnica e cientfica dos
moambicanos da nova nao, de acordo com o mundo moderno.
Os protagonistas da revoluo cultural e poltica enfrentam o embate tradio e
modernidade, que, do entusiasmo da vitria passam a experimentar a sensao da
impotncia. Porque os que defendem a re-valorizao das tradies so, de acordo com
os que defendem a modernidade na FRELIMO, dominados por uma viso limitada que
15
FONSECA, Ana Margarida. Histria e Utopia: imagens de identidade cultural e nacional em narrativas
ps-coloniais. Relaes Intertextuais, Contextos Culturais e Estudos Ps-Coloniais. Actas do IV Congresso
Internacional da Associao Portuguesa de Literatura Comparada. vora, 09 a 12 de Maio de 2001, Vl. 1, p.
11.
57
colocaria o pas segregado dos benefcios que a revoluo tcnica e cientfica comportam
o que conduziria o pas, num primeiro momento, dependncia e, num segundo
momento, a sua colocao na periferia do desenvolvimento e, como conseqncia disso,
a sua marginalizao no mundo moderno.
Uma outra ala dentro do partido aquela que defende o resgate das tradies e
instituies africanas -, entende que era necessrio romper com a influncia da cultura
hegemnica colonial, para que, a partir desta ruptura radical, operar as transformaes
necessrias no pas, de modo a permitir que este se desenvolva sem as instituies
ocidentais e os valores que delas emanam.
H tambm a crena, por parte da ala da FRELIMO, a que acredita na
modernidade, de que s a modernidade capaz de criar condies favorveis ao
progresso, j que as tradies africanas no dispem da ratio suficiente para lidar com a
tcnica e as tecnologias ocidentais, pelo que estas as tradies - devem ser postas de
lado e, at mesmo, relegadas ao segundo plano.
Mas como vimos explanando at a agora, julgamos que preciso buscar o
consenso, quer em termos das instituies deixadas no pas pela antiga potncia
colonizadora, quer resgatando os valores institucionais e culturais tradicionais que
possam ir ao encontro dos valores culturais e cientficos modernos. Pois ser nesta
conjugao de fatores que poderemos ter um sujeito moambicano compsito, moderno.
E tambm um pas capaz de se adequar aos desafios do progresso cientfico e
tecnolgico.
Na poca a que nos referimos a idia de um sujeito unificado o bastante para
entabular uma ao significativamente transformadora poderia implodir, pouco a pouco,
junto com a f no conhecimento que costumamos tomar por certo numa renncia aos
valores superiores de uma nao.
Que lugar se reserva literatura? Ou reformulando a questo: qual o lugar que a
literatura se reserva neste contexto? A literatura deve surgir como o ponto a partir do qual
um mundo se organiza com coerncia. E nisso que consiste a tarefa do escritor, a de
desvelar as misrias sociais, denunciar a corrupo, escrever, atravs da narrativa, a
Histria do seu pas.
Portanto, ser a literatura a transformar-se num elemento de grande significado e
peso para preencher o vazio que existe entre a contempornea sociedade civil e a
sociedade poltica africana, em geral, e a moambicana, em particular.
58
Talvez, como reflete a Leyla Perrone-Moyss, no texto sobre a desconstruo dos
estudos culturais modernos:
a obra literria como um evento singular, e no como mero documento; a
existncia histrica da literatura (como tal), isto , herdeira de uma histria sagrada
que ela seculariza; a literatura como espao metericoda liberdade de dizer e de
no dizer, inseparvel de uma democracia vindoura.16
Portanto, a aceitao do princpio da diferena, e no o uso da hostilidade entre as
culturas, atravs de um processo de permanente negociao, da convivncia da plis,
sem o apagamento de nenhuma, , no mnimo, o que se espera desta nao em plena
construo de sua identidade cultural.
O intelectual revolucionrio escritor ou no deveria empenhar-se em uma
abordagem dos problemas de sua terra, ainda que mesclados dos elementos ainda
presentes do colonizador. Enquanto ex-colonizado se ater mais aos dados empricos do
seu viver, do seu sonhar, do seu ser homem numa nova sociedade que se lhe vislumbra
aos olhos.
Na opinio de Jos Lus Cabao o caminho para a realizao da utopia
revolucionria est (...) fundada na justia [social], na liberdade, no progresso e na
convergncia dos destinos entre o povo e o intelectual, entre a prtica e a teoria [pois ,
deste modo que] se resolveria a questo da dualidade17 para, ento se abraar a
identidade plural. precisar pluralizar as identidades para que se possa, singularmente,
definir-se como sujeito.
A leitura da obra de Mia Couto indica que estamos diante de um escritor
empenhado na procura de sua prpria identidade e a de seus conterrneos, nesta
empreitada que o ser-se moambicano, exigindo-se de si, o que se exige dos outros,
um encontro consigo mesmo - que se traduz pela confrontao dos mltiplos tempos
moambicanos e nas diversas raas que compem essa nao em construo.
oportuno aqui recorrer a Ana Mafalda Leite, que, numa referncia a Naguib, artista
plstico moambicano, ressalta os atuais problemas de Moambique, recordando que,
apesar da corrupo que tem maculado o nome do pas no cenrio internacional, h uma
rstia de esperana em relao ao futuro promissor do pas:
16
PERRONE-MOYSS, Leyla. Desconstruindo os Estudos Culturais. Relaes Intertextuais, Contextos
Culturais e Estudos Ps-Coloniais. Actas do IV Congresso Internacional da Associao Portuguesa de
Literatura Comparada. vora, 09 a 12 de Maio de 2001, Vl. 1, p. 6-7.
17
CABAO, Jos Lus. Op. Cit., p. 68.
59
esta tambm a marca da terra atual, generosa de alegria e de indevidos abusos
de corrupo, mas a esperana, sem rosto, com um tremendo corpo de desejo no
permite abandonar a promessa de um pas culturalmente diverso e rico (...).18
Portanto, podemos afirmar com segurana que a tica do escritor no se tornou
complacente nem com a arte nem com a poltica. Pois o autor espelha suas escolhas, fato
que podemos constatar em todo o conjunto de sua obra e em toda a sua preocupao de
cidado e de escritor, sem hesitao.
Dando seguimento s idias de Terry Eagleton a respeito do ps-modernismo, ele
afirma que este nasce da sociedade ps-industrial, do ltimo fator de descrdito da
modernidade, como resultado de um fracasso poltico que ele ou jogou no esquecimento
ou ficou brigando, o tempo todo, com ele. Ainda de acordo com Eagleton h que se
considerar o peso da recrudescncia da vanguarda, da transformao da cultura em
mercadoria, da emergncia de novas foras polticas vitais, do colapso de certas
ideologias clssicas da sociedade e do sujeito.19 Ou seja, o ps-modernismo, ainda
segundo o autor, , entre outras coisas, a ideologia de uma poca histrica especfica do
Ocidente (como o a independncia para os africanos, em geral e para os
moambicanos, especial) em que grupos vituperados e humilhados esto comeando a
recuperar um pouco de sua histria e individualidade.20
Como do nosso conhecimento, para conquistar a liberdade e a felicidade
preciso que o homem moambicano compreenda a maneira pela qual sua situao
especfica se entrelaa com um contexto mais amplo, cuja lgica contribui para
determinar seu destino, num mundo globalizado.
A teoria ps-colonial, conforme Appiah, nada mais do que o batismo da arte
negra como uma esttica, portanto, esta mesma arte,
(...) enquadra-se bem no processo da cultura expressiva africana a tornar-se
mercadoria internacional, isto requerendo, pela lgica do gesto de abrir um novo
espao, o processo de fabricar a alteridade, ou seja, o outro.21
Um problema, porm, se coloca: como ser neste perodo do ps-independncia a
questo da universalidade de culturas? Como podemos deduzir, ningum de bom senso
18
LEITE, Ana Mafalda apud MUNANGA, Kabenguel. A potica a cores numa floresta transformada em
pintura. Naguib: frica Brasil: um retorno s razes. Revista do Museu de Arte Contempornea da
Universidade de So Paulo. So Paulo, 30 de Maro de 2006, p. 2.
19
EAGLETON, Terry. Op. Cit., p. 30.
20
Id Ibid p. 118.
21
APPIAH, Kwame Anthony apud HAMILTON, Russel. Op. Cit., p. 15.
60
esperaria que as pessoas envolvidas numa luta penosa e sangrenta por reconhecimento
ficaro, de uma hora para outra, muito entusiasmadas com noes de unidade nacional,
principalmente quando essas idias nascem de grupos adversrios por tradio, quer
ideolgica, quer tnica.
No panorama africano, a pregao de um discurso da modernidade, em grande
parte por mestios e assimilados, fez com que, muitas vezes, o partido libertador se visse
tambm num dilema pelo fato de que a realidade scio-cultural destes quadros estava
distante da dos guerrilheiros camponeses, isto , do seu conceito de povo e/ou de nao,
sobre o qual se debruava em busca de uma soluo vivel para seu projeto poltico.
Diramos, em suma, que a sociedade ps-independncia continuou marcada pelo
embate entre a tradio e a modernidade, tal como aquela que opunha o intelectual
revolucionrio ao colonialista portugus. Mais ainda, muitas vezes, preciso ter em conta
a multiplicidade de tradies. Vejamos, por exemplo, que a maneira de conduzir a
cerimnia fnebre entre um Changane e um Ndau diferente; o mesmo vale entre um
Cheua e um Sena, Makua e Makonde ou Ajaua para citarmos apenas estes.
Para Terry Eagleton,
Se o ps-modernismo constitui uma forma de culturalismo, porque, entre outras
razes, ele se recusa a reconhecer que o que os diferentes grupos tnicos tm em
comum em termos sociais e econmicos , afinal de contas, mais importante que
suas diferenas.22
O escritor moambicano tem essa noo, ao mesmo tempo que reconhece que os
objetivos que conduziram emancipao poltica, deveriam superar e suplantar as
querelas culturais; pois elas revelam a diversidade que deve reunir ou entrelaar todo o
tecido conjuntivo do povo moambicano e no separ-los, compartiment-los.
Para Raymond Williams,
Uma cultura comum no , em nenhum nvel, uma cultura igual... Uma cultura em
comum, nos nossos dias no ser a simples sociedade toda do velho sonho. Ser
uma organizao muito complexa, necessitando sempre ajustes e revises...
Temos de garantir os meios de vida, e os meios da comunidade. Mas o que ento
se viver, no podemos saber ou dizer.23
Essa cultura comum, entretanto, a nosso ver, diz respeito participao ativa de
todos os seus membros, especialmente no fato de que eles possam produzir uma
22
23
EAGLETON, Terry. Op. Cit., p. 119.
WILLIAMS, Raymond apud EAGLETON, Terry. Op. Cit., p. 86.
61
pluralidade de valores e formas de vida. Embora, devamos reconhecer que, s vezes, as
pessoas fazem muitas coisas conflitantes dentro da mesma cultura, e com muita
freqncia herdam diversas tradies que, muitas das vezes, se tornam incompatveis
com os que se propem a construir uma nao a servio de todos os que dela participam,
para que se sintam representados em seus anseios mais profundos.
O papel do Estado, neste contexto, deve ser o de zelar pela manuteno das
formas de vida, razoavelmente unificadas, para no gerar grandes divises no seio das
populaes.
Por isso, deve-se evitar o essencialismo cultural o qual pode levar ao sentimento
de supremacia de uma cultura em relao outra, como a questo de valorizar a cultura
ocidental em detrimento das culturas africanas. No existem, portanto, seres humanos
no culturais, no porque a cultura tudo para os seres humanos, mas porque a cultura
faz parte de sua natureza. -lhes inerente.
Hoje, nesta fase ps-colonial e, numa sociedade moambicana multicultural, o
sistema deve evitar a afirmao de quaisquer valores sobre os demais, restando-lhes
reconhecer que so diferentes.
Eis porque a revoluo independentista foi muito importante para esta virada
histrica que se traduz pelo fato de que os colonizados possuam algum tipo de poder
para organizar sua vida social e profissional, sua atividade poltica e administrativa,
juntamente com modelos simblicos dentro dos quais eles se representariam a si
mesmos.
O sujeito ps-moderno, diferentemente do seu ancestral cartesiano, aquele cujo
corpo se integra na sua identidade. Por isso, Terry Eagleton constata que este sujeito
culturalmente constitudo e historicamente condicionado; ele pode estar carecendo menos
de uma antropologia filosfica que de uma doutrina poltica que trate dos direitos desse
sujeito diante do poder do Estado.24
Assim, a complexa relao entre o sujeito e a sociedade se dar pela conscincia
daquele em realizar algo que tenha, ao mesmo tempo, como prtica e como objeto de
prtica as foras plenas de satisfao da pessoa humana.Ser, com certeza em busca
disso que a narrativa utpica do ps-colonialismo vem tateando, a partir da combinao
dos dois mundos em embate: a tradio e a modernidade.
A combinao dos dois mundos significa recusar o pior de ambos e,
simultaneamente, aceitar o melhor de ambos. Isto porque o panorama moral ... gera uma
24
EAGLETON, Terry. Op. Cit., p. 81.
62
crtica impiedosa de todas aquelas crenas e prticas dentro de nossa sociedade que no
conseguem alcanar o padro de respeito universal.25 Logo, no se trata de reprovar a
cultura de outros povos, menos ainda, de intervir nela; mas de agir, positivamente, tanto
na nossa como na de outros povos.
No tocante literatura, devemos ressaltar que a incompreenso por parte dos
europeus dos problemas africanos, em especial, da sua organizao social e econmica,
alm de suas prticas religiosas, seus costumes, sua estrutura familiar, levou-os a
considerarem as sociedades africanas como um mundo mergulhado na obscuridade do
tempo, ao mesmo tempo, dominado pelo caos.
A narrativa que se produz no perodo histrico da libertao ir marcar um virar da
pgina na histria do pas, a partir da proclamao da autonomia poltica e administrativa
do novo Estado O colonizado deixa de ser espectador da sua histria e passa a ser ator
da mesma. Ao renovar a expresso na narrativa, a narrativa do colonizado possibilitou o
florescimento da imaginao e o esplendor da criatividade. Para Fanon,
Ao renovar as intenes e a dinmica do artesanato, da dana e da msica, da
literatura e da epopia oral, o colonizado estrutura de novo a sua percepo. O
mundo perde o seu carter maldito. Criam-se as condies para o inevitvel
confronto.26
Assim, a concepo que o colonizador tinha do colonizado comea a sofrer abalo
na sua estrutura. Este pe de lado o lamento e passa acusao, denncia da violncia
colonial e das miserveis condies de vida a que se via votado durante a colonizao.
Isso ter efeitos imediatos na Literatura que, ao mesmo tempo em que denuncia, cria um
mundo novo, cheio de esperana no porvir e confiana na vitria ora alcanada.
Para Manuel Ferreira27 estvamos assim diante da existncia de um discurso
literrio colonial e um discurso literrio africano, pois entravam em cena os movimentos
de libertao nacional que iro romper com toda ordem at ento estabelecida nas
colnias. Na literatura que se produziu, por exemplo, no perodo da luta armada j era
possvel detectar o sentimento patritico que irrompia nos escritos de Jos Craveirinha,
Nomia de Souza, na poesia, ou na narrativa de Lus Bernardo Honwana, do seu livro de
contos, Ns matamos o co tinhoso, de 1964, em que eles comeam a celebrar como
sujeito e objeto de sua literatura os moambicanos e as coisas de sua terra.
25
TAYLOR, Charles apud EAGLETON, Terry. Op. Cit., p. 122.
FANON, Frantz. Op. Cit., p. 238.
27
FERREIRA, Manuel. O discurso no percurso africano. Lisboa: Pltano Editora, 1990, p. 233.
26
63
Com a publicao desta obra, a fico moambicana dar novos passos em
direo maturidade. Pois as histrias de Bernardo Honwana,
(...) apresentam um lastro simblico e uma motivao variada, desde a
aprendizagem dos atos de violncia, como nos extremos de vida ou de morte.
Poder ser entre os homens com outras espcies da Natureza e suas
correspondentes implicaes psicolgicas e ticas.28
Outra obra de grande valor nestes momentos primeiros de formao da literatura
nacional moambicana Portagem, de Orlando Mendes, publicado em 1966. Tem sido
saudado como um romance, efetivamente moambicano, cuja histria gira em torno de
um mulato, Joo Xilim, sob o ngulo dos preconceitos que cercam a mestiagem, desde
os genticos at os polticos e sociais.29
Esta perspectiva continuada por Craveirinha ao longo da sua carreira, ser
retomada no ps-independncia com Mia Couto, Ungulani Ba Ka Khosa, entre outros. Isto
porque, conforme Manuel Ferreira,
Na narrativa africana celebra-se o homem africano, tem-se como destinatrio
preferencial o africano, valorizando-se as culturas africanas, ou seja, que ela se
insere profundamente no quadro geral de um contexto africano, e da que a
elocuo dos actos da fala funcionem em pleno, tornando a narrativa porta voz da
Comunidade africana, subjugada.30
O homem moambicano que se via no limite da condio de colonizado, por isso,
lutou pela emancipao de seu povo e pela autonomia poltica e administrativa de seu
pas, busca agora, atravs da narrativa ficcional, pintar seu pas com as cores pelas quais
se sente representado uma empreitada possvel atravs da literatura, dado o seu vis
imaginativo. Da todo o seu instinto de preservao e encantamento.
(...) o oprimido extasia-se a cada descoberta. O encantamento permanente.
Outrora emigrado da sua cultura, o autctone explora-a hoje com arrebatamento.
Trata-se, ento, de contnuos esponsais. O antigo inferiorizado est em estado de
graa.31
Assim, em Moambique, os escritores iro romper com a literatura colonial,
instaurando, em sua escrita, novos modelos de abordar o universo do pas, no mais com
28
SANTILLI, Maria Aparecida. Estrias Africanas: Histria e Antologia. So Paulo: tica, 1987, p. 29.
Id Ibid, p. 29.
30
FERREIRA, Manuel. Op. Cit., p. 256.
31
FANON, Frantz. Op. Cit., p. 46.
29
64
exotismo que caracterizava a literatura colonial, mas com personagens locais, ligados
realidade local.
Para Ftima Mendona, eles transportam para o
Universo mgico e encantatrio da metfora e do smbolo, a marca da sua prpria
origem. O mundo dos homens, dessacralizado e real, o mundo dos moambicanos:
do minrio e do estivador, dos que, fora de palmatria, de Norte a Sul, do
Rovuma ao incomati.32
Trata-se, por conseguinte, de gestao e produo do universo potico
moambicano, na medida em que a relao estabelecida entre a realidade apreendida e
mediatizada, transporta para esse mesmo universo, a fora proftica da realizao da
utopia libertria, quer no mbito poltico, quer no mbito cultural.
1. A escrita como resistncia
Para o escritor africano contemporneo, escrever passa a ser uma forma atravs
da qual
[Des] Dramatiza os fantasmas produzidos pelo colonialismo, colocando em cena
medos, culpas, preconceitos, dios, supersties, crenas e ressentimentos
introjetados tanto no imaginrio dos colonizados, como no dos colonizadores.33
Escrever, entretanto, significa, entre outras coisas, registrar todo o sentimento, toda
a emoo, toda a razo para que no se permita a desintegrao dos valores humanos
como, por exemplo, nos tempos em que pesadelos vieram ensombrar a memria herica
do povo moambicano com a guerra civil.
Em Terra Sonmbula, h uma passagem que traduz bem o esprito deste conflito
armado e, ao mesmo tempo, a f inabalvel no devir, a partir do que o narrador diz sobre
Muidinga:
Ele queria uma vez mais, tentar descobrir nem sabia o qu, uma rstia de
esperana, uma sada daquele cerco.
Voc quer sair no ?
32
MENDONA, Ftima. O Conceito de Nao em Jos Craveirinha, Rui Knopfli e Srgio Vieira. In: Via
Atlntica. N.o 5. USP. FFLCH. So Paulo: Departamento de Letras Clssicas e Vernculas, 2002, p. 53-54.
33
SECCO, Carmen Lucia Tind Ribeiro. Alegorias em Abril: Moambique e o sonho de um outro vinte e
cinco (uma leitura do romance Vinte e Zinco, do escritor Mia Couto). In: Via Atlntica. N.o 3. USP. FFLCH.
So Paulo: Departamento de Letras Clssicas e Vernculas, 1999, p. 111.
65
Quero, tio. Esta estrada est morta.
Esta estrada est morta!? Mas no entende que isso muito bom, esta estrada
estar morta que nos d boa segurana?
Mas ns, desta maneira, no vamos a lado nenhum...
Isso quer dizer que tambm aqui no chega ningum.34
Nesse lugar, portanto, com a esperana iluminada de luz e de crena num futuro
promissor, o homem desiludido encontra, no canto presente, a partir das memrias
gloriosas do passado vitorioso da luta de libertao nacional, uma ltima fronteira onde
possam vir a guardar, de novo, suas vidas.
A propsito disso nos fala o escritor numa entrevista a Nelson Sate:
O escritor moambicano tem uma terrvel responsabilidade: perante todo o horror
da violncia, da desumanizao, ele foi testemunha de demnios que os preceitos
morais contm em circunstncias normais. Ele foi sujeito de uma viagem irrepetvel
pelos obscuros e telricos subsolos da humanidade. Onde outros perderam a
humanidade ele deve ser um construtor da esperana. Se no for capaz disso, de
pouco valeu essa viso do caos, esse Apocalipse que Moambique viveu.35
Uma memria herica, por que histrica, construda sob o bombardeio para criar
um Estado Novo, um pas que atenda sua gente, governada por sua gente, dispostos a
escrever sua prpria histria. Esta prxis literria estava orientada para o devir, como
utopia realizvel que, conforme assinala Benjamin Abdala Jr.,
A esperana exige a felicidade aqui e agora como posse do instante. O presente
no figura como lugar de contemplao, mas de luta uma conquista que exige
ao imediata. (...) O passado reprimido recuperado como esperana possvel,
conforme estratgia discursiva do confronto e no do entendimento mtuo.36
O conceito de resistncia em que nos baseamos neste estudo desenvolvido por
Alfredo Bosi,37 sendo a translao de sentido da esfera tica para a esttica pode
ocorrer em dois modos:
1. A resistncia se d como tema;
2. A resistncia se d como processo inerente escrita.
34
COUTO, Mia. Terra Sonmbula. Lisboa: Caminho, 1992, p. 69.
SATE, Nelson. Os habitantes da memria. Praia; Mindelo: Embaixada de Portugal; Centro Cultural
Portugus, 1998, p. 229.
36
ABDALA JR., Benjamin. Antnio Jacinto, Jos Craveirinha, Solano Trindade O Sonho (Diurno) de uma
Potica Popular. In: Via Atlntica. N.o 5. USP. FFLCH. So Paulo: Departamento de Letras Clssicas e
Vernculas, 2002, p. 37-38.
37
BOSI, Alfredo. Narrativa e Resistncia. In: Itinerrios. No. 10. Araraquara, 1996, p. 11-27.
35
66
Pensando nas duas concepes, podemos concluir que, freqentemente, dois
fenmenos acontecem nas narrativas africanas ps-independncia, cujos antecedentes
vinham da dcada de 60, como j nos referimos. Primeiro porque a temtica da literatura
que se produz vem impregnada eminentemente de assuntos africanos, dos problemas
inerentes s matrizes existncias de seus povos, suas aspiraes em relao ao futuro.
Em segundo lugar, este retrato dos problemas africanos est presente na forma como os
escritores vo tecer sua narrativa, trazendo para a lngua portuguesa, no caso de Mia
Couto, em Moambique, e Luandino Vieira, em Angola, formas e expresses das lnguas
nacionais de seus pases, enriquecendo assim o idioma portugus. Inventivamente,
claro.
Por isso que, para Bosi, a translao de sentido de uma esfera outra
comprovadamente possvel, quando o narrador [se prope] a explorar uma fora
catalisadora da vida em sociedade: os seus valores. fora deste im no podem
subtrair-se os escritores enquanto fazem parte do tecido vivo de qualquer cultura.
Porque, evidentemente, de reconhecer que
o romancista imitaria a vida, sim, mas qual vida? Aquela cujo sentido escapa a
homens entorpecidos ou automatizados por seus hbitos cotidianos. A vida como
objeto de busca, e no a vida como encadeamento de tempos vazios e inertes.(...)
[Por isso] a escritura da resistncia, a narrativa atravessada pela tenso crtica
mostra, sem retrica nem alarde, que essa vida como ela e quase sempre o
ramerro de um mecanismo alienante, precisamente o contrrio da vida plena e
digna de ser vivida.38
Trata-se de emprestar a voz a mltiplos fantasmas do sujeito que continuam
encobertos sob o vu da mscara social, que no consegue reduzir a desigualdade entre
os cidados, por causa da corrupo endmica.
Escrever um ato de anlise, de reflexo e de catarse, pois , a partir dele que o
intelectual africano procura, em sua liberdade de leitura e de discusso, estratgias para
derrotar o opressor. De acordo com J. L. Cabao, Escrever , assim, um momento de
reflexo sobre as responsabilidades do escritor e sobre a relao entre a literatura e essa
utopia vibrante e ainda imprecisa que a nacionalidade.39
Pois a imaginao utpica processual, renova-se, enfim, a cada momento como
possibilidade de realizao humana. Deste modo, o universo esttico marca a sua
38
BOSI, Alfredo. In: SANTILLI, Maria Aparecida. O fazer crer, nas histrias de Mia Couto. In: Via Atlntica.
FFLCH. USP. No. 3. So Paulo: Departamento de Letras Clssicas e Vernculas, 1999, p. 108.
39
CABAO, Jos Lus. Op. Cit., p. 64-65.
67
presena no fenmeno da identidade nacional, designada por Matusse como a
construo de uma imagem de moambicanidade. Esta construo
Uma prtica deliberada atravs da qual os autores moambicanos, inseridos num
sistema primariamente gerado numa tradio literria portuguesa em contexto de
semiose colonial, movidos por um desejo de firmar uma identidade prpria,
produzem estratgias textuais que representam uma atitude de ruptura com essa
referncia. Esta imagem consuma-se fundamentalmente na forma como se
processa a recepo, adaptao, transformao, prolongamento e contestao de
modelos e influncias literrias.40
Ou seja,
A leitura de um texto de literatura africana torna-se, assim, um lugar de mltiplas
filtragens, desfIguraes e reconfiguraes. Se a escrita uma prtica social, com
uma funo social, bem precisa, em frica, herana que subjaz, parcialmente, da
oratura, sugere a possibilidade de que, tambm, o sentido seja uma construo
social, caracterizada pela participao do escritor e do leitor no acontecimento do
discurso.41
2. Contar estrias para fazer Histria
Para criar uma nova vida, a partir do passado, preciso exp-lo, comunic-lo a
outrem. Com o escritor dispe de duas maneiras para o fazer: por via oral ou por
intermdio da escrita, escolhemos este. Pois, segundo Marina Ruivo,
Escrevendo [o escritor] reorganiza sua experincia e compartilha-a com o pblico
virtual infinito. No apenas rompe o isolamento, mas se reconstitui plenamente, pois
cria uma nova misso: portador de uma experincia e vai narr-la a quem no a
viveu, para despertar reflexes, especialmente nas novas geraes. Narrar
catarse, nica possibilidade de criao de vida.42
Ao narrar sua experincia e histria, o escritor cria uma nova vida, a partir das
memrias do passado, pois dele que provm a fora do seu erguer-se. Narrando o que
viu e vivenciou, torna-se narrador, no sentido de Walter Benjamin;43 pois narrar
40
MATUSSE, Gilberto. A construo da imagem de moambicanidade em Jos Craveirinha, Mia Couto e
Ungulani Ba Ka Khosa. Lisboa: Universidade Nova de Lisboa, 1993, p. 64. (Dissertao de Mestrado em
Literaturas Comparadas Portuguesa e Francesa)
41
LEITE, Ana Mafalda. Op. Cit., p. 37.
42
RUIVO, Marina. Viagem luta armada: entre fico e a histria. In: Via Atlntica. N. 5. USP. FFLCH. So
Paulo: Departamento de Letras Clssicas e Vernculas, 2002, p. 195.
43
BENJAMIN, Walter. Obras Escolhidas (II). So Paulo: Brasiliense, 1994.
68
intercambiar experincias. Ou seja, narrador forma em que o Justo encontra a si
mesmo.44
Numa entrevista a propsito do lanamento de O ltimo Vo do Flamingo, Mia
Couto explica sobre e a quem deve o uso do termo estria e o que pretende com o
mesmo:
Ele (Guimares Rosa) diz que a estria contra a Histria, uma vez que esta
ltima, que uma grande fico, empurra para fora dela prpria e anula esses
pequenos episdios que s vezes so umas pequenas anedotas que costuram
afinal Histria. Aderi ento a esta filosofia porque prefiro que seja nomeada dessa
maneira e que seja gravada de maneira diferente para mostrar que escrevo a
pequenina coisa, a pequenina obra. Sei que esses pedaos da histria vo ter
muita dificuldade em aparecer porque (...) a Histria no quer as histrias (...), h
sempre um tratamento pico, e uma reescrio do passado em que s tem lugar na
histria os grandes homens que fizerem feitos. Aquilo que eu falo das pequenas
coisas, e dos pequenos homens que so sempre marginais.45
E, como disse, e bem, Laura Cavalcante Padilha, sobre a esttica do precrio e do
possvel, para comear tudo de novo, sempre contando estrias que contam estrias que
contam estrias. Quem sabe, ao final, a Histria mesma se possa reescrever. 46
A respeito do projeto literrio de Mia Couto, poderamos afirmar que ele, bebedor
direto, criativamente falando, dos autores de seu pas que o antecederam, buscar esse
passado para reinvent-lo, para poder reconstru-lo outro, isto , um passado
dimensionado por um olhar crtico do presente, que no desconhece o quanto
necessrio ver para poder entend-lo melhor e sobre ele debruar-se na construo de
um presente mais justo a todos os moambicanos.
No se pode desconhecer que a histria da literatura moambicana est
intimamente ligada histria da revoluo independentista, porque , partir deste perodo
de revoluo, que nasce uma literatura nacional, como sendo uma espcie de alternativa
em relao realidade colonial e convoca algo novo ao imaginrio local, pintando-o com
suas cores, seus sonhos, seus desejos e suas aspiraes.
Portanto, no dizer do moambicano Francisco Noa,
44
BENJAMIN, Walter apud LSIAS, Ricardo. Marcelo Mirisola: Notas de arrebentao. So Paulo: Editora
34, p. 131.
45
OLIVEIRA, Cristina. Contador de estrias abensonhadas - Entrevista a Mia Couto. In: Lusitano. Lisboa,
10 de Junho, 2000.
46
PADILHA, Laura Cavalcante. Por terras de frica com Hlder Macedo e Mia Couto. In: Veredas 1. Porto,
1998, p. 252-253. [Revista de publicao anual. Vl. 3. Dezembro de 2000]
69
A literatura impe-se como espao onde, de modo particular, nos confrontamos
com mltiplas e variadas configuraes do imaginrio utpico. Afinal, ela , per si,
uma das formas mais elaboradas do imaginrio utpico enquanto aspirao da
linguagem que se institui e funda mundos possveis ou, simplesmente, enquanto
idealizao da existncia.47
Em meio a tantos silncios trazidos pela histria, Mia Couto procura ser esta voz,
atravs da sua narrativa, que se transforma em um gesto de resistncia, lutando, dentro
do possvel, para preservar o ltimo reduto da utopia: a construo das identidades
nacional e cultural.
Isso leva a supor que as relaes entre a Histria recente de Moambique e a
fico que se produziu, desde a luta de libertao, so, evidentemente, estratgias de
construo da identidade nacional que parte do bom uso que se faz da memria, da
mdia, da literatura e tambm da histria oficial como enredo, por que no? Segundo
Hannah Arendt,
(...) se as mentiras polticas modernas so to grandes que se requerem um
rearranjo completo de toda trama fatual, a criao de outra realidade, por assim
dizer, na qual elas se encaixam sem remendos, falhas ou rachaduras, exatamente
como os fatos se encaixam em seu prprio contexto original, o que impede estas
novas histrias, imagens e pseudofatos de se tornarem um substituto adequado par
a realidade e fatualidade?48
exatamente isso que faz Mia Couto ao procurar retratar em sua narrativa as
diferenas culturais de seu pas, alertando de certa maneira para o fato de as pessoas
dos grandes centros urbanos, depositrios dos valores ocidentais, revelarem descaso
com aqueles valores prprios de sua tradio, o que faz com que entrem,
freqentemente, em choque, com aqueles da tradio, portanto, do interior do pas.
E, como afirma, Stuart Hall, Identidade uma construo atravs da memria,
da fantasia, da narrativa e do mito49; por isso que o escritor, ao narrar uma histria, est
simultaneamente a despertar a conscincia do cidado para a sua realidade social e
recupera tambm a narrativa da tradio para a afirmao do eu africano deste mesmo
cidado. Trata-se de um processo reflectido sobre o eu e o outro, [que ] uma
construo para uma filosofia prpria e identitria de uma frica descoberta. 50
47
NOA, Francisco. Jos Craveirinha: para alm da utopia. In: Via Atlntica. FFLCH. USP. No. 5 So Paulo:
Departamento de Letras Clssicas e Vernculas, 2002, p. 69.
48
ARENDT, Hannah. Lies sobre a Filosofia de Kant. Trad. Andr Duarte de Macedo. Rio de Janeiro:
Relume-Dumar, 1993.
49
HALL, Stuart apud NICOLAU, Teresa. A utopia da identidade no cinema de Ruy Duarte de Carvalho.
In: SETEPALCOS. No. 5. Coimbra, Junho de 2006, p. 45.
50
NICOLAU, Teresa. Op. Cit., p. 47.
70
III. A Identidade cultural na sociedade ps-independncia
Di a esttua ser pedra indefesa. Afinal,
Mouzinho apenas um nome, um heri contrafeito. As
brutalidades da dominao excedem este solitrio
cavaleiro. Do militar fizeram lenda e era esse artifcio
que mais magoava. Esculpiram-no em nossos livros
de escola para que ele reivindicasse a nossa
admirao. Mas isso no foi nunca conseguido: ele
estava extinto, incapaz de mover nossos sonhos. (...)
Hoje a multido vibra ao tombar do monumento,
embalada na iluso de ser possvel, de um s golpe,
derrubar todo o sofrimento. (...) Vejam: estes dias
foram imensamente esperados. Nem que seja s por
isso eles so belos. O resto, seremos ns a descobrir
sem que nos digam como devemos fazer.1
Prosseguindo nossa reflexo sobre a problemtica da identidade cultural,
desembocamos no perodo do ps-independncia em Moambique. Trata-se de um pas
novo, mas os problemas das identidades culturais que permeavam a sociedade colonial
entram agora em ebulio.
O problema da identidade dos filhos dos portugueses, dos mestios, dos
assimilados alm dos cidados de origem no portuguesa, como os indianos e chineses
(estes desaparecidos quase por completo) - e dos indgenas - a grande massa dos
autctones passa a sofrer uma grande e significativa mudana, na medida em que a
revoluo independentista prope no seu iderio poltico a supresso de todos os tipos de
privilgios de uns em relao a outros.
Como sabemos, o sistema colonial tinha estabelecido direitos supremos dos
portugueses em relao aos demais, mas a independncia fora obtida, graas ao esforo
incomensurvel de todos. Ser que todos sero iguais neste novo pas? Tero igualdade
na forma de tratamento ou teremos a reproduo dos privilgios de uns descendentes
de portugueses, mestios, indianos e os assimilados em relao aos outros os nativos
que o sistema colonial no privilegiara? Ou teremos, digamos assim, a questo da origem
africana como capital para desprivilegiar aqueles e privilegiar outros?
A tendncia a de que aqueles que tinham privilgios pretendam mant-los.
Certamente que aqueles que foram privilegiados durante a colonizao querero mantlos; os demais lutaro para l chegar, caso no consigam inverter este perverso quadro
herdado do colonialismo. Mas, hoje, passados muitos anos aps a independncia
COUTO, Mia. Cronicando. 2 Ed. Lisboa: Caminho, 1993, p. 158-159.
71
possvel constatar uma certa tendncia de inverso, pois mestios e brancos outrora
privilegiados, se sentem como que marginalizados por parte dos chamados africanos
nativos, talvez pelo desejo de manterem os privilgios de que sempre usufruram.
H uma passagem dA Gerao da Utopia, do escritor angolano Pepetela, que
ilustra este fenmeno de substituio de uma classe por outra de que fala o autor,
expresso nas palavras do personagem Anbal que, embora saiba da competncia que os
mestios tinham em resolver o problema, reconhece as falhas destes na conduo do
processo revolucionrio o que os leva a repetir os crassos erros do colonialismo.
(...) essa camada social misturada culturalmente e at racialmente era a nica
capaz de olhar para a frente e unir o pas, porque era a nica com uma idia de
Nao. Mas estava demasiado marcado pela sua prpria tragectria ambgua.
Tinham sido os intermedirios da colonizao, embora gritando contra ela.
Reclamavam a defesa da raa negra e desprezavam os direitos das populaes do
interior, considerando-as incivilizadas. Exigiam autonomia e, ao mesmo tempo,
beneficiavam da dependncia. Claro que isso criou desconfianas entre essa
camada urbana das grandes famlias e as sociedades tradicionais, que se sentiam
serem apenas pies no jogo.2
Ou seja, em vrios pases africanos o que estamos assistindo hoje o fato de
certos nacionais assumirem atitudes e comportamentos de colonizadores perante seus
conterrneos, reproduzindo gestos que em tudo lembram o sistema colonial. H uma
outra passagem da obra citada, retratando uma cena de colonialismo interno: de um lado,
os que detinham poder das armas, de outro, a populao ou outros camaradas da luta
situados abaixo da hierarquia do poder ora constitudo:
E os do Norte criaram a sua prpria colonizao. Recrutaram guerrilheiros locais
mas eles eram chefes. Apoderaram-se da logstica e arranjavam as mulheres com
os bens da guerra. Mas nas mulheres deles ningum tocava, nem para apertar
mo. (...) Combatente que cometesse falta mais ou menos importante era fuzilado.
(...) Kapangombe tinha a mais bela mulher da Zona. O comandante ... desejou a
mulher. Ela negou, gostava era do marido. (...) Em emboscada, de terreno
favorvel, Kapangombe morreu. Um ms depois, a mulher do falecido Kapangombe
passava para a casa do comandante. Ento todos perceberam a razo da morte ...,
mas ningum ousou falar.3
Estas atitudes nos levam a inquirir se a elite africana ps-independncia se
manter dentro dos limites da tradio ocidental pelo menos em termos de ideologia
colonial - ou se permitir o surgimento de uma nova lgica que no faa com que a
2
3
PEPETELA. Op. Cit., p. 303.
PEPETELA. Op. Cit., p. 140 e 152.
72
maioria da populao pense que a colonizao apenas mudou de lado, tendo agora como
colonizador o prprio filho da terra.
Os primeiros sinais da crise ps-independncia talvez tenham sido a crise
institucional que se traduziu por uma dissoluo abruta das instncias coloniais, enquanto
que se criavam outras estruturas de poder poltico que regulavam o cotidiano das
relaes sociais, atravs dos comits, das associaes de vria ndole e das
organizaes culturais que visavam auxiliar a nova administrao na resoluo dos
problemas com que debatiam os dirigentes do grupo revolucionrio e as populaes
nacionais.
Assistiu-se, entretanto, uma manifestao prtica de caos administrativo e poltico
que em nada coincidia com o sinal do discurso que estes homens sustentavam e
justificavam, como, por exemplo, a implantao de uma estrutura poltica que desse conta
dos interesses de todos os atores da luta de libertao nacional, a saber, operrios,
camponeses, o campesinato etc. Deste modo, se, por um lado, defendiam liquidao dos
termos da reproduo do sistema anterior, abriam, simultaneamente, espao para
reproduzir modelos de estruturao do poder poltico-administrativo que tambm no
coincidia com os das sociedades africanas, no satisfazendo assim todos os agentes
sociais. Para o antroplogo, ensasta e poeta angolano, Ruy Duarte de Carvalho,
as populaes, sociedades inteiras, vem-se condenadas, em nome do progresso,
a abdicar do seu sistema de relao com o meio e a colaborar em perfeitas
campanhas de destruio das suas defesas a favor de interesses, lgicas,
objectivos e estratgias que no os seus e em nome, s vezes, da proposta
abstracta, improvvel qui mesmo sem qualquer espcie de fundamento, de um
bem geral que s se revelaria a longo termo e a troco de sacrifcio de geraes
sucessivas de atrasados4.
Os defensores do sistema europeu de governabilidade, sejam eles africanos,
sejam eles europeus, no souberam distinguir o abismo que separa as nossas culturas
das europias, precisamente por no entenderem os efeitos lesivos das aes culturais
dos europeus s nossas realidades culturais. Contra tais efeitos, preciso que se
estabeleam os programas de governabilidade depois de identificar as estruturas locais
em que estes mesmos programas sero aplicados, a partir dos processos que os movem,
nos contextos que as determinam, seno perderemos tempo executando programas sem
CARVALHO, Ruy Duarte de. Actas da Maianga .... dizer das guerras, em Angola... Lisboa: Cotovia, 2003,
p. 168.
73
sentido nenhum para as nossas reais necessidades em frica no contexto da nossa
realidade geopoltica e cultural.
Para isso preciso que os sistemas sejam confrontados, sem que, de um lado, nos
atenhamos a consider-los como equivalentes, isto , os sistemas culturais europeus e os
africanos, e, de outro, faamos uma opo por uma atitude mais radical que se paute pela
substituio de um sistema pelo outro. Talvez seja o caso de vermos, em nossas
sociedades, quais os elementos europeus so passveis de serem assimilados e
incorporados nas culturas africanas e quais podero, simplesmente, serem postos de
lado.
Talvez seria o caso de nos permitirem olhar para dentro da nossa realidade sciocultural, e, atravs de um olhar endgeno das nossas frmulas polticas tradicionais, tidas
como arcaicas pelos europeus, como diria Ruy Duarte de Carvalho, para que adotemos
algum modelo poltico que
... assegurasse representatividades efectivas, por um lado, ou figure-nos de
rotao, articulao ou composio de poderes, pelo outro, admitindo-nos, e aos
Africanos de uma maneira geral, a possibilidade e a capacidade de tambm sermos
capazes de inventar qualquer coisa dentro do horizonte de uma modernidade, de
uma dinmica de mudana acelerada e valorizada, que nos redima em lugar de nos
condenar a uma perptua sujeio, como consta, precisamente, dos programas
alheios que adoptamos como referncia monoltica e como modelo5.
No se trata de recusar ou abandonar as estruturas de poder poltico e de
organizao social deixadas pelo colonizador, mas permitir que essas estruturas
inventem-se a si mesmas dentro de um processo local de intercmbio e mutao, sem
que impea que as sociedades africanas possuam em si mesmas os germes da estrutura
de poder que o mundo contemporneo exige e que devia ajudar a germinar. Afinal estas
sociedades possuem seus prprios sonhos como as suas prprias formas de relaes
humanas.
Carlos Lopes nos explana isto no artigo O legado de Amlcar Cabral face aos
desafios da tica contempornea, quando, ao falar sobre a globalizao e a democracia,
nos diz que alargamento da democracia para alm dos eleitos cidados um tema que
ainda no se esgotou desde a Grcia antiga. Os debates recentes sobre a democracia
representativa mostram que nem o sufrgio universal resolveu a questo dos direitos
polticos e da plena cidadania;6 muito menos ainda, os modelos econmicos e polticos
5
6
CARVALHO, Ruy Duarte de. Op. Cit., p. 143.
LOPES, Carlos. Op. Cit., p. 43.
74
impostos frica e aos africanos, em menos de sete dcadas de independncias
resolveriam seus problemas cruciais.
A criao de um Estado, como ato jurdico, pressupe a construo de uma nao,
enquanto processo cultural que deveria estabelecer correntes de aglutinao e fatores de
identificao envolvendo razes econmicas, sociais e mesmo militares, tendendo todas
elas a revelar expresses culturais de seus atores e sujeitos. Isto porque conscincia
nacional e a identidade cultural so conceitos imbricados um no outro e cuja plena
realizao dever ser assumida como um processo histrico que se vai construindo,
paulatinamente.
A nao uma realidade cultural subjetiva que pressupe adeso de atores
sociais, e uma realidade poltica objetiva, o Estado, expresso de um poder constitudo,
que, no caso africano, resultou de um processo revolucionrio, o qual concebia a
identidade cultural como sendo princpio fundamental para a promoo da unidade
nacional de todos os povos que compunham uma determinada nao, em especial, a
moambicana.
O partido libertador de Moambique, FRELIMO, defende, a partir da proclamao
da Repblica, a igualdade de todos os cidados perante a lei e o respeito pelas diferenas
culturais de cada moambicano desde o Rovuma at ao Inkomati. Isto porque durante a
revoluo, houve o empenho e a unio de todos para que isso se concretizasse; no fazia
sentido que aps ela continuasse a vigorar a classificao das populaes em brancos,
em mestios ou assimilados e em indgenas.
Assim, os homens recm sados da revoluo iro reivindicar uma cultural nacional
que represente todos os indivduos independentemente de sua origem ou cor. Esta luta
por uma cultura que integre todos os cidados ir constituir um verdadeiro marco da
histria do novo Estado, cujos desafios estavam apenas comeando. Isto por vrias
razes, das quais destacamos:
a)
A ruptura com o modelo colonial, no qual os homens que conduziram a luta
procuram fixar distncias em relao com a cultura ocidental que, segundo eles,
poderia emergir a cultura africana. Por isso, estabelecem como meta a volta ao
passado pr-colonial, para restabelecerem os verdadeiros valores autctones.
Assim, a cultura, que arrancada do passado para ser mostrada em todo o seu
esplendor..., no , na verdade, a do seu pas, uma vez que o colonizador ao
orientar-se, a partir do passado do povo colonizado, [ele] distorce-o, desfigura-o,
75
aniquila-o,7 para que o colonizado no tenha um porto aonde se ancorar. Da o
dilema em que se debatero os revolucionrios no tocante fixao dos valores do
passado ancestral africano. Pois a distncia deste passado em relao ao
presente, da independncia, era imensa, alm do fato de que no havia registro
escrito, pelo que os saberes transmitidos, por intermdio da narrativa oral,
poderiam ser desqualificados perante o colonizador. Pois, cremos que pensando e
falando na lngua do colonizador e, servindo-se da mesma arma, o cdigo escrito,
tornar-se-ia fcil, aos intelectuais africanos, na tarefa de sua argumentao, o fato
de poderem sentar-se mesa e exigir, na condio de igual, os seus direitos. Isso
porque, de acordo com o argumento de Jos Lus Cabao, A palavra escrita
revelou-se a forma mais direta de exprimir as sofridas angstias, de denunciar as
iniqidades e injustias, de fazer ouvir a prpria voz.8 Explicitando isso, em termos
de literatura, diramos que a oralidade um inventrio em aberto, e susceptvel de
mltiplas reformulaes;9 pelo que cabe ao escritor africano, atravs da escrita,
um
papel
de
recriao
do
legado
coletivo,
impregnando-o
de
novas
modalizaes10 e, ao mesmo tempo, preservar esse legado esta preservao
ter mais confiabilidade se registrado, de modo a evitar mltiplas verses que
possam deturpar os fatos do imaginrio coletivo. Alm disso, ainda conforme Jos
Lus Cabao naquele contexto, para evitar ainda a sua guetizao cultural, o
intelectual gradualmente adquire conscincia de que, a despeito de sua cultura
urbana, ele nunca seria aceite como cidado pleno, mas seria sempre visto como
diferente, como colonizado e, para que isso no acontecesse, refinou o estilo,
clandestinizou o gesto.11
b)
A reabilitao do passado pr-colonial traduz a esperana de descobrir,
atravs da negao dos valores culturais europeus que foram inculcados na mente
do sujeito da sociedade colonial, um perodo que se imagina tenha sido ureo e
resplandecente, e que agora permitiria a este mesmo sujeito ps-colonial, ou
nacional, afirmar-se perante si prprio e perante os outros. Por isso, segundo
FANON, Frantz. Op. Cit, p. 1961, p. 205-206
CABAO, Jos Lus. A questo da diferena na Literatura moambicana. In: Via Atlntica. N.o 7. USP.
FFLCH. So Paulo: Departamento de Letras Clssicas e Vernculas, 2004, p. 63.
9
KANE, Mohamadou apud LEITE, Ana Mafalda. Modelos crticos e representaes da oralidade africana.
In: Via Atlntica. N.o 8. USP. FFLCH. So Paulo: Departamento de Letras Clssicas e Vernculas, 2005, p.
152.
10
LEITE, Ana Mafalda. Op. Cit., p. 152.
11
CABAO, Jos Lus. Op. Cit., p. 63-64.
8
76
Antnio Cndido,12 esta pretenso acabar por criar no sujeito a necessidade de
expresso de uma realidade local prpria, [que vai] descobrindo aos poucos o
verdadeiro caminho, isto , a descrio dos elementos diferenciais que permitam o
nascimento do novo homem, no caso, o homem moambicano e o de sua ptria.
Em outras palavras, traduzir-se- por descoberta da realidade da terra ou a
recuperao de uma posio idealmente pr-portuguesa, de modo a abrir o futuro
do indivduo, convidando-o ao de criar a esperana num mundo melhor,
diferente, no qual convivero todos os homens e mulheres da nova nao.
nesta perspectiva que iremos assistir degradao dos fins que nortearam a
sociedade colonial e o surgimento da sociedade ps-colonial com o sujeito fragmentado
que da resulta. Um sujeito que se v, simultaneamente, num impasse, ou dito de outro
modo, um sujeito cindido. De um lado a influncia ocidental, representada pelo sistema
colonial, de outro a influncia da tradio africana; alis, das tradies africanas.Assim,
argumenta o filsofo Roger Scruton:
A condio de homem (sic) exige que o indivduo, embora exista e aja como um ser
autnomo, faa isso somente porque ele pode primeiramente identificar a si mesmo
como algo mais amplo como membro de uma sociedade, grupo, classe, estado
ou nao, de algum arranjo, ao qual ele pode at no dar um nome, mas que ele
reconhece instintivamente como seu lar.13
No mundo moderno, as culturas nacionais em que nascemos se constituem numa
das bases da identidade nacional. Por isso, ao nos referirmos como sendo brasileiros,
moambicanos ou guineenses, estamos, segundo Stuart Hall 14, falando de forma
metafrica. [Pois] estas identidades no esto impressas em nossos genes. Entretanto,
ns efetivamente pensamos nelas como se fossem parte de nossa natureza essencial.
Entretanto, como podemos notar, ainda hoje, uma vontade de retornar ao passado,
de tornar-se o mais autctone possvel,15 rompendo, definitivamente, com a
ocidentalizao, uma vez que muitos dos cidados que foram educados no modelo de
civilizao ocidental se sentem como estrangeiros, quando voltam para conviver com
gente de sua tradio o que poder apresentar contornos nefastos para os cidados,
12
CANDIDO, Antonio. Literatura e Sociedade: estudos de teoria e histria literria. So Paulo: Companhia
Editora Nacional, 1965, p. 107-108.
13
SCRUTON, Roger apud HALL, Stuart. Op. Cit., p. 48.
14
HALL, Stuart. Op.Cit., p. 47.
15
FANON, Frantz. Op. Cit., p. 216.
77
pois pode ressuscitar, ainda que inconscientemente, divises, sejam tnicas, sejamr
raciais.
Talvez para compreendermos, num primeiro momento, o sujeito ps-colonial seja
preciso buscar este elo comum que a sua definio em relao aos brancos. E, num
segundo momento, este entendimento consiste no fato de se encarnar a noo de cultura
como sendo a cultura nacional, aquela que une as demais manifestaes culturais
africanas em sua pretensa genuinidade. Finalmente na diversidade de ponto de vista, isto
, dependendo do que, num determinado momento histrico, se convencionou denominar
de cultura nacional: certos valores, certas prticas e rituais comuns aos cidados de um
determinado pas.
No plano econmico, considerando a economia o terreno mais palpvel e evidente
das relaes fundamentais da troca, da reciprocidade e da complementao ou confronto
de interesses, com a independncia surgiu uma grande desarticulao que fez com que
toda a malha comercial e de economia monetria fosse afetada. Interferiram a o
abandono dos comerciantes e empresrios portugueses, devido s incertezas quanto ao
futuro na nova nao, a improvisao terica e prtica, dos modelos europeus de
desenvolvimento, a implementao de governos tambm baseados em moldes
ocidentais, sem que se tivesse em considerao realidade africana.
Essa desagregao atingiu o prprio Estado, e como conseqncia disto temos um
penoso exerccio de luta pela sobrevivncia, que no dizer de Ruy Duarte de Carvalho,
seria um holocausto de energias que nos transformou a todos em comerciantes. 16
Porque maioria das populaes, lhes tem permitido manter uma economia de
subsistncia sem terem que passar a uma economia de sobrevivncia. O mesmo autor
sintetiza com maior clareza a questo acima ao afirmar que o que se constata hoje, nas
sociedades africanas ps-colonial, o paradoxo da escolha entre a economia de
subsistncia, em que vale o equilbrio e a reciprocidade, a economia de mercado, em que
vale o crescimento e a moeda [cujo resultado ] a economia de sobrevivncia em que
vale tudo.17
Diante deste quadro, com que tipo de sujeito podemos contar? O sujeito
moambicano urbano cujas idias exprimem aspiraes e sonhos diferentes, por
exemplo, das aspiraes e dos sonhos de seus conterrneos que moram fora deste meio,
em cujas mentes no qual as tradies africanas ainda predominam? Vemos que, talvez, o
16
CARVALHO, Ruy Duarte de. A Cmara, a Escrita e a Coisa Dita... Fitas, Textos e Paliestras. Luanda:
INALD, 1997, P. 150.
17
CARVALHO, Ruy Duarte de. Op. Cit., p. 186.
78
caminho esteja em criar condies materiais que permitam um equilbrio esses dois
espaos, noutras palavras, entre a cidade e o campo, ou entre a tradio e a
modernidade. Assim, Mia Couto ao falar da problemtica da identidade moambicana, no
tocante ao mundo urbano e ao mundo rural, diz:
preciso fazer um bocadinho o caminho com duas pernas: tem que ter um p na
tradio e outro p na modernidade. S assim se chega a um retrato capaz de
respeitar as dinmicas e as relaes complexas do corpo moambicano. A
chamada identidade moambicana s existe na sua prpria construo. Ela nasce
do entrosamento, de trocas e destrocas.18
Se, de um lado, o apego tradio e/ou a re-atualizao de certas prticas
tradicionais nocivas coeso do tecido social moambicano podem emperrar a
construo da moabicanidade; de outro, o apego por parte de alguns indivduos cultura
ocidental, sem que, canibalisticamente, se aproprie de seus aspectos positivos, como por
exemplo, a cincia e a tecnologia, a democracia e o respeito pela dignidade da pessoa
humana e a pluralidade de opinio, pode tambm gerar equvocos na nova sociedade que
se quer erigir. Por isso, o autor convida a todos os moambicanos, para que, juntamente
com ele, busquem o equilbrio, tanto em relao tradio como em relao
modernidade.
Com isso pode-se deduzir o seguinte: nenhuma cultura unvoca, na medida em
que dentro de um mesmo pas, como no caso de Moambique, existem vrias
manifestaes culturais e , exatamente, o hibridismo de elementos heterogneos que
possibilita o surgimento da cultura nacional, cujo resultado advm do canibalismo dos
elementos da cultura de origem, como frisa Benjamin Abdala Jr.19
Alm disso, como bem sabemos, as diferenas entre as naes residem na forma
como elas so imaginadas, pois a vida das naes, da mesma forma que a dos homens,
vivida, em grande parte, na imaginao.20 Por isso, pensar um pas como Moambique,
pens-lo numa perspectiva de naes, isto , so vrias as culturas nacionais em
concerto: africanos em sua diversidade cultural, portugueses e indianos.
So vrias as lnguas, so vrias as culturas. Vrios so os hbitos alimentares,
vrios os pensares e vrios os saberes e crenas, que cada nao dispe dentro de um
18
MAQUEA, Vera. Entrevista com Mia Couto. In: Via Atlntica. N.o 8. USP. FFLCH. So Paulo:
Departamento de Letras Clssicas e Vernculas, 2005, p. 208.
19
ABDALA JR, Benjamin. De Vos e Ilhas: Literatura e Comunitarismos. So Paulo; Cotia: Ateli, 2003, p.
66-76.
20
POWEL, Enoch apud HALL, Stuart. Op. Cit., p. 51.
79
conjunto maior que a nao moambicana em sua pluralidade. Ou se quisermos, a
moambicanidade.
Identidade cultural no exclui nem se ope diversidade cultural; pelo contrrio,
antes a sugere e nela se enriquece e ganha dimenso.21 Para um pas africano, nas
palavras de Ruy Duarte de Carvalho, a afirmao de uma identidade cultural,
estrategicamente indispensvel ao exerccio do poder, passa obrigatoriamente pela
afirmao de uma diferena que ser, por sua vez, a expresso de convergncia de
vrias diferenas correspondentes a outras tantas identidades culturais parcelares.
Gellner22 ao falar a propsito do impulso da unificao das culturas nacionais a partir
daquilo que convencionaramos chamar de tentativa de suturar as culturas nacionais
numa cultura nacional, no singular, isto , aquela que seja o saber partilhado por todos os
cidados, diz-nos o seguinte:
... a cultura agora o meio partilhado necessrio, o sangue vital, ou talvez, antes, a
atmosfera partilhada mnima, apenas no interior da qual os membros de uma
sociedade podem respirar e sobreviver e produzir. Para uma dada sociedade, ela
tem que ser uma atmosfera na qual podem todos respirar, falar e produzir; ela tem
que ser, assim, a mesma cultura.
Assim o equacionamento relativo ao problema da identidade, passa pelo
relacionamento da identidade cultural com a unidade nacional e pela questo das
diversidades culturais, e enquanto a definio de um programa de ao poltica deve ter
em conta a natureza dialtica e dinmica da afirmao da identidade. Relatando o
processo por que passa seu pas, Angola, no momento, R. D. de Carvalho o traduz do
seguinte modo:
Angola vive em pleno, a par de outras [naes africanas], uma crise de percepo
e de afirmao identitrias, como no podia deixar de ser. No s como pas
recente, em que a nao um projeto, condio a perseguir. Tambm o seu
prprio percurso como pas independente tem perturbado esse projecto e a
configurao, at, de um Estado de fato e de direito.23
O mesmo vale dizer em relao a Moambique que, depois de largos anos de luta
pela libertao nacional, os dois principais movimentos polticos, mergulharam o pas
numa guerra civil que durou quase duas dcadas. Esta configurao de poder ou de luta
pelo poder, talvez seja um dos marcos comuns aos pases africanos, cujas populaes
21
MICHAUD, G. apud CARVALHO, Ruy Duarte de. Op. Cit., p. 80.
GELLNER, E. apud HALL, Stuart. Op. Cit., p. 59.
23
CARVALHO, Ruy Duarte de. Op. Cit., p. 221.
22
80
que, se tm traos comuns, tambm tm traos de diferenciao, que, manipuladas, de
acordo com interesses em jogo, podem resultar em conflitos de difcil resoluo.
Mas vale ressaltar que, para que estes percalos sejam ultrapassados, preciso
que todos estejam implicados nas mesmas referncias institucionais, j que todos os
cidados partilham as mesmas referncias histricas recentes. Portanto, a diversidade
cultural e a pluralidade de pontos de vista em relao poltica, economia e
sociedade devem servir para dar uma dimenso mais abrangente ao conceito de nao,
esta entendida enquanto corpo orgnico de sujeitos implicados numa experincia social e
num destino comuns.
Julgamos que a opinio de Mia Couto, transcrita na pgina anterior, esclarece a
questo da fragmentao da identidade moambicana o que tpico da identidade do
sujeito moderno , e, por outro lado, tambm prope as trocas e o entrosamento como
essenciais ao contato das vrias culturas que convivem no mesmo espao, cada uma
influindo na outra, para constituir numa nova cultura. Isto porque, segundo Stuart Hall As
naes modernas so, todas, hbridos culturais. 24
Por isso, antes de se desejar uma cultura genuinamente africana dever-se-, em
primeiro lugar, libertar o continente e, vamos mais longe, tratar-se- de reconhecer que,
face ao mundo globalizado, os africanos precisam erguer a frica dos escombros em que
se encontra e faz-la caminhar junto com outras naes em busca de um futuro promissor
para os cidados do continente. Assim sendo as culturas nacionais devero contribuir
para costurar as diferenas e no para promov-las.
O discurso da cultura nacional no , assim, to moderno como aparenta ser. Ele
constri identidades que so colocadas, de modo ambguo entre o passado e o futuro. Ele
se equilibra entre a tentao por retornar s glrias passadas e o impulso por avanar
ainda mais em direo modernidade.25
A cultura, segundo Fanon, a expresso de uma nao, das suas preferncias,
dos seus tabus, dos seus modelos.26 isto que permite a renovao da expresso, o
florescimento da imaginao. Porque a conscincia nacional, que no o
nacionalismo, a nica que nos d a dimenso internacional.27 No mesmo diapaso
observou Immanuel Wallerstein,
24
HALL, Stuart. Op. Cit., p. 62.
Id Ibid p. 56.
26
FANON, Frantz. Op. Cit., p. 239.
27
Id Ibid. p. 241-242.
25
81
Os nacionalismos do mundo moderno so a expresso ambgua [de um desejo]
por... assimilao no universal... e, simultaneamente, por... adeso ao particular,
reinveno das diferenas. Na verdade, trata-se de um universalismo atravs de
um particularismo e de um particularismo atravs de um universalismo.28
Assim, Ernest Renan29 ao falar da unidade de uma nao, a partir do princpio de
unio na diversidade, aponta trs elementos fundamentais desta unidade que so ... a
posse em comum de um rico legado de memrias..., o desejo de viver em conjunto e a
vontade de perpetuar, de uma forma indivisvel, a herana que se recebeu. Pois,
segundo Armando Guebuza, ex-Secretrio-Geral da Frelimo e atual presidente de
Moambique, 30
No se valoriza o que no se conhece. Foi assim necessrio desencadear uma
srie de reflexes sobre a nossa diversidade cultural, as nossas tradies,
promover o conhecimento e respeito mtuo, a tolerncia, a crtica, o amor ao
trabalho coletivo, paz e harmonia.
1. Memria: o papel do passado na construo da histria
A memria, pelo menos da que nos propomos falar, o lugar do vivido; mas do
vivido fragmentado que cimenta e fundamenta a unidade contraditria dos laos mais
vastos que modelam o indivduo. Por isso,
Ainda que busque refugiar-se no presente, sua vida [a do sujeito] a recordao de
um passado com qual possui uma relao contraditria: desejaria apag-lo por
completo, esquec-lo para viver livre dos fantasmas, mas o prprio passado que
lhe preenche a vida. no passado, justamente, que este eu encontrar a chave
que lhe permitir encarar a vida, presente, passada e futura.31
Porque se os homens, comovidos pelo sonho de um territrio sem privilgios da
minoria em detrimento da maioria travaram um ardoroso combate em direo a um futuro
melhor para o pas, estavam tambm, dentro desta perspectiva, indo em direo aos
mananciais simblicos e esperanas histricas do passado, para resgatar valores que
lhes nortearo sonhos e aspiraes. Portanto, o homem moambicano contemporneo ,
cima de tudo, fruto dos mecanismos de recriao permanentes que moldaram e moldam a
sua identidade.
28
WALLERSTEIN, Immanuel apud HALL, Stuart. Op. Cit., p. 57.
RENAN, Ernest apud HALL, Stuart. Op. Cit., p. 58.
30
GUEBUZA, Armando Emlio. Moambicanidade e Unidade Nacional. Comunicao apresentada no
quadro das celebraes do 3 de Fevereiro. Maputo, 2 de Fevereiro DE 2004, p. 8. (Mimeo)
31
RUIVO, Marina. Op. Cit., p. 193.
29
82
2. A perpetuao da herana
A noo do passado que seria o perodo pr-colonial sofre, agora, seu revs, pois
com a vitria alcanada na guerra de libertao nacional, os intelectuais nacionais
convertem em passado o prprio tempo colonial; porm h um movimento de volta a ele
para aproveitar seu legado, principalmente no que pode ajudar no presente do novo
Estado.
Mas, para isso, no se deve esquecer o passado, mesmo que tenha sido fonte de
angstia, mas apropriar-se dele, recuper-lo e, principalmente, reinvent-lo, no mnimo,
com as condies que o presente oferece. Assim,
A tradio j no ironizada pelo grupo. O grupo j no foge a sim mesmo.
reencontra-se o sentido do passado, o culto dos antepassados... (...) O passado,
doravante constelao de valores, identifica-se com a Verdade.32
Porque, na verdade, o passado auxilia-nos na percepo dos fatos e possibilita a
construo da identidade cultural e, assim, a nacional.33 Para isso, Temos que nos
interrogar acerca da maneira como indivduos e grupos recordam a si mesmos; [de que
maneira acontece] a reconstruo das recordaes.34
Como do nosso conhecimento, a memria tece lembranas cuja base se situa na
efetividade dos acontecimentos, pequenos ou grandes, e no impacto que estes
acontecimentos tm sobre seus atores, protagonistas ou coadjuvantes a evocao de
uma experincia muito concreta , para tentar explicar experincias vividas, com amor
ou com medo, com fracassos e vitrias, com desespero e esperana.
Mas, para que isto efetivamente acontea, preciso que estas identidades
mltiplas de que feita a cultura moambicana sejam traduzidas, isto , sejam
transpostas em nova identidade, entendendo a traduo de identidades de Homi
Bhabha35 como processo pelo qual uma cultura se converte numa outra cultura nova,
distinta da primeira e, deste modo, contenha seus elementos mais nobres. Assim, estas
identidades centradas e fechadas das vrias culturas nacionais moambicanas seriam
32
FANON, Frantz. Em defesa da Revoluo Africana. Lisboa: S da Costa, 1980, p. 47.
Cf. TURANO, Maria R. Memria e Identidade nos contos de Teixeira de Sousa para uma Antropologia
da Literatra. In: Via Atlntica. N.o 7. USP. FFLCH. So Paulo: Departamento de Letras Clssicas e
Vernculas, 2004, p. 160-161.
34
Cf. JODELET, D apud TURANO, Maria R. Op. Cit., p. 225.
35
BHABHA, Homi. Narrando a Nao. In: ROUANET, Maria Helena (Org.). Nacionalidade em questo. Rio
de Janeiro: UERJ/IL, 1997, P. 48-60.
33
83
deslocadas em uma nova, plural, contudo, original. Nesse sentido, diramos que esta
traduo de identidade tem, segundo Hall
Um efeito pluralizante sobre as identidades, produzindo uma variedade de
possibilidades e novas posies de identificao, e tornando as identidades mais
posicionais, mais polticas, mais plurais e diversas; menos fixas, unificadas ou
transitrias.36
3. O desejo de viver em conjunto
Este desejo passa, necessariamente, pela reinveno do passado. Devemos
entender esta reinveno como possibilidade de realizao, como espao e tempo em
que o sujeito poder recuperar as esperanas gloriosas da libertao nacional, os sonhos
de um futuro de igualdade e de justia, as aspiraes de um desenvolvimento sustentvel.
A ruptura com o sistema colonial dever traduzir-se, pois, numa ruptura da
dependncia econmica ou poltica que reclama aes que ultrapassam a esfera material,
para se transformar, sobretudo, na esfera espiritual ou do pensamento, isto , a esfera
cultural. Neste sentido, Rita Chaves, ao voltar sua pesquisa para os escritores angolanos,
demonstra como, simultaneamente, a ruptura poltica com o sistema colonial se aplica
tambm cultural, especialmente, neste novo tempo que se vive no pas. Estas idias
tambm podem ser aplicadas aos escritores moambicanos:
O desejo de construo de uma identidade nacional que sela a configurao do
sistema literrio em Angola explica, ento, a relevncia que se d ao espao no
repertrio de seus autores justificadamente preocupados com a necessidade de
simbolicamente realizarem apropriao do territrio invadido. Do mesmo modo, no
plano da memria, assoma a necessidade de uma depurao. No se trata de um
regresso ao tempo que precedeu ciso para recuperar in totum os signos
daquela ordem cultural, mas sim de resgatar alguns dos referentes que se podem
integrar aos tempos que se seguem.37
No se trata, todavia, de alguma utopia nostlgica de reparao ou de superao
do trauma impingido pelo sistema colonial, mas to-somente apontar caminhos em como
este desejo de viver o passado, presente e futuro, fundamentam o agir, o ser, permitindo
assim que a interlocuo entre os personagens-homem, dentro da narrativa, se torne uma
pedagogia da nacionalidade moambicana. Nas palavras da Izabel Margato,
36
HALL, Stuart. Op. Cit., p. 87.
CHAVES, Rita. O passado presente na Literatura Africana. In: Via Atlntica. N.o 7. USP. FFLCH. So
Paulo: Departamento de Letras Clssicas e Vernculas, 2004, p. 160-161.
37
84
Inventar o presente saber olhar o mundo. saber ler e entender olhares para
desvendar os segredos de suas falas. saber que toda a fala tem o seu rumor, o
seu outro sentido que a evidncia manifesta no consegue ocultar totalmente.
Inventar o presente saber que tudo falso e verdadeiro ao mesmo tempo.
Inventar o presente trabalhar com fico, com fices.38
Por isso, nos afirma Gonalves Filho que a memria da tradio oral sempre
persiste no imaginrio coletivo dos povos, independentemente de poca ou lugar. Sempre
presente nas aes dos seres humanos, este imaginrio coletivo que impulsiona os
sonhos, as crenas, enfim, os valores culturais das sociedades. Porque,
margem das histrias autorizadas e apologticas, a memria dos dominados
resiste, entretanto, na tradio oral de grupos algo coesos, algo comunitrios, onde
pode ocorrer que os impasses do presente, tendo frisadas sua solidez e sua
gravidade, sejam percorridos por uma espcie de teimosia. Entre coragem e
pacincia, uma teimosia que engordada na lembrana de episdios
fragmentrios, envolvendo pessoas queridas e veneradas, que conheceram elas
mesmas o peso daqueles impasses, pessoas que sofreram e morreram, mas
obstinadamente se sustentaram no amor por direitos comuns inalienveis, de cuja
busca j no podiam mais prescindir a no ser mediante o sacrifcio de sua prpria
dignidade, isto , mediante o esfacelamento do que internamente os movia na
convivncia com as coisas, com as estruturas humanas, com os outros e consigo
mesmos.39
A memria a a memria do fragmento. O lugar do nada e, tambm, o lugar da
sua procura. Trata-se, efetivamente, da busca de uma histria pessoal e, por extenso, da
histria nacional, para que, atravs dela, se construa, sobretudo, uma identidade que
enforme o sujeito, enquanto indivduo pertencente a uma nao determinada.
Logo, mais uma vez, a questo da identidade coletiva e a construo da nao se
tornou, digamos assim, numa preocupao no tanto relevante com a emergncia de uma
classe poltico-burocrtica particularmente apta a recuperar e a adaptar sistemas de
dependncia e de clientelismo familiar, de parentesco tnico ou regional, factores
de identificao susceptveis de servir a toda ordem de interesses, confessveis ou
no, e que por via da sua prpria natureza cultural, foram investidos em processos
capazes de garantir o acesso a estatutos, nomeadamente econmicos e sociais,
inalcansveis por outras vias legais.40
38
MARGATO, Izabel. Lisboa Reinventada nO Ano da Morte de Ricardo Reis. In: Via Atlntica. N.o 5.
USP. FFLCH. So Paulo: Departamento de Letras Clssicas e Vernculas, 2002, p. 149.
39
GONALVES FILHO, Jos Moura. Olhar e Memria. In: NOVAES, Adauto (Org.). O Olhar. So Paulo:
Companhia das Letras, 1988, p. 99.
40
CARVALHO, Ruy Duarte de. Op. Cit., p. 153.
85
Porque, evidentemente, quem no se inscrever nessa normalidade passvel de
marginalizao segundo as lgicas locais, pois quem no se adere ao sistema, ou
engolido por ele, ou fica de fora. a cultura da sobrevivncia que definida a partir do
paradigma da ameaa, do perigo, da incerteza, e, por isso se traduz muito
elementarmente, por uma
... escolha entre a vida e a morte, entre a sobrevivncia fsica e a desmunio total.
Um movimento geral de desinstitucionalizao, propcio generalizao de prticas
informais, desmultiplicao das possibilidades de contorno das regras e das leis,
tanto por parte dos agentes pblicos como dos privados e em que tudo se
transformar em objecto de negociao, o tempo todo marcado pela improvisao,
os arranjos pontuais informais. As lutas pela sobrevivncia fsica, e a reproduo da
vida tal qual, passaram a ser principal parada de qualquer exerccio em frica41.
Para Ruy Duarte de Carvalho, a identidade coletiva , sobretudo, uma capacidade
de resposta ao presente, mais do que uma prtica de culto a passados mais ou menos
ajustados satisfao de orgulhos e justificaes culturais nacionais ou nacionalistas. Por
isso afirma o autor:
Uma identidade colectiva, quer a nvel nacional quer a nvel parcelar, faz-se, ou,
diria eu, produz-se no mbito de uma dinmica que se opera, inventa e reproduz no
dia-a-dia, na seqncia dos acontecimentos, das respostas, das resistncias, das
alianas e das dependncias estratgicas42.
Eis a o papel da elite econmica, poltica e intelectual. Elite, de acordo o autor
supra referido o corpo de indivduos ligados ao poder, aos poderes, s decises de
implicao nacional que no constitui, propriamente, uma entidade ou categoria tnica,
porm assume o contorno de uma minoria que domina, logo assim se constitui,
politicamente, como majoritria em termo de capacidade e de ao, de vontade, de
resultados e de afirmao de interesses e de perspectivas ideolgicas. Portanto, a
questo da afirmao de uma identidade, de uma diferena nacional, se h-de revelar,
sobretudo, como emanao e como produo do Estado, produto assim da aco das
elites que dominam e gerem, ou lhes gravitam volta, as instituies que o constituem e
as aces que o manifestam43.
Dever ser esta elite a tentar, atravs de aes corretas e coerentes e slidos
programas de ao de desenvolvimento econmico e social de seu pas e das suas
41
MBEMBE, Achille apud CARVALHO, Ruy Duarte de. Op. Cit., p. 195-196.
CARVALHO, Ruy Duarte de. A cmara, a escrita e a coisa dita, p. 129.
43
CABRAL, Amlcar. Op. Cit., p. 229.
42
86
populaes eliminar os esteretipos com que o colonizador caracterizava o colonizado
que, segundo Cabral, tinha muito a haver com certas formas de vestir, de comer ou de
comportar-se, tipicamente africanas, os quais considerava ridculos, demaggicos e
populistas, na medida em que julgava como entrave ao desenvolvimento das naes
africanas o problema da ideologia, e juzos morais. Porque, para Cabral a crise da
revoluo africana provm de uma crise do conhecimento. Ou, noutras palavras, da
insuficincia, ou mesmo falta de bases tericas para anlises concretas de realidades
concretas.44 Frisa Carlos Lopes:
O entendimento da cultura de um lugar condio necessria para poder ancorar o
processo de transformao. A existncia de uma tica prpria serve para aumentar
o sentido de comunidade e de auto-estima, factores entre os mais valorizados na
capacitao dos indivduos, instituies e sociedades. Em tempos de
imprevisibilidade o discurso discusso tica era sinal de valorizao e autoestima45.
Ruy Duarte de Carvalho alude a uma frase de Amlcar Cabral a respeito da
identidade, segundo a qual quem se preocupa com as identidades culturais so
precisamente aqueles que a perderam ou temem de algum modo assumir a que
pretensamente lhes cabe. O povo, que serve de referncia para identificar essa mesma
identidade, esse no se preocupa com ela, vive-a.46
44
CABRAL, Amlcar apud LOPES, Carlos. Op. Cit., p. 46..
LOPES, Carlos. Op. Cit., p. 50.
46
CABRAL, Amlcar apud CARVALHO, Ruy Duarte de. Op. Cit., p. 131.
45
87
IV. A questo da ambigidade na construo da identidade cultural do narrador de
Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra, de Mia Couto
E algures, por esse amontoado de cimento, a vida corria com
a sua carga de morte, e Lua nascia, fragmentada, luminosa.
Ungulani Ba Ka Khosa
1. Ou isto ou aquilo a questo de identidade na tica de Descartes
Descartes, com seu princpio Cogito, ergo sum, ou seja, penso, logo existo, abre
uma nova perspectiva na concepo e na abordagem do problema da identidade, quer
individual e quer coletiva, do sujeito moderno, na medida em que, props, em sua
filosofia, uma concepo eminentemente antropocntrica do sujeito. No mais o cosmo ou
Deus se constituem o centro do filosofar, mas o prprio homem; trata-se, sem dvida, de
uma perspectiva ratiocntrica que ir orientar a filosofia e cincia da Idade Moderna.
Embora seja uma perspectiva na qual a razo dona da verdade, o princpio
atravs do qual todas as coisas giram em torno do homem, a questo da sua
subjetividade se coloca enquanto medida de todas as coisas. Afirma Urbano Zilles:
A revoluo copernicana no pensamento, no fim da Idade Mdia e no comeo dos
tempos modernos, consiste na volta para a subjetividade pensante. (...) A grande
virada antropocntrica, na filosofia ocidental moderna, tambm modificou
radicalmente a problemtica de Deus. (...) A questo de Deus passa a ser
tematizada no mais a partir do mundo, e sim atravs da mediao do homem e de
suas relaes com o mundo, ou seja, a partir da subjetividade.1
Sendo Descartes o responsvel pela revoluo antropocntrica na concepo do
sujeito moderno, ele, contudo, ele torna-se ambguo em relao ao entendimento de que
o homem sendo ser pensante, s o , na medida em que se pensa a si mesmo e aos
outros seres, pois para ele, o paradigma de todo o conhecimento, especialmente aquele
que surge da razo independente dos sentidos e este conhecimento da razo o nico
certo.
Para alcanar este conhecimento independente dos sentidos, logicamente
necessrio e universalmente vlido, segundo o modelo matemtico, mister comear
ZILLES, Urbano. Filosofia da Religio. So Paulo: Paulinas, 1991, p. 8.
88
tudo de novo, se o desejo for o de estabelecer algo firme e constante nas cincias,2
desfazendo-se das antigas opinies que so mltiplas e contraditrias -, rejeitando
como falso aquilo que no for inteiramente certo e indubitvel. A partir deste princpio ficanos mais clara a influncia que isto desencadeou na colonizao portuguesa em frica,
quando a poltica colonial reconhecia, em termos de supremacia racial advogada, apenas
os portugueses como sendo cidados do imprio, pois eles tinham civilizao, os
africanos no.
Nessa perspectiva, o sujeito no ser apenas o lugar do conhecimento, mas seu
fundamento, da a centralizao do homem colonizador como sendo o eixo sobre o qual
todos os movimentos se procedem.
Nesta linha, Heidegger recupera a etimologia do termo sujeito (sub-jectum o que
subjaz, o que est dado previamente), e mostra que na era moderna o fundamento do
conhecimento passa a ser a conscincia de si do homem, que dispe de todas as coisas,
de forma que toda a realidade acabar por se reduzir a uma funo da atividade de
representao do sujeito:
No incio da filosofia moderna, encontra-se a proposio de Descartes: Cogito ergo
sum [je pense donc je suis]. Toda conscincia das coisas e do ente em sua
totalidade se v remetida conscincia de si mesmo do sujeito humano, enquanto
fundamento inabalvel de toda a certeza. Na poca posterior, a realidade do real se
determina enquanto objetividade, ou seja, algo concebido pelo sujeito e para ele,
enquanto aquilo que lhe pro-jetado e pro-posto.3
Em outras palavras o sujeito se define por sua capacidade de dispor dos objetos
e de representar o mundo e as coisas que nele existem. O homem africano enquanto
sujeito da dominao colonial , neste contexto, o elemento disposto e representado
conforme a viso de mundo do colonizador.
Continuando, o mesmo filsofo afirma, numa sntese certeira que Todo o
representar humano , segundo uma maneira de falar que se presta facilmente ao malentendido, um se representar, um se colocar diante de si [e dos outros em relao a
mim].4
Nisso est o malogro do prprio sistema colonial que, contraditoriamente, se viu
num impasse de difcil resoluo. Porque, como o prprio Descartes j sabia que a runa
DESCARTES, Ren. Meditaes. Trad. J. Guinsburg & Bento Prado Junior. 4a. Ed. So Paulo: Nova
Cultural, 1987-1988, p. 85. [Coleo Os Pensadores].
3
HEIDEGGER, M. Nietzsche II. Trad. de P. KLOSSOWSKI. Paris: Gallimard, 1971, p. 105.
4
Id Ibid p. 124.
89
dos alicerces carrega necessariamente consigo todo o resto do edifcio, 5 justamente,
porque h coisas sobre as quais no h como duvidar da sua existncia, como o o caso
do colonizador ignorar e/ou duvidar da existncia do colonizado dentro da colnia.
Segundo Baruch de Espinosa o costume de reduzir os homens a um s gnero,
considerando-os a uns perfeitos e a outros imperfeitos, esquecendo que todo o ser
humano um s, pelo que a noo do ente pertence a todos os indivduos sem exceo,
ter como resultado o infeliz ato de chamar s coisas naturais perfeitas e imperfeitas,
mais por preconceito que por verdadeiro conhecimento das mesmas. 6
Isto porque,
Reduzimos os indivduos da Natureza a este gnero, os comparamos uns com os
outros e descobrimos que uns tm mais entidade ou realidade que outros, dizemos
que uns so mais perfeitos que outros; na medida em que atribumos alguma coisa
aos mesmos, que envolve negao, tal como termo, fim, impotncia, etc.,
chamamos-lhes imperfeitos, pois que no afeta a nossa alma da mesma maneira
como aqueles a que chamamos perfeitos.7
Em outros termos, julgamos as coisas segundo a nossa concepo de mundo ou a
concepo que fazemos do mundo e das coisas que nele existem. Ou seja, o homem tem
por hbito formar idias universais tanto das coisas naturais como das artificiais, idias
essas, segundo Espinosa, que ele tem como modelo das coisas e cr que a Natureza
(que, a seu ver, nada faz que no seja em vista de um fim determinado) as considera e as
prope a si mesmo como modelos.
A estratgia do Ocidente de ver na frica um espao em que as matrizes se
associam pureza e, portanto, ingenuidade, est na origem de todos os esteretipos
que se construiu em relao a ela. Por isso, toda tentativa, hoje, de um movimento de
aproximao do Ocidente em relao frica tem sido mediada pela violncia, isto , de
embates de vises de mundo diferentes, seno mesmo contraditrias, e no sentido de
diluio de suas referncias culturais, de modo a que ela no se ancore nos seus valores
que, por intermdio da colonizao, a tornaram mestia culturalmente.
Nesta relao com a Histria do continente, a literatura funciona, a nosso ver, como
um espelho dinmico das convulses vividas pelos povos africanos. No continente
africano, as dualidades refletem-se na relao entre a unidade e a diversidade, entre o
nacional e o estrangeiro, entre o passado e o presente/futuro, entre a tradio e a
DESCARTES, Ren. Op. Cit., p. 85.
ESPINOSA, Baruch de. tica. Trad. Joaquim de Carvalho. So Paulo: Abril Cultural, 1973, p. 233.
7
Id Ibid p. 234.
6
90
modernidade, pelo que fica difcil falar no sujeito centrado, uno, como o cartesiano, uma
vez que temos um sujeito cujas referncias so misturas a que, consciente ou
inconscientemente, estava sujeito.
No se trata, portanto, de uma concesso ao alheio em detrimento das razes,
mas sim, em que se reconhece no sujeito contemporneo moambicano um ser dual, e
no fato desta dualidade ser decorrente do contato entre dois universos que segundo Rita
Chaves, define-se como um dos plos geradores da temtica do regresso a um tempo
perdido, do mesmo modo que se consolida a convico de que tal regresso [s razes
culturais africanas] no ultrapassa os limites de um sonho condenado ao reino do
inatingvel.8
Ou diria Descartes a respeito da existncia de Deus Ou h ou no h um tal ser
[Deus],9 o qual seria o que tudo pode e, segundo ele por quem fui criado; 10 mas caso
no exista, ento ele deve a sua existncia ao acaso ou a uma contnua conexo das
coisas.
de salientar que o estilo reflexivo das Meditaes se adapta melhor busca
pessoal pela verdade e, no estudo em questo, pela identidade. Como afirma Edvino
Rabuske: O pensamento filosfico, diferentemente da pesquisa cientfica, requer reflexo
pessoal. [ como se o sujeito afirmasse, de si para si] Eu mesmo [me] quero
compreender.11
Eu penso, logo, existo, equivale, conseqentemente, ao eu sou, eu existo, que, no
fundo, se trata de uma ligao entre o ser e o pensar. Pelo que caracteriza, ento, o
pensar como sentir, nas palavras de Telma de Souza Birchal, , antes de tudo, sua
imediatidade: s ela capaz de estabelecer o cogito no ser.12
Ou, se assim preferirmos, no o eu enquanto realidade objetiva do sujeito, mas
aquilo que torna possvel, segundo Kant, a realidade enquanto realidade para um sujeito.
Para ele, o eu penso deve poder acompanhar todas as minhas representaes (...), caso
contrrio, algo seria representado em mim que no poderia ser pensado, e isso equivale
dizer que a representao seria impossvel ou, pelo menos, que no seria nada para
CHAVES, Rita. Angola e Moambique: Experincia colonial e territrios literrios. Cotia; So Paulo: Ateli
Editorial, 2005, p. 72.
9
DESCARTES, Ren. Op. Cit. P. 87.
10
DESCARTES, Ren. Op. Cit., p. 88.
11
RABUSKE, Edvino. Antropologia Filosfica. 2. Ed. Petrpolis: Vozes, 1986, p. 20.
12
BIRCHAL, Telma de Souza. O Cogito como representao e como presena: duas perspectivas da
relao de si a si em Descartes. In: Discurso. Revista do Departamento de Filosofia da USP. no. 31. So
Paulo: Discurso Editorial/ FAPESP, 2000, P. 453.
91
mim13. Por isso, Kant sugere como mxima para toda a moral que deve orientar o ser
humano o agir de tal maneira que o motivo que leva a agir possa ser convertido em lei
universal.
Este princpio consiste na independncia em relao a toda matria da lei e na
determinao do livre-arbtrio mediante a simples forma legislativa universal de que uma
mxima deve ser capaz.
Para Kierkegaard, a proposio cartesiana puramente tautolgica, j que o seu
pressuposto da identidade da existncia com o pensamento. 14 como se admitssemos
que a conscincia da individualidade se traduz pelo fato de o colonizador estar ao centro
de todas as coisas, quer ideologicamente falando, quer culturalmente pensando.
Assim, o eu do colonizador no pertencendo s experincias fundamentais vividas
pelo colonizado, considera-o, apenas, na medida em que delimita o seu mbito pelo dele.
Nesse sentido, como diria Descartes, no posso dar meu juzo seno a coisas que me
so conhecidas, isto porque este fato (da existncia do outro) no depende em nada das
coisas cuja existncia no me ainda conhecida,15 barrando-se, desta forma, aquilo que
deveria ser o ideal de relao dentro da colnia entre o colonizado e o colonizador.
Dentro desta lgica cartesiana, poderamos afirmar, com certa ressalva, que se o
outro diferente de mim pela cor da pele, tambm o ser pelo pensamento e tudo o mais.
Seria o que Pitgoras disse a respeito do homem de que ele a medida de todas coisas,
das que so enquanto so, das que no so enquanto no so. Seguindo, portanto a
lgica acima transcrita, diramos que o colonizador, como j o frisamos em outra ocasio,
que de facto e de jure existia, sendo o colonizado fruto de sua imaginao, ou melhor,
de seu pensamento.
Desprovido do direito, mero e, ao mesmo tempo, fundamental, do uso da
linguagem, no dizer de Rita Chaves, o colonizado to-somente objeto do discurso do
outro. Dessa forma, dialogando tambm pela diferena com o sistema literrio que
integra, a literatura, valendo-se inclusive da pardia, vai construindo a sua identidade,
uma identidade que recusa a linha dos sentidos nicos e se faz, sobretudo, a
contrapelo.16
13
KANT, Immanuel. Crtica da Razo Pura. Trad. de Valrio Rohden e Udo Baldur Moosburger. So Paulo:
Nova Cultural, 2003, p. 10. [Coleo Os Pensadores].
14
KIERKEGAARD apud ABBAGNANO, Nicola. Dicionrio de Filosofia. 4a. Ed. Trad. de Ivone Castilho
Benedetti. So Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 148-149.
15
DESCARTES, Ren. Op. Cit., p. 94.
16
CHAVES, Rita. Op. Cit., p. 72 e 75.
92
Seria, em outros termos, uma forma de encontrar as palavras certas para
apreender as coisas, para ter alguma noo daquilo que o espetculo da vida oferece.
Portanto, sendo a escrita, a linguagem na sua modalidade formal, uma condio
necessria idia de existir e de ser como assinalou Ruy Duarte de Carvalho em
conferncia proferida na Universidade de Coimbra, a propsito da sua relao enquanto
narrador de seus textos e escritor dos mesmos:
(...) a antropologia (...) me permitiu constituir-me a mim mesmo como personagem,
como narrador que das personagens que refere sabe o que sabe e o que pode,
com alguma segurana e sem operar obrigatoriamente redues, inferir (...) quer
dizer, o que pode presumir entender da maneira como os outros agem, e pensar e
sentir do que os outros podero pensar e sentir (...) e ainda assim (...) o narrador
em que me constituo continua a no ser capaz de colocar-se naquela situao em
que o autor se apodera da conscincia do outro (...) apenas disponibiliza o que o
outro lhe ter feito saber de si mesmo...17
Em suma, seria uma adequao da palavra condio da experincia, das
percepes e da conscincia do sujeito em situao interativa. Trata-se da arena de Mia
Couto, em sua experincia de inventar a moambicanidade, como tambm o fazem
outros escritores, como Ungulani Ba Ka Khosa, para citar apenas um, por intermdio de
um talento muito particular para criar onomatopias, permutar prefixos e sufixos, inverter
categorias gramaticais, subverter sintaxes etc.
2. Marianinho: da memria ambgua construo da identidade
Em Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra, de Mia Couto, o
narrador tem nome: Marianinho. ele quem, de prprio punho, registra as memrias de
sua famlia e de sua vida individual, contadas por seu av por intermdio das cartas, a
ponto de ele mesmo crer que estas lhe provocam o sentimento ambguo de transgresso
da sua humanidade e, simultaneamente, seu despertencimento ilha e sua gente.
As cartas instalavam em mim o sentimento de estar transgredindo a minha humana
condio. Os manuscritos de Mariano cumpriam o meu mais intenso sonho. Afinal,
a maior aspirao do homem no voar. visitar o mundo dos mortos e regressar,
vivo, ao territrio dos vivos.18
17
CARVALHO, Ruy Duarte de. Falas & Vozes, Fronteiras e Paisagens escritas, literaturas e
entendimentos. In: Setepalcos. No. 5. Lisboa, Julho de 2006, p. 12.
18
COUTO, Mia. Op. Cit., p. 257-258.
93
As cartas escritas por seu av, embora guiadas por suas prprias mos, deram-lhe
a conscincia de sua identidade, que se revela verdadeira, ao descobrir que era, na
verdade, filho biolgico de Mariano (fruto de relacionamento incestuoso deste com
Admirana, sua cunhada) e no seu av como at ento ele acreditava. Pois como ele
mesmo disse Aquelas cartas me fizeram nascer um av mais prximo, mais a jeito de ser
meu. Pela sua grafia em meus dedos ele se estreava como pai e eu renascia em outra
vida.19
Sendo a identidade uma construo que se narra, diramos, reportando a
Montserrat Guibernau,20 que a criao da identidade corresponde a um processo
complexo pelo qual indivduos se identificam com smbolos que tm o poder de unir e
acentuar o senso de comunidade, com o qual a identificao entre sujeitos se d de
modo a torn-los mais prximos e cmplices, tal como foram as cartas entre o av e o
neto.
Portanto, as vrias vozes dos personagens como, por exemplo, as cartas do av
ao neto, o lbum de fotografia da av Dulcineusa etc, misturadas voz do narrador, iro
desempenhar o duplo papel na narrativa: transformar os estilhaos da memria em
pontos de vista e assegurar a condio sob a qual a idia de nao e a identidade cultural
das gentes de Luar-do-Cho se revelem como, metaforicamente, os prprios construtores
da nova nao moambicana.
Assim, coube a Marianinho, a tarefa de acompanhar o enterro do av, seguir os
personagens em suas andanas, em seus feitos, ouvir suas histrias, acompanhando-os
em seu cotidiano, para, em seguida, organizar esta polifonia de vozes e escritas na
narrativa ora em anlise. As cartas tornam-se, deste modo, um veculo de vozes que
chegam de todas as partes do passado, como experincia partilhada entre os marianos.
E como se, conforme afirma o narrador de uma outra obra de Mia Couto, O Ultimo
Vo do Flamingo, ele procurasse se compreender, atravs da memria que lhe chegava
em pedaos fragmentados de lembranas que iriam compor a sua tessitura de
personagem coerente: ... a memria me chega rasgada, em pedaos desencontrados.
Eu quero a paz de pertencer a um s lugar, eu quero a tranqilidade de no dividir
memrias. Ser todo de uma vida.21
19
Id Ibid p. 257.
GUIBERNAU, Montserrat. Nacionalismos: o estado nacional e o nacionalismo do sculo XX. Trad. Mauro
Gama e Cludia M. Gama. Rio de Janeiro; Zahar, 1997.
21
COUTO, Mia. O Ultimo Voo do Flamingo. Lisboa: Caminho, 1999, p. 55-56.
20
94
O senso de comunidade trazido pelas cartas de Mariano, , a nosso ver, mais do
que mero registro dos acontecimentos ou de sentimentos vividos pelas personagens,
mas, principalmente, um elemento esclarecedor e propulsor das histrias individuais das
personagens de Luar-do-Cho, espao insular metfora de Moambique. As cartas so
elos de ligao entre o passado e futuro dos marianos; logo, Mariano, na segunda carta
que escreve ao neto, lhe diz: [voc] encontrar no a folha escrita, mas um vazio que
voc mesmo ir preencher, com suas caligrafias. (...) Voc e eu, de um lado e de outro,
as palavras.22
Entre o av e o neto parece intermediar um vazio, que, de certo modo, repete o
lbum em branco, isto , vazio, da av Dulcineusa. Trata-se, porm, de um vazio, no
qual a construo de coisas, o preenchimento atravs das lembranas inventadas ou
criadas, requer outras coisas novas, que podero, efetivamente, tornar plena a vida dos
marianos, com suas histrias e dramas familiares.
como se a invocao da histria se constitusse em relquias preciosssimas, com
os rastros do passado, cujo significado no est apenas na vida particular das
personagens, mas na vida comum a eles.
Como as personagens no podem esquecer o passado, ainda que se esquivem de
alguma histria dolorosa o narrador de Um Rio Chamado Tempo Uma Casa Chamada
Terra -, tendo inicialmente dificuldades em reunir toda a histria de sua famlia, ele o
faz, compilando num nico registro todos os detalhes que dem conta dos aspectos que
compem a sua histria e a de sua famlia. Diante da enormidade da empreitada, ele
solicita a ajuda do coveiro Curozero para proteger os papis empapados, cujas letras
ameaavam se dissolver:
Curozero, ajudeme a apanhar esses papeis.
Quais papeis?
S vejo as folhas esvoando, caindo e adentrando no solo. Como possvel que o
coveiro seja cego para to visveis acontecncias? Vou apanhando as cartas uma
por uma. ento que reparo: as letras se esbatem, aguadas, e o papel se empapa,
desfazendo-se num nada. Num pice meus dedos folheiam ausncias.
Quais papeis? insiste Curozero.
Respondo num gesto calado, de mos vazias.23
Mas, para que a histria seja preservada e fique na memria das geraes
vindouras, ela tinha que ser registrada. por isso que Marianinho, jovem citadino, foi
22
23
COUTO, Mia. Op. Cit., p. 65.
COUTO, Mia. Op. Cit p. 239-249.
95
chamado a registrar os fatos pelo av, pois o nico que domina o cdigo escrito da
linguagem. Trata-se, neste caso, de significar, atravs da valorizao da escrita a par da
oralidade do processo transformativo que a urbe provocou nas tradies rurais,
modelando-as e recriando-as,24 segundo Ana Mafalda Leite.
Sabemos tambm pelo narrador que a escrita se dissolve no papel molhado e vai,
aos poucos, sendo substitudo por vozes, quando ele, o narrador, derrama sobre a carta
que estava lendo um copo dgua: Na solido da cozinha vou lendo enquanto as letras
se vo esbatendo no papel molhado. Depois a folha murcha, a escrita j sem desenho
nem memria. Estou retido em mim, sem aviso de tempo, quando escuto as vozes.25
Eis a o poder restaurador e vivificante da narrativa, a qual d uma dimenso da
escrita que a eleva ao patamar do meio mais eficaz da preservao da memria histrica
e, por isso, da identidade cultural. Pois se tem algo de positivo que a colonizao deixou
para a frica, foi justamente a escrita, a instruo formal.
Nesse jogo de vela-revela, o narrador reconhece nas letras que vai decifrando,
atravs das cartas que recebia do av, a sua prpria caligrafia. Deste modo, entre o
sonho e a realidade, a dvida que persistia em seu sentido sobre a sua verdadeira
identidade, comea a apaziguar-se, pois numa das cartas, concretamente a quarta, ela j
vinha com a assinatura do seu emissor, Mariano, na qual este lhe diz: Assim eu uso a
sua mo, vou na sua caligrafia, para dizer as minhas razes.26
Que razes seriam estas? Provavelmente, os segredos que o av guarda sobre
identidade do neto. Ou mesmo os segredos sobre sua suposta morte, a qual nos deixa
confusos, pois no sabemos ao certo se ele estava realmente morto ou se estava vivo. O
mesmo fenmeno aconteceu quando da morte de Mariavilhosa na qual se enterrou um
vaso com gua no lugar do corpo da vtima de afogamento ou de suicdio, pois no se
confirma nenhuma das duas hipteses. Sobre isso o av diria ao neto: gua o que
ela [Mariavilhosa, a suposta me de Mariano neto] era, meu neto. Sua me o rio, est
correndo por a, nessas ondas.27 E, alm disso, por que razo o neto incumbido da
tarefa de organizar as cerimnias do enterro do seu av, sendo ele o mais novo membro
da famlia?
Apesar de muitas interrogaes que o gesto do av pode suscitar no leitor do texto,
um fato, desde logo, nos chama a ateno: as pequenas cartas, em sua maioria
24
LEITE, Ana Mafalda. Oralidades & escritas nas literaturas africanas. Lisboa: Colibri, 1998, p. 35.
COUTO, Mia. Op. Cit., p. 150.
26
Id Ibid p. 139.
27
Id. Ibid p. 105.
25
96
annimas, que se transformaro em longas cartas, assinadas pelo seu autor, so muito
sugestivas, na medida em que nos conduzem s confisses do av sobre si, sobre seu
neto, alm dos demais membros integrantes da famlia dos marianos, cuja histria
contada nestes pedaos de papel.
Ser no Post Script da oitava carta que Mariano, usando metforas da terra e do
rio, como vozes de seus antepassados e, portanto, do narrador, que ele traduzir o
esprito que deve nortear a escrita e a oralidade no continente africano, segundo a qual a
tradio e a modernidade podero caminhar juntas. Este fato ser retomado tambm na
ltima carta de despedida do av do seu neto. Histrias de um presente que vai ao
passado, mas caminhando com os olhos postos no futuro, pois, entre eles est o sotaque
do rio que unir o av ao neto para toda a eternidade, como o passado se une ao
presente, o ontem e o hoje permeados pelo amanh.
Sendo assim, a questo do sotaque do rio de que falamos h pouco do rio
Madzimi que , fundamentalmente, a metfora de aproximao entre o continente e a ilha.
Mia Couto, atravs desta metfora do rio situado entre o continente e a Ilha nos abre o
mapa novo que pretende desenhar com sua viso aglutinadora de um pas uno, porm,
ao mesmo tempo, diverso, sob o efeito do tempo, o senhor da razo, o qual, em seu
transcurso, nos apresenta uma rstia de esperana no espao em que a runa parece
reinar.
Trata-se, sem dvida, do retrato identificado com a degradao, ou com a
transformao que d vida s paisagens, em cujas fontes referenciais, a literatura busca
elementos para dizer e construir o mundo.
Na
relao
continente-Ilha,
Luar-do-Cho,
espelho/modelo
da
terra/pas,
frisaramos metaforicamente, projetam-se as conturbadas relaes com Moambique, o
pas em composio, a nao em montagem, esse cho convulso onde, em movimento,
se articulam desejos e tenses.28
Em tempos de incertezas e riscos de avano, a Ilha ser representada como um
mosaico incompleto, no qual o exerccio da palavra um meio de revolver o terreno e
extrair o significado dos fragmentos ora depositados diante de cada olhar,29 cuja idia do
paraso, que algumas vezes remarca o imaginrio das ilhas, em geral, arranhada.
Com mais preciso, afirma Rita Chaves a respeito da Ilha de Moambique que , segundo
a autora, uma espcie de entre-lugar em relao ao continente, o que nos motivou a fazer esta
aproximao entre Luar-do-Cho, ilha, e restante de Moambique continente:
28
29
CHAVES, Rita. Op. Cit., p. 215.
COUTO, Mia. Op. Cit., p. 215.
97
Nesse ponto depositado nas guas do ndico, espcie de entre-lugar onde se
movem as coordenadas ditadas pela histria e pela geografia do territrio hoje
identificado com o pas esto as linhas com que alguns [escritores] compem as
imagens de sua ligao com a terra
e suas hipteses de escapar aos limites
30
que as fronteiras representam.
Acreditamos que isso representa a marca da fragmentao da identidade cultural
do povo moambicano, resultado das associaes e interaes de vria ordem: poltica e
cultural, lingstica e tnica etc. O que equivale dizer que numa cultura marcada pela
ciso, como o caso da cultura moambicana, a contraposio uma constante da
proporcionalidade e, por isso, torna-se difcil se livrar da ditadura das dicotomias onde,
ainda segundo Rita Chaves, aprendemos a separar o passado do presente, o externo do
interno, o alheio do prprio, do sonho do real, o sujeito do objeto, o continente da ilha.
Mas essas dicotomias longe de acentuarem as perigosas diferenas de
pertencimento a esta ou quela etnia, considerando uma mais importante que a outra,
deve servir de impedimento a que estas mesmas diferenas de carter tnico, lingstico
e/ou racial venham a inviabilizar o projeto de nacionalidade alimentado pelo povo.
Mariano, antes de receber a terra sobre seu corpo, faz um ltimo pedido ao neto:
me faa um favor: meta no meu tmulo as cartas que escrevi, deposite-as sobre o meu
corpo. Faz conta me ocuparei em ler nesta minha nova casa. Afinal, o que o av ir ler
estando no tmulo? Ele mesmo responde:
Vou ler a si, no a mim. Afinal, tudo que escrevi foi por segunda mo. A sua mo, a
sua letra, me deu voz. No foi seno voc que redigiu estes manuscritos. E no fui
eu que ditei sozinho. Foi a voz da terra, o sotaque do rio. O quanto lembrei foi de
antes de ter nascido.31
As cartas, da parte do av, as fotografias, da av. So estes os elementos
com que o narrador se dispe a contar a histria de sua famlia. Partindo das cartas que
ele transformar em fotografias reais alm das cenas imaginadas por Dulcineusa com seu
lbum vazio, , como se todos, estivessem preparados para tirar uma fotografia em
famlia, pois como disse o nosso defunto-vivo:
No momento em que me veio esta morte, um feitio atravessou toda a vila. Meus
olhos expiravam, meu peito esbatia e, nesse exato instante, as fogueiras
tremeluziam nas casas como se ventasse uma sbita e imperceptvel aragem. E
30
31
Id Ibid p. 214-215.
COUTO, Mia. Op. Cit., p. 238.
98
depois se apagaram, sopradas por essa sombra espessa. Se extinguiram no
mesmo segundo em que se acenderam as mquinas que me fotografaram.32
A fotografia, como o sabemos, uma apropriao do objeto, ainda que guarde a
iluso de fix-lo. Retm um momento, enfim, d forma a uma lembrana com moldura.
Por isso, pode ser equiparado a um monumento, na medida em que registra a imagem
toda de qualquer que seja o objeto fotografado, fixado, atravs de uma cmera. E como
observa Peixoto, reter um momento, pela fixao da imagem como um monumento,
pois ambos so indcios de que alguma coisa aconteceu no lugar, de que algum esteve
ali;33 por isso as suas marcas ficaram/ficaro na lembrana.
Sabemos, outrossim, que, ao nascer, todo o homem se inscreve numa memria
anterior existente a ela, e em vida partilhar as experincias das geraes precedentes.
As novas geraes, por seu lado, herdaro desta quilo que ela havia herdado de seus
ancestrais bem como os valores que eles lograram deixar durante a sua existncia. Desta
maneira, a experincia do passado marca o encontro dos acontecimentos da vida em
comunidade que vem da relao que se estabelece com o passado de uma comunidade
humana e, seguindo a argumentao de Hobsbawn, ainda que apenas para rejeit-lo. O
passado , portanto, uma dimenso permanente da conscincia humana, um componente
inevitvel das instituies, valores e outros padres da sociedade humana. 34
Nesse sentido, o narrador ao narrar a histria de outros, isto , de seus
antepassados, reencontra a sua histria; por isso o ato de escrever a sua histria nada
mais do que escrever a histria de uma frica que perde, a cada dia, o contato com a
sua ancestralidade, cujo desafio urgente est na preservao dos seus valores culturais.
O registro que o narrador Marianinho faz, a partir das cartas que recebe do av, em
princpio annimas, significa reportar s origens e, de l, trazer a voz sem origem de um
mundo passado, talvez perdido, mas que se procura re-significar.
Assim, nos parece, essa metfora j em si encarnada na figura do av, cuja morte
confirmada de forma duvidosa pela expresso clinicamente morto, talvez mesmo igual
ao jovem Mariano que no barco v o dia findando-se como o desbotar do ltimo sol
durante a sua viagem de barco do continente para a ilha do Luar-do-Cho, ele afirmar
como o narrador que, segundo Vera Maqua,
32
Id Ibid. p. 198.
PEIXOTO, Brissac Nelson. As imagens e o outro. In: NOVAES, Adauto (Org.). O desejo. So Paulo:
Companhia das Letras, 1990, p. 472.
34
HOBSBAWN, Eric. Sobre Histria: ensaios. Trad. Cid Knipel Moreira. So Paulo: Companhia das Letras,
1998, p. 22.
33
99
Se ele volta para contar, como voltavam os viajantes clssicos, Mariano
silenciado pela fora da terra e so as pessoas que ali vivem que vo ajud-lo a
contar. A viagem de Mariano no a viagem horizontal de Ulisses grego, a
experincia a dispensar-se na aventura, e sim a viagem adensada no viver dos
outros, que ele precisa (re)conhecer para narrar. No interior da casa que a terra
ele concentra a conscincia das vrias identidades de um continente.35
O narrador ouvindo relatos dos mais velhos, as cartas do av cuja ausente
permanncia de quem morreu ainda se impunha, o ponto de partida para construo da
sua narrativa. Ele ser o arcabouo das lembranas da histria familiar, portanto, da
histria de seu pas, Moambique. Assim, podemos definir esta narrativa como uma
inveno, inveno de um projeto de pas, de nao, voltada para o devir, para a
construo da identidade cultural dos moambicanos.
Porque, se a ambivalncia dos discursos produzidos em decorrncia do sistema
colonial se traduzia pela seguinte dialtica: a destruio do colonizador era tambm a
destruio do colonizado, como afirmava Albert Memmi, 36 o discurso aps a
independncia pretenderia, em sua essncia, a construo da identidade do excolonizado em novo conceito de cidadania, entendida esta como resultado de interao
das crenas, sonhos e objetivos comuns com vista ao bem estar de todos os
moambicanos.
Trata-se, portanto, de um processo relacional, diferente do processo que vigorava
no sistema colonial, cujo compartimento estanque dividindo colonizador e colonizado fez
dos dois um fim em si mesmos. 37
O processo relacional a que estamos nos referindo, no Moambique moderno,
pressupe uma implicao recproca, relao de alteridade, em que existir s faz sentido
na medida em que um sujeito puder existir em relao com o outro. Portanto, deve haver
um cruzamento de motivaes de ordem esttica, psicolgica e social que, por seu lado,
dever materializar-se, neste caso, na percepo de que a linguagem um processo
pelo qual a experincia privada se faz pblica. 38
35
MAQUA, Vera. Memrias Inventadas: um estudo comparado entre Relato de um certo Oriente, de Milton
Hatoum e Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra, de Mia Couto. So Paulo: Universidade de
So Paulo/FFLCH, 2007, p. 190-191. [Tese de Doutorado].
36
Cf. MEMMI, Albert. Op. Cit., p 28-31.
37
Embora envolvidos numa teia opressiva, colonizado e colonizador, no podemos esquecer que a
dominao era protagonizada por este ltimo (colonizador) pelo que se torna difcil constatar um
jogo/embate de foras entre ambos.
38
RICOEUR, Paul. Teoria da Interpretao. Lisboa, Edies 70, 1976, p. 30.
100
Isso quer dizer, de acordo com Noa, que se deve reconhecer a virtualizao de
emoes e vises do mundo de um sujeito trans-individual que ora dilui, ora multiplica
nas inmeras subjetividades que povoam os universos representados.39
Como diria o narrador a respeito desta sensao de fixao num lugar, ou, melhor,
numa idia de pertena: Eu me tinha convertido num viajante entre dois mundos,
escapando-me por estradas ocultas e misteriosas neblinas. [...] J no me importa o
modo como Mariano redigira aquelas linhas. Eu queria apenas prolongar este devaneio. 40
Esta fala de um ponto a partir do qual o narrador dever-se-ia ancorar-se para
melhor se situar nesta dualidade tradio/modernidade, campo/cidade, vem ilustrada no
olhar-estranhamento que as crianas da Ilha lanam sobre ele:
As ruas esto cheias de crianas que voltam da escola. Algumas me olham
intensamente. Reconhecem em mim um estranho. E o que sinto. Como se a ilha
escapasse de mim, canoa desamarrada na corrente do rio. No fosse a companhia
da Av, o que eu faria naquele momento era perder-me por atalhos, perder-me
tanto at estranhar por completo o lugar.41
Ou, desta outra maneira, o narrador ao falar dos laos de parentesco entre
Admirana e a sua av, disse que em Luar-do-Cho no existe uma palavra que traduza
a idia de meia-irm, por isso que l, Todos so irmos em totalidade,42 ainda que
pertencendo, convencionalmente, duas famlias ou a dois lugares.
3. O passado um pas estrangeiro: a (des)locao do narrador
Narrar um ato de viver, porque narrar uma forma de permanecer na
posteridade. Fulano Malta, o suposto pai do narrador, sentia-se fora de casa, deslocado.
como se visse, ele mesmo, em seu prprio pas, um estranho ilustre, pelo que no via
por que motivo tinha que comemorar a independncia de seu pas, pois j sentira, to
cedo, a frustrao que estava por vir sobre a terra recm liberta.
A este respeito nos diz o narrador, Marianinho:
E nunca mais Fulano falou de polticas. O que dele a vida foi fazendo, gato sem
sapato? Sa da ilha, minha me faleceu. E ele mais se internou em seu amargor. Eu
entendia este sofrimento. Fulano Malta passara por muito. Em moo se sentira
39
NOA, Francisco. Op. Cit., p. 17.
COUTO, Mia. Op. Cit., p. 74.
41
COUTO, Mia. Op. Cit., p. 91.
42
Id Ibid p. 29.
40
101
estranho em sua terra. Acreditara que a razo deste sofrimento era uma nica e
exclusiva: o colonialismo. Mas depois veio a independncia e muito de sua
despertena se manteve. E hoje, comprovava: no era de um pas que ele era
excludo. Era estrangeiro no numa nao, mas no mundo.43
Diramos com Homi Bhabha, se o passado um pas estrangeiro [o colonialismo,
por exemplo] o que significa ento ir ao encontro de um passado que o seu prprio pas
reterritorializado, ou mesmo aterrorrizado por outro?"44 Talvez isso explique certos
traumas como o de Fulano Malta em relao ao desvio dos ideais que nortearam a
revoluo que culminou com a independncia.
J, diferentemente dele (Fulano Malta), o seu pai, av Mariano, para quem o
passado no conta, apenas o caminhar no presente em direo ao futuro, pois ele como
o caador [que] lana fogo no capim por onde vai caminhando. Eu fao o mesmo com o
passado. O tempo para trs eu o vou matando. No quero isso atrs de mim, sei de
criaturas que se alojam l, mos tempos j revirados.45 Portanto no se aloja ou abriga no
passado para justificar progressos ou fracassos. Importa seguir caminhado para construir
algo que dever deixar aos outros, como os segredos que est revelando sua famlia.
Fulano Malta sentindo-se fora de casa, fora de lugar, um estranho que no tem
nada a comemorar, talvez algo a lamentar, o que Edward Said chamaria de experincia
de exilado que, ainda segundo ele, embora esta experincia de outrora seja muito
diferente da nossa, contempornea. Esta diferena apenas de escala, pois a nossa
poca moderna, com a guerra moderna, o imperialismo e as ambies quase teolgicas
dos governantes totalitrios, , com efeito, a era do refugiado, da pessoa deslocada, da
imigrao em massa. 46
Mas, a experincia de Moambique contemporneo ou antigo no difere muito, na
medida em que do perodo da passagem do colonialismo que seria, em tese, o passado
do pas se mistura, quase simultaneamente, com o seu presente, o da independncia,
como um local de colagem e expresso de fragmentos, dos estilhaos de esperana que
norteavam a vida ps-colonial ou ps-revoluo em que se tornou duvidosa a utopia
revolucionria.
Ser, por isso, um desafio baseado na conscincia de que preciso recuperar o
passado deste pas que, a cada dia, todos os homens, de norte a sul, operrios e
43
Id Ibid p. 258.
BHABHA, Homi apud MAQUA, Vera. Op. Cit. p. 66.
45
COUTO, Mia. Op. Cit. p. 259.
46
SAID, Edward. Reflexes sobre o exlio e outros ensaios. Trad. Pedro Maia Soares. So Paulo:
Companhia das Letras, 2003, p. 47.
44
102
camponeses, intelectuais e polticos, empresrios e entidades civis esto engajados para
a grande travessia que vai dando sentido(s) da vida(s) a vida. Enfim, um passado, no no
sentido nostlgico da re-visitao, mas como plataforma assumida de viver o futuro que
comea hoje neste labirinto de pertenas desconhecidas 47 que Moambique.
A questo da sensao do despertencimento que Fulano Malta sentia em relao
ao seu prprio que o leva a no querer participar das festas alusivas comemorao da
independncia do seu pas, traduzida na afirmao categrica comemorar o qu? 48,
muitos moambicanos a experimentaram com a guerra civil; o estar fora lugar de que
falava Said, tambm foi desenvolvido por Osman Lins e sua obra, Lima Barreto e o
espao romanesco, na qual ele introduz o conceito de ambientao dissimulada, que ,
segundo ele todo um mundo interior, caprichoso e nostlgico, na confisso que explica
reproduo do ambiente.49 A reproduo deste ambiente ocorre em dois nveis: o da
histria e o do discurso.
H recorrncia na narrativa em questo aos elementos, tais como farda, perfumes,
pistola, etc em referncia ao perodo da guerra de libertao nacional, mas certamente, e,
sobretudo, a utopia que movia os obreiros da revoluo.
Assim, Marianinho, reflete sobre a morte do av:
Custa-me v-lo [av] definitivamente deitado, di-me pensar que nunca mais o
escutarei contando histrias. (...) Era um lao de orgulho nas razes mais antigas.
Ainda que fosse uma romanteao das minhas origens mas eu, deslocado que
estou dos meus, necessitava dessa ligao como quem carece de Deus.50
o rio que une a Ilha ao Continente. Todavia se os une ele tambm os separa.
Porque Luar-do-Cho, a ilha, est separada em relao ao resto de Moambique, tanto
pela distncia geogrfica como por elementos culturais. Na cidade, Mariano aproximase do ocidente com os seus valores, na ilha, ele est prximo da tradio dos seus
familiares. Afinal, a volta de Marianinho sua terra natal para conduzir a cerimnia do
enterro do av demonstra esta tentativa de aproximao cidade/campo.
Logo ele que viveu na cidade chamado para conduzir rituais de sua tradio do
qual se afastou havia muito tempo, quando poderia ser feito por algum ligado a ela. O
47
CAVACAS, Fernanda. Mia Couto: Brincriao Vocabular. Lisboa: Mar Alm & Instituto Cames, 1999, p.
9-10.
48
COUTO, Mia. Op. Cit., p. 72.
49
LINS, Osman. Lima Barreto e o espao romanesco. So Paulo: tica, 1976, p. 87.
50
COUTO, Mia. Op. Cit. p. 43-44.
103
que a nosso ver uma metfora de comunho de culturas, da necessidade de
convivncia entre a tradio africana e a modernidade ocidental.
Da que o narrador faz a seguinte constatao:
Nenhum pas to pequeno como o nosso. Nele s existem dois lugares: a cidade
e a Ilha. A separ-los, apenas um rio. Aquelas guas, porm, afastam mais que a
sua prpria distncia. Entre um e outro lado reside um infinito. So duas naes,
mais longnquas que planetas. Somos um povo sim, mas de duas gentes, de duas
almas.51
Afinal no ser o homem o marinheiro que deve conduzir o barco ao bom porto?
Se perder o rumo, certamente, haver um acidente. Pois sendo a Ilha o barco e o homem
o rio, ambos necessitam um do outro para existirem.
Marianinho volta para a ilha, saindo da cidade, para a mesma casa onde havia
vivido a infncia e isso gerava nele, conforme Todorov, o sentimento de pertencer s
duas culturas ao mesmo tempo:52 a de cidado da cidade e do meio rural. a presena
simultnea de dois lugares que ele experimentava dentro de si.
Se aproveitada esta situao de embate entre duas culturas, pelo menos no que
tange a convivncia entre ambas, sem que se defenda a sobreposio de uma em
relao a outra, isto , a cultura moderna urbana em detrimento da tradicional rural e vice
e versa, teremos mais a ganhar com a combinao ou confluncia dos elementos de
ambos, em sua interao profcua a todos os intervenientes deste processo, a saber, o
povo da cidade e o povo do campo.
Porque a tentativa de pautar pela sobreposio de uma cultura, seja ela tradicional
seja ela moderna, s nos prejudica. Ao que Todorov chama do valor do nacionalismo,
segundo o qual,
A defesa do grupo a que pertencemos no mais do que um egosmo coletivo; que
as influncias exteriores, longe de ser fontes de corrupo, so, ao mesmo tempo,
inevitveis e proveitosas para a evoluo da cultura; que de qualquer forma vale
mais viver no presente do que tentar ressuscitar o passado; enfim, que ali no havia
grande interesse em fechar-se dentro do culto dos valores nacionais tradicionais.53
Trata-se, a nosso ver, de evitar a desculturao que, nada mais do que, a
degradao da cultura de origem e defender a aculturao, que a aquisio progressiva
de uma nova cultura, portanto, de um novo iderio cultural moambicano que tenha
51
Id Ibid p. 18.
TODOROV, Tzevetan. Op. Cit., p. 16.
53
Id Ibid p. 17.
52
104
dentro de si elementos do ocidente e os da cultura africana, em suas multifacetadas
manifestaes tnicas e geogrficas.
Para Gustavo Bernardo54 temos, nesta obra de Mia Couto, uma abordagem sobre a
terra e a cultura da terra, no h um heri; as palavras que so hericas, recriando
sentido, o passado e a identidade daquela sociedade em conflito (consigo mesmo, grifo
nosso). Na medida em que acumuladas s desiluses e impacincias, Uma mesma
ignorncia do Outro foi transitando ao longo da Histria,55 escreve Mia Couto num artigo
recentemente publicado pela revista Via Atlntica.
A ignorncia do outro de que nos fala Mia Couto na passagem acima referida se d
quando um homem da cidade condena o seu semelhante do campo a viver encerrado na
sua realidade cultural, como aconteceu durante o perodo da vigncia do sistema colonial.
Condenar o indivduo a continuar trancado, imerso na cultura dos seus ancestrais
pressupe, com certeza, considerar que a cultura um cdigo imutvel, independe da
interveno humana, o que , de certo modo, falso empiricamente. Talvez nem toda a
mudana seja boa, seja ela cultural ou de outra natureza, mas toda a cultura viva muda.
Av Mariano exortou o neto a propsito de que era necessrio desligar-se das
amarras da pertena, especialmente quando estas o sufocam. Nesse sentido, lhe disse:
voc despontou-se, saiu da Ilha, atravessou a fronteira para conhecer outro lugar, outra
cultura, portanto; mas bom que cada um tenha o seu congnito e natural. Apesar disto
ser bom, importante tomar cuidado, pois os lugares nos aprisionam, so razes que
amarram a vontade da asa56 em alar vo.
Todorov afirma que Toda a ruptura e ciso no so uma fatalidade, embora
reconhea divergncia de opinio a respeito disso, como a do coronel Lawrence da
Arbia, citado por Malraux, que dizia por experincia que todo o homem que pertence
realmente a duas culturas perdia a alma, ou a identidade, se assim o preferirmos.
Todorov, ainda a respeito, lembra-nos que, em nossa poca de crispao de
identidade, de nacionalismo dissimulado, religioso ou cultural, tais intenes parecem
ganhar nova atualidade, embora, em uma primeira forma elogio da terra e dos mortos,
condenao do desenraizamento etc57 louvam a pluralidade das culturas, porque
vivemos numa poca em que a mistura das vozes, a polifonia desmedida, que no
54
55
BERNARDO, Gustavo. A Palavra pica. O Globo. Rio de Janeiro, 12 Abr. 2003.
COUTO, Mia. Moambique 30 anos de Independncia: no passado, o futuro era melhor? In: Via
Atlntica. DLCV. FFLCH. USP, no. 8. So Paulo: Departamento de Letras Clssicas e Vernculas, 2005, p.
195.
56
COUTO. Mia. Op. Cit. p. 65.
57
TODOROV, Tzevetan. Op. Cit., p. 23-25.
105
conhece hierarquia nem ordem, so quadros apropriados ao sujeito descentrado que o
sujeito moderno.
E, mais, as identidades culturais no so apenas nacionais, existem outras, ligadas
aos grupos humanos pela idade, sexo, profisso, meio social em que cada um vive;
embora a origem cultural nacional seja a mais forte de todas as outras formas de
identidade, na medida em que se combinam nela tanto os traos deixados no corpo como
os deixados no esprito. Alm disso, contam tambm os traos e marcas deixadas pela
famlia e pela comunidade, pela lngua e pela religio.
Tudo isso para que nenhum ser humano se sinta como se fosse um desenraizado,
mas que tenha presente em mente a sua mltipla pertena. Recorrendo-nos, mais uma
vez, a Todorov, admitiramos que o contato entre culturas no se desenvolve sem
obstculos, porque,
O homem desenraizado, arrancado do seu meio, de seu pas, sofre em um primeiro
momento: muito mais agradvel vier entre os seus. No entanto, ele pode tirar
proveito de sua experincia. Aprende a no mais confundir o real com o ideal, nem
a cultura com a natureza: no porque os indivduos se conduzem de forma
diferente que deixam de ser humanos.58
Portanto a abertura cultura de outrem, quer por curiosidade, quer por tolerncia, o
que ajuda o sujeito a superar certos preconceitos culturais e faz dele tambm um
engajado na defesa da riqueza mltipla que esta desperta em si, desligando-se assim, de
comportamentos e julgamentos nocivos ao respeito pela diferena e diversidade.
4. Passado colonial, memria e romance
O indecifrvel enigma do universo, isto da prpria existncia um lugar em que,
por exemplo, a morte se cruza com o risvel para alargar e transgredir o mundo material e
a sua lgica. Eis por que a literatura ao mobilizar mltiplos e diversificados saberes, como
por exemplo, antropolgico, histrico, geogrfico, tcnico-cientfico, poltico, lingstico
etc, assume-se, simultaneamente, como um universo polifnico e plurissignificativo, isto ,
aberto e fragmentado, por ser dispersa nos saberes que tenta conjugar.
Segundo Roland Barthes, a literatura mobiliza, dissimula, desvaira saberes, pois
que, ela nada mais do que uma forma de contra-poder, uma viso particular do mundo,
58
TODOROV, Tzevetan. Op. Cit. p. 23-25.
106
logro magnfico (...) no exterior do poder59 e que se contrape ao discurso cientfico que
um discurso do poder, um poder que subjuga, um poder que quer fixar um Sentido
unitrio e definitivo da totalidade.60
Sabemos que a colonizao introduziu uma fissura no mundo dos africanos. E esta
fissura, ou ruptura, conforme convier a terminologia, persistiu, mesmo com a
independncia poltica.
Percebe-se, claramente, que ela criou, de certa maneira, a coexistncia paradoxal
de mundos paralelos que foram se imbricando, no em suas totalidades; mas em partes,
que entre repulsa e tentativa de convivncia no pacfica, foram se afirmando, cada um a
seu modo, claro.
O mundo do colonizador manteve-se dentro do mundo do colonizado, apesar da
independncia, como este dentro daquele quando da colonizao; pois os seus
elementos culturais resistem a este mundo como este quele durante o referido perodo.
E em certo sentido houve o intercambiar de culturas, porque vivendo na mesma realidade
geogrfica, por mais que neguem um ao outro, ambas sofreram entre si influncias
mtuas, quer consciente, quer inconscientemente. Por esta razo debruar-se sobre os
dois mundos requer, sobretudo, um olhar que voltando ao passado no se descurar do
presente nem do futuro.
Lembrar o passado fundamental para a identidade da espcie humana e em
Moambique, isto ganha ainda mais importncia, porque o passado se funda nas
experincias acumuladas desde a gerao anterior, a da revoluo, presente gerao
dos moambicanos que, uma vez assimilada os valores que nortearam a revoluo, tais
como a liberdade e a dignidade humanas, os transformaro durante toda a sua vida
presente.
O mesmo fenmeno que se deu com Marianinho, cuja realidade cultural adquirida
e introjetada em si, durante todo o perodo em que esteve na cidade para os estudos
universitrios, volta a Luar-do-Cho, sua terra natal, com toda a influncia cultural urbana
para conviver e conhecer os valores culturais da sua tradio.
Para a sua estada na ilha far o possvel para no esquecer todos os detalhes da
preparao do enterro do av como forma de se (re)ligar tradio de sua identidade
individual e, ao mesmo tempo, coletiva, dentro daquele contexto rural por forma a buscar-
59
BARTHES, Roland apud NOA, Francisco. A escrita infinita. Maputo: Universidade Eduardo
Mondlane/Livraria Universitria, 1998, p. 110.
60
SEVERINO, Emanuele apud NOA, Francisco. Op. Cit., p. 110.
107
se e a rebuscar-se de modo a acertar as contas de um tempo que ainda lhe parecia um
pouco desconhecido.
Para esta empreitada de conhecer a sua origem, atravs de sua participao na
cerimnia fnebre do av, Marianinho vai ouvindo e assimilando as histrias relativas ao
passado de sua famlia, com o auxlio do prprio av e dos velhos da sua comunidade.
O historiador ingls Eric Hobsbawn, ao discutir o passado dos indivduos e/ou das
sociedades, afirma que
Todo o ser humano tem conscincia do passado (definido como o perodo
imediatamente anterior aos eventos registrados na memria de um indivduo) em
virtude de viver com pessoas mais velhas. Provavelmente todas as sociedades que
interessam ao historiador tenham um passado, pois mesmo as colnias mais
inovadoras so povoadas por pessoas oriundas de alguma sociedade que j conta
com uma longa histria. Ser membro de uma comunidade humana situar-se em
relao ao seu passado (ou da comunidade)... .61
Muitas sociedades cujo passado e histria foram registrados num esforo humano
de preservar aqueles valores histricos, aquelas riquezas culturais que regeram a vida
dos seus membros. Mas nem todas elas tm a escrita como fonte documental; mas sim, a
tradio oral, cuja histria se firmou graas ao contar, oralmente, de gerao em gerao
como forma de preservar os seus valores.
Histria de um povo aquela que dura. E o que dura so valores que foram
preservados, de todos os tempos e de todas as pocas e lugares, do tempo vivido e do
tempo sonhado, de tempos mltiplos e de tempo relativo, de tempos subjetivos ou
simblicos, que em qualquer sociedade atravessa a histria e a alimenta.
Para entendermos um pouco alguns princpios que nos podem auxiliar na anlise
da fico moambicana do ps-independncia, nos apoiaremos num texto de Francisco
Noa62, intitulado "A dimenso escatolgica da fico moambicana: Ungulanani Ba Ka
Khosa & Mia Couto", cujas idias nos revelam as seguintes pistas:
a) a estigmatizao e flagelao fsica e moral do espao vital de alguns escritores
cujo discurso da irreversibilidade do destino e do esvaecimento da prpria existncia,
individual e coletiva, se torna um imperativo de transformao do seu crculo existencial,
conspurcado e dessacralizado. Eis alguns exemplos: S ficava sentado. Mais nada.
61
62
HOBSBAWN, Eric. Op. Cit., p. 22.
NOA, Francisco. Op. Cit., p. 11-18.
108
Assim mesmo, sentadssimo. O tempo no zangava com ele. 63 H como que, segundo
Noa, a auto-ironia de um povo manifesta na recriao alegrica de uma personagem que
se entrega a uma espera quimrica e funesta. 64 Alm da metfora da vanidade da espera,
da frustrao:65 ... O tempo perdido, me. O tempo perdido....66
b) a solido das personagens pode ser tambm pressentida no quase permanente
desajustamento entre o mundo interiormente vivido por eles e o mundo que os envolve,
enquanto conjunto de referncias abertas pelos textos, e pelo ritmo monologante das
narrativas, onde perceptvel no s uma profunda tenso interior, mas tambm a
problematizao da existncia rematada por tiradas aforsticas. Esta solido -nos
transmitida, basicamente, pelo silncio, ora intervalando as suas falas [personagens], ora
envolvendo-as de forma prolongada dos diferentes momentos, 67 principalmente pelos
personagens de A Varanda de Frangipani, talvez neste romance se encontrem
personagens mais tragicamente solitrias; alm do sobrevivente de uma arrepiante
carnificina, chamando pelo filho, tendo como resposta silncio, zumbidos, vazio; 68
c) as supersties e as profecias, que povoam o universo dos personagens,
concorrem no s para criar um imaginrio determinado, mas tambm para aprofundar os
sintomas da inexorabilidade do seu destino: Fixa o que te digo, mulher: no dia em que
ousares receber um homem por entre as tuas coxas, estrangular-te-ei com a mesma
ferocidade com que dilacero uma barata. Tu s minha e sers minha para alm da
morte.69
d) recursos estilsticos como a metfora encontram-se normalmente vinculados a
visualizao superlativa do trgico e do macabro. Ex.: A rua era um talho de carne
humana,70 ou que a morte e uma guerra de enganos;71 ou, ento, que determinado
instante e um subrbio da morte.72
e) e, finalmente, a maneira como os contos dos dois terminam. Os personagens
tm, pois, na generalidade dos contos um fim trgico. H como que uma volpia da morte
estruturando os seus textos existenciais, segundo Noa, sejam eles interiores, sejam eles
exteriores. Seguem alguns os seguintes exemplos: Minutos depois, j cansado, o velho
63
COUTO, Mia. Vozes Anoitecidas. Lisboa: Caminho, 1986, p. 109.
NOA, Francisco. Op. Cit., p. 15.
65
Id Ibid p. 15.
66
KHOSA, Ungulani Ba Ka. A orgia dos loucos. Lisboa: Caminho, 1990, p. 19.
67
NOA, Francisco. Op. Cit., p. 15.
68
KHOSA, Ungulani Ba Ka. Op. Cit., p. 60.
69
KHOSA, Ungulani Ba Ka p. 66.
70
Id Ibid p. 57
71
Id Ibid p. 89.
72
COUTO, Mia. Op. Cit., p. 124.
64
109
atirou-se cova, uivando prolongadamente,73 ou Hanifa, estendida de costas e com os
braos e as pernas abertas tinha o semblante de uma diva. Estava morta: 74
s vezes, me descia um frio sem remdio. Me chegavam vises de uma fundura: o
abismo que nenhuma ave nunca cruzou. E eu tombado, tombando sempre. Da
rocha para a pedra, da pedra para o gro, do gro para a funda cova do nada.75
5. Os fios da identidade de uma nao atravs da narrao
Identidade cultural como narrao pressupe, acima de tudo, o olhar do narrador,
suas impresses e seus conhecimentos sobre os fatos e sobre o mundo que o rodeia.
Alm do fato de existirem, nesta sua empreitada, personagens que o subsidiam novos
sentidos sua histria, especialmente, no tocante aos processos de construo,
ordenao e seleo das informaes veiculadas por ele e pelos personagens. Assim,
Marianinho, ao reportar aos fatos que se desenrolavam em Luar-do-Cho, logo aps a
proclamao do Estado moambicano, constata:
Enquanto nas ruas, as tropas desfilaram as pr-victrias, meu pai despiu a sua
farda e se guardou em casa. Mariavilhosa, desistiu de argumentar. Juca Sabo,
que acorria para se juntar multido, nem acreditava que o heri libertador se
sombreava no resguardo do lar, alheio ao mundo e o glorioso momento [da
independncia].76
Fulano Malta desencantou da independncia antes mesmo de ver os princpios
utpicos que a regiam serem postos de lado; pois oportunistas e corruptos que
adentraram as instituies, como seu irmo Ultmio, estavam j prontos a seguir a
desestruturao de todo o aparelho do Estado com fins escusos. Mesmo com toda a
motivao dos colegas e companheiros e, at mesmo, de seus familiares, ele foi taxativo
ao perguntar: Comemorar o qu?.
Esta verdade factual e histrica desperta no ex-combatente da luta de libertao
nacional um sentimento de nacionalidade que passa a ser dinamizado pelo processo
histrico que faz registrar nas opinies pessoais e no imaginrio social uma desiluso em
relao causa revolucionria: o desenvolvimento sustentvel da nova nao que se
sonha construir, mais justa e fraterna.
73
KHOSA, Ungulani Ba Ka apud NOA, Francisco. Op. Cit. p. 15.
Id Ibid., p. 15..
75
COUTO, Mia. Op. Cit., p. 260.
76
Id Ibid p. 72-73.
74
110
O narrador, portanto, tenta, ao menos dar conhecimento dos fatos que permearam
a recente histria de Moambique, restabelecer a continuidade do dispositivo da
identidade, no s preenchendo os interstcios dos documentos como tambm permite
ultrapassar o fatual para refletir sobre os grandes problemas que afectam a gnese de
uma nao a vir.77
Tanto a histria como a fico so discursos, construes e elaboraes humanas,
portanto, so sistemas de significados e , por intermdio dessa identidade, que ambas
obtm a sua pretenso s verdades histricas. Nesse sentido a desagregao encontrada
por Marianinho em sua terra natal exacerba a fragmentao cultural que quer denunciar
num pas cuja nova ordem poltica no parece respeitar os princpios que nortearam a
revoluo. Por isso, os personagens que, em tese, podem ser comparados aos cidados
moambicanos, abraam o futuro com cautela, porque, segundo o narrador, rvore d
sombra, pessoa assombro.78
Ou ironicamente, como diria Fulano Malta sua esposa, Mariavilhosa: Se para
aclamar a bandeira eu escolho o redondo de sua barriga; ao que a esposa lhe responde
Daqui a um ms a bandeira vai subir. Que sabe isso acontece quando eu estiver a dar
luz este nosso filho.79
Apesar de tudo, a esperana nos dias melhores que ho de vir imensa, porque
como grande fora a causa da revoluo, grande tambm ser a causa do
desenvolvimento, afinal, Todos necessitavam de grandes causas, precisam de ter ptria,
ter Deus (...). Para aprender de sua eternidade, ganhar um corao de longo alcance. E
me aprontar a nascer de novo, em semente e chuva.80 Tal como erguera o pas do jugo
colonial, para mais tarde, erguer-se de novo da guerra civil. Mariano e o pas so eternos
guerreiros.
6. O cortejo fnebre como uma forma de identidade cultural do povo
A cultura, como do nosso conhecimento, um conjunto complexo de objetos
materiais, de comportamentos, de idias, adquiridos e preservados por membros de uma
comunidade determinada. Sendo assim, onde h cultura h sociedade, pois elas so
77
GRAA ABREU. Histria, Texto, Devir: Reescrevendo imprios. Relaes Intertextuais, Contextos
Culturais e Estudos Ps-Coloniais. Actas do IV Congresso Internacional da Associao Portuguesa de
Literatura Comparada. vora, 09 a 12 de Maio de 2001, Vl. 1, p.1.
78
COUTO, Mia. Op. Cit., p. 146.
79
Id Ibid. p. 73.
80
Id Ibid p. 259.
111
correlativas. Porque uma sociedade no poderia existir sem cultura, essa herana coletiva
transmitida de gerao para gerao.
Uma cultura pressupe a existncia de um grupo que a crie lentamente, a viva e a
comunique dentro de sua individualidade cultural. Porque ela exige dos seus membros
uma conscincia elevada dela como, por exemplo, a conscincia da morte que em Um rio
chamado tempo, uma casa chamada terra, romance em anlise, desencadeara conflitos
de identidade cultural entre os membros da famlia dos marianos.
Em se tratando de uma realidade, tipicamente, africana, veremos como a quase
morte do patriarca dos marianos, av Mariano, far com que, pouco a pouco, com suas
cartas misteriosas e tambm a sua misteriosa morte, alis, no se sabe ao certo, se ele
morreu ou no morreu, o que nos leva a concluir que ele poderia estar em um estado
catalptico. A ateno se desvia da morte real, inaceitvel em sua dimenso individual e
afetiva, para iar ao plano simblico onde a morte a garantia de um excedente de vida.
De acordo com Kabenguele Munanga, num texto recentemente publicado na
revista EntreLivros, num especial sobre a frica, diz-nos que O africano vive em
familiaridade com a morte, e a morte individual apenas um momento do circulo vital que
no prejudica a continuidade da vida".81 Talvez, da a no morte do av Mariano. Isso
porque, na frica tradicional, da qual a frica moderna bebe, a ideologia tradicional
segundo o mesmo professor, o morto impuro e perigoso transformado em ancestral
protetor e reverenciado, pois a morte transformada em vida. A circulao da fora vital,
representada pela morte, caracteriza toda a frica como princpio vital, segundo o qual, a
morte no ruptura, uma mudana de vida, uma travessia, digamos assim, para um
outro ciclo de vida e, por isso, que os mortos entram na categoria dos ancestrais, dos
protetores, dos guardies dos vivos, enfim, so venerados como espritos superiores.
Mariano, consciente deste fato, usa-o como poder para determinar o ciclo dos
acontecimentos e mudar o rumo das coisas que circundam a sua famlia. Como sabemos,
o poder, em vrias culturas africanas, est baseado na autoridade dos velhos, isto , do
mais velho de um cl. Portanto, a autoridade do patriarca da linhagem baseada nos
laos de sangue, e na lei do sangue. por isso que quem a exerce decide sobre quem e
porque a responsabilidade sobre determinados fatos deve incidir.
Porque, para o av Mariano, a nica pessoa capaz de conduzir suas exquias sem
mudar as regras que ele gostaria de ver cumpridas o neto, por isso, lana um lacnico
No deixa que nenhum outro parente intervenha. Assim a tarefa de Marianinho a de
81
MUNANGA, Kabenguele. O que africanidade. Entrelivros/Africa. So Paulo, Abril/2007, p. 10.
112
repor as vidas, direitar os destinos de sua gente, na medida em que os outros membros
da famlia so impossibilitados de cumprir com tal dever, porque seguindo o que o av
disse ao neto:
Seu pai [Fulano Malta], com suas amarguras, seu sonho coxeado. Abstinncio com
seus medos, to amarrados a seus fantasmas. Ultmio que no sabe de onde vem
e s respeita os grandes. Sua Tia Admirana que alegre s por mentira.
Dulcineusa [av] com seus delrios, coitado.82
A nica parente que faltava neste momento era Miserinha, que o av lhe pede para
traz-la de volta para casa e para a famlia, pois as paredes de Nyumba-Kaya esto
amarelecendo da saudade dessa mulher.83 E tambm, ao revelar-lhe que era ele, o av,
seu pai e no o Fulano Malta, disse-lhe porque o escolheu: Voc se escolheu sozinho,
[pois] a vida escreveu no seu nome o meu prprio nome [e sangue].84 No caso em
questo, Marianinho foi o escolhido, embora seja o menor, mas por ser um homem em
trnsito entre dois mundos: o da tradio e o da modernidade. O av escolheu-o para
contar os segredos da famlia, neste pretexto de morte.
Os efeitos da guerra e do ps-guerra em Moambique constituem, o pano de fundo
do romance A Varanda de Frangipani, de Mia Couto, cujas imagens sugestivas e
corrosivas
do
pessimismo,
desconcerto
desencanto,
reflete
conflito
tradio/modernidade. Para Francisco Noa este conflito no s um modo de ser e de
estar, mas tambm uma forma de apreender e interpretar o mundo, isto , um saber que
est em decadncia.85
Deste modo nos diz um dos principais personagens do livro supra citado: Estes
velhos [que] esto morrendo no so apenas pessoas. (...) So guardies de um mundo.
todo esse mundo que est sendo morto. 86 Pois os segredos so revelados na morte
para que os vivos continuem guardando-os e reverenciando os segredos que os
patriarcas carregaram durante toda a sua vida individual e coletiva. Esses segredos so
como que uma constelao, [isto e] uma configurao de caracteres que conferem ao
continente africano a sua fisionomia prpria87 em que a tristeza pela morte do ente
querido pode passar simultaneamente de alegria quando da dana, cantos, arengas etc,
82
COUTO, Mia. Op. Cit. p. 126.
Id Ibid p. 126.
84
Id Ibid p. 260.
85
NOA, Francisco. Op. Cit., p. 120.
86
COUTO, Mia. A Varanda de Frangipani. Lisboa: Caminho, 1996, p. 59
87
MUNANGA, Kabengele. Op. Cit., p. 9.
83
113
para celebrao da nova vida, de modo a restabelecer a coeso e a vitalidade que
presidem a ordem do tecido familiar africano.
A tenso entre um presente difcil e a necessidade de encontrar, de alguma forma,
uma sada em que as diversas situaes de instabilidade, aliadas ao acirramento de
contradies sociais do ps-independncia, alm da convivncia com a morte, tem sido a
marca muito freqente na narrativa de Mia Couto.
Nesse sentido, as guerras, a da independncia e a civil, todas elas, na verdade,
so conduzidas na narrativa pela voz do jovem que nos empresta seu olhar, atravs do
qual o leitor pode recuperar alguns fios da vida que permitem encontra a luz onde a
solido e o obscurantismo insistem em reinar.
Seria, como disse o narrador de A varanda de frangipani:
O culpado que voc procura, caro Izidine, no uma pessoa. a guerra. (...) A
violncia a razo maior deste meu retiro. A guerra cria outro ciclo do tempo. J
no so os anos, as estaes que marcam as nossas vidas. J no so as
colheitas, as fomes, as inundaes. A guerra instala o ciclo do sangue.88
A literatura ps-independncia em Moambique, em geral, e, no caso particular, a
de Mia Couto, pode ser vista como um espao de discusso de problemas concretos e
como um lugar privilegiado, em que se podem projetar, dentro dos limites, humanamente
possveis, sadas quando, evidentemente, as circunstncias convidam ao desnimo e a
falta da utopia.
Pois, quando o colonialismo foi derrotado, a partir da revoluo independentista, as
populaes africanas encontravam-se, em sua imensa maioria, muito distantes dos
padres ocidentais, principalmente, no que se refere ao domnio da cincia e da
tecnologia, com elevadssimo nvel de analfabetismo, cujo reflexo vem do fracasso da
chamada misso civilizadora colonial. Deste modo, as populaes que foram silenciadas
ao longo dos sculos da dominao estrangeira, exercitavam, agora, mais do que nunca,
o direito voz conquistado com a libertao. Por isso, em Literatura, os escritores dos
pases africanos de lngua portuguesa, comeam a introduzir, em seus textos, neologismo
de origem africana, transgredindo assim a norma culta do portugus europeu,
empregando palavras mais prximas das realidades apanhadas pelo texto literrio.
sabido que as tradies culturais no dizem respeito apenas ao recurso s
lendas, aos mitos e as fbulas que compem, mas de um procedimento que visa,
88
COUTO, Mia. apud CHAVES, Rita & MACEDO, Tnia. Op. Cit. p. 49.
114
sobretudo, revitalizar a escrita atravs do questionamento dos modelos ocidentais que,
segundo Rita Chaves e Tania Macdo, A necessidade de resgat-la [a escrita, portanto,
a lngua portuguesa] em novas bases vai orientar a procura de novas falas que a literatura
precisa abrigar.89 Para que o processo de desagregao do projeto utpico comece a ser
tratado pela literatura que anunciara a sua transformao 90.
Diria, no mesmo diapaso, o professor e crtico moambicano Loureno do
Rosrio:
Havia a necessidade absoluta de conhecer com alguma objectividade os valores,
as mentalidades, a mundividncia, as relaes com a natureza, as relaes com o
sobrenatural, crenas, lendas, mitos, enfim o universo cultural de cada um dos
grupos etnolingsticos que habitava o territrio nacional [moambicano] (...) como
forma de dar uma contribuio importante para o estudos dos povos em situao
multicultural.91
7. A oralidade como fonte da escrita
No contexto histrico e cultural de um pas como Moambique, fundamentalmente,
baseada na cultura oral, a escrita ser um instrumento, atravs do qual esta oralidade
ganha fora e vida, no convvio familiar e social em que os ensinamentos de aspectos
fundamentais da histria, da cultura, da moral e de outros elementos e valores sociais so
transmitidos e absorvidos.
Por intermdio da escrita a cultura oralizada se torna, com a escolarizao, num
acrscimo de valor e significado para com a tradio. por esta razo que,
freqentemente, na prosa africana, em geral, e a moambicana, em especial, o conto se
torna a forma mais especial e apropriada de escrever a prosa, por ser o gnero mais
adaptvel s qualidades da literatura oral.
Alm disso, o conto, por ser uma maneira eficaz de captao da realidade
multifacetada, principalmente, pela diversidade cultural que sustenta Moambique,
tambm a primeira maneira com que os prprios africanos em geral tiveram contato com
universo imaginrio, contado na roda das fogueiras e, muitas vezes, encenada, como se
fosse uma pea teatral.
89
CHAVES, Rita & MACEDO, Tnia. Caminhos da fico de frica portuguesa. In: EntreLivros/frica. So
Paulo, Abril/2007, p. 46.
90
Id Idid p. 47.
91
ROSRIO, Loureno do. A identidade de um povo numa situao multicultural. In: CAVACAS, Fernanda.
Provrbios moambicanos. Recolha Oral (1979-1983). Lisboa: Mar Alm, 2001, p. 9-10.
115
A essncia escritural de Mia Couto reside: no talento raro de apreender a essncia
dos vrios subgneros de sistema oral e, a partir dele, reconstruir uma espcie de clone
textual capaz de funcionar com as caractersticas da literatura oral e escrita
simultaneamente, afirma Loureno Rosrio.92 Ou seja, a recriao da forma, [quer nas
narrativas de fico ou nas de no-fico], a brincriao com as palavras empresta a
leitura destes textos uma oportunidade de saborear o que dito verbalmente. 93
como se Mia Couto fizesse um jogo em que fosse preciso baralhar as cartas ou
os dados de modo a reconstru-los, devolvendo-lhes assim s suas origens em que a
oralidade e a
escrita
estivessem juntas como
pilares basilares da literatura
contempornea moambicana.
Trata-se, sem dvida, de uma construo da imagem de um homem irrequieto, o
qual vai construindo mundos possveis a sua volta para se manter, criativamente, sua
relao com o universo, atravs do fantstico das situaes que cria e o maravilhoso da
linguagem que diz/constri estas mesmas situaes.
A seguir uma passagem de Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra, que
ilustra bem esta situao inslita que permeia a escrita de Mia Couto. Enfim estes
mistrios singulares, cheio de crendices que nos remetem ao fantstico e ao maravilhoso
da obra literria:
Agora se entedia a sbita alterao dos elementos, nas primeiras horas da manh.
Quando o barco foi engolido pelas guas, o cu da Ilha se transtornou. Um golpe
roubou a luz e as nuvens se adensaram. Um vento sbito se levantou e rondou pelo
casario. Na torre da igreja o sino comeo a soar sem que ningum lhe tivesse
tocado. As rvores todas se agitaram e se viraram para o poente. Os deuses
estavam rabiscando mgoas no fundo azul dos cus. Os habitantes se apercebiam
que o que se passava no era apenas um acidente fluvial. Era muito mais que
isso.94 (Grifos nossos)
Situaes como esta denotam a compreenso de estrutura universal integradora e
explicativa que enforma actos e pensamentos humanos..., 95 numa criatividade que nos
levam a este escritor singular, no qual os mapas que ele cria registram os acidentes de
um percurso difcil e fascinante96 da vida dos habitantes de Luar-do-Cho, em particular e
de Moambique, em geral.
92
ROSARIO, Loureno do. Prefcio. In: CAVACAS, Fernanda. Op. Cit:, p. 8.
CAVACAS, Fernanda. Op. Cit. p. 16.
94
COUTO, Mia. Op. Cit., p. 99-100.
95
CAVACAS, Fernanda. Mia Couto: Acreditesmos. Lisboa: Mar Alm, 2001, p. 20.
96
CHAVES, Rita.Prefcio. In: CAVACAS, Fernanda. Op. Cit., p. 11.
93
116
Nas culturas em que o saber transmitido oralmente, a dinmica da oralidade fica
por vezes esttica na escrita, porque cada vez que ele transmitido, o ato dramtico
muda, por isso, quando um texto oral passa para o papel, deixando assim de ser oral, fica
esttica dentro do texto escrito. Isto quer dizer que tanto o contador de histria como o
auditrio, na literatura oral, participam do ato da criao.
Muitos so os elementos que entram nesta criao, associadas memria,
recorrendo ao ritmo, msica e dana, repetio e redundncia, s frases feitas, s
sentenas, aos ditos e refres, etc, alm das figuras potica, especialmente, metfora.
Assim, numa das passagens de Ualalapi, de Ungulani Ba Ka Khosa, em que a propsitos
dos assuntos do imprio, se diz que o imperador os resolvia com voz e os gestos, pois
pela no havia e as ordens eram escritas pela voz tonitruante que ressoava nas manhs
e tardes chuvosas e secas.97
Estamos, portanto, em presena do contraste entre a escrita e a oralidade, em que
se valoriza a oralidade em detrimento da escrita, simbolizada no papel. Mais a frente,
numa outra passagem da referida obra, em que Ngungunhane, no seu discurso
premonitrio, antes de partir para o seu desterro, sentenciava, pejorativamente, em
relao a escrita:
Estes homens da cor do cabrito esfolado que hoje aplaudis [...] Exigir-vos-o papeis
at na retrete, como se no bastasse a palavra, a palavra que vem dos nossos
antepassados, a palavra que imps a ordem nestas terras sem ordem, a palavra
que tirou crianas dos ventres das vossas mes e mulheres. O papel com rabiscos
nortear a vossa vida e a vossa morte, filhos das trevas.98
Para o imperador de Gaza o que importa a palavra, a voz, pois ela que constitui
o homem moambicano, pelo menos em seu entender. Ele deixa de fora a escrita,
esquecendo-se que a sua prpria histria de resistncia contra o jugo colonial persistir
na histria, graas escrita que, registrando seus feitos, os conservar nos documentos
que sero testemunhos de sua heroicidade bem como do passado colonial moambicano.
por isso tambm que, com freqncia, se reafirma a escritura como sendo um
legado precioso, pois ser, por intermdio dela, que a histria dos malilanes e marianos
se perpetuar, por ser o elo entre os vivos e antepassados: a escrita a ponte entre os
nossos e os espritos. Uma primeira ponte entre os malilanes e os marianos;99 portanto,
ela a ponte, atravs da qual se atravessa para se chegar a algum lugar. Ou seja, entre o
97
KHOSA, Ungulani Ba Ka. Ualalapi. Lisboa: Caminho, 1991, p. 62.
KHOSA, Ungulani Ba Ka. Op. Cit., p. 118.
99
COUTO, Mia. Op. Cit., p. 126.
98
117
passado, o presente e o futuro dos marianos e, metaforicamente, os moambicanos, entre
seu passado colonial e seu presente-futuro ps-colonial.
Seria uma modelao de uma oralidade flexvel e situacional, imaginativa e
potica, rtmica e corporal, que vem do interior, da voz, e penetra no interior do outro,
atravs do ouvido, envolvendo-o na questo.100 Trata-se, enfim, da cultura no linear,
mas esfrica. Assim, do av Mariano para o neto: Eu dou as vozes, voc d a escritura.
Para salvarmos Luar-do-Cho, o lugar onde ainda vamos vivendo. E salvarmos nossa
famlia, que o lugar onde somos eternos.101
A escrita surge-nos, desde logo, como um processo de redescoberta de um tempoespao vivencial determinado, cujo fluir de um tempo coletivo, em incessante devir,
marcado, nas palavras de Noa por uma conscincia de finitude, mas tambm de
ressurreio102 que se plasma na interao arte-sociedade.
Octavio Paz, citado por Noa, em defesa da interao essencial que deve existir no
binmio arte-sociedade, afirma: el arte es irreductible a la tierra, al pueblo y al momento
que lo producem; no obstante, es inseparable de ellos.103
Em Moambique existem tentativas bem sucedidas em transmitir vrios aspetos da
oralidade atravs da escrita. Exemplos, na prosa, bem sucedidos e respeitados so os de
Mia Couto e Ungulani Ba Ka Khosa. Porm nos limitaremos ao primeiro por ser o autor
em estudo.
Mia Couto, recria a oralidade, atravs de uma lngua literria sustentada por uma
exuberante criatividade lexical. So exemplos:
homenzarrou, depressou-se, fantasitica, carinhenta, esteirados, rebulir,
estremungado, tropousar, manifestivo, estremexendo, nuventanias, febrilhante,
deslembrara, sozinhido, pertubabado, gesticalada, irmodade, exuberrante,
inutenslio, entrequando, esmozinhado, exatamesmo, convidanante, manchaprazeres, embriagordo, veementindo, atordodo, titupiante, inaposento,
administraidor.104
Ou estes outros, pinados no romance em estudo: Mariavilhosa, Ultmio,
Abstinncio, Admirana, destroca, finca-pedestre, mornana.105
100
LOPES, Jos de Sousa Miguel. Cultura acstica e Cultura letrada: o sinuoso caminho da literatura em
Moambique. In: Afroletras. Revista de Artes, Letras e Idias. No. 5. Lisboa, Set./Nov., 2000, p. 38.
101
COUTO, Mia. Op Cit. p. 65.
102
NOA, Francisco. Op. Cit., p. 13.
103
PAZ, Octavio. Pintado en Mexico. In: El Pais. Madrid, 7 Noviembre, 1983, p. 21.
104
PIRES LARANJEIRA, Jos Lus. Mia Couto: sonhador de lembranas, inventor de verdades. Letras &
Letras. Lisboa, set/93, p. 43.
105
COUTO, Mia. Op. Cit., p. 203-220.
118
E tambm por uma sintaxe que faz a ponte entre a oralidade e a pura inveno, em
que o contexto comunicativo, esttico, possibilita a partilha da mensagem da ruptura.
Destacam-se: "Todos partiram, um aps nenhum; o colar que foste dela; nem isto guerra
nenhuma no ; parece est aqui enquanto nem; o lugarzinho no enquanto". 106
Ou ainda:
E ele se deslugarejava; Meu espanto se destamanha: seriam fascas que saltaram;
Os senhores, no enquanto, devem organizar uma vigilncia; Nyembeti me olhou,
curiosa de me ver ausente; Eram as trevas que eu necessitava; Pai, est-me a
pedir desculpa, a mim?; A dita serpente fez mais que passar: lhe espetou a dupla
dentio e cravou nela esses lquidos que liquidam; Voc esteve mesmo na berma
da morte etc.107
E, finalmente, as marcas fortes da oralidade esto igualmente presentes nas frases
proverbiais, que definem uma atmosfera, um estado de esprito ou um saber sombrio. A
seguir, os exemplos: "Quanto tempo demora o tempo; a escurido nos faz nascer muitas
cabeas; no fundo da latrina no pode haver guerra limpa; o homem como a casa: deve
ser isto por dentro".108
Mais estes:
Sem morto e sem corpo, mas com cerimnia e pompa; Um sol entrado na vista, ao
ponto de tudo ser visvel s por sombra; Dito e redito: a assombrao, o acontecer
do j havia futuro; O silncio a lngua de Deus. Foi na gua mais calma que o
homem se afogou; O silncio se intromete. No h mais alma para conversa; Os
tempos j no so de ontem, minha Santa Cicrana: E digo e redigo: Jesus sangrou,
a Virgem chorou; A lua anda devagar, mas atravessa o mundo; A minha nica
patroa a vida; Todo o tempo est em suas mos, fosse um mar feito de uma s
onda; A pobreza andar rente ao cho, receoso no de pisar, mas de ser pisado; A
saudade uma ferrugem, raspa-se e por baixo, onde acreditvamos limpar,
estamos semeando nova ferrugem; Aquilo fora como um sopro, o beijo em sono de
princesa; Ser quente ser portador de desgraa; etc.109
8. As cartas do av Mariano
A carta um veculo de comunicao muito eficaz em que as pessoas estabelecem
relaes de vrios tipos, como interpessoal, ou interinstitucionais. Na carta assuntos de
natureza vria como amor, amizade, segredos profissionais, relaes familiares, segredos
pblicos ou institucionais se instauram e ganham fora. Muitas das vezes annimas,
106
PIRES LARANJEIRA, Jos Lus. Op. Cit, p. 44.
COUTO, Mia. Op. Cit., p. 178-217.
108
PIRES LARANJEIRA. Op. Cit., p. 45.
109
COUTO, Mia. Op. Cit., p. 150-220.
107
119
muitas das vezes assinadas, as cartas podem tambm conter acusaes caluniosas da
maior gravidade sobre a vida particular das pessoas que podem vazar nos meios de
comunicao de massa ou serem vazadas por quem as tem encontrado e, tenta com
elas, chantagear o outro.110
Alm disso, h tambm as chamadas cartas abertas em que uma pessoa ou um
organismo ou uma instituio escreve a outra para informar-lhe sobre um determinado
estado de coisas, ou uma chamada de ateno sobre certos procedimentos ou
comportamentos que em nada condizem com o normal funcionamento de uma instituio.
Ou conduta de uma pessoa quando se trata, por exemplo, de uma liderana poltica ou
cvica. A ttulo de exemplo, invocaremos uma carta de 2001 que Mia Couto endereou ao
presidente dos Estado Unidos, George Bush, pedindo-lhe mais ateno fome e s
guerras fratricidas no mundo do que investimentos de trilhes de dlares que ele e o
Congresso americano gastam com guerra, como a do Iraque por exemplo. Numa clara
demonstrao de civismo.
As cartas tambm servem para encurtar distncias entre pessoas, matando
saudades de pessoas distantes, quer por motivos de ordem profissional, quer por motivos
de ordem poltica, e ainda quer por motivos de ordem geogrfica ou econmica, conforme
a correspondncia com um ou mais destinatrio(s).111
Diz Aristteles na Potica (XIX, 1456b, 6-7) que se o pensamento se mostrasse por
si mesmo no haveria necessidade de discursos. 112 Mas como, envelopado pela pesada
massa do corpo, o pensamento impenetrvel, ele s pode ser tornado manifesto, em
certa medida, pela fala.113
Para que as coisas se mostrem verdadeiramente, precisam ser encorpadas com os
afetos e qualidades que o narrador sbio, no caso o velho Mariano, atravs do seu neto
Marianinho, com a sua natureza, experincia e juzo, percebe e apreende das coisas que
esto ao seu redor.
Tal como a figura do narrador clssico, Mia Couto, enquanto escritor, fala das
coisas civis, na cidade, e para homens semelhantes a ele, isto , todos os homens. Ele
110
Cf. GALVO, Walnice Nogueira. No calor da hora: a guerra de Canudos nos jornais. 4a. Expedio. 2a.
Ed. So Paulo: tica, 1977, p. 16-18.
111
GALVO, Walnice Nogueira & GALOTTI, Oswaldo. Correspondncia de Euclides da Cunha. So Paulo:
EDUSP, 1997, p. 10-12.
112
ARISTTELES apud MUHANA, Adma Fadul. O gnero epistolar: dilogo per absentiam. In: Discurso.
Revista do Departamento de Filosofia da USP. no. 31. So Paulo: Discurso Editorial/ FAPESP, 2000, p.
330.
113
VIVES, J. L. apud MUHANA, Adma Fadul. Op. Cit., p. 330.
120
falar [tambm] de coisas pblicas, para homens pblicos, capazes de provocar aes
polticas.114
No caso das epistolas, ou cartas, cuja definio dilogo per absentiam, no
nosso caso, o narrador Marianinho que as redige, recebe-as diretamente do prprio autor
que, por intermdio delas, procura realar os elementos da histria de sua famlia,
mostrando as feies prprias das coisas.
Tudo se passa na escrita; porm, no se trata, como na epistola tradicional, da fala
ausente, para ausentes, de ausentes. Mas, atravs de um dilogo estabelecido entre o
av e o neto. A escrita , neste caso, fundamentalmente, uma opo de contar, traduzir e
informar. O ato de no escrever, pelo contrrio, equivalente ao de silenciar, relegaria o
correspondente ao papel de um monologante insensato: como o de algum que falasse
para ningum. Nenhuma carta, portanto, pode ser entendida como um solilquio.115
Muito importante para o ato de escrever as cartas o segredo que deve existir
entre o remetente e o destinatrio delas, pois, como disse e bem Vives, Quem escreve,
h de considerar quem e para quem est escrevendo e sobre que assunto, pois as
mesmas coisas no sero ditas a diferentes pessoas.116
Deste modo, Mariano deixa ao neto a seguinte misso para a qual pede segredo,
pois cada pessoa tem os seus e, simultaneamente, os seus conflitos interiores; pelo que
revelar o ethos de cada um dos membros de sua famlia, assim lho diz:
Lhe deixarei conselho para guiar as condutas dos seus familiares. No ser s nas
cartas. Lhe visitrei nos sonhos, tambm. Para voc conhecer os dentros dos seus
parentes. E todos, aqui so aprentes. Seu pai, com suas amarguras, seu sonho
cooxeado. Abstinncio com seus medos, to amarrado a seus fantasmas. Ultmio
que no sabe de onde vem e s respeita os grandes [os poderosos, os
endinheirados]. Sua tia Admirana que alegre s por mentira. Dulcineusa com
seus delrios, coitada.117
Para Adma Fadul, as cartas, a partir dessa relao posta entre o remetente e o
destinatrio, que inclui as relaes de amizade e de inimizade, em seus vrios graus de
amizade casual ou duvidosa, antiga ou recente, igualdade ou diferena em termos de
famlia, erudio e outras, cujo ponto central dever ser o fato de o escritor mostrar como
verazes e benvolas so suas palavras na narrativa tecida e contada aos seus leitores.
114
MUHANA, Adma Fadul. Op. Cit., p. 330.
VIVES, J. L. apud MUHANA, Adma Fadul. Op. Cit., p. 331-332.
116
Id Ibid p. 336.
117
COUTO, Mia. Op. Cit., p. 126.
115
121
Por seu turno, Marilena Chau falando da carta como gnero literrio tece as
seguintes consideraes ao afirmar que como gnero literrio propcio e, por vezes,
forado a mltiplos exerccios retricos, as cartas cumpriram, freqentemente, o papel de
burlar o institudo, de contornar censuras e proibies, de enfrentar clandestinamente os
poderes polticos e religiosos estabelecidos.118
Walnice Nogueira Galvo119 num estudo sobre as cartas de Euclides da Cunha,
levanta alguns elementos que podemos ter nas cartas alm do fato de serem um veculo
de comunicao pessoal e pblica, entre pessoas, ou entre instituies. Portanto podem
conter os seguintes elementos:
1. Elementos preciosos para a reconstituio de percursos de vida;
2. Fontes de idias e de teorias no comprometidas pela forma esttica;
3. E, em certos casos ainda, ela assinala as cartas como as de Madame de
Svign e de Soror Mariana Alcoforado, um estatuto exclusivo devido
qualidade impecvel da escrita.
Mas, ainda segundo ela, em qualquer destes casos, quem se dedica a esses
estudos acaba por tornar-se aficionado de tudo quanto seja no s a carta, mas tambm
memrias, dirios ntimos, resenhas, rascunhos, biografias, listas de palavras, anotaes,
manuscritos em geral. Em suma, por qualquer material paralelo obra literria. Como diz
o velho Mariano, Nesses manuscritos me fui limpando de mim. 120 Afinal, Lhe contei tudo
sobre sua famlia, desfiei histrias, desfiz o lao da mentira. Agora j no arrisco ser
emboscado por segredo.121 Para isso servem as cartas para ajudar a revelar segredos e
a transmitir verdades histricas de uma vida privada.
Assim, procuraremos, neste instante, esboar algumas idias-base sobre o
ordenamento das cartas que analisamos em Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa
Chamada Terra. As cartas que ao todo so nove, podem ser subdivididas em dois grupos
de acordo com a assinatura ou no do remetente, av Mariano. A saber:
118
CHAUI, Marilena de Souza. Apresentao. In: Discurso. Revista do Departamento de Filosofia da USP.
no. 31. So Paulo: Discurso Editorial/ FAPESP, 2000, p. 10.
119
GALVO, Walnice Nogueira. Desconversa: ensaios crticos. Prefcio de Antnio Cndido. Rio de
Janeiro: Editora da UFRJ, 1998, p. 156.
120
COUTO, Mia. Op. Cit., p. 260.
121
Id Ibid p. 259.
122
Assinadas: 4a. p. 138-140, Cap. 10 e tem tambm um Post Scriptum de seu autor,
av Mariano. Nela o autor alm de assinar no fim da carta, ele se identifica no decorrer da
sua escritura: Sou eu, Dito Mariano, o sombrio escrevente.122 Na 5a. p. 148-150, Cap.
11, o autor fala de sua doena e do diagnstico e tratamento feito nele pelo mdico gos
Amlcar Mascarenhas. Uma verdade logo nos vem mente quando terminamos de ler a
carta:
assinado e reconhecido: Dito Mariano. Parece o remetente querer mostrar a
autenticidade destas cartas, ao mesmo tempo, em que se nega considerar-se um morto,
mas sim um vivo no meio de tantos outros. Mais uma vez a questo da morte e da no
morte se confirma. E, por fim, a 8a. p. 233-239, Cap. 20 com o titulo de Revelao, na
qual a verdadeira identidade-paternidade do narrador-personagem revelada. Esta carta
tambm dispe de um Post Scriptum, alis, o segundo, muito longo, onde se consuma a
morte-vida do av Mariano, como ele mesmo a testemunha: Dentro de mim, at j esse
brilho esmoreceu. Agora, estou autorizado a ser noite [a morrer, grifo nosso]. 123
E em no assinadas: a 1a. p. 56, Cap. 4 e ainda neste captulo a segunda, na p.
64-67. Na primeira carta, o remetente fala dos segredos que a partir deste bilhetinho-carta
vai estabelecendo com o seu interlocutor, o neto, para desfiar todas as histrias e
mentiras relativas ao cl dos marianos. Mas, como uma condio: que o neto mantivesse
segredo. Leia mas no mostre nem conte a ningum. 124 J na segunda fala da cidade
como sendo a metfora do inferno, fala do feitio da escrita e, com isso, sobre a
destruio dos livros do neto por Fulano Malta ao jog-los no rio Madzimi, dos medos
deste em relao ao saber. Na 3a. Carta, p. 125-126, Cap. 9, o av fala sobre seus filhos,
sua esposa bem como sobre outros membros da sua famlia, numa tentativa clara de
informar ao neto sobre como deveria se comportar perante cada um deles. Na 6a., p. 171173, Cap. 13, o av conta a histria da droga encontrada havia muito tempo em Luar-doCho, o qual resultou na morte de Juca Sabo, alm de ter matado toda a plantao dos
moradores da ilha que, por desconhecimento, utilizaram-na como fertilizante de solo nas
suas machambas. A 7a carta, p. 195-198, Cap. 16, nos parece a mais curiosa de todas,
pois ela todo o objeto da narrativa, sem narrador-protagonista contando a histria, nem
dilogo entre personagens; apenas carta do nosso narrador-defunto. Nela, av Mariano
122
Id Ibid p. 138.
Id Ibid p. 238.
124
COUTO, Mia. Op. Cit., p. 56.
123
123
debrua sobre vrios assuntos, a saber, a morte, a saudade, a questo racial, entre
outros. Outra carta tambm que contm um dado muito curioso a nona, a ltima,
portanto, da p. 258-260, Cap. 22, na qual o autor retoma alguns aspectos da oitava carta,
mas, ao mesmo tempo, se despede do neto, com uma sensao de dever cumprido,
limpando-se atravs destas cartas, ou destes manuscritos. Pela ltima vez confirma-se a
verdade de todo o romance: morrer viver e vive-versa. Morre-se para poder viver. a
morte como metfora da vida. Pois, como ele retoma uma das falas do seu neto neste
processo de interlocuo que os dois estabeleceram ao longo da cerimnia fnebre:
Voc, meu filho, voc disse o certo: a morte a cicatriz de uma ferida nunca havida, a
lembrana de uma nossa j apagada existncia. Portanto, Eu apenas estou usando a
morte para viver.125
Das idias de Walnice Nogueira Galvo,126 podemos depreender algumas pistas
sobre o funcionamento das cartas:
A) preenchimento das lacunas para se ter um quadro completo. Ex.: Estas
cartas, Mariano, no so escritos. So falas. (...) Voc cruzou essas guas por
motivo de um nascimento. Para colocar o nosso mundos [o dos marianos] no
devido lugar.127
B) dobras de papel, borres de tinta, manuseio descuidado, que tornam a
carta, enfim, ilegvel. Ex.: Na solido da cozinha vou lendo enquanto as letras vo
esbatendo no papel molhado. Depois murcha, a escrita j sem desenho nem
memria.128
C) a tentativa de ressuscitar trechos mutilados, recompor cartas inteiras a
partir de fragmentos dispersos. Ex.:
S vejo as folhas esvoando, caindo e adentrando no solo. (...) Vou apanhando as
cartas uma por uma. ento que reparo: as letras se esbatem, aguadas, e o papel
se empapa, desfazendo-se num nada. Num pice meus dedos folheiam ausncias.
Puxo o atilho e abro o saco. Eram livros, meus livros de estudo. H anos que ele
[Fulano Malta] os guardara. (...) Os meus manuscritos nunca tinham sido lanados
no rio Madzimi. (...) Desta feita, o lbum est cheio de fotografias. E l est o velho
Mariano, l est Dulcineusa recebendo prendas. E no meio de tudo, entre as
tantssimas imagens, consta uma fotografia minha nos braos de Admirana.129
125
Id Ibi p. 260.
GALVO, Walnice Nogueira. Op. Cit., p. 158.
127
COUTO, Mia. Op. Cit., p. 64.
128
Id Ibid. p. 150.
129
Id Ibid p. 240-246.
126
124
Tanto assim que numa destas cartas, o av conta que, tal como uma narrativa, as
cartas que vinha escrevendo se transformam em outro escrito. Uma outra carta me vai
surgindo, involuntria, das minhas mos. 130 como se uma histria contada sugerisse
outra(s), ou melhor, gerasse outras histrias possveis.
Podemos, com isso, afirmar que o processo de encaixe proposto por Todorov, na
qual uma segunda histria englobada na primeira,131 aplicvel a este caso das cartas
em relao ao conjunto da narrativa. Embora, devamos reconhecer, por outro lado, que
as cartas so uma espcie de histria subsidiria da primeira - isto , da narrativa global.
Mas tambm o prprio Todorov reconhece que o encaixe contnuo de histrias
pode fazer com que a conexo com aquelas inicialmente apresentadas se perca; em se
perdendo, isso evidenciaria, segundo o autor, a propriedade essencial de toda a narrativa;
pois
a narrativa englobante a narrativa da narrativa. Ao contar a histria de uma outra
narrativa, a primeira atinge o seu tema fundamental, ao mesmo tempo que se
reflete nessa imagem de si mesma; a narrativa enquadrada , simultaneamente, a
imagem desta grande narrativa abstracta de que todas as outras so nfimas
partes, e tambm a imagem da narrativa englobante que diretamente a precede.132
o mesmo que afirmssemos que a carta acaba sendo, dentro deste romance, um
outro texto que, paralelamente ao primeiro texto, explicita-o. Porque , simultaneamente,
construo da narrativa e lugar das revelaes das verdades at a pouco veladas. Ou
seja, para o autor acima citado, a condio de toda a narrativa que se realiza pelo encaixe
ser a narrativa de uma narrativa.
9. A valorizao da oralidade
Golo Mann ao frisar a relao entre o historiador e o romancista (escritor) declarou
que um historiador necessita tentar fazer duas coisas simultaneamente, nada com a
corrente dos acontecimentos e analisar esses acontecimentos da posio de um
observador posterior, bem mais informado, combinando os dois mtodos para produzir
uma aparncia de homogeneidade, sem que a narrativa fique de lado. 133
130
Id Ibid p. 149.
TODOROV, Tzevetan. Potica da prosa. Lisboa: Edies 70, 1971, p. 85.
132
TODOROV, Tzevetan. Op. Cit., p. 85.
133
MANN, Golo apud BURKE, Peter. A Escrita da Histria: Novas perspectivas. Trad. de Magda Lopes. So
Paulo: Editora da UNESP, 1992, 163.
131
125
Sendo a histria oral, uma histria escrita com a evidncia acumulada de uma
pessoa viva, na expresso de Guyn Prins,134 av Mariano tenta de preferncia quela de
um documento escrito para deixar seu legado familiar ao neto que a transmitir s
geraes vindouras dos marianos.
Dado a fragilidade das fontes orais, Arthur Marwuick admite que a histria
baseada exclusivamente em fontes no-documentais, como, por exemplo, a histria de
uma comunidade africana, pode ser uma histria mais imprecisa e menos satisfatria do
que uma extrada dos documentos, mas de todo o modo uma histria. 135
Se, em contraposio ao autor, dissssemos que a escrita, em termos de
reconstituio histrica deixa um rastro marcado pelo que mensagens escritas so
compreendidos lendo textos adicionais, diramos que isto reflete, de certo modo, o
preconceito com que o europeu v as fontes orais africanas; alis, como disse Hegel em
relao frica ela no parte histrica do mundo, diramos se tratar de uma fobia,
uma vez que os dados orais sejam expressos na escala das percepes do indivduo.
, portanto, nisso que residem s tradies culturais e a identidade cultural de um
povo. Cultura, entendido, portanto, como a minha maneira de se eu prprio, de me
relacionar com o outro e, ao mesmo tempo, de me ver nele e ele se ver em mim, para
chegar a um ns, uma individualidade universal e csmica.
Jan Vansina, o mais renomado expoente da histria oral na frica, admitiu o
objetivo de Marwick em seu manifesto, Oral Tradition as History, alerta para o fato de que
onde no h nada ou quase nada escrito, as tradies orais devem suportar o peso da
reconstruo histrica.
Assim sendo elas, as tradies orais, no faro isso como se fossem fontes
escritas j que considera a escrita um milagre tecnolgico.
Analisando as dificuldades que as fontes orais podem suscitar no historiador ou
romancista, Vansina prossegue defendendo que as limitaes da tradio oral devem ser
amplamente avaliadas, de modo que ela no se transforme em um desapontamento,
quando aps longos perodos de pesquisa resultar uma reconstruo ainda no muito
detalhada. Deste modo, continuando a sua argumentao: O que se constri a partir de
fontes orais pode bem ter um baixo grau de confiabilidade, na medida em que no
existem fontes independentes para uma verificao cruzada.136
134
PRINS, Guyn. Histria Oral. In: BURKE, Peter. Op. Cit., p. 337.
MARWICK, Arthur apud PRINS, Guyn. Histria Oral. In: BURKE, Peter. Op. Cit., p. 163-164.
136
VANSINA, Jan apud PRINS, Guyn. Histria Oral. In: BURKE, Peter. Op. Cit., p. 165.
135
126
Ao abordar a relao entre a tradio oral e a escrita, Manuel Rui, um dos mais
celebrados escritores angolanos, traz-nos a seguinte reflexo:
Quando chegaste, mais velhos contavam estrias. Tudo estava no seu lugar. A
gua. O som. A luz. Na nossa harmonia. [...] certo que podias ter pedido para
ouvir e ver estrias que os mais velhos contavam quando chegaste! Mas no!
Preferiste disparar os canhes.137
O confronto entre a palavra em harmonia e o disparo dos canhes traduz um
choque que ganha em intensidade se nos lembramos que a prpria idia de fogo em
associao com a morte chega de fora, portanto, com o colonizador. Assim, em todos os
territrios africanos colonizados por Portugal, para ficarmos com o nosso caso apenas, a
produo literria nacional tal como a prpria nacionalidade nasce sob o signo da
reivindicao e, conseqentemente, da violncia.
Na verdade, no domnio da literatura, para ficarmos com o que nos cabe, os nomes
e grupos de escritores e intelectuais que se associaram ao projeto de dinamizar o
exerccio da palavra lanaram-se, fundamentalmente, contra o silncio a que estavam
devotadas as terras africanas e suas gentes.
Para Terezinha Taborda Moreira, no contexto da performance oral, o performer
opera com a memria coletiva ao se reportar tradio oral. E nos texto moambicanos,
segundo ela, o narrador performtico evoca, pela reminiscncia, situaes associadas s
vivncias dessa mesma tradio e situaes associadas realidade atual de
Moambique138.
Assim, o av Mariano ao reportar-se tradio e aos ensinamentos tradicionais,
em oposio aos livros, um estrangeiro, portanto ensinamentos ocidentais, diz ao doutor
Mascarenhas nestes termos:
H coisas que s vejo atravs das gotas, em dia chuvoso. O senhor, disse eu a
Amlcar Mascarenhas, o senhor estudou nos livros e no estrangeiro. O doutor me
retifica? No foi l fora que o senhor estudou? Est bem mas no est certo. Os
livros so um estrangeiro, para mim. Porque eu estudo na chuva. Ela minha
ensinadora (grifo nosso)139.
137
MONTEIRO, Manuel Rui. Eu e Outro O Invasor. In: MEDINA, Cremilda. Sonha, Mamana frica. So
Paulo: Epopia, 1987, p. 308-310.
138
MOREIRA, Terezinha Taborda. O vo da voz: a metamorfose do narrador na fico moambicana. Belo
Horizonte: Editora PUC Minas; Belo Horizonte: Editora Horta Grande Ltda., 2005, p. 147.
139
COUTO, Mia. Op. Cit., p. 149.
127
Nesse sentido a dcada de 60 em Moambique marca a concepo do fenmeno
literrio dentro do drama colonial, cuja rede de contato envolvia tambm a prpria
literatura colonial dos anos precedentes. Sendo o narrador, Marianinho, o sujeito do
discurso citado, portanto do av e de outras vozes, sendo estes, a voz tradio africana,
diramos que, esta passagem nos remete apreenso da palavra em sua ficcionalidade,
onde ela no somente representa, mas ela prpria objeto da representao.
Os autores identificados com uma perspectiva crioula das sociedades em que
estavam integrados viriam percorrer, segundo Rita Chaves os caminhos do exotismo na
direo do Outro, quer dizer, o homem africano, que, segregado, permanecia,
desconhecido por aqueles que se acreditavam portadores de sua salvao.140 Assim diria
Av Mariano ao neto, numa referncia salutar entre a oralidade e a escrita: Eu dou as
vozes, voc d a escritura. Para salvarmos Luar-do-Cho, o lugar onde ainda vamos
nascendo. E salvarmos a nossa famlia, que o lugar onde somos ternos.141
Deste modo, restava ao escritor africano contemporneo, apoderar-se do canho
do ex-colonizador, para faz-lo disparar na direo deste outro, mas no na inteno de
mat-lo, ou machuc-lo como o outro lhe fizera com o fogo; mas sim, na inteno de
transformar a agresso em criatividade verbal, falando em termos de oralidade. Voc
trazia consigo esses livros, esses cadernos, e ele [Fulano Malta] olhava para eles como
se fossem armas apontadas contra a nossa famlia.142 Prosseguindo com Manuel Rui:143
E agora o meu texto se ele trouxe a escrita? O meu texto tem que se manter assim
oraturizado e oraturizante. Afinal assim identifico-me sempre eu/at posso ajudarte busca de uma identidade em que sejas tu quando eu te olho/em vez de seres o
outro.
Porque, Se eu perco a cosmicidade do rito perco a luta. Mas, como nos esclarece
o av Mariano:
aquelas escritas traziam feitio. Mais uma razo para fazer aquilo em nada. (...)
[Pois Fulano Malta] deitou os livros todos no rio. Mas, porm: os cujos livros no se
afundaram. Demoraram-se na superfcie, como se resistissem s profundezas, as
pginas abertas agitando-se como se fossem braos.144
140
CHAVES, Rita. Op. Cit. p. 296.
COUTO, Mia. Op. Cit., p. 65.
142
.COUTO, Mia. Op. Cit., p. 66.
143
MONTEIRO, Manuel Rui. Op. Cit., p. 308-310.
144
COUTO, Mia. Op. Cit., p. 66-67.
141
128
Trata-se de uma viso um pouco contraditria esta repulsa-aceitao do texto oral
no escrito ou vice e versa, o que, segundo Luandino Vieira, numa referncia cultura
angolana em seu processo de fazer-se e refazer-se, afirmando o seguinte:
Eu fao parte duma natureza e duma cultura com a qual estou em harmonia
contraditria. Tenho que, por um lado, destruir um pouco aquela natureza para pr
a nossa medida de homens e, por outro lado, tenho que destruir e reestruturar
aquela cultura porque ela realmente est eivada de uma srie de preconceitos que
nos vm da tradio oral dos povos africanos e das tradies herdadas, por via de
Portugal, da cultura europia.145
opinio de que reconhece um constante processo de fazer e refazer, construir e
desconstruir, estruturar e desestruturar, de modo a inventar outro texto, interferir,
desescrever para conquistar, a partir do instrumento escrita, um texto escrito seu, da sua
identidade.146 Seria esta criatividade inventiva que Mia Couto, em entrevista a Patrick
Chabal, afirma:
... em 1985, comecei a ouvir umas histrias que vinham ligadas guerra, como
aquela histria da baleia no As baleias do Quissico ... e pensei que havia de haver
uma maneira de contar aquelas histrias, mantendo a graa e a agilidade das
pessoas que mas contavam.147
Mas a habilidade do escritor africano em lidar com os textos oral e escrito, sem que
se prevalea a linguagem de nenhum dos dois textos sobre o outro, mas que construa
uma nova linguagem, um texto terceiro que contenha tanto os elementos do primeiro
como os do segundo, voltamos mais uma vez ao Manuel Rui, para argumentar que,
E enquanto Caliban passa a ser possuidor da lngua diferente da posse do outro,
deixa de ser Caliban, libertou-se pelo texto novo que isso mesmo, pela memria.
Texto que tem hbrido, interferncia e desescrita, fora do rio. Por vezes, quando se
diz rio, seu som, sua voz e sua vida sofrida e espalhada, como o sabor sabido na
brisa clida da margem148.
Afinal, ainda no encalo de Manuel Rui, o mundo somos ns e os outros. Pois o
dia vir em que os portos do mundo [sero] portos de todo o mundo. Portanto, at l
no se espantem. quase natural que eu escreva tambm dio por amor ao amor.
145
VIEIRA, Luandino apud MOREIRA, Terezinha Taborda. Op. Cit., p. 230.
MONTEIRO, Manuel Rui. In: MEDINA, Cremilda. Op. Cit., p. 308-310.
147
CHABAL, Patrick. Op. Cit., p. 287.
148
MONTEIRO, Manuel Rui. Op. Cit., p. 543.
146
129
Para concluirmos o que vimos defendendo at agora relativamente s
interconexes entre marcas da oralidade no texto escrito, arrolamos algumas frases para
exemplificarmos esta interpenetrao lxico-sinttico na obra em estudo. Eis alguns dos
exemplos:
1. Impossivelmente, os dois desconvivamos. Nos evitvamos, existindo em
turnos;149
2. Para que eu, nesse instante, me embebede dessa iluso de no me
desconsistir s, sozinhamente;150
3. Problema esse velho que no se despacha. E esse mdico que no se
decide;151
4. Acha que eu engordei, sobrinho. Acha que tenho pana de ricalhao? 152;
5. A mida no fala portugus, pena153;
6. No outro lado do cais existem tambm os coveiros. Ou melhor, os
descoveiros;154
7. Que eu no sabia, mas a gente enterra aqui os mortos e eles, l, nos alns,
os desenterram e os celestiam; 155
8. Na minha actual existncia, eu j no tenho idias. S lembranas; 156
9. que essa moa no fala direito, a lngua tropea na boca, a boca tropealhe na cabea;157
10. Cava l, vai para alm e cava l, perto da rvore;158
11. O administrador teima, finca-pedestre;159
12. Fulano Malta no destroca conversas e me leva, mesmo assim, mos
amarradas por trs das costas;160
13. Muando, descalo, pisoteia o cho, alisando a areia;161
14. A chuva est solta, a terra vai conceber etc; 162
149
COUTO, Mia. Op. Cit., p. 75.
Id Ibid p. 140.
151
Id Ibid p. 151.
152
Id Ibid p. 153.
153
Id Ibid p. 154.
154
Id Ibid p. 157.
155
Id Ibid p. 157.
156
Id Ibid p. 158.
157
Id Ibid p. 160.
158
Id Ibid p. 179.
159
Id Ibid p. 203.
160
Id Ibid p. 204.
161
Id Ibid p. 240.
162
COUTO, Mia. Op. Cit., p. 240.
150
130
Consideraes Finais
A gestao da nao moambicana e a conseqente emergncia do Estado apos a
libertao nacional se repousa sobre dois planos: o poltico e o cultural. Sendo que o
primeiro significa um virar de pagina na historia do povo, reescrevendo-a, a partir do
prprio olhar e modos de ser moambicanos, isto e, com a emergncia de um novo ser
social; j o segundo plano advm da conscincia e do conhecimento que se entabula com
vista a promoo de uma nova concepo de responsabilidade na conduo da prpria
vida.
Cabral o definia (esta mudana paradigmtica) como sendo uma pedagogia da
libertao que consistia no conhecimento e conscincia que o ex-colonizado tem, no
somente das motivaes que o fizeram empreender a luta de libertao nacional; mas da
sua capacidade de contornar as querelas tnicas, o que de certo modo, fez unirem-se,
sob a mesma bandeira, intelectual e operria, homens da cidade e os homens do campo,
perante o comportamento cultural comum: a emancipao ideolgica.
Esta emancipao seria, para Cabral, "resultante de l'histoire comme la fleur est la
resultante d'une plante. Elle plonge ses racinjes dans l'humus de la realite materielle du
milieu ou elle se developpe".1
Mas, para que esta emancipao ideolgica de realize, era preciso que os
comportamentos culturais estivessem situados, segundo o autor supracitado, em trs
nveis: a auto-reabilitao dos valores culturais tradicionais africanos, aglutinando-os,
campo e cidade; a eliminao do elitismo que visa a legitimar privilgios da minoria da
populao em detrimento da maioria da populao e a abertura a universalidade.
Ao longo do romance em estudo fomos nos deparando com esta realidade, atravs
da
conduo
das exquias do
avo Mariano por parte do
neto,
que
visa,
fundamentalmente, demonstrar um certo tipo de conflito entre a cidade e o campo,
representados pelas personagens do neto e do avo, respectivamente.
O modo de pensar, os conceitos e concepes de vida, a lngua e linguagem os
permitem se re-inserir, ou melhor dizendo, entrarem, cada um a seu modo, na vida
africana.
Isso nos permite a no cairmos no dualismo de, por exemplo, opor um mundo ao
outro, isto e, o Ocidente ao mundo africano. Assim, chegamos a diferena existente entre
CABRAL, Amilcar apud ANDRADE, Mario de. Amilcar Cabral: essais de biographie politique. Paris:
Franois Maspero, 1980, p. 153.
131
o pensar e o fazer que nos levam a um narrador descentrado que no e "nem isto, nem
aquilo"; mas e, "por um lado e por outro" um ser justaposto; um sujeito compsito. E, por
isso mesmo, um sujeito moambicano, de vivencia intensa do corpo; pelo que isto implica,
a nosso ver, na tolerncia a diversidade cultural, convivendo no mesmo espao
geogrfico, Luar-do-Chao, metfora de Moambique moderno.
Trata-se no do apagamento das diferenas culturais nem a iluso de uma
convivncia pacifica; mas, partindo da aceitao do principio da diferena, e "ate mesmo
da hostilidade entre as culturas, um processo de permanente negociao da convivncia
da polis", ressaltaria Leyla Perrone-Moises2.
Como forma de boa conscincia poltica, diramos que, apesar disto nao poder
constituir um novo cosmopolitismo, as palavras "tolerancia", "fraternidade" e "integrao"
soam audveis em nossos espritos, como a linha de sada, de acordo com Mia Couto,
numa entrevista as professoras Rita Chaves e Tania Macdo, "aquilo que e perspectiva
de futuro muito provavelmente tem que ser encontrada nos universos em que essas
comunidades tm que reivindicar a pertena".3
Nesse sentido podemos afirmar, com certa segurana, de que e uma relao de
tenso, essa hospitalidade, para usarmos a expresso de Jacques Derrida, entre a
diversidade cultural e a devida tolerncia e o devido respeito que cada um deve ter em
relao ao outro, no processo de interao a que esta sujeita a cultura urbana,
Ocidentalizada, e a rural, africanizada. Portanto, "A inveno poltica, a deciso e a
responsabilidade polticas consistem em encontrar a melhor e a menos pior legislao;
este e o evento que deve ser reinventado a cada vez"4. Pelo que a idia de comunidade e
impensvel fora de uma relao com a tradio.
Por isso, a vida cultural de um povo, como o e o povo moambicano, deve
desenvolver-se sob o signo da tradio e da modernidade, de modo que o espao cultural
seja ordenado em torno do novo sujeito africano, com a conscincia de que o fim e os
meios para o respeito s diferenas culturais criem valores unitrios da conscincia
nacional.
Na abertura do livro Cada homem e uma raa, num breve dilogo sobre a questo
da identidade racial entre o vendedor de pssaros, Joo Passarinheiro e o policia,
antecedido pelas palavras do narrador, temos um sucinto; mas significativo retrato da
PERRONE-MOISES, Leyla. Op. Cit., p. 5.
CHAVES, Rita & MACEDO, Tania. Entrevista de Mia Couto. Sao Paulo, Jun./2006, p. 5. (Mimeo).
4
DERRIDA, Jacques.Sur parole, instantanes philosophiques. Paris: Editions de l'Aube, 1999, p. 71.
3
132
questo da identidade. Nele refletindo a opinio das duas personagens, consta a opinio
do narrador:
Inquirido sobre a sua raa, respondeu:
A minha raa sou eu, Joao Passarinheiro.
Convidado a explicar-se, acrescentou:
Minha raa sou eu mesmo. A pessoa e uma humanidade individual. Cada
homem e uma raa, senhor policia.5
Esta breve passagem, um relance apenas, nos d, num tom sugestivo a noo da
resistncia cultual ao unir o particular e o circunstancial ao universal, por uma pratica
discursiva inquisitorial, na ordem das intolerncias raciais, representados, pelas
personagens de Joo Passarinheiro (sujeito) e o policial (a autoridade).
Deste modo, cabem neste contexto, as palavras de Hugo de St. Victor, monge
saxo do sculo XII, citadas por Edward Said:
Quem acha doce a terra natal ainda e um tenro principiante; aquele para quem toda
a terra e natal ja e forte; mas e perfeito aquele para quem o mundo inteiro e um
lugar estrangeiro. A alma tenra fixou seu amor num unico ponto do mundo; a
pessoa forte estendeu seu amor a todos os lugares; o homem perfeito extinguiu o
seu.6
Esta noo de resistncia cultural transcrita na passagem acima relativa ao dialogo
entre o policial e o vendedor de pssaros tambm fora defendida por Amlcar Cabral
durante a sua defesa da luta de libertao nacional - o que condiz com o que vimos
desenvolvendo ate ao momento -; ao afirmar, na altura, de que era preciso
liquider la cultura colonial (diremos a cultural hegemonica ocidental) et les aspects
negatifs de notre culture, la liquider dans notre esprits, dans nos propres rangs;
creer une culture neuve basee sur nos traditions, tout en respectant les conquetes
d'aujourd'hui qui peuvent servir a l'homme.7
A orientao, segundo este principio de Cabral seria a de preservar aquilo que e
til e construtivo na nossa cultura; porem, mudar ou transformar certos hbitos
alimentares e certos modos de vestir, de modo a que estas mudanas tambm se
verifiquem na maneira como se estabelece relao com a natureza e no modo como
estabelecemos a relao uns com os outros.
5
COUTO, Mia. Cada homem e uma raa. Rio de Janeiro: Nova fronteira, 1996, p. 8.
SAID, Edward. Cultura e Imperialismo. Trad. Denise Bottman. Sao Paulo: Companhia das Letras, 1995, p.
410.
7
CABRAL, Amilcar apud ANDRADE, Mario de. Op. Cit., p. 158.
6
133
A fora da unidade de um povo est na sua conscincia de unio, da necessidade
de interagir-se, na conscincia que se desenvolve na experincia vivida em comum no
cotidiano do processo de formao das bases materiais, sociais e culturais da sua
realizao. Enfim, o "sujeito se constri dentro dos sistemas de significado e de
representaes culturais"8 produzidas num determinado contexto poltico e ideolgico.
Assim, se uma verdade infinita, mas o local desta verdade e finito, a
compreenso da pluralidade do/no sujeito da linguagem pode nos levar a mundos
possveis, sujeitos e territrios, ao assumirmos, segundo Iza Quelhas, que "fronteiras nao
distinguem iguais e diferentes, tudo trnsito, processo, identidades em movimento". 9 Um
entre-lugar.
Para finalizarmos a nossa reflexo e de salientar que notria a freqncia com
que encontramos, em romances lusfonos, o tema da viagem, da travessia, do regresso,
da(s) identidade(s) e memria. Trata-se precisamente de temas em que se resgatam
memrias vivenciais, tornando-as matrias da fico. E, a par destas memrias, a
questo das identidades, como desenvolvemos ao longo destas pginas, constitui uma
daquelas contradies que nos levam a refletir sobre a alteridade e a identidade. So
temas tambm presentes em Mia Couto numa tentativa obstinada de contribuir, atravs
da literatura, na construo de um novo Moambique independente.
Ademais, somos tambm obrigados a nos interrogarmos at que ponto a
construo das novas identidades nacionais refora a nossa identidade no atual mundo
globalizado?
A metfora da travessia parece-nos a que mais caracteriza o romance Um Rio
Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra o qual recupera a memria da famlia
dos marianos para poder, em seguida, dar-lhes uma identidade que venha a re-significar
a sua existncia.
Sylvia Plath, respondendo a uma pergunta sobre como ela v um romancista ,
afirma:
Imagino-o - melhor ser dizer 'imagino-a' -, pois nas mulheres que procuro um
paralelo - imagino-a, a podar uma roseira com umas grandes tesouras, a ajeitar os
culos, a arrastar os ps entre chvenas, a cantarolar, a cuidar da limpeza de
bebs e cinzeiros, a absorver um raio oblquo de sol, uma pontinha de ar fresco, e a
COSTA, Claudia de Lima. O feminismo e o pos-modernismo/pos-estruturalismo: as (in)determinaoes da
identidade nas (entre)linhas do (con)texto. In: PEDRO, Joana Maria; GROSSI, Miriam Pillar et alii (Org.).
Masculino, Feminino, Plural - genero na interdisciplinaridade. Santa Catarina: Mulheres, 1998, p. 57-90.
9
QUELHAS, Iza. Identidades e Eventos - uma leitura de Mulher de Mim, de Mia Couto. Niteroi: UERJ, 2001,
p. 13.
134
sondar, com uma espcie de humilde e magnfica viso raio X, a intimidade
psquica dos vizinhos - vizinhos no comboio, na sala de espera do dentista, no
salo de ch da esquina. Para ela, para esta afortunada criatura, h l alguma
coisa que 'nao seja' relevante! Tudo lhe serve: sapatos velhos, maanetas de porta,
cartas enviadas por correio areo, camisas de noite de flanela, catedrais, verniz de
unhas, avies a jacto, caramanches de roseira e papagaios; pequenos tiques chupar um dente, puxar a linha de uma costura - qualquer coisa, seja estranha ou
imperfeita, requintada ou insignificante. Isto para j no falar das emoes, das
motivaes - essas formas ribombantes e tempestuosas. O seu negcio o tempo, o
modo como o tempo se projecta para diante, volta atras, floresce, definha e se
desdobra em fotografias de exposio mltipla. O seu negcio so as pessoas no
Tempo. E parece-me a mim que ela tem todo o Tempo do mundo. Se lhe apetecer
pode levar um sculo, uma gerao, um Vero inteiro.
Eu s posso levar cerca de um minuto (para escrever a histria).10
Em suma, o romance, prossegue ela, descontrado e expansivo, j o poema
concentrado. O romance uma mo aberta; ainda segundo ela, tem estradas, atalhos e
destinos; uma linha no corao, uma linha da cabea; a moral e o dinheiro tambm no
ficam de fora. Enquanto o pblico exclui e atordoa, a mo aberta consegue tocar e
abarcar quase tudo nas suas viagens.11
Em suma, poderamos assim destacar a empreitada do escritor Mia Couto: uma
mo aberta que busca outra para se completar; isto , a partir da memria e da identidade
ele parte em busca daquilo que poderia ser a Histria de seu pas e de seu povo.
10
11
PLATH, Sylvia. Ze Susto e A Biblia dos Sonhos. Lisboa: Relogio D'Agua, 1995, p. 66.
PLATH, Sylvia. Op. Cit., p. 66.
135
Bibliografia
1. Do autor
1.1. Obras Literrias
COUTO, Mia. Vozes anoitecidas. Lisboa: Caminho, 1987.
-------------. Terra sonmbula. Lisboa: Caminho, 1992.
-------------. Cronicando. 2a Ed. Lisboa: Caminho, 1993.
-------------. A varanda do frangipani. Lisboa: Caminho, 1996.
-------------. Estrias abensonhadas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1996.
-------------. Contos do nascer da terra. Maputo: Ndjira, 1997.
-------------. Raz de orvalho e outros poemas. 3a Ed. Lisboa: Caminho: 1999.
-------------. Na berma de nenhuma estrada e outros contos. 3a Ed. Lisboa: Caminho, 2003.
-------------. O pas do queixa andar: crnicas jornalsticas. Maputo: Ndjira, 2003.
-------------. O gato e o escuro. 2a Ed. Lisboa: Caminho, 2003.
-------------. O fio das missangas. Maputo: Ndjira, 2003.
-------------. Mar me quer. 8a Ed. Lisboa: Caminho, 2004.
-------------. Vinte e zinco. 2a. Ed. Lisboa: Caminho, 2004.
-------------. O Ultimo vo do flamingo. So Paulo: Companhia das Letras, 2005.
-------------. Um rio chamado tempo, uma casa chamada cerra. So Paulo: Companhia das
Letras, 2003.
------------. O outro p da sereia. So Paulo: Companhia das Letras, 2006.
------------ . Idades cidades divindades. Lisboa: Caminho, 2007.
1.2. Entrevistas e artigos
CHABAL, Patrick. Vozes Moambicanas: literatura e nacionalidade. Lisboa: Vega, 1994.
CHAVES, Rita & MACEDO, Tania. Entrevista a Mia Couto. Rdio USP. So Paulo,
Jun./2006.
COUTO, Mia. Pensatempos: textos de opinio. 2a Ed. Lisboa: Caminho, 2005.
------------. Moambique 30 anos de Independncia: no passado, o futuro era melhor? In:
Via Atlntica. DLCV. FFLCH. USP, no. 8. So Paulo: Departamento de Letras Clssicas e
Vernculas, 2005.
--------------. O gato e o novelo. Entrevista a Jos Eduardo Agualusa. In: JL Jornal de
Letras, Artes & Ideias. Lisboa, Jos, 08 de Outubro de 1997.
--------------. Em entrevista ao JL Jornal de Letras, Artes &Ideias. Lisboa, 18/08/1994.
--------------. H armadilhas dentro de ns. Entrevista ao Jornal da USP. Jornal da USP.
So Paulo, de 16 a 22 de Julho de 2007.
--------------. A minha ptria a minha lngua portuguesa. In: Pblico. Lisboa, 16 Jan. 2000.
--------------. Palestra proferida na Faculdade de Letras na UFRJ. Rio de Janeiro, 11 Set.
1997.
--------------. Discurso de posse na Academia Brasileira de Letras. Rio de Janeiro: ABL, 27
Ago. 1998.
--------------. Nas pegadas de Rosa. Revista SCRIPTA. Vol. II. No. 3.Belo Horizonte: PUCMinas, 1998, p. 11-13.
--------------. Um pouco de tudo. Prefcio. In: LEMOS, Virglio de. Eroticus Mozambicanus.
(Org.) SECCO, Carmen Lcia Tind. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999.
--------------. Colheita Perdida. O Metical: Jornal Eletrnico. Maputo, 26 Fev. 2000.
LABAN, Michel. Moambique - Encontro com Escritores. Vol. III. Porto: Fundao Engo
Antnio de Almeida, 1998.
--------------. Rosita. O Pblico. Lisboa, 05 Mar. 2000.
136
--------------. Mulato no de raa, mas de existncia. Entrevista feita por Livia Apa. Revista
Caravela. Npoles: Instituto Universitrio Oriental, 1998.
--------------. Entevista. O Tempo. Suplemento Engenho e Arte. Belo Horizonte, 06 Abr.
1997.
--------------. A Histria e as Margens. Entrevista a Antnio Loja Neves. Expresso. Lisboa,
20 Set. 2002. Disponvel em http://www.online. Expresso.pt/.
MARTINS, Celina. O Estorinhador Mia Couto. A potica da diversidade. Entrevista ao
escritor Mia Couto. Revista Quinto Imprio. No 17. Lisboa, Dez. 2002, p. 165-177.
MAQUEA, Vera. Entrevista com Mia Couto. In: Via Atlntica. N.o 8. USP. FFLCH. So
Paulo: Departamento de Letras Clssicas e Vernculas, 2005.
OLIVEIRA, Cristina. Contador de estrias abensonhadas - Entrevista a Mia Couto. In:
Lusitano. Lisboa, 10 de Junho, 2000.
1.3. Dissertaes e Teses
BATISTA, Zelimar Rodrigues. Mia Couto: um tradutor de luares e silncios. Rio de
Janeiro, UFRJ, 2004. [DM].
BIDINOTO, Alcione Manzoni. Historia e Mito em Cada Homem uma raca, de Mia Couto.
Santa Maria: Universidade Federal de Santa Maria, 2004. [DM].
FARIA, Joana Daniela Martins Vilaa de. Mia Couto Luandino Vieira: um estudo em
travessia pela escrita criativa ao servio das identidades. Minho: Universidade do Minho,
2005. [DM].
MAQUEA, Vera. Memrias Inventadas: um estudo comparado entre Relato de um certo
Oriente, de Milton Hatoum e Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra, de
Mia Couto. So Paulo: Universidade de So Paulo/FFLCH, 2007. [TD].
MATUSSE, Gilberto. A construo da imagem de moambicanidade em Jos Craveirinha,
Mia Couto e Ungulani Ba Ka Khosa. Lisboa: Universidade Nova de Lisboa, 1993. [DM].
NUNES, Ana Margarida Belm. A Linguagem miacoutiana de Mar me quer a Na berma de
nenhuma estrada: uma anlise da Morfologia e Semntica. Aveiro: Universidade de
Aveiro, 2003.
PERUZZO, L. D. Veredas Desanoitecidas: um estudo comparado das relaes de poder e
submisso em Mia Couto e Guimares Rosa. So Paulo: USP/FFLCH, 2002. [DM].
RIOS, Peron Pereira Santos Machado. A viagem infinita: um estudo de Terra Sonmbula.
Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 2005. DM.
ROCHA, Enilce do Carmo Albergaria. A utopia do diverso: o pesamento glissantiano nas
escritas de Edouard Glissant e Mia Couto. Sao Paulo: USP/FFLCH, 2001. [TD].
SANTOS, Alexsandra Machado da Silva dos. Caminhos da memria: uma reflexo sobre
contos e crnicas de Mia Couto. Rio de Janeiros: PUC-Rio, 2003. [DM].
SILVA, Rejane Vecchia da Rocha e. Romace e Utopia: Quarup de Antnio Callado, Terra
Sonmbula de Mia Couto e Todos os Nomes de Jos Saramago. So Paulo:
USP/FFLCH, 2000. [TD].
TEIXEIRA, E. A. A reabilitao do sagrado nas estrias de Guimares Rosa e Mia Couto.
So Paulo: USP/FFLCH, 2006. [TD].
VENTURA, S. R. Trs romances em dilogo: estudo comparado entre Manual de
Caligrafia e Pintura, de Jos Saramago, Tropical Sol da Liberdade, de Ana Maria
Machado e Terra Sonmbula de Mia Couto. So Paulo: USP/FFLCH, 2006. [TD].
2. Estudos sobre o autor
ABDALA JUNIOR, Benjamin. Doze dias de Abril, sob teto de zinco. In: Revista Ecos.
Cceres-MT: IL-UNEMAT, no. 3, 11 de Maio de 2005.
137
ANGIUS, Fernanda & ANGIUS, Matteo. O desanoitecer da palavra: estudos de seleco
de textos inditos anotada de um autor moambicano. Praia/Mindelo: Embaixada de
Portugal e Centro Cultural Portugus, 1998.
BERNARDO, Gustavo. A Palavra pica. O Globo. Rio de Janeiro, 12 Abr. 2003.
CABAO, Jos Lus. Mia Couto: a transgresso legtima. In: Tempo. Maputo, 14 de
Outubro de 1990.
CAVACAS, Fernanda. Mia Couto: Brincriao Vocabular. Lisboa: Mar Alem & Instituto
Cames, 1999.
-------------. Provrbios moambicanos. Recolha Oral (1979-1983). Lisboa: Mar Alm,
2001.
-------------. Mia Couto: Acreditesmos. Lisboa: Mar Alm, 2001.
LEPECKI, Maria Lcia. Mia Couto: Vozes Anoitecidas, o acordar. In: Soreimpresses
estudos de Literatura Portuguesa e Africana. Lisboa: Caminho, 1988.
MATA, Inocncia. A alquimia da lngua portuguesa nos portos da expanso: em
Moambique, com Mia Couto. Revista SCRIPTA. Vol. I. N. 2. 2. Sem. Belo Horizonte:
PUC-Minas, 1998, p. 262-268.
PADILHA, Laura Cavalcante. Por terras de frica com Hlder Macedo e Mia Couto. In:
Veredas 1. Porto, 1998. [Revista de publicao anual. Vl. 3. Dezembro de 2000]
PIRES LARANJEIRA, Jos Lus. Mia Couto: sonhador de lembranas, inventor de
verdades. Letras & Letras. Lisboa, set/93.
-------------. Mia Couto: o riso e a melancolia. Pao dArcos, 30/10/2002. Disponvel em
http://www.instituto-camoes.pt/arquivos/literatura/risomelancolia.htm.
Acesso
em
24/07/2007.
QUELHAS, Iza. Identidades e Eventos: uma leitura de' 'Mulher de Mim, de Mia Couto.
Niteroi: UERJ, 2001.
SANTILLI, Maria Aparecida. O fazer crer nas histrias de Mia Couto. In: Via Atlntica.
FFLCH. USP. No. 3. So Paulo: Departamento de Letras Clssicas e Vernculas, 1999.
SECCO, Carmen Lcia Tind Ribeiro. Mia Couto: E a Incurvel doena de sonhar. In:
SEPLVEDA, Maria do Carmo & SALGADO, Maria Teresa. (Orgs.). frica & Brasil: Letras
em laos.So Caetano do Sul: Yendis Editora, 2006.
-------------. Alegorias em Abril: Moambique e o sonho de um outro vinte e cinco (uma
leitura do romance Vinte e Zinco, do escritor Mia Couto). In: Via Atlntica. N.o 3. USP.
FFLCH. So Paulo: Departamento de Letras Clssicas e Vernculas, 1999.
UTZA, Francis. Mia Couto: Mulher de mim ou da dialtica do eu e do inconsciente. In:
LEO, ngela Vaz (Org.) Contatos e Ressonncias: Literaturas africanas de lngua
portuguesa. Belo Horizonte: PUC Minas, 2003.
3. Bibilografia Geral
ABDALA JR, Benjamin. De Vos e Ilhas: Literatura e Comunitarismos. So Paulo; Cotia:
Ateli, 2003.
---------------. Literatura, Histria e Poltica: literaturas de lngua portuguesa no sculo XX.
2a Ed. So Paulo; Cotia, Ateli Editorial, 2007.
---------------. Antnio Jacinto, Jos Craveirinha, Solano Trindade O Sonho (Diurno) de
uma Potica Popular. In: Via Atlntica. N.o 5. USP. FFLCH. So Paulo: Departamento de
Letras Clssicas e Vernculas, 2002.
AFONSO, Aniceto & GOMES, Carlos de Matos. Guerra Colonial: Angola, Guin,
Moambique. Lisboa: Dirio de Notcias, s.d.
ANDRADE, Mrio de. Amlcar Cabral. In: AZEVEDO, Licnio & RODRIGUES, Maria da
Paz. Dirio da Libertao A Guin-Bissau da Nova frica. So Paulo: Versus, 1977.
(Coleo Testemunhos).
138
---------------. Prefcio. In: COSTA ANDRADE. Poesia com Armas. Lisboa: S da Costa,
1975.
---------------. Amilcar Cabral: essais de biographie politique. Paris: Maspero, 1980.
ARENDT, Hannah. Lies sobre a Filosofia de Kant. Trad. Andr Duarte de Macedo. Rio
de Janeiro: Relume-Dumar, 1993.
AZEVEDO, Licnio & RODRIGUES, Maria da Paz. Dirio da Libertao A Guin-Bissau
da Nova frica. So Paulo: Versus, 1977. (Coleo Testemunhos).
BALANDIER, George. A Noo de Situao Colonial. In: Cadernos de Campo. Revista
dos Alunos de Ps-Graduao em Antropologia da Universidade de So Paulo. Ano III, N.
3. So Paulo: USP, 1993.
BARTHES, Roland. O grau zero da escrita. So Paulo: Cultrix, 1971.
BENJAMIN, Walter. Obras Escolhidas (II). So Paulo: Brasiliense, 1994.
BERNARDO, Gustavo. A Palavra pica. O Globo. Rio de Janeiro, 12 Abr. 2003.
BHABHA, Homi. Narrando a Nao. In: ROUANET, Maria Helena (Org.). Nacionalidade
em questo. Rio de Janeiro: UERJ/IL, 1997.
-----------------. O local da cultura. Belo Horizinte: Ed. da UFMG, 1998, p. 29.
BIRCHAL, Telma de Souza. O Cogito como representao e como presena: duas
perspectivas da relao de si a si em Descartes. In: Discurso. Revista do Departamento
de Filosofia da USP. no. 31. So Paulo: Discurso Editorial/ FAPESP, 2000.
BOSI, Alfredo. Narrativa e Resistncia. In: Itinerrios. No. 10. Araraquara, 1996.
CABAO, Jos Lus A questo da diferena na Literatura moambicana. In: Via Atlntica.
N.o 7. USP. FFLCH. So Paulo: Departamento de Letras Clssicas e Vernculas, 2004.
---------------- & CHAVES, Rita. Colonialismo, violncia e identidade cultural. In: ABDALA
JR., Benjamin (Org.). Margens da Cultura: mestiagem, hibridismo & outras misturas. So
Paulo: Boitempo, 2004.
CABRAL, Amlcar. A arma da teoria. Unidade e Luta I. Lisboa: Seara Nova: 1977.
----------------. A prtica revolucionria. Unidade e Luta II. Lisboa: Seara Nova, 1977.
----------------. Prefcio. In: DAVIDSON, Basil. A Libertao da Guin: aspectos de uma
revoluo africana. Lisboa: S da Costa, 1975.
CANDIDO, Antonio. Literatura e Sociedade: estudos de teoria e histria literria. So
Paulo: Companhia Editora Nacional, 1965.
CARVALHO, Ruy Duarte de. Actas da Maianga .... dizer das guerras, em Angola... Lisboa:
Cotovia, 2003.
----------------. A Cmara, a Escrita e a Coisa Dita... Fitas, Textos e Palestras. Luanda:
INALD, 1997.
---------------. Falas & Vozes, Fronteiras e Paisagens escritas, literaturas e
entendimentos. In: Setepalcos. No. 5. Lisboa, Julho de 2006.
CASTRO SOROMENHO, Fernando Monteiro. Homens sem caminho. 4a Ed. Lisboa:
Ulisseia, 1966.
---------------. A Chaga. 4a. Ed. Luanda, Unio dos escritores Angolanos, 1985.
CHAUI, Marilena de Souza. Apresentao. In: Discurso. Revista do Departamento de
Filosofia da USP. no. 31. So Paulo: Discurso Editorial/ FAPESP, 2000.
CHAVES, Rita. A Formao do Romance Angolano: entre intenes e gestos. So Paulo:
EDUSP/FBLP, 1999 [Coleo Via Atlntica]
---------------. O passado presente na Literatura Africana. In: Via Atlntica. N.o 7. USP.
FFLCH. So Paulo: Departamento de Letras Clssicas e Vernculas, 2004.
---------------. Angola e Moambique: Experincia colonial e territrios literrios. Cotia; So
Paulo: Ateli Editorial, 2005.
---------------. & MACEDO, Tnia. Caminhos da fico de frica portuguesa. In:
EntreLivros/frica. So Paulo, Abril/2007.
139
---------------. & MACDO, Tania. (org.) Literaturas em movimento: hibridismo cultural e
exerccio crtico. So Paulo: Arte & Cincia / Via Atlntica, 2003.
---------------.Prefcio. In: CAVACAS, Fernanda. Mia Couto: Acreditesmos. Lisboa: Mar
Alm, 2001.
COELHO, Jacinto do Prado. Fatores da personalidade nacional. In: MOUROFERREIRA, David & SEIXO, Maria Alzira. Portugal, a terra e o homem: antologia de
terxtos dos escritores do sculo XX. Vol. II. 2. Srie. Lisboa: Fundao Caloutes
Gulbenkian, 1980.
CORBISIER, Roland. Prefcio. In: MEMMI, Albert. Retrato do colonizado precedido do
retrato do colonizador. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1967.
COSTA, Claudia de Lima. O feminismo e o pos-modernismo: as (in)indeterminaoes de
identidade nas (entre)linhas do (con)texto. In: PEDRO, Joana Maria; GROSSI, Miriam
Pillar et alii (Org.). Masculino, Feminino, Plural: genero na interdisciplinaridade. Santa
Catarina: Mulheres, 1998.
DERRIDA, Jacques. Sur parole, instantanes philosophiques. Paris: Edition de l'Aube,
1999.
DESCARTES, Ren. Meditaes. Trad. J. Guinsburg & Bento Prado Junior. 4 a. Ed. So
Paulo: Nova Cultural, 1987-1988. [Coleo Os Pensadores].
DUARTE SILVA, Antnio E. A Independncia da Guin-Bissau e a Descolonizao
Portuguesa. Porto: Edies Afrontamento, 1997.
EAGLETON, Terry. As Iluses dos Ps-Modernismo. Trad. Elisabeth Barbosa. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar, 1998.
ELIOT, T. S. Ensaios de Doutrina Crtica. Lisboa: Guimares, 1962.
ESPINOSA, Baruch de. tica. Trad. Joaquim de Carvalho. So Paulo: Abril Cultural, 1973.
FANON, Frantz. Os Condenados da Terra. Lisboa: Ulisseia, 1961.
---------------. Em defesa da Revoluo Africana. Lisboa: S da Costa, 1980.
FERREIRA, Manuel. O discurso no percurso africano. Lisboa: Pltano Editora, 1990.
FONSECA, Ana Margarida. Histria e Utopia: imagens de identidade cultural e nacional
em narrativas ps-coloniais. Relaes Intertextuais, Contextos Culturais e Estudos PsColoniais. Actas do IV Congresso Internacional da Associao Portuguesa de Literatura
Comparada. V.1. vora, 09 a 12 de Maio de 2001.
FRY, Peter (Org.). Moambique: ensaios. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ, 2001.
GALVO, Walnice Nogueira. Desconversa: ensaios crticos. Rio de Janeiro: Editora da
UFRJ, 1998.
---------------. No calor da hora: a guerra dos canudos nos jornais - 4. Expediao. So
Paulo: tica, 1977.
--------------- & GALOTTI, Oswaldo. Correspondncia de Euclydes da Cunha. So Paulo:
EDUSP, 1997.
GMEZ, Miguel Buenda. A educao moambicana: a histria de um processo: 1962
1984. So Paulo; FAE/USP, 1993 (Tese de Doutorado).
GONALVES FILHO, Jos Moura. Olhar e Memria. In: NOVAES, Adauto (Org.). O
Olhar. So Paulo: Companhia das Letras, 1988.
GRAA ABREU. Histria, Texto, Devir: Reescrevendo imprios. Relaes Intertextuais,
Contextos Culturais e Estudos Ps-Coloniais. Actas do IV Congresso Internacional da
Associao Portuguesa de Literatura Comparada. vora, 09 a 12 de Maio de 2001, Vl.
GUEBUZA, Armando Emlio. Moambicanidade e Unidade Nacional. Comunicao
apresentada no quadro das celebraes do 3 de Fevereiro. Maputo, 2 de Fevereiro de
2004. (Mimeo).
GUIBERNAU, Montserrat. Nacionalismos: o estado nacional e o nacionalismo do sculo
XX. Trad. Mauro Gama e Cludia M. Gama. Rio de Janeiro; Zahar, 1997.
140
HALL, Stuart. A identidade Cultural na Ps-Modernidade. Trad. Tomaz Tadeu da Silva &
Guacira Lopes Louro. 10a Ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2005.
---------------. Da Dispora: Identidades e Mediaes Culturais. Org. Liv Sovik. Trad. de
Adelaide La Guardia Resende et alii. Belo Horizonte: Editora da UFMG; Braslia:
Representao da UNESCO no Brasil, 2003.
HAMILTON, Russel. A literatura dos PALOPS e a teoria ps-colonial. In: Via Atlntica. No
3. FFLCH. USP. So Paulo: Departamento de Letras Clssicas e Vernculas, 1999.
HEIDEGGER, M. Nietzsche II. Trad. de P. KLOSSOWSKI. Paris: Gallimard, 1971.
HOBSBAWN, Eric. Sobre Histria: ensaios. Trad. Cid Knipel Moreira. So Paulo:
Companhia das Letras, 1998.
HUTCHEON, Linda. A Poetica do Ps-Modernismo. Rio de Janeiro: Imago, 1991.
IGNATIEV, Oleg. Amlcar Cabral Filho de frica. Trad. Hudson C. Lacerda. Lisboa: Prelo,
1975.
KANT, Immanuel. Crtica da Razo Pura. Trad. de Valrio Rohden e Udo Baldur
Moosburger. So Paulo: Nova Cultural, 2003. [Coleo Os Pensadores].
KHOSA, Ungulani Ba Ka. A orgia dos loucos. Lisboa: Caminho, 1990.
--------------. Ualalapi. Lisboa: Caminho, 1991.
KI-ZERBO, Joseph. Histria da frica Negra. Vol. II. Lisboa: Mem Martins, s.d.
LEITE, Ana Mafalda. Modelos crticos e representaes da oralidade africana. In: Via
Atlntica. N.o 8. USP. FFLCH. So Paulo: Departamento de Letras Clssicas e
Vernculas, 2005.
---------------. Oralidades & escritas nas literaturas africanas. Lisboa: Colibri, 1988.
---------------. Literaturas Africanas e Formulaes Ps-Coloniais. Lisboa: Colibri, 2003.
LEMOS, Virglio de. Eroticus mozambicanus. In: Panorama Congresso Intermacional:
novas literaturas africanas de lngua portuguesa. Lisboa: Edio do grupo de trabalho do
Minsitrio da Educao para a Comemorao dos Descobrimentos Portugueses, 1997.
LINS, Osman. Lima Barreto e o espao romanesco. So Paulo: tica, 1976.
LOPES, Carlos. O legado de Amlcar Cabral face aos desafios da tica contempornea.
In: Jornada Internacional de Cinema da Bahia. Trocas culturais afro-luso-brasileiras.
ARAJO, Guido (Org.) & RUBIM, Albino Canelas (Coord.). Salvador: Contraste, 2005.
LOPES, Jos de Souza Miguel. Literatura em Lngua Portuguesa: na praia do oriente a
areia nufraga do ocidente. Scripta. N. 2. Belo Horizonte, 1998.
----------------. Cultura acstica e Cultura letrada: o sinuoso caminho da literatura em
Moambique. In: Afroletras. Revista de Artes, Letras e Idias. No. 5. Lisboa, Set./Nov.,
2000.
MARGATO, Izabel. Lisboa Reinventada n'O Ano da Morte de Ricardo Reis'. In: Via
Atlntica. N.o 5. USP. FFLCH. So Paulo: Departamento de Letras Clssicas e
Vernculas, 2002.
MATA, Inocncia. A condio ps-colonial das literaturas africanas de lngua portuguesa:
algumas diferenas e convergncias e muitos lugares comuns. In: LEO, Angela Vaz
(Org.). Contatos e Ressonncias: literaturas africanas de lngua portuguesa. Belo
Horizonte: PUC Minas, 2003.
MEMMI, Albert. Retrato do colonizado precedido do retrato do colonizador. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 1967.
MENDONA, Ftima. Literatura Moambicana: a histria e as escritas. Maputo:
Faculdade de Letras e Ncleo Editorial da Universidade Eduardo Mondlane, 1988.
---------------. O Conceito de Nao em Jos Craveirinha, Rui Knopfli e Srgio Vieira. In:
Via Atlntica. N.o 5. USP. FFLCH. So Paulo: Departamento de Letras Clssicas e
Vernculas, 2002.
MOITA, Lus. Os Congressos da FRELIMO, do PAIGC e do MPLA Uma anlise
comparativa. Lisboa: CIDAC; Ulmeiro, 1979.
141
MONTEIRO, Manuel Rui. Eu e Outro O Invasor. In: MEDINA, Cremilda. Sonha,
Mamana frica. So Paulo: Epopia, 1987.
---------------. Pensando o texto da memria. ANAIS do 2. Congresso da ABRALIC:
Literatura e memria cultural. Belo Horizonte: ABRALIC, 1991.
--------------. Entre mim e o nmada a flor. Teses angolanas: documentos da IX
Conferncia dos Escritores Afro-asiticos. Lisboa: Edies 70, para a Unio dos
Escritores Angolanos, 1981.
MOREIRA, Terezinha Taborda. O vo da voz: a metamorfose do narrador na fico
moambicana. Belo Horizonte: Editora PUC Minas; Belo Horizonte: Editora Horta Grande
Ltda., 2005.
_________ . O intertexto proverbial: a fora determinante da experincia enunciada. In :
LEO; Angela vaz (org.) Contatos e ressonncias. 1ed. Belo Horizonte: PUC Minas, 2003.
___________ . O trnsito da memria. In Scripta. Belo Horizonte: PUC Minas, v.7, n.13,
2003.
___________ . Escrita e performance na literatura moambicana. In Scripta. Belo
Horizonte: PUC Minas, v.4, n.8, 2001.
MUHANA, Adma Fadul. O gnero epistolar: dilogo per absentiam. In: Discurso. Revista
do Departamento de Filosofia da USP. no. 31. So Paulo: Discurso Editorial/ FAPESP,
2000.
MUNANGA, Kabenguele. O que africanidade. Entrelivros/frica. So Paulo, Abril/2007.
---------------. A potica a cores numa floresta transformada em pintura. Naguib: frica
Brasil: um retorno s razes. Revista do Museu de Arte Contempornea da Universidade
de So Paulo. So Paulo, 30 de Maro de 2006.
NICOLAU, Teresa. A utopia da identidade no cinema de Ruy Duarte de Carvalho.
In:
SETEPALCOS. No. 5. Coimbra, Junho de 2006.
NOA, Francisco. A escrita infinita Maputo: Universidade Eduardo Mondlane/Livraria
Universitria, 1998.
---------------. Jos Craveirinha: para alm da utopia. In: Via Atlntica. FFLCH. USP. No. 5
So Paulo: Departamento de Letras Clssicas e Vernculas, 2002.
NUNES, Benedito. Passagem para o Potido. Filosofia e Poesia em Heidegger. 2. Ed.
So Paulo: tica: 1992.
PADILHA, Laura Cavalcante. Entre Voz e Letra: o lugar da ancestralidade na fico
angolana do sculo XX. Niteri: EDUFF, 1995.
----------------. Novos Pactos, Outras Intenes: ensaios sobre literaturas afro-lusobrasileiras. Lisboa: Novo Imbondeiro, 2002.
PAZ, Octavio. Pintado en Mexico. In: El Pais. Madrid, 7 Noviembre, 1983.
PEIXOTO, Brissac Nelson. As imagens e o outro. In: NOVAES, Adauto (Org.). O desejo.
So Paulo: Companhia das Letras, 1990.
PEPETELA. A Gerao da Utopia. 3a. Ed. Lisboa: Planeta, 2000. [Coleo Clssicos
Contemporneos].
----------------. Mayombe. 5a. Ed. Lisboa: Dom Quixote, 1993.
PERRONE-MOYSS, Leyla. Desconstruindo os Estudos Culturais. Relaes
Intertextuais, Contextos Culturais e Estudos Ps-Coloniais. Actas do IV Congresso
Internacional da Associao Portuguesa de Literatura Comparada. V.1. vora, 09 a 12 de
Maio de 2001.
PIRES LARANJEIRA, Jos Lus. Literaturas Africanas de Expresso Portuguesa. Lisboa:
Universidade Aberta, 1995.
PLATH, Sylvia. Ze Susto e A Biblia dos Sonhos. Lisboa: Relogio D'Agua, 1995.
POLAR, Antonio Cornejo. O Condor Voa: Literatura e Cultura Latino-americana. VALDS,
Mrio J. (Org). Belo Horizonte, Editora da UFMG, 2000.
142
PRINS, Guyn. Histria Oral. In: BURKE, Peter. A Escrita da Histria: Novas perspectivas.
Trad. de Magda Lopes. So Paulo: Editora da UNESP, 1992.
RABUSKE, Edvino. Antropologia Filosfica. 2. Ed. Petrpolis: Vozes, 1986.
RICOEUR, Paul. Teoria da Interpretao. Lisboa, Edies 70, 1976.
ROSRIO, Loureno. A identidade de um povo numa situao multicultural. In:
CAVACAS, Fernanda. Provrbios moambicanos. Recolha Oral (1979-1983). Lisboa: Mar
Alem, 2001.
---------------. Prefcio. In: CAVACAS, Fernanda. Brincriao Vocabular. Lisboa: Mar Alm
& Instituto Cames, 1999.
RUIVO, Marina. Viagem luta armada: entre fico e a histria. In: Via Atlntica. N.o 5.
USP. FFLCH. So Paulo: Departamento de Letras Clssicas e Vernculas, 2002.
SAID, Edward. Reflexes sobre o exlio e outros ensaios. Trad. Pedro Maia Soares. So
Paulo: Companhia das Letras, 2003.
--------------. Cultura e Imperialismo. Trad. Denise Bottman. Sao Paulo: Companhia das
Letras, 1995.
SALGADO, Maria Teresa. A presena do cmico nas literaturas africanas de lngua
portuguesa. In: LEO, ngela vaz (Org.). Contatos e Ressonncias: literaturas africasnas
de lngua portuguesa. Belo Horizonte: PUC Minas, 2003.
SANTILLI, Maria Aparecida. Estrias Africanas: Histria e Antologia. So Paulo: tica,
1987.
SANTOS, Boaventura de Sousa. Entre Ser e Estar Razes, Percursos e Discursos de
Identidade. Porto: Edies Afrontamento, 2002.
---------------. Pela mo de Alice: o social e o poltico na ps-modernidade. 3. Ed. Porto:
Edies Afrontamento, 1994.
----------------. Entre Prspero e Caliban: Colonialismo, Ps-Colonialismo e Inter-Identidade.
In: Entre Ser e Estar Razes, Percursos e Discursos da Identidade. Porto: Edies
Afrontamento, 2002.
SATE, Nelson. Os habitantes da memria. Praia; Mindelo: Embaixada de Portugal;
Centro Cultural Portugus, 1998.
SECCO, Carmen Lcia Tind Ribeiro. Mia Couto: E a Incurvel doena de sonhar. In:
SEPLVEDA, Maria do Carmo & SALGADO, Maria Teresa. (Orgs.). frica & Brasil: Letras
em laos.So Caetano do Sul: Yendis Editora, 2006.
--------------. Alegorias em Abril: Moambique e o sonho de um outro vinte e cinco (uma
leitura do romance Vinte e Zinco, do escritor Mia Couto). In: Via Atlntica. N.o 3. USP.
FFLCH. So Paulo: Departamento de Letras Clssicas e Vernculas, 1999.
SERRANO, Carlos. O romance como documento social: o caso Mayombe. In: Via
Atlntica. FFLCH. USP No. 3. So Paulo: Departamento de Letras Clssicas e
Vernculas, 1999.
---------------. Angola: nasce uma nao Um estudo sobre a construo da identidade
nacional. FFLCH/USP. So Paulo: Departamento de Antropologia, 1988. TD.
TODOROV, Tzevetan. A Conquista da Amrica: a questo do outro. So Paulo: Martins
Fontes, 1996.
---------------. Potica da prosa. Lisboa: Edies 70, 1971.
TURANO, Maria R. Memria e Identidade nos contos de Teixeira de Sousa para uma
Antropologia da Literatura. In: Via Atlntica. N.o 7.
USP. FFLCH. So Paulo:
Departamento de Letras Clssicas e Vernculas, 2004.
ZILLES, Urbano. Filosofia da Religio. So Paulo: Paulinas.
S-ar putea să vă placă și
- Império, mito e miopia: Moçambique como invenção literáriaDe la EverandImpério, mito e miopia: Moçambique como invenção literáriaÎncă nu există evaluări
- NR 17 - Psicologia e Sociologia Do TrabalhoDocument12 paginiNR 17 - Psicologia e Sociologia Do TrabalhoCPSST67% (9)
- O que é PedagogiaDocument11 paginiO que é PedagogiaAlbelene SantosÎncă nu există evaluări
- João Paulo Borges Coelho - Água - Uma Novela Rural (Oficial) PDFDocument249 paginiJoão Paulo Borges Coelho - Água - Uma Novela Rural (Oficial) PDFVitor Rodrigues Pereira100% (1)
- A cozinha futuristaDocument296 paginiA cozinha futuristaChefe Jose Antonio OlimÎncă nu există evaluări
- Poemas Natalia CorreiaDocument5 paginiPoemas Natalia CorreiaJuliana SouzaÎncă nu există evaluări
- Poemas de resistência e identidadeDocument178 paginiPoemas de resistência e identidadeMariana UchôaÎncă nu există evaluări
- Narrativas de imigrantes italianos em Porto Alegre (1920-1937Document488 paginiNarrativas de imigrantes italianos em Porto Alegre (1920-1937Jaqueson MedinaÎncă nu există evaluări
- Uns e outros na literatura moçambicana: EnsaiosDe la EverandUns e outros na literatura moçambicana: EnsaiosEvaluare: 5 din 5 stele5/5 (2)
- Juventude, violência e criminalidade no BrasilDocument42 paginiJuventude, violência e criminalidade no BrasilFábio Forcela100% (1)
- Paula Fernandes - Seio de Minas (Ukulele Tab e Partitura-Aline Kelly)Document3 paginiPaula Fernandes - Seio de Minas (Ukulele Tab e Partitura-Aline Kelly)Clau gomesÎncă nu există evaluări
- Aleksandr Púchkin e seu romance Evguêni OniêguinDocument41 paginiAleksandr Púchkin e seu romance Evguêni OniêguinHudsonÎncă nu există evaluări
- Teixeira de Queirós-O Salustio NogueiraDocument263 paginiTeixeira de Queirós-O Salustio Nogueiraapi-3814501Încă nu există evaluări
- A Definitiva - para HojeDocument136 paginiA Definitiva - para HojeManuel Afonso CostaÎncă nu există evaluări
- O Museu Municipal de Coimbra e o FadoDocument112 paginiO Museu Municipal de Coimbra e o Fadohelder de oliveiraÎncă nu există evaluări
- Mysterios Do Violão - Eduardo Das NevesDocument174 paginiMysterios Do Violão - Eduardo Das NevesEver Bc100% (1)
- A poesia militante de Margarido e Espírito SantoDocument13 paginiA poesia militante de Margarido e Espírito SantoCantos100% (1)
- Garota de Ipanema: A Menina Dos Olhos Da Bossa NovaDocument46 paginiGarota de Ipanema: A Menina Dos Olhos Da Bossa Novalemuel100% (1)
- Política e Emergência Culturais: Análises Sobre A Lei Aldir BlancDocument138 paginiPolítica e Emergência Culturais: Análises Sobre A Lei Aldir BlancClarissaAlexandraG.SemensatoÎncă nu există evaluări
- Ruínas VerdesDocument21 paginiRuínas VerdesJojoSantosSÎncă nu există evaluări
- Oexp12 Poetas Contemporaneos Luiza Neto JorgeDocument7 paginiOexp12 Poetas Contemporaneos Luiza Neto JorgeCarla LemosÎncă nu există evaluări
- Schnaiderman - Quental e TolstóiDocument5 paginiSchnaiderman - Quental e TolstóirparrineÎncă nu există evaluări
- Dissertação RevistaDocument162 paginiDissertação RevistaSyleide DiasÎncă nu există evaluări
- Dissertação UspicêntricaDocument109 paginiDissertação UspicêntricaAntônio Marcos de LimaÎncă nu există evaluări
- Importância Das Narrativas Orais Na Identidade AfricanaDocument5 paginiImportância Das Narrativas Orais Na Identidade AfricanaEveli GomesÎncă nu există evaluări
- Ludmila Costa Ribeiro - A Cosmovisão Africana Da Morte PDFDocument105 paginiLudmila Costa Ribeiro - A Cosmovisão Africana Da Morte PDFwandersonn100% (1)
- Literatura Moçambicana e a escrita de Paulina ChizianeDocument96 paginiLiteratura Moçambicana e a escrita de Paulina ChizianeHenrique RodriguesÎncă nu există evaluări
- De Escravo A CozinheiroDocument344 paginiDe Escravo A CozinheiroGleice Silva100% (2)
- Ana Lucia RabecchiDocument262 paginiAna Lucia RabecchiPricila MotaÎncă nu există evaluări
- COMUNICAÇÃO ORAL E ESCRITADocument15 paginiCOMUNICAÇÃO ORAL E ESCRITAMariana Sequeira50% (2)
- Escritores Mineiros: Poesia E FicçãoDe la EverandEscritores Mineiros: Poesia E FicçãoÎncă nu există evaluări
- Melo & Godoy (2017)Document20 paginiMelo & Godoy (2017)Mônica NagôÎncă nu există evaluări
- Fraturas no olhar: a obra de Cornélio Penna e a representação da realidade brasileiraDocument0 paginiFraturas no olhar: a obra de Cornélio Penna e a representação da realidade brasileiraMariana QuadrosÎncă nu există evaluări
- Fragmentação da Identidade na Trilogia de Nova YorkDocument105 paginiFragmentação da Identidade na Trilogia de Nova Yorktupetmetal4864Încă nu există evaluări
- Romance histórico e memória em Abel PosseDocument160 paginiRomance histórico e memória em Abel PosseRosângela NevesÎncă nu există evaluări
- A Literatura Amazonica - Dos Textos de Viagem Aos Romances ContemporaneosDocument398 paginiA Literatura Amazonica - Dos Textos de Viagem Aos Romances ContemporaneosLeidijane Rolim100% (2)
- A memória como bússola: representações do passado na obra de Mia CoutoDocument109 paginiA memória como bússola: representações do passado na obra de Mia CoutoThaílaMouraÎncă nu există evaluări
- Escritores Pernambucanos do Século XIX - Tomo 2De la EverandEscritores Pernambucanos do Século XIX - Tomo 2Încă nu există evaluări
- A Microfisica Do Poder - Michel FoulcaultDocument215 paginiA Microfisica Do Poder - Michel FoulcaultAlmir OliveiraÎncă nu există evaluări
- CLC7-1 TrabDocument3 paginiCLC7-1 TrabMarta Artilheiro100% (1)
- 2015 VicenteLuisDeCastroPereira VCorrDocument299 pagini2015 VicenteLuisDeCastroPereira VCorrSergio MonteiroÎncă nu există evaluări
- A (Re) Construção Da Africanidade Através Da Coleção Mama ÁfricaDocument67 paginiA (Re) Construção Da Africanidade Através Da Coleção Mama ÁfricaNatália SilvaÎncă nu există evaluări
- Memória na obra de Mia CoutoDocument109 paginiMemória na obra de Mia CoutoRenata RibeiroÎncă nu există evaluări
- Viagem Infinita: Um Estudo de Terra SonâmbulaDocument115 paginiViagem Infinita: Um Estudo de Terra SonâmbulaBrenda Carlos de Andrade100% (1)
- Literaturas Africanas de Língua Portuguesa - Narrativas de STP, CV e G-BDocument12 paginiLiteraturas Africanas de Língua Portuguesa - Narrativas de STP, CV e G-BDri JDSÎncă nu există evaluări
- Modos de narrar: a arte da conversaçãoDocument9 paginiModos de narrar: a arte da conversaçãoAdriana Nunes da CostaÎncă nu există evaluări
- Memória Entre Mito e A HistóriaDocument162 paginiMemória Entre Mito e A HistóriaGeorgia FontouraÎncă nu există evaluări
- O Qorpo Santo Da EscritaDocument135 paginiO Qorpo Santo Da EscritaivandelmantoÎncă nu există evaluări
- Dialnet AsHistoriasDeMurueSuruiEKudaiTembe 6234197Document27 paginiDialnet AsHistoriasDeMurueSuruiEKudaiTembe 6234197Fernanda SantosÎncă nu există evaluări
- A Escrita Feminina Na Literatura de CordelDocument17 paginiA Escrita Feminina Na Literatura de CordelNaelza WanderleyÎncă nu există evaluări
- Memória e Loucura em A Louca de SerranoDocument94 paginiMemória e Loucura em A Louca de SerranoFabiana FranciscoÎncă nu există evaluări
- O Rio e A Casa PDFDocument285 paginiO Rio e A Casa PDFFrancisco Menezes DA SilvaÎncă nu există evaluări
- 9494 23347 1 SMDocument10 pagini9494 23347 1 SMLexas12345Încă nu există evaluări
- Caligrafias Da ExistenciaDocument16 paginiCaligrafias Da ExistenciaJohn Jefferson AlvesÎncă nu există evaluări
- Escola Secundária Geral 25 de Setembro de QuelimaneDocument18 paginiEscola Secundária Geral 25 de Setembro de QuelimaneCasimiro Viriato da AnaÎncă nu există evaluări
- Faculdade de Economia e GestãoDocument9 paginiFaculdade de Economia e GestãoEsvenancio Zacarias AngacheiroÎncă nu există evaluări
- A Encruzilhada Da Vida e Da Morte. O Samsara Cortazariano. Valdenides Cabral de Araújo DiasDocument199 paginiA Encruzilhada Da Vida e Da Morte. O Samsara Cortazariano. Valdenides Cabral de Araújo DiasClaudia GilmanÎncă nu există evaluări
- 1 PBDocument10 pagini1 PBFernanda GabrielaÎncă nu există evaluări
- A Morte, Os Mortos e o Morrer Na A Morte, Os Mortos e o Morrer Na Crônica Da Casa Assassinada de Lúcio CardosoDocument253 paginiA Morte, Os Mortos e o Morrer Na A Morte, Os Mortos e o Morrer Na Crônica Da Casa Assassinada de Lúcio CardosoEdds MOliveiraÎncă nu există evaluări
- Corpo, memória e morte em Vergílio FerreiraDocument90 paginiCorpo, memória e morte em Vergílio FerreiraHelena JunqueiraÎncă nu există evaluări
- Fábulas Italianas Tese PDFDocument160 paginiFábulas Italianas Tese PDFRodolfo Rodrigues PeninÎncă nu există evaluări
- Vigília Das Oralidades - Jerusa Pires FerreiraDocument5 paginiVigília Das Oralidades - Jerusa Pires FerreiraIsabel Rebelo RoqueÎncă nu există evaluări
- Matripotência IorubáDocument47 paginiMatripotência IorubáDaniela Danis SantosÎncă nu există evaluări
- Isabel Castro Henriques - DE ESCRAVOS A INDÍGENAS - O Longo Processo de Instrumentalização Dos AfricanosDocument384 paginiIsabel Castro Henriques - DE ESCRAVOS A INDÍGENAS - O Longo Processo de Instrumentalização Dos AfricanosThaíseSantanaÎncă nu există evaluări
- Literatura infantil e representatividade feminina negraDocument10 paginiLiteratura infantil e representatividade feminina negraThaíseSantanaÎncă nu există evaluări
- O BANCO MUNDIAL E AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO NOS ANOS 90 Por Sonia Maria Portella KruppaDocument15 paginiO BANCO MUNDIAL E AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO NOS ANOS 90 Por Sonia Maria Portella KruppaThaíseSantanaÎncă nu există evaluări
- Artigo Cristiane Africanidades Na Lit InfantilDocument12 paginiArtigo Cristiane Africanidades Na Lit InfantilThaíseSantanaÎncă nu există evaluări
- Elizandra Souza Filha Do FogoDocument2 paginiElizandra Souza Filha Do FogoThaíseSantanaÎncă nu există evaluări
- A cor dos negros na literatura infantilDocument19 paginiA cor dos negros na literatura infantilThaíseSantanaÎncă nu există evaluări
- Tomm Farias Machado Negro GenialDocument4 paginiTomm Farias Machado Negro GenialThaíseSantanaÎncă nu există evaluări
- Ensaios sobre as desigualdades enfrentadas por escritoras minoriasDocument8 paginiEnsaios sobre as desigualdades enfrentadas por escritoras minoriasAlexandre Magno BritoÎncă nu există evaluări
- Representação feminina negra na literatura infantilDocument11 paginiRepresentação feminina negra na literatura infantilThaíseSantanaÎncă nu există evaluări
- Tomm Farias Machado Negro GenialDocument4 paginiTomm Farias Machado Negro GenialThaíseSantanaÎncă nu există evaluări
- Conceio Evaristo Artigo TlioDocument10 paginiConceio Evaristo Artigo TlioThaíseSantanaÎncă nu există evaluări
- Resenha Livro Juntar - Pedacos de Miriam AlvesDocument2 paginiResenha Livro Juntar - Pedacos de Miriam AlvesThaíseSantanaÎncă nu există evaluări
- Renato No Guera Critic A 17Document3 paginiRenato No Guera Critic A 17ThaíseSantanaÎncă nu există evaluări
- Verso Re Verso PDFDocument105 paginiVerso Re Verso PDFFred KruegerÎncă nu există evaluări
- Alforrias Ritasantana PDFDocument46 paginiAlforrias Ritasantana PDFAna Fátima Dos SantosÎncă nu există evaluări
- Profundanças 2 PDFDocument185 paginiProfundanças 2 PDFThaíseSantanaÎncă nu există evaluări
- 44 Sentímentos - Poemas apaixonadosDocument32 pagini44 Sentímentos - Poemas apaixonadosThaíseSantanaÎncă nu există evaluări
- Profundanças 1 PDFDocument138 paginiProfundanças 1 PDFThaíseSantanaÎncă nu există evaluări
- ARTIGO Quase Dois Irmãos: Diferenças Não Sutis Ou A Memória Da Violência Vai Ao Cinema.Document5 paginiARTIGO Quase Dois Irmãos: Diferenças Não Sutis Ou A Memória Da Violência Vai Ao Cinema.ThaíseSantanaÎncă nu există evaluări
- Existência e Transcedência Negras em Memórias Da Pele, de Elisa PereiraDocument5 paginiExistência e Transcedência Negras em Memórias Da Pele, de Elisa PereiraThaíseSantanaÎncă nu există evaluări
- Memória LiteráriaDocument7 paginiMemória LiteráriaThaíseSantanaÎncă nu există evaluări
- Chica Que Manda Ou A Mulher Que Inventou o Mar?Document14 paginiChica Que Manda Ou A Mulher Que Inventou o Mar?ThaíseSantanaÎncă nu există evaluări
- Mulheres Marcadas: Literatura, Gênero, EtnicidadeDocument12 paginiMulheres Marcadas: Literatura, Gênero, EtnicidadeThaíseSantanaÎncă nu există evaluări
- Violência contra a mulher na literatura afro-brasileiraDocument6 paginiViolência contra a mulher na literatura afro-brasileiraThaíseSantanaÎncă nu există evaluări
- Violência contra a mulher na literatura afro-brasileiraDocument6 paginiViolência contra a mulher na literatura afro-brasileiraThaíseSantanaÎncă nu există evaluări
- Imagens de Negros Na Poética de Castro AlvesDocument12 paginiImagens de Negros Na Poética de Castro AlvesThaíseSantanaÎncă nu există evaluări
- Violência contra a mulher na literatura afro-brasileiraDocument6 paginiViolência contra a mulher na literatura afro-brasileiraThaíseSantanaÎncă nu există evaluări
- Vozes Negras Nos Anos 30Document11 paginiVozes Negras Nos Anos 30ThaíseSantanaÎncă nu există evaluări
- Ligia Ferreira - NegritudeDocument16 paginiLigia Ferreira - Negritudemateus_zÎncă nu există evaluări
- A satisfação cultural na escola e as resistências à própria idéiaDocument14 paginiA satisfação cultural na escola e as resistências à própria idéiaCarollina de LimaÎncă nu există evaluări
- DJAMILA RIBEIRO SOBRE DESIGUALDADE E DIVERSIDADEDocument4 paginiDJAMILA RIBEIRO SOBRE DESIGUALDADE E DIVERSIDADEPedro Jardel CoppetiÎncă nu există evaluări
- Plataformização, Dataficação e Governança AlgorítmicaDocument7 paginiPlataformização, Dataficação e Governança AlgorítmicaAyrton CastroÎncă nu există evaluări
- A afirmação do político na crítica schmittiana ao liberalismoDocument14 paginiA afirmação do político na crítica schmittiana ao liberalismoFelipe AlvesÎncă nu există evaluări
- Awo Awo O Misterio Das Cores NaturaisDocument175 paginiAwo Awo O Misterio Das Cores NaturaisEvelyn de AlmeidaÎncă nu există evaluări
- Aprendizagens Musicais Nas Interações Sociais em Práticas Musicais ColetivasDocument140 paginiAprendizagens Musicais Nas Interações Sociais em Práticas Musicais ColetivasMarcelo PaulinoÎncă nu există evaluări
- Anotações Do Minicurso Aprendendo História Com o CinemaDocument8 paginiAnotações Do Minicurso Aprendendo História Com o CinemaHelber LessaÎncă nu există evaluări
- 5391-Texto Do Artigo-23259-1-10-20150831Document6 pagini5391-Texto Do Artigo-23259-1-10-20150831Adryanne FariasÎncă nu există evaluări
- Mulher Nikkei na ImigraçãoDocument9 paginiMulher Nikkei na ImigraçãoBruno MarcioÎncă nu există evaluări
- Vamos Jogar! A Experiencia Do JogoDocument39 paginiVamos Jogar! A Experiencia Do JogoVandrisia BalthezanÎncă nu există evaluări
- BONACELLI GIMENEZ. Repensando o Papel Da Universidade No Séc XXI Demandas e Desafios PDFDocument12 paginiBONACELLI GIMENEZ. Repensando o Papel Da Universidade No Séc XXI Demandas e Desafios PDFLenioÎncă nu există evaluări
- E Book Mulheres Negras e Violência Doméstica Decodifancando Os Números IsbnDocument362 paginiE Book Mulheres Negras e Violência Doméstica Decodifancando Os Números IsbnPaulo Cesar PadilhaÎncă nu există evaluări
- Estudio de Satisfacción Del Usuario de Sistemas de Información en Hospitales Universitarios Del Nordeste (Brasil)Document310 paginiEstudio de Satisfacción Del Usuario de Sistemas de Información en Hospitales Universitarios Del Nordeste (Brasil)Pedro Alberto Herrera LedesmaÎncă nu există evaluări
- Desigualdade e violência na sociedade atualDocument36 paginiDesigualdade e violência na sociedade atualJosadack Valdevino TeixeiraÎncă nu există evaluări
- Psicologia da Educação e IdeologiasDocument14 paginiPsicologia da Educação e IdeologiasLara Balisardo100% (1)
- Revisão de Sociologia: Professor Pablo Magaton MendesDocument15 paginiRevisão de Sociologia: Professor Pablo Magaton MendesThiagoÎncă nu există evaluări
- A etiqueta no Antigo RegimeDocument2 paginiA etiqueta no Antigo RegimeJoey TellusÎncă nu există evaluări
- Ana Keila Pinezi InfanticidioDocument25 paginiAna Keila Pinezi InfanticidioFlawya SousaÎncă nu există evaluări
- Uma introdução à sociologia do futebol brasileiroDocument16 paginiUma introdução à sociologia do futebol brasileiroRubens GabrielÎncă nu există evaluări
- EmailefaceDocument391 paginiEmailefacekatiahvcÎncă nu există evaluări
- Tipologias do feminismo e relações de poderDocument22 paginiTipologias do feminismo e relações de poderMaira GuimarãesÎncă nu există evaluări
- Sociologiada Educacao TEXTOSDocument23 paginiSociologiada Educacao TEXTOSRoseli RoseÎncă nu există evaluări
- Impacto Tecnologias Sociedade InformaçãoDocument13 paginiImpacto Tecnologias Sociedade InformaçãoVictor LimaÎncă nu există evaluări
- As principais correntes antropológicasDocument13 paginiAs principais correntes antropológicasTeresa Alberto MiguelÎncă nu există evaluări
- Estado-nação: conceito e evoluçãoDocument15 paginiEstado-nação: conceito e evoluçãoBasilioAntonioSamuelSamuelÎncă nu există evaluări
- Sebenta Ciencia PoliticaDocument25 paginiSebenta Ciencia PoliticaVibe OlisÎncă nu există evaluări
- Pense Nisso - Jiddu KrishnamurtiDocument277 paginiPense Nisso - Jiddu KrishnamurtiMécia Sá100% (1)