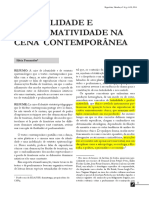Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
O Tempo (P. 302-311) - Orhan Pamuk PDF
Încărcat de
Mariana Cardoso Carvalho0 evaluări0% au considerat acest document util (0 voturi)
45 vizualizări9 paginiO tempo (p. 302-311) - Orhan Pamuk.pdf
Titlu original
O tempo (p. 302-311) - Orhan Pamuk.pdf
Drepturi de autor
© © All Rights Reserved
Formate disponibile
PDF, TXT sau citiți online pe Scribd
Partajați acest document
Partajați sau inserați document
Vi se pare util acest document?
Este necorespunzător acest conținut?
Raportați acest documentO tempo (p. 302-311) - Orhan Pamuk.pdf
Drepturi de autor:
© All Rights Reserved
Formate disponibile
Descărcați ca PDF, TXT sau citiți online pe Scribd
0 evaluări0% au considerat acest document util (0 voturi)
45 vizualizări9 paginiO Tempo (P. 302-311) - Orhan Pamuk PDF
Încărcat de
Mariana Cardoso CarvalhoO tempo (p. 302-311) - Orhan Pamuk.pdf
Drepturi de autor:
© All Rights Reserved
Formate disponibile
Descărcați ca PDF, TXT sau citiți online pe Scribd
Sunteți pe pagina 1din 9
Sumário
Mapa
1. O momento mais feliz da minha vida
2. A boutique şanzelize
3. Parentes distantes
4. Amor no escritório
5. O Fuaye
6. As lágrimas de Füsun
7. O edifício Merhamet
8. O primeiro refrigerante da Turquia à base de frutas
9. F
10. As luzes da cidade e a felicidade
11. A Festa do Sacrifício
12. Beijando os lábios
13. O amor, a coragem, a modernidade
14. As ruas, as pontes, as ladeiras e as praças de Istambul
15. Algumas verdades antropológicas impalatáveis
16. O ciúme
17. Toda a minha vida depende agora de você
18. A história de Belkıs
19. No funeral
20. As duas condições de Füsun
21. A história do meu pai: os brincos de pérola
22. A mão de Rahmi Efendi
23. O silêncio
24. A festa de noivado
25. A agonia da espera
26. O mapa anatômico das dores de amor
27. Não se incline tanto assim para trás, você pode cair
28. O consolo dos objetos
29. A essa altura mal havia um momento em que eu não pensasse nela
30. Füsun não mora mais aqui
31. As ruas que me fazem lembrar dela
32. As sombras e fantasmas que eu confundia com Füsun
33. Exaltações vulgares
34. Como um cão no espaço sideral
35. As primeiras sementes da minha coleção
36. Para cultivar uma pequena esperança que pudesse atenuar a minha dor
37. A casa vazia
38. A festa do fim do verão
39. A confissão
40. As compensações da vida numa yalı
41. Nadando de costas
42. A melancolia do outono
43. Os dias frios e solitários de novembro
44. O hotel Fatih
45. Um feriado em Uludağ
46. É normal largar assim a sua noiva?
47. A morte do meu pai
48. A coisa mais importante na vida é ser feliz
49. Eu pretendia pedir a ela que se casasse comigo
50. Era a última vez em que eu a veria
51. A felicidade é estar perto de quem você ama, e mais nada
52. Um filme sobre a vida e a agonia precisa ser sincero
53. Um coração indignado e partido não serve de nada para ninguém
54. O tempo
55. Volte amanhã, e podemos sentar juntos de novo
56. A Limon Filmes Ltda
57. Sobre a incapacidade de me levantar e ir embora
58. A tômbola
59. Passando pela censura
60. Noites à beira do Bósforo, no restaurante Huzur
61. O olhar
62. Para ajudar a passar o tempo
63. A coluna social
64. O incêndio no Bósforo
54. O tempo
Durante exatamente sete anos e dez meses visitei regularmente a casa de Çukurcuma, para jantar e
ver Füsun. Se nos lembrarmos de que minha primeira visita foi no sábado, 23 de outubro de 1976 —
onze dias depois do convite permanente de tia Nesibe (“Venha qualquer noite!”) —, e que minha
última noite em Çukurcuma com Füsun e tia Nesibe foi no domingo, 26 de agosto de 1984, podemos
ver que houve 2864 dias entre uma e outra. Segundo minhas anotações, durante as quatrocentas e
nove semanas que minha história descreverá agora, estive lá jantando 1593 vezes. Disso podemos
deduzir que jantava lá quatro vezes por semana em média, mas não que fosse regularmente quatro
vezes por semana.
Havia semanas em que estava com eles todos os dias, e outras em que — tornando a me indignar e
a me convencer de que seria capaz de esquecer Füsun — eu me mantinha à distância. Mas nunca
passei dez dias sem Füsun (quer dizer, sem vê-la), porque no final desse período sempre estava
novamente às voltas com o mesmo nível de sofrimento por que passara no outono de 1975 e que tinha
precipitado o regime em curso, de modo que o correto seria dizer que eu via Füsun e sua família (os
Keskin) com grande frequência. Eles, por sua vez, contavam regularmente com minha presença, e
sempre adivinhavam quando era mais provável que eu fosse aparecer. De qualquer maneira, em
pouco tempo tinham se acostumado a me ver à mesa do jantar, assim como me acostumei à ideia de
que estavam sempre à minha espera.
Os Keskin nunca precisavam convidar-me formalmente para jantar, porque sempre guardavam um
lugar para mim à mesa. E isso me deixava bastante aflito quando eu não estava totalmente decidido e
custava a decidir. Às vezes eu achava que, caso fosse uma vez mais, podia estar abusando e, se não
fosse, não só me veria às voltas com a dor de não ver Füsun, como ainda podia deixá-los
“ofendidos”, sucumbindo ao medo de que minha ausência pudesse ser mal interpretada.
Essas ansiedades me afetaram mais durante minhas primeiras visitas a Çukurcuma, quando ainda
não estava acostumado àquela casa, à presença regular de Füsun e à sua rotina doméstica. Esperava
que Füsun percebesse que eu tentava lhe dizer “Estou aqui”, pelo modo como eu a olhava nos olhos.
Foi o sentimento que me dominou na primeira visita. Nos primeiros minutos depois de minha
chegada, eu me congratulei por ter ido até lá, vencendo minha vergonha e meu nervosismo. Afinal, se
eu me sentia feliz assim por estar perto de Füsun, por que tantos problemas em torno daquelas
visitas? E ali estava ela, sorrindo docemente, como se não houvesse nada fora do comum na minha
presença, como se estivesse realmente feliz por eu ter vindo.
É uma pena que muito raramente ficássemos a sós durante essas primeiras visitas. Ainda assim,
aproveitei cada oportunidade para murmurar coisas como “Senti terrivelmente a sua falta!” ou “Acho
que senti terrivelmente a sua falta!” e Füsun respondia, apenas com os olhos, dando a impressão de
dizer que minhas palavras a deixavam feliz. Não seria possível nos aproximarmos mais que isso.
Para esclarecer os leitores que se espantem ao ver que fui capaz de visitar Füsun e sua família
(parece tão clínico chamá-los de “os Keskin”) por oito anos, e que se perguntem como posso falar
em tom assim ligeiro de um período de tempo tão longo — milhares de dias —, gostaria de dizer
algumas coisas sobre a ilusão que é o tempo, pois existe um tipo de tempo que podemos chamar de
tempo de cada um, e outro — damos-lhe o nome de tempo “oficial”? — que compartilhamos com
todos os demais. É importante estender-me sobre essa distinção, primeiro para adquirir o respeito
dos leitores que podem me achar um sujeito estranho, obcecado e até um tanto assustador, por ter
passado oito anos suspirando de amor, entrando e saindo da casa de Füsun, mas também para
descrever como era a vida daquela família.
Vou começar pelo relógio de parede: era grande, de fabricação alemã, com uma caixa de madeira
e vidro, pêndulo e carrilhão. Pendia da parede ao lado da porta, e ficava lá não para medir o tempo,
mas como um lembrete constante a toda a família da continuidade do tempo, e testemunho do mundo
“oficial” do lado de fora. Como a televisão assumira o papel de marcar as horas nos últimos anos,
fazendo isso de maneira mais divertida que o rádio, aquele relógio (como centenas de milhares de
outros relógios de parede de Istambul) vinha perdendo sua importância.
Os relógios de parede entraram na moda em Istambul no final do século XIX, quando os paxás
ocidentalizados e os não muçulmanos ricos começaram a guarnecer suas casas com imensos relógios
de parede muito mais adornados que aquele, com contrapesos, pêndulo e chaves para dar corda. Nos
primeiros anos do século XX, depois da fundação da República, quando o país aspirava ao Ocidente,
esses relógios logo caíram no gosto das classes médias da cidade. Havia um relógio daqueles em
minha casa quando eu era criança, e todas as outras casas que na época faziam parte da minha vida
tinham relógios idênticos ou maiores, com a caixa de madeira ainda mais trabalhada, e geralmente
eram encontrados na entrada ou no saguão das casas, embora ninguém olhasse muito para eles, pois
já na década de 1950 “todo mundo”, até as crianças, usava relógio de pulso, e toda casa tinha um
rádio sempre ligado. Até os aparelhos de televisão finalmente começarem a dominar a trilha sonora
da vida doméstica, alterando a maneira como as pessoas comem, bebem e se reúnem em casa — em
meados dos anos 1970, quando começa nossa história —, esses relógios de parede continuavam a
tiquetaquear como outrora, embora os moradores das casas mal lhes dessem atenção. Em nossa casa,
de nenhum dos quartos nem da sala de estar dava para ouvir o tique-taque ou o carrilhão do relógio,
de maneira que ele nunca nos perturbava. E assim, por muitos anos, ninguém nem pensou em deixá-lo
parar, e continuavam a subir numa cadeira para dar-lhe corda. Em certas noites em minha casa,
quando meu amor por Füsun me levava a beber muito, o sofrimento me despertava e eu me levantava
da cama para fumar um cigarro na sala; ouvia o relógio no corredor dando as horas e aquilo
reconfortava meu coração.
Na casa de Füsun, havia ocasiões em que o relógio funcionava e outras em que estava parado: foi
durante o primeiro mês que reparei na diferença, e logo me acostumei a ela. Depois de jantar, nos
sentávamos juntos para ver um filme turco, alguma cantora turca muito sedutora interpretando uma
canção antiga, ou um filme sobre Roma antiga com gladiadores e leões, que começávamos a assistir
no meio, com legendas tão ruins ou uma dublagem tão precária que imediatamente começávamos a
fazer piadas até mal conseguirmos acompanhar a ação; cada um se entregava a seus próprios sonhos,
e logo chegava um momento em que, por algum encantamento, um silêncio recaía sobre o aparelho de
televisão, e o relógio pendurado junto à porta, de cuja existência tínhamos nos esquecido, começava
a bater as horas. Um de nós — geralmente tia Nesibe e às vezes Füsun — virava-se para o relógio
com um olhar significativo, e Tarık Bey dizia: “Quem terá dado corda de novo?”.
Às vezes alguém dava corda no relógio, mas às vezes todos esqueciam. Mesmo quando lhe davam
corda e ele andava, o carrilhão permanecia em silêncio meses a fio; às vezes só batia uma vez, nas
meias horas; às vezes se rendia ao silêncio reinante e semanas se passavam antes que voltasse a
produzir algum som. Era então que eu percebia, com um arrepio, como tudo deve ser assustador
quando a pessoa não está em casa. Estivesse ou não o relógio andando, tocasse ou não o carrilhão,
ninguém fitava o relógio de parede para ver as horas; mas sempre passavam muito tempo
conversando sobre o relógio, discutindo se alguém tinha lhe dado corda ou não, e sobre a maneira de
fazer um pêndulo ser posto de novo em movimento com um único impulso. “Deixe o relógio em paz,
deixe tiquetaquear, não faz mal a ninguém”, dizia às vezes Tarık Bey à sua mulher. “Ele me lembra de
que esta casa é habitada.” Acho que eu sempre concordava, assim como Füsun, Feridun e até algum
visitante ocasional. De maneira que a finalidade do relógio de parede não era nos lembrar a
existência do tempo, ou nos avisar que tudo muda: era convencer-nos de que nada, coisa nenhuma,
tinha mudado.
Durante esses primeiros meses, não me atrevi sequer a sonhar que nada teria mudado ou iria
mudar — que eu passaria oito anos jantando em Çukurcuma, vendo televisão e jogando conversa fora
com aquela família. Durante minhas primeiras visitas, cada palavra que Füsun emitia, cada
sentimento que se revelava em seu rosto, a maneira como ela andava de um lado para o outro pela
sala — tudo me parecia novo e diferente, e, estivesse o relógio funcionando ou não, eu nunca olhava
para ele. O que importava era estar sentado à mesma mesa que ela, olhar para ela, sentir-me feliz e
ficar perfeitamente imóvel enquanto meu fantasma deixava meu corpo para beijá-la.
Mesmo que ninguém percebesse, o relógio sempre tiquetaqueava da mesma maneira, e quando nos
sentávamos à mesa, jantando juntos, ele nos trazia o conforto de saber que não tínhamos mudado, que
tudo continuaria igual entre nós. O relógio servia para não deixar que esquecêssemos do tempo,
embora sempre nos trouxesse de volta ao presente, recordando a cada um de nós as relações que
tinha com os outros — e era esse paradoxo que provocava a guerra fria que de tempos em tempos se
travava entre tia Nesibe e Tarık Bey. “Quem voltou a dar corda nesse relógio para acordar todo
mundo no meio da noite?”, perguntava tia Nesibe, quando percebia durante um silêncio que o relógio
voltara a funcionar. “Se não estivesse funcionando, íamos sentir a falta de alguma coisa nesta casa”,
disse Tarık Bey numa noite de vento de dezembro de 1979. E acrescentou: “Ouvíamos o tique-taque
na outra casa também”. “Está querendo me dizer que ainda não se acostumou a Çukurcuma, Tarık
Bey?”, perguntou tia Nesibe, com um sorriso muito mais doce do que suas palavras davam a entender
(às vezes ela se dirigia ao marido acrescentando a seu nome o honorífico “Bey”).
Esses gracejos comedidos, comentários maliciosos e alfinetadas proferidas no momento perfeito
eram uma arte que o casal tinha aperfeiçoado ao longo de muitos anos, e, toda vez que ouviam o
tique-taque do relógio num momento inesperado ou que o carrilhão começava a tocar, a discórdia
tornava-se mais intensa. “Você deu corda nesse relógio para eu também passar a noite sem dormir,
Tarık Bey”, dizia tia Nesibe. “Füsun, querida, pode parar o relógio?” Se alguém usasse o dedo para
parar o pêndulo no meio do caminho, o relógio parava, por mais que alguém tivesse dado corda no
relógio, mas Füsun limitava-se a sorrir e olhar para o pai; às vezes, Tarık Bey lhe dirigia um olhar
que significava “Está bem, pode ir parar o relógio!”, mas às vezes teimava em recusar. “Eu não mexi
no relógio. Começou a trabalhar por conta própria, então que pare sozinho!”, dizia ele. Às vezes,
quando viam que essa ideia misteriosa produzia algum medo nos vizinhos ou nas crianças que vinham
visitá-los em raras ocasiões, Tarık Bey e tia Nesibe começavam uma discussão carregada de duplos
sentidos. “Foram os djinns que puseram nosso relógio para funcionar de novo”, dizia tia Nesibe.
“Não mexa nele, pode se machucar”, dizia Tarık Bey com uma voz ameaçadora e o rosto franzido.
“Estou pouco ligando se é um djinn que está agindo dentro dele”, respondia tia Nesibe. “Só não
quero que me acorde no meio da noite como um encarregado do sino da igreja que, quando enche a
cara, não sabe mais a diferença entre o dia e a noite.” “Pare com essas histórias! De qualquer
maneira, se parar de pensar no tempo vai se sentir melhor”, dizia Tarık Bey. Aqui ele usava “tempo”
no sentido de “o mundo moderno”, ou “a época em que vivemos”. Esse “tempo” era uma coisa em
permanente mudança e, com a ajuda do funcionamento perpétuo do relógio, tentávamos mantê-lo ao
largo.
O aparelho realmente usado pela família Keskin para acompanhar a marcha do tempo era a
televisão, que, como o rádio da nossa casa nos anos 1950 e 1960, estava sempre ligada. No tempo do
rádio, qualquer que fosse a estação ou o programa transmitido — um concerto, um debate, uma aula
de matemática, o que fosse —, ouvia-se um sinal sonoro discreto ao completar-se a hora e cada meia
hora, em prol dos eventuais interessados. À noite, quando víamos televisão, não havia necessidade
desses sinais, ou a maioria das pessoas não precisava das horas, a menos que quisesse saber qual era
o programa na televisão.
Toda noite, às sete, quando o imenso relógio aparecia na tela um minuto antes de a TRT, o único
canal de televisão do país, começar seu noticiário, Füsun olhava para o relógio de pulso (exposto
aqui) enquanto Tarık Bey consultava um dos muitos relógios de bolso que o vi usar ao longo daquele
período de oito anos — fosse para confirmar que os relógios estavam certos ou para acertá-los de
acordo com a TV. E o faziam sempre. Minha satisfação era profunda sempre que eu via Füsun sentada
à mesa de jantar, olhando para o relógio imenso na tela e apertando os olhos, pressionando a língua
contra o interior da bochecha enquanto calibrava seu relógio com a seriedade de uma criança que
copia seu pai. Desde as minhas primeiras visitas, Füsun percebeu o quanto eu apreciava aqueles
momentos. Enquanto sincronizava o relógio, sabia que eu a observava com amor, e, quando
finalmente ajustava a hora certa, olhava para mim e sorria. “Agora seu relógio está certíssimo?”, eu
perguntava nesses momentos. “Está, acertei!”, respondia-me, com um sorriso ainda mais caloroso.
Como muito aos poucos acabaria compreendendo ao longo desses oito anos, não era apenas para
ver Füsun que eu ia à casa da família Keskin, mas para viver algum tempo no mundo cujo ar ela
respirava. E o que melhor definia aquele universo era sua atemporalidade. Eis por que Tarık Bey
aconselhava sua mulher a “esquecer-se do tempo”. Quando as pessoas vêm visitar meu museu e
examinam os antigos pertences da família Keskin — especialmente todos aqueles relógios de parede,
de bolso e de pulso quebrados e enferrujados que já não funcionam há anos —, quero que percebam
como são estranhos, como parecem existir fora do tempo, como criaram entre si um tempo que só
eles marcam. Este é o mundo atemporal cujo ar eu respirava nos anos em que frequentei a casa de
Füsun e sua família.
Para além desse espaço sem tempo ficava o tempo “oficial” do mundo exterior, com o qual
mantínhamos contato através da televisão, do rádio e das convocações às preces; sempre que nos
perguntávamos que horas seriam, estávamos organizando nossas relações com o mundo exterior, ou
pelo menos era a impressão que eu tinha.
Füsun não acertava seu relógio porque a vida que levava exigisse um relógio exato ao nível dos
segundos, para que pudesse chegar pontualmente ao trabalho ou a algum encontro; como seu pai,
funcionário público aposentado, ela o fazia como um modo de aceder a uma diretiva que lhe era
transmitida diretamente de Ankara e do Estado, ou pelo menos era a impressão que eu tinha. Víamos
o relógio que aparecia na tela antes do noticiário como olhávamos para a bandeira que aparecia na
tela, quando o hino nacional tocava no fim das transmissões de cada dia: sentados em nosso trecho de
mundo, nos preparando para o jantar ou para encerrar a noite desligando a televisão, sentíamos a
presença de milhões de outras famílias que faziam a mesma coisa, a quantidade de gente que
constituía a nação, o poder do que chamávamos de Estado e nossa própria insignificância. Era
quando víamos os programas sobre Atatürk, olhávamos a bandeira ou o relógio oficial (de tempos
em tempos, o rádio se referia à “hora nacional”) que percebíamos mais nitidamente que nossas vidas
domésticas confusas e desordenadas tinham uma existência independente do domínio oficial.
Em sua Física, Aristóteles estabelece uma distinção entre o Tempo e os momentos isolados que
descreve como o “presente”. Os momentos isolados — como os átomos de Aristóteles — são
indivisíveis. E o Tempo é a linha que conecta esses momentos indivisíveis. Embora Tarık Bey nos
recomendasse que esquecêssemos o Tempo — essa linha que conecta um momento presente ao que o
sucede —, só os idiotas ou os acometidos de amnésia conseguem realmente esquecê-lo. Cada um de
nós só pode tentar ser feliz e esquecer o Tempo, e é o que todos fazemos. Se houver leitores que
achem ridículas as coisas que meu amor por Füsun me ensinou, essas observações que surgiram das
minhas experiências ao longo de oito anos na casa de Çukurcuma, gostaria de lhes pedir
encarecidamente para não confundirem esquecer-se do Tempo com esquecer-se dos relógios ou
calendários. Os relógios e calendários não existem para nos lembrar o Tempo que esquecemos, mas
para regular nossa relação com os outros e na verdade com a sociedade em geral, e é por isso que os
usamos. Quando olhávamos para o relógio em preto e branco que aparecia na tela a cada noite, logo
antes do noticiário, não era do Tempo que nos lembrávamos, mas das outras famílias, das outras
pessoas e dos relógios que regulavam nossas relações com elas. Era por esse motivo que Füsun
sempre estudava o relógio na tela da TV para verificar se tinha ajustado “exatamente” o seu relógio, e
talvez ela sorrisse tão feliz porque eu a olhava com amor — e não porque se lembrasse do Tempo.
Minha vida me ensinou que lembrar-se do Tempo — a linha que conecta cada momento que
Aristóteles chama de presente — é, para a maioria de nós, um exercício doloroso. Quando tentamos
imaginar a linha que conecta esses momentos, ou, como em nosso museu, a linha que conecta todos os
objetos que trazem esses momentos dentro de si, somos forçados a lembrar que a linha chegará a um
fim, e contemplar a morte. À medida que envelhecemos e chegamos à penosa compreensão de que
essa linha, por si só, não tem um significado próprio — é uma ideia que nos ocorre cumulativamente,
em intimações que nos esforçamos por ignorar —, recaímos no sofrimento. Mas às vezes esses
momentos que chamamos de “presente” podem nos trazer uma felicidade capaz de durar um século,
como ocorria a cada sorriso de Füsun, nos dias em que eu jantava em Çukurcuma. Desde o início,
sabia que só estava indo à casa dos Keskin na esperança de poder reunir felicidade suficiente para
durar até o fim da minha vida, e era na intenção de preservar para o futuro esses momentos felizes
que eu recolhia tantos objetos, grandes e pequenos, que tinham passado pelas mãos de Füsun, e os
levava para casa.
No final de uma noite, no decorrer do segundo dos oito anos, quando a televisão terminou suas
transmissões, ouvi Tarık Bey recapitular as memórias de seu tempo como jovem professor do liceu
de Kars. Se tinha algum apego pelas memórias daqueles anos infelizes, quando vivia só, lutando para
sobreviver com um salário baixo, sofrendo muitos infortúnios, não era porque as memórias
adquirissem um tom mais róseo com o passar do tempo, como acredita a maioria das pessoas, mas
porque gostava de falar sobre os bons momentos (as partículas de Agora) que vivera naquela fase
conturbada de sua vida (contas inevitavelmente enfiadas na linha perversa do Tempo). Depois que
falou desse paradoxo uma noite, lembrou-se por algum motivo do relógio “Leste-Oeste” que tinha
comprado quando vivia em Kars, e que foi buscar para me mostrar seus dois mostradores, um com
algarismos arábicos, outro com romanos.
Quero estender-me nesse tema com outro relógio: quando vejo este delgado relógio de pulso
Buren que Füsun começou a usar em abril de 1982, o que aparece diante dos meus olhos é o momento
em que o dei de presente a ela em seu vigésimo quinto aniversário, e o momento em que, depois de
tê-lo retirado de sua caixa hoje perdida, com seus pais em algum outro lugar (e Feridun fora de casa),
ela me beijou nas duas faces, por trás da porta aberta da cozinha, e o momento em que estávamos
todos sentados juntos e ela mostrou orgulhosa o relógio a seus pais, e o momento em que seus pais,
tendo aceitado havia muito minha presença como um membro excêntrico da família, agradeceram-me
cada um por sua vez. Para mim, a felicidade reside em reviver esses momentos inesquecíveis. Se
pudermos aprender a parar de pensar em nossas vidas como uma linha correspondente ao Tempo de
Aristóteles, dando valor a nosso tempo por seus momentos mais profundos, cada um por si, esperar
por oito anos à mesa de jantar de sua amada deixa de parecer uma obsessão tão estranha e risível,
mas (como eu havia de descobrir muito depois) assume a realidade de 1593 noites felizes à mesa de
jantar de Füsun. Hoje, lembro cada uma dessas noites em que eu ia jantar em Çukurcuma — mesmo
as mais difíceis, mais cheias de desesperança e humilhação — como a felicidade.
S-ar putea să vă placă și
- Conversas Entre Amigos - Sally Rooney PDFDocument169 paginiConversas Entre Amigos - Sally Rooney PDFMariana Cardoso CarvalhoÎncă nu există evaluări
- Então É Natal - PianoDocument2 paginiEntão É Natal - PianoRamboqui83% (12)
- Ebook Coreano Com MusicaDocument19 paginiEbook Coreano Com MusicaGenilda FrancoÎncă nu există evaluări
- Peça teatral “O quebra nozesDocument9 paginiPeça teatral “O quebra nozesMatilde100% (2)
- Amadora - Ana FerreiraDocument147 paginiAmadora - Ana FerreiraMariana Cardoso CarvalhoÎncă nu există evaluări
- Só SexoDocument38 paginiSó SexoMariana Cardoso CarvalhoÎncă nu există evaluări
- Orhan Pamuk - O Museu Da InocênciaDocument446 paginiOrhan Pamuk - O Museu Da InocênciaFelipe Cordeiro100% (1)
- A Arte de Pensar: Teoria da ExpressãoDocument12 paginiA Arte de Pensar: Teoria da ExpressãoMário JorgeÎncă nu există evaluări
- Tríades Mutantes PDFDocument5 paginiTríades Mutantes PDFClaudio SilvaÎncă nu există evaluări
- Green-Kayley Loring (Revisado) PDFDocument224 paginiGreen-Kayley Loring (Revisado) PDFJennifer Mendes0% (1)
- Magalhães Azeredo - Alb. Nepomuceno, Op. 29 N° 2Document4 paginiMagalhães Azeredo - Alb. Nepomuceno, Op. 29 N° 2Willian PereiraÎncă nu există evaluări
- A Última Fita de Krapp - Samuel BeckettDocument9 paginiA Última Fita de Krapp - Samuel BeckettMariana Cardoso CarvalhoÎncă nu există evaluări
- Sombras de Reis BarbudosDocument63 paginiSombras de Reis BarbudosRaysa SoaresÎncă nu există evaluări
- 3 (06-11) - D. Manuel, A Índia e o Brasil - Luís Filipe ThomazDocument46 pagini3 (06-11) - D. Manuel, A Índia e o Brasil - Luís Filipe ThomazMariana Cardoso CarvalhoÎncă nu există evaluări
- O Clown - Luís BurnierDocument4 paginiO Clown - Luís BurnierJeferson Freitas LopesÎncă nu există evaluări
- Higiene e Boas ManeirasDocument138 paginiHigiene e Boas ManeirasRafa DasfolhasÎncă nu există evaluări
- A República Velha: uma revisão historiográfica necessáriaDocument14 paginiA República Velha: uma revisão historiográfica necessáriaRoger CostaÎncă nu există evaluări
- Dos Quilombos Ao Quilombismo - Por Uma História Comparada Da Luta Antirracista No Brasil - Gerson Theodoro PDFDocument24 paginiDos Quilombos Ao Quilombismo - Por Uma História Comparada Da Luta Antirracista No Brasil - Gerson Theodoro PDFMariana Cardoso CarvalhoÎncă nu există evaluări
- A Cidade Moderna BH Nas Cronicas de DrummondDocument13 paginiA Cidade Moderna BH Nas Cronicas de DrummondGuilherme RegisÎncă nu există evaluări
- A Emergência Da Pesquisa Da Hist Das MulheresDocument20 paginiA Emergência Da Pesquisa Da Hist Das MulheresromulopaÎncă nu există evaluări
- 6.2 (04-12) - El Rosto Feminino Del Poder - Bárbara GallardoDocument5 pagini6.2 (04-12) - El Rosto Feminino Del Poder - Bárbara GallardoMariana Cardoso CarvalhoÎncă nu există evaluări
- Orla Oceânica de Salvador - Um Mar de Representações - André Nunes de SousaDocument158 paginiOrla Oceânica de Salvador - Um Mar de Representações - André Nunes de SousaMariana Cardoso CarvalhoÎncă nu există evaluări
- Guia Comida de Rua Salvador BahiaDocument35 paginiGuia Comida de Rua Salvador BahiapaulamarialadelÎncă nu există evaluări
- A Cidade Moderna BH Nas Cronicas de DrummondDocument13 paginiA Cidade Moderna BH Nas Cronicas de DrummondGuilherme RegisÎncă nu există evaluări
- A Cidade Moderna BH Nas Cronicas de DrummondDocument13 paginiA Cidade Moderna BH Nas Cronicas de DrummondGuilherme RegisÎncă nu există evaluări
- Calendário Feminista 2019Document17 paginiCalendário Feminista 2019Mariana Cardoso CarvalhoÎncă nu există evaluări
- Guerra Do Paraguai - Aventuras Na História PDFDocument10 paginiGuerra Do Paraguai - Aventuras Na História PDFMariana Cardoso CarvalhoÎncă nu există evaluări
- Guia de Fotografia para IniciantesDocument1 paginăGuia de Fotografia para IniciantesMariana Cardoso CarvalhoÎncă nu există evaluări
- Um Chamado NobreDocument23 paginiUm Chamado NobreMariana Cardoso CarvalhoÎncă nu există evaluări
- A Dramaturgia Não Aristotélica - A EstruturaDocument7 paginiA Dramaturgia Não Aristotélica - A EstruturaMariana Cardoso CarvalhoÎncă nu există evaluări
- Shapin Revolução CientificaDocument10 paginiShapin Revolução CientificaMariana Cardoso CarvalhoÎncă nu există evaluări
- Um Chamado NobreDocument23 paginiUm Chamado NobreMariana Cardoso CarvalhoÎncă nu există evaluări
- Terapia - Jonathan Kellerman PDFDocument267 paginiTerapia - Jonathan Kellerman PDFIldene Fernandes Vieira BoucherÎncă nu există evaluări
- Atividades circenses na Educação FísicaDocument35 paginiAtividades circenses na Educação FísicayoyozitaÎncă nu există evaluări
- Folclore Alagoano - Folguedos e Danças - História de AlagoasDocument10 paginiFolclore Alagoano - Folguedos e Danças - História de AlagoasmazukiekesÎncă nu există evaluări
- 03 - Matemática Nivel Fundamental I IncompletoDocument54 pagini03 - Matemática Nivel Fundamental I Incompletomarcionila82Încă nu există evaluări
- Arte, ruído e a ampliação do conceito de arteDocument10 paginiArte, ruído e a ampliação do conceito de arteJanayna AraujoÎncă nu există evaluări
- Alberdi - TP1 Intro Compo Avance 2 PDFDocument3 paginiAlberdi - TP1 Intro Compo Avance 2 PDFJoel Agustín Dominguez MorenoÎncă nu există evaluări
- PROFESSIONAL AUDIO MIXER MANUALDocument42 paginiPROFESSIONAL AUDIO MIXER MANUALJoão EzerÎncă nu există evaluări
- Simulado de Matemática 2Document5 paginiSimulado de Matemática 2Otis SnyderÎncă nu există evaluări
- Starting from the Beginning: English Course PlanDocument3 paginiStarting from the Beginning: English Course PlanEdivan CavalcanteÎncă nu există evaluări
- Tempos Modernos de ChaplinDocument7 paginiTempos Modernos de ChaplinThiago BarretoÎncă nu există evaluări
- Automação Residencial com ZigBeeDocument87 paginiAutomação Residencial com ZigBeeLeonardo Duraes AlvesÎncă nu există evaluări
- Anjos - Eterno PDFDocument3 paginiAnjos - Eterno PDFimagination20Încă nu există evaluări
- Teatralidade e Performatividade Na Cena Contemporanea Silvia FernandesDocument13 paginiTeatralidade e Performatividade Na Cena Contemporanea Silvia FernandesAna Filipa LeiteÎncă nu există evaluări
- A Escuta Ativa e A Exploraçao MusicalDocument38 paginiA Escuta Ativa e A Exploraçao MusicalCreche Joaninha100% (1)
- 16 CronicasDocument35 pagini16 CronicasBreno CarvalhoÎncă nu există evaluări
- Concurso SEAP Rio editais classificaçãoDocument60 paginiConcurso SEAP Rio editais classificaçãoTia JubisÎncă nu există evaluări
- Sobre A Paixão Segundo João de Bach PDFDocument13 paginiSobre A Paixão Segundo João de Bach PDFCastanTNÎncă nu există evaluări
- Musicalização 2023: Colégio Êxito KidsDocument3 paginiMusicalização 2023: Colégio Êxito KidsGabriel GodoyÎncă nu există evaluări
- Contraponto 3a e 4a EspéciesDocument21 paginiContraponto 3a e 4a EspéciesMANOEL D. L. FERREIRAÎncă nu există evaluări
- Relação Nominal Dos Voluntários Qocon Tec - : Aptos Na Inspsau E ApDocument4 paginiRelação Nominal Dos Voluntários Qocon Tec - : Aptos Na Inspsau E ApGabriel SerodioÎncă nu există evaluări
- Poesia Tang em 40Document12 paginiPoesia Tang em 40Idego RiverrunÎncă nu există evaluări
- Som e Luz 8o Ano - Universo da MatériaDocument57 paginiSom e Luz 8o Ano - Universo da Matériaacores1acores100% (1)