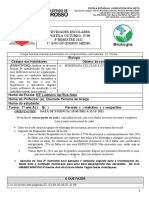Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
1º Livro
Încărcat de
EmílioMatos0 evaluări0% au considerat acest document util (0 voturi)
7 vizualizări20 paginiPrincípio de um livro
Drepturi de autor
© © All Rights Reserved
Formate disponibile
DOCX, PDF, TXT sau citiți online pe Scribd
Partajați acest document
Partajați sau inserați document
Vi se pare util acest document?
Este necorespunzător acest conținut?
Raportați acest documentPrincípio de um livro
Drepturi de autor:
© All Rights Reserved
Formate disponibile
Descărcați ca DOCX, PDF, TXT sau citiți online pe Scribd
0 evaluări0% au considerat acest document util (0 voturi)
7 vizualizări20 pagini1º Livro
Încărcat de
EmílioMatosPrincípio de um livro
Drepturi de autor:
© All Rights Reserved
Formate disponibile
Descărcați ca DOCX, PDF, TXT sau citiți online pe Scribd
Sunteți pe pagina 1din 20
PRÓLOGO
Por onde começar? A questão impõe-se, quando as
ideias esvoaçam contra as grades da nossa cabeça há tanto
tempo… Quando adiamos todos os dias, todas as horas, a sua
libertação…
Todos os dias, os “demónios do tempo” têm ganho
as suas batalhas, fazendo com que não seja agora, já!
O “demónio da preguiça” é o mais forte, o que nos
faz adiar e trocar o que devemos fazer por coisas fúteis,
inúteis e sem sentido. Todos os dias, ele e os seus “amigos”
tentaram e conseguiram impedir-me de ter tempo para
libertar as minhas ideias aprisionadas.
O “demónio do medo” é outro dos mais fortes: ele
faz-nos sentir a insegurança de partilhar com os outros o
nosso espaço, os nossos pensamentos, as nossas palavras.
Está sempre a sussurrar aos nossos ouvidos: “…vão rir-se de
ti… ninguém vai dar importância… podes dar erros… não
sabes escrever… não vais conseguir… há muito quem escreva
melhor…”. Com estas palavras enganosas, enfraquece a
nossa vontade e vence-nos sem esforço, só porque lhe
damos ouvidos.
Outro desses energúmenos é a distração. Esta não é
um “demónio” isolado, é uma “Legião”. O computador, esse
mesmo instrumento que uso para libertar estas palavras,
tem sido a minha cela e a minha masmorra em demasiadas
horas e dias da minha vida. Foi, demasiadas vezes, a porta de
entrada dessa legião de distrações onde nos perdemos e
deixamos de ser donos do nosso pensamento, tornando-nos
escravos não sei bem de quê. Nesse caso, o demónio sou eu,
porque não usei devidamente aquilo que não passa de um
instrumento. A minha sede de distração é a causa de tanta
perda de tempo…
O trabalho, não sendo algo de “mau”, também tem
sido desculpa para adiar o que hoje começo. Uma falsa
desculpa, eu sei. Muitas vezes me meti em trabalhos – passo
a expressão – porque queria manter a minha cabeça ocupada
com outras coisas, para calar esta voz que oiço há tanto
tempo a gritar: escreve!
De toda esta guerra, depois de tantas batalhas
perdidas, cheguei a uma conclusão: se tantos são os
obstáculos, tantas são as forças que me tentam demover,
então é importante e é bom o que quero dizer. Se há forças
que não querem ver as minhas palavras em liberdade, é
porque, na verdade, têm medo de as ouvir, ou de as ver a
esvoaçar em livros e jamais presas na minha cabeça. Têm
medo que outros, se revoltem e libertem também as suas
palavras, como tantos o fizeram antes com coragem.
A justiça impõe-se. Hoje tomei uma decisão: não
adiar mais a libertação das palavras. Vou juntar-me ao grupo
de homens e mulheres das “palavras livres”. Todos os dias,
vou dedicar algum do meu tempo livre a ganhar esta luta.
Tenho que libertar o próprio tempo das garras desses
“demónios”, esses “ladrões do tempo”. E começarei
justamente por aqui: o que nos rouba o tempo ou aquilo em
que desperdiçamos o nosso tempo.
I
O Tempo
“O tempo é uma ilusão:
O passado é apenas memória
O futuro é imaginação
E o presente é este instante
Que passa por nós
Entre aquilo que já foi
E aquilo que há de vir.”
Estas palavras não lhe saiam da cabeça. Desde
aquele dia em que se perdera no meio do Alvão… Aquela
estranha tempestade… Aquela casa entre os rochedos…
Aquele velho, misterioso pastor de sonhos e de nuvens…
Ainda hoje não sabia se tinha sido um sonho…
Mas ele tinha aquele pedaço de papel, qual
pergaminho inexplicável e recordava-se, agora com uma
certa nostalgia daquela estranha experiência…
Tudo estava agitado entre as penedias. O vento
corria como se não houvesse amanhã, enquanto fustigava
giestas e torgas com bátegas de neve e invernia. As nuvens,
empurradas nesta marcha, corriam em novelos de cinza
escuro. O dia, já a esmorecer, anunciava uma noite de
pesadelo.
Só um louco se atreveria a palmilhar aquele calvário
frio e escuro. A serra do Alvão conseguia ser assustadora na
fúria dos elementos, mas não deixava de manifestar uma
beleza agreste e selvagem, como se os rochedos fossem
almas de primordiais guerreiros, erguidos contra as lanças do
tempo. O murmúrio entoado pela vegetação desgrenhada ao
vento, apesar de sinistro, tinha algo de transcendente no seu
canto.
Logo depois de ter almoçado, longe daquele cenário
assustadoramente transcendental, recebera um pedido de
assistência técnica no parque eólico. Como engenheiro
eletrotécnico, era bem pago para cuidar daquela floresta de
gigantes quixotescos a esbracejar dia e noite numa luta
incessante para cortar o vento com as suas enormes espadas
brancas.
Desta feita era a torre cinco parecia ter adormecido.
Nem sinal no sistema de telemetria e supervisão online.
Entrou na sua pick-up e seguiu de Vila Real, pela estrada de
Lamas d’Olo chegando à barragem do Alvão, quase no cimo
da serra.
Naquela tarde de fins de outono apetecia-lhe ficar ali
a recordar os longos passeios e encontros, embalados pelo
sereno borbulhar da rebentação nas rochas graníticas da
margem. Mas logo se despediu desse lugar, com todas as
recordações afundadas sob as águas do tempo. Voltou à
direita, deixou o asfalto e embrenhou-se nas serranias, por
uma estrada de terra batida a serpentear entre pinheiros,
penedos e lama.
Algo de estranho se passava por cima da sua cabeça.
O que há uns minutos parecia uma tarde soalheira e
convidativa, enchia-se de sombras escuras e ameaçadoras,
em correria contra a montanha. Aquele lugar era um mundo
à parte, com uma personalidade própria e um
temperamento imprevisível. Nunca se sabia com o que se
podia contar. Era melhor despachar-se, a coisa estava a ficar
feia. À medida que subia, o céu carregava-se de nuvens em
correria endiabrada. Quando chegou ao centro de comando
controlo dos aerogeradores, as primeiras gotas de chuva
caiam já no para-brisas. Estacionou à entrada e saiu
apressado pelos empurrões do vento. Acedeu ao edifício
pela entrada de serviço, da qual, por obrigação das suas
funções, guardava uma cópia da chave.
Todo o complexo era automatizado e podia ser
gerido de casa com um simples portátil e acesso à rede.
Contudo, em períodos regulares e situações pontuais era
imperioso certificar-se pessoalmente que tudo estava a
rodar em condições. Esta era uma dessas situações. Um
aerogerador não podia simplesmente evaporar-se, devia ser
alguma falha nos aparelhos de medição. Mas, tanto quanto
os seus olhos podiam ver, estava tudo funcional, à exceção
daquela torre. Onde era suposto aparecerem os valores
medidos pelos instrumentos da torre, apenas uma única
palavra: “desconhecido”.
Lá fora, um nevoeiro agreste tinha conquistado a
serra. Por mais desagradável que isso lhe parecesse, tinha de
ir ao local e averiguar a situação.
Eram quatro horas da tarde e parecia noite. Nem
com a iluminação do veículo conseguia ver mais que uma
nesga de terreno à sua frente. A via de acesso, apesar de
recente, acusava os embates das intempéries extremas. Aqui
e além, alguns buracos de charcos e pedregulhos arrastados
faziam abanar a carrinha. Mesmo em terra plana, os abanões
continuavam, desta feita causados pelo vento, cada vez mais
agitado.
Perdera de vista o edifício do centro há já uns bons
dez minutos. Aliás, com aquele tempo bastou-lhe afastar-se
algumas dezenas de metros perder qualquer referência de
localização. Devia estar agora a uns 3 km mas parecia
perdido. Tinha já passado quatro das torres, mas naquelas
condições, não tinha mais de 10 metros de visibilidade. Para
cúmulo da situação, parecia estar muito mais frio lá fora, a
julgar pelo vapor que se colava aos vidros adensando ainda
mais o nevoeiro.
Então o inesperado aconteceu… Uma súbita
escuridão vinda do poente envolveu tudo ao seu redor numa
noite repentina e avassaladora. Os uivos de vento
carregaram no ar o veículo que conduzia, durante o que
pareceu uma eternidade. Talvez dez segundos de voo, se
assim lhe podemos chamar, deixaram-no totalmente
desorientado. A sua última lembrança consciente foi de um
estrondo descomunal, o estilhaçar de vidros e a chapa a
amolgar entre gemidos férreos, enquanto se sentia rolar
como uma bola de bowling.
Quanto tempo passaria? Não podia calcular…
acordou com a água a bater-lhe na cara, em chicotadas
geladas que invadiam o que restava do habitáculo por uma
frincha poucos centímetros na porta amolgada do seu lado.
Tremia com o frio e com a adrenalina do medo que ainda lhe
corria nas veias. Tentou verificar o quanto estava inteiro.
Podia mexer-se bem, não fosse o cinto de segurança que o
constrangia. À medida que recuperava a consciência da sua
situação percebia porque tinha alguma dificuldade em
movimentar-se: estava tudo ao contrário, devia ter capotado
algumas vezes naquele carrocel de vento. Destravou o cinto
de segurança quase pelo tato, já que o lusco-fusco daquele
anoitecer não lhe permitia usar os olhos, ainda atordoado
pelos recentes acontecimentos. Embateu com a cabeça no
tejadilho amolgado e pareceu-lhe ver um relâmpago, apenas
na sua cabeça. Seria irónico não ter sofrido um arranhão com
o seu acidentado voo e partir agora o pescoço ao tirar o cinto
de segurança. Teve sorte, apenas arranhou a testa.
A porta não abria, deformada pelo choque da queda.
A custo, empurrou com os pés o vidro lateral até ele
estilhaçar sob a força das suas pernas. Deslizou para fora dos
destroços, sem se aperceber muito bem do local onde tinha
caído. Meio tonto, conseguiu erguer-se e dar uns passos
cambaleantes. Só então se apercebeu da sua sorte: o veículo
terminou a sua atribulada aterragem a escassos centímetros
da beira de um rochedo cuja altura não conseguia avaliar
naquele exato momento porque apenas vislumbrava os
primeiros metros do que podia muito bem ser um abismo.
E agora? Passar a noite naquele lugar e naquelas
condições seria um suicídio por hipotermia. Tinha de
alcançar o centro de controlo e pedir ajuda via rádio, já que
o seu telemóvel se tinha praticamente desintegrado na
centrifugação da queda e a comunicação da carrinha estava
tudo menos operacional.
Primeiro tentou localizar a via de acesso do parque
eólico. Apercebeu-se que o incidente o tinha feito descer
uma boa centena de metros desde a espinha dorsal do
monte onde circulara. Caminhava com extremo cuidado,
entre aquilo que lhe pareciam garras cortantes. Os incêndios,
que tinham lavrado naquele local há dois anos, tinham
deixado as carcaças carbonizadas das torgas ainda
enraizadas, com ramos partidos e duros que podiam perfurar
qualquer parte do corpo com a facilidade de um sabre de
guerra. Os tojos que, entretanto, cresceram das cinzas
revelavam toda a aspereza dos seus espinhos. Mesmo com
cuidado, não evitou alguns arranhões e cortes superficiais
enquanto se esforçava por perceber o terreno que pisava.
Sabia apenas que estava a subir no meio da noite que caía.
Após alguns minutos na sua caminhada ascendente
encontrou um caminho. Não era a via de acesso que
desejava. A adaptação dos seus olhos à fraca luminosidade
que restava do dia permitiu-lhe ver o que parecia um
daqueles caminhos primitivos, com sulcos das rodas de
incontáveis carros de bois. Decidiu seguir por ali, havia de
chegar a algum lugar. Afinal era para isso que os caminhos
serviam.
Do pouco que lhe era dado ver, não conseguia
reconhecer aquele caminho que parecia saído do nada. Por
entre vultos de névoa e penedias, já mal conseguia ver.
Caminhou durante o que lhe pareceram horas naquela via
dolorosa. Na verdade, só um louco se atreveria a palmilhar
aquele calvário frio e escuro. Esse frio que crescia dentro e
fora de si.
Pareceu-lhe sentir flocos de neve a bater na cara.
Não os podia ver, mas sentia-os como agulhas geladas.
Buscava uma luz, um sinal de civilização algures na distância,
mas nem sinal das luzes de sinalização aérea das torres
eólicas. Parecia que toda a luz artificial se havia extinguido
com o sopro do vento.
Por fim, uma luz trémula pareceu materializar-se no
seu horizonte visual. Parecia estar a umas centenas de
metros. À medida que se aproximava, os contornos de uma
janela tomavam forma. Diria tratar-se de uma janela
iluminada pelo fogo de uma lareira e o que pareciam ser
algumas velas. Um pequeno casebre encaixado entre duas
rochas mais altas, com tradicional telhado de colmo, tão
típico das aldeias serranas. Não se lembrava de alguma vez
ter conhecido aquele sítio, mas também nunca havia seguido
aquele caminho. Tudo parecia de outro tempo. De qualquer
das formas sentia o calor a crescer dentro dele à medida que
se aproximava, como se a fogueira o aquecesse à distância.
A mente humana é na verdade muito poderosa. Até as suas
forças pareciam multiplicar-se na ânsia de chegar, bater à
porta e pedir ajuda. Se o deixassem, pernoitaria ali até ao
amanhecer. Sim, porque alguém estaria de certeza a
aquecer-se à frente daquela fogueira…
A poucos metros da casa começou a sentir que algo
lhe perturbava a visão, como se a janela iluminada pela
chama da fogueira se transformasse num caleidoscópio de
múltiplos reflexos em simetrias estranhas. Uma tremura nas
pernas quase o fez ajoelhar-se antes de chegar à porta de
madeira velha e meio carcomida pelo tempo. Conseguiu
extrair de dentro de si, como do mais profundo dos poços,
uma única palavra: “Ajudem-me!”. Enquanto se agarrava ao
batente da porta desfaleceu e caiu prostrado…
Sentia-se agora mais confortável enquanto tentava
despertar. O calor aconchegante fê-lo pensar que iria
acordar em casa e descobrir que o pesadelo tinha terminado.
Mas ao abrir os olhos percebeu que não era a sua casa.
Estava deitado num escano de madeira, embrulhado numa
grossa manta de lã, em frente a uma lareira quase primitiva
com dois pequenos potes de ferro. Ergueu-se em
sobressalto, ansioso por perceber como fora ali parar, e o
que significava exatamente “ali”.
– O senhor está melhor?
A voz surpreendeu-o como se viesse de um dos
rochedos que ladeavam a casa e lhe serviam de parede. O
homem aparentava ser já idoso, com barba grisalha de
palmo e meio e cabelo branco pelos ombros, com se de lã de
ovelha se tratasse. Não era calvo, de rosto longo e
preenchido de rugas profundas gravadas nas faces e na testa
como sulcos rochosos.
Alex parecia ter perdido a voz de tão surpreendido.
Mas afinal não esperava ele encontrar alguém que o
ajudasse? Porque estava então surpreendido?
– Tem de comer. Está muito fraco…
O velho apontava para uma mesa de madeira tão
rugosa quanto o seu próprio rosto. Sobre a mesa um prato
de barro preto cheio de sopa bem cheirosa, que devia ter
saído daquele pote ainda a borbulhar fumarolas junto das
chamas da lareira. A colher, também de loiça, apesar de
limpa, parecia tirada de uma escavação arqueológica
diretamente para mesa. Sentou-se e provou o melhor dos
manjares que um rei poderia desejar. A sopa, simples e
saborosa, parecia-lhe divinal. Em colheradas ruidosas sorveu
o conteúdo do prato num abrir e fechar de olhos.
Havia algo de profundamente paternal e bondoso
naquele homem, quase como se sempre o tivesse conhecido
e cuidado dele. Alex rompeu as correntes que lhe pareciam
prender as palavras dentro da boca para dizer “Obrigado!
Estava muito Bom”. Um agradecimento que lhe saía da
mesma profundidade de onde viera o pedido de ajuda que
fizera do lado de fora da porta.
– Ora essa! Enquanto está por comer chega sempre
para mais um. – Disse, com um sorriso bonacheiro, o velho
ainda sem nome. Sim, devia ter um nome, mas ainda não o
conhecia.
– Quem é o senhor? Para eu saber a quem estou a
agradecer.
A pergunta de Alex ficou no ar durante uns segundos,
como o sopro de vapor que saía do pote da sopa.
– Nomes são palavras que nos fazem lembrar
pessoas. Não adianta dizer-lhe um nome se não conhecer a
pessoa que o usa.
Mas que raio de resposta tão desconcertante… E, ao
mesmo tempo, sábia. Estava perante alguém bastante dado
a filosofias. Só esperava que não fosse um louco perdido na
montanha. Bem, afinal, tinha-o ajudado, tinha-lhe oferecido
do melhor da sua humilde habitação. Há algo de louco nessa
atitude? Se calhar não estava habituado a receber muitas
visitas e não queria falar de si. Resolveu mudar de estratégia.
– Eu chamo-me Alexandre, moro na cidade e
trabalho no parque eólico. Tive um acidente, não sei bem
como… Quando ia inspecionar um dos geradores. Agora a
minha carrinha está de rodas para o ar no meio da serra, sem
comunicações e eu, quase por milagre, estou aqui não sei
bem onde, mas bem…
Em traços muito gerais, este era o quadro da
situação mais breve que lhe podia pintar. Achou que seria
mais sensato dar-se a conhecer e abrir a porta da sua pessoa,
já que o velhote lhe tinha aberto primeiro a porta da sua
casa.
– Alexandre? Esse é um nome que muitos
escolheram para os seus filhos. Muitos foram grandes
homens…
Estava cada vez mais intrigado. Aquele homem da
serra parecia muito culto para quem habitava longe de tudo.
– Vive aqui há muito tempo? Nunca me lembro ter
avistado esta casa.
Alex tentou indagar, com muito receio de levar com
mais uma resposta imprevisível. Só então reparou que o
velho não tinha relógio algum, nem no pulso, nem em sítio
qualquer da sua habitação rochosa. Também não conseguiu
descortinar um calendário. O homem parecia viver alheado
do tempo.
A resposta, tal como esperava, nunca apressada,
seguiu o mesmo padrão das anteriores, num misto de
desconcerto e sabedoria milenar.
– Tempo? A vida de uma pessoa não se mede em
tempo. Isso é para os que querem controlar a vida. Mas não
podemos controlá-la, sabe? Ela puxa-nos para a existência,
empurra-nos e leva-nos sempre para a frente, mesmo
quando só vemos noite escura, mesmo quando parece que
não há saída…
– Perdoe a minha curiosidade, mas então, o que faz
aqui entre estes montes?
Alex começava a gostar da sensação de
imprevisibilidade, surpresa e descoberta deste diálogo. O
velho era como o tempo da montanha, sempre inesperado.
– Vivo! Simplesmente. Mas creio que se refere àquilo
a que me dedico. Sou pastor.
A primeira parte da resposta fê-lo pensar que,
realmente, andamos tão ocupados a fazer tantas coisas que
nos esquecemos simplesmente de viver. A segunda parte da
resposta também o deixou curioso. Alex conhecia bem o
cheiro dos rebanhos. Quando criança conhecera os pastores
da aldeia dos seus pais, Cravelas. Correra muitas vezes pela
encosta nascente do Alvão, ao ritmo dos chocalhos de
cabritos e ovelhas. O cheiro, por vezes não muito agradável,
estava alegremente associado a correrias e saltos entre
giestas e urzes floridas, a jogar às escondidas e às batalhas
dos castelos imaginários da sua infância. Recordou-se com
felicidade desses momentos, mas, o cheiro dos rebanhos não
o sentiu em lado nenhum, nem no velho nem na casa, nem
mesmo antes de entrar naquele lugar.
– Sei o que está a pensar… – Desta vez nem tinha
esperado pela pergunta – Onde estão as minhas ovelhas?
Onde está o meu rebanho?
Sim, era realmente isso. Todo o pastor tem um
rebanho que recolhe pela noitinha no redil, junto da sua
casa, mas nem um balido se ouvia. Só faltava o homem dizer
que eram ovelhas imaginárias. Pelo rumo que a conversa
estava a tomar não se admiraria nada com uma resposta
dessas.
– Tenho dois rebanhos, sabia? – A resposta era tanto
interrogativa como enigmática. Após uma pausa de alguns
segundos continuou – Um está lá fora, no céu… O outro está
aqui, sempre comigo.
Agora a conversa estava mesmo a tomar contornos
surreais, para não dizer irracionais. Não cabia em si de
curiosidade por saber o que ia sair dali. Das duas uma, ou o
velho era louco, ou era poeta e estava a usar alguma espécie
de sentido figurado. Por uma questão de respeito por quem
lhe havia salvado a vida, decidiu inclinar-se mais para a
segunda hipótese. De alguma forma, as palavras que
escutava não pareciam totalmente descabidas, dependendo
do que viesse a seguir.
– O primeiro rebanho, o do céu, é feito de nuvens. O
segundo é feito de sonhos…
Definitivamente, só podia ser poeta. A falar daquela
maneira não podia levar à letra todas as palavras que
escutava da boca do homem. Porém, o queixo caído de Alex
denunciou o seu profundo espanto e incapacidade de
questionar uma resposta que voava para os reinos da
fantasia. Sonhos e fantasias não se questionam, são
simplesmente o que são. Podem ter uma lógica transparente
e clara como a água de uma nascente ou ser tão irreais que
desafiam o pensador mais arrojado. São simplesmente livres,
simplesmente sonhos. Esta situação encaixava-se
perfeitamente na segunda categoria.
– Surpreendido? Não sou um pastor comum…
escolhi os meus rebanhos quando era ainda criança. Olhava
para o alto da serra e via, tantas vezes, pequenas nuvens
brancas a percorrer as encostas. Queria um rebanho assim.
Um rebanho que os lobos não pudessem comer. Um rebanho
sempre renovado, com ovelhas negras e brancas, mansas e
bravias. Um rebanho que tanto percorria languidamente o
verde dos vales e dos ribeiros como saltava alegre sobre os
montes mais altos. Um rebanho que dá a lã mais branca,
quando chegam os dias de inverno e dá de beber aos campos
nos dias sedentos de verão. Um rebanho que pode cobrir o
céu, percorrer o mundo inteiro, mas que acaba sempre por
voltar.
Os olhos do velho pareciam cintilar como estrelas,
enquanto falava das suas ovelhas celestes. Transpirava um
misto de felicidade e de loucura nas suas palavras. Mas, o
entusiasmo era o de uma criança sonhadora. Alex recordou-
se dos seus sonhos e aventuras de criança. Onde estavam?
Tinha-os esquecido durante tanto tempo que julgava terem
morrido. Aquele homem, ali, na sua frente, aparentemente
velho, parecia uma criança a sonhar e a saltar rochedos com
a agilidade de um cabrito. Podia sentir a felicidade e o
entusiasmo da vida a irradiar dele como o calor que a
fogueira irradiava das chamas. E ele, Alex, sentia-se mais
como as cinzas, inerte e absorvido em tanta coisa sem
sentido… será que ainda existia dentro dele uma réstia de
brasa incandescente, perdida nos escolhos da sua vida.
Sentia falta de redescobrir a vida com os olhos de uma
criança. Seria irónico se o fizesse pelas palavras e pelo
entusiasmo de alguém de devia ter, pelo menos, mais trinta
anos que ele.
– E o segundo rebanho, o dos sonhos?
– Esse é ainda maior, mas cabe todo dentro de mim.
Por vezes, quando aparece alguém, deixo fugir algumas
ovelhas em palavras que parecem loucas. É engraçado vê-las
a saltar. Mesmo agora, estou a ver as que saíram pela minha
boca e andam à volta da sua cabeça, à espera que as deixe
entrar. Algumas já saltam lá dentro. Acho que estão a partir
a loiça toda, a rebentar com as correntes e as cercas que
prendem e limitam a imaginação. Sim, porque o seu pasto,
de esperança e vontade, cresce nos prados da imaginação.
Se a imaginação se tornar um deserto, de que se alimentará
o rebanho dos sonhos? Se os sonhos morrerem dentro de
nós como poderemos saber que estamos vivos. Não seremos
muito diferentes daquelas rochas que estão aqui ao nosso
lado. Na verdade, sem sonhos, teríamos menos vida que
elas.
Não conseguiu assimilar verdadeiramente o que
ouvia. Ele, como muitos dos que se dizem adultos, tinha
deixado morrer o seu rebanho de sonhos. Uma após outra,
todas as suas ovelhas tinham morrido no matadouro da
rotina, famintas de imaginação, sedentas esperança no
futuro. Na atualidade não era mais que um androide
programado que obedecia sem alternativa e cumpria
instruções sem questionar. Estava totalmente embrenhado
num estilo de vida que, no fundo, não lhe permitia viver.
Onde estava a sua liberdade? Tinha desaparecido quando
esqueceu os seus sonhos… O mais assustador desta situação
era o entorpecimento da sua consciência. Parecia
anestesiado, apático, amorfo… Sem vida... Por algum motivo,
a mulher se tinha separado dele e levado o filho de ambos,
com apenas cinco anos. Já lá iam dois anos, desde que
tinham chegado à conclusão de não existir futuro para eles
enquanto família… Ela partiu para a Suíça com o pequeno
Paulo, inconsolável pela separação do pai. Agora, Alex
descobria que as lágrimas que choramos são, na verdade, o
sangue dos sonhos quando morrem. A maior tristeza é sentir
um sonho morrer. Muito maior ainda, quando esse sonho é
partilhado e dá origem uma nova vida, que se alimentava
desse sonho.
– Porque chora?
Alex pareceu acordar sobressaltado. As lágrimas
corriam-lhe pela cara como orvalho nas folhas das árvores.
Há mais de um ano que não chorava. Sempre o educaram
para esconder as lágrimas como sinais de fraqueza. Mas os
que afastam as lágrimas são os verdadeiros cobardes. Os que
choram são muito mais corajosos. Agora que chorava, sentia-
se mais forte do que antes. O que escutara fazia todo o
sentido do mundo. O que descobrira fazia mais sentido
ainda. Sentiu que poderia ir muito mais longe. Ainda podia
sonhar…
– Choro porque descobri que matei e deixei matar os
meus sonhos… Choro porque não posso viver sem eles.
– Essas lágrimas podem fazer a esperança renascer.
Como a chuva das minhas nuvens reverdece os pastos das
montanhas, essas pequenas gotas transportam sementes
dos sonhos que ao cair as geraram. As ovelhas das minhas
palavras partiram a cerca que prendia a sua imaginação.
Quando se viu livre, a imaginação fugiu para o lago da
memória e bebeu das recordações de um passado em que os
sonhos ainda existiam. O resto é consigo. Eu escolhi este
caminho e encontrei o meu rebanho de nuvens. Aqui em
cima estou mais perto delas e sou feliz. Muitos dirão que sou
louco. Mas louco é não viver e não descobrir nada de novo
todos os dias.
Se estivesse algures nos himalaias diria ter-se
encontrado com o Dalai Lama. Parecia uma torrente de
sabedoria que o inundava até transbordar.
– Agora acho que devia tomar este chá quentinho e
dormir mais um pouco para de manhã voltar ao seu caminho.
Mas, antes de dormir, quero dizer-lhe só mais uma coisa. –
Aproximando-se de Alex, o velho disse-lhe, em jeito de
segredo – Cuidado com os lobos que devoram os sonhos.
Eles já o atacaram uma vez. As pessoas sem sonhos são mais
fáceis de controlar. Os poderosos do mundo querem criar
uma multidão de pessoas sem sonhos, sem esperança, sem
fé. Porque só assim têm poder sobre o mundo. Mas o
importante da vida não é o poder. A vida de um homem
mede-se pela extensão dos sonhos que realizou e pelos
sonhos que semeou na vida dos outros. Eu estou a fazer a
minha parte. É preciso que faça a sua…
Alex bebericava o chá, do qual não distinguia o suave
sabor, enquanto digeria aquele aviso que agora fazia pleno
sentido. Era ao mesmo tempo um aviso e um empurrão.
Precisava daquele momento para reencontrar o caminho da
sua vida.
Sentou-se de novo no escano de madeira e
contemplou as chamas da fogueira.
– Vá, agora durma… Um novo dia vai
começar…
Sentiu um peso crescente nas pálpebras que
acabaram por fechar-se depois de algumas piscadelas
dormentes. Tinha a cabeça a fervilhar. Parecia-lhe ver as
ovelhas de nuvem a saltar no alto da serra. Não que
precisasse de contar carneirinhos para adormecer porque já
dormia a sono solto.
Acordou com o sol a bater-lhe na cara, mesmo de
frente. Olhou para cima e viu apenas o céu azul. Onde estava
a casa e o velho? Restava apenas ele. Mas sentia-se
confortável. Ainda estava enrolado na manta de lã. Entre
duas pedras, fumegava um carvão da fogueira que
recordava. Mas a casa não estava lá. Ficou desconcertado
com a mistura de sonho e realidade. Levantou-se e percebeu
que tinha dormido encostado a uma rocha côncava que o
resguardara contra a intempérie. Mas, se tudo o resto tinha
desaparecido e poderia muito bem ter sido fruto da sua
imaginação, a manta de lã continuava à volta dele, a protegê-
lo do frio da manhã.
Viu ao longe, para sul, uma das torres eólicas e
reconheceu o caminho a seguir. Começava a dar os primeiros
passos para se afastar dali quando avistou, debaixo de uma
pedra não maior que a sua mão, uma ponta de papel
acastanhado tempo. Levantou a pedra e leu as palavras nele
escritas a carvão:
“Guarde essa manta consigo. Foi feita com a lã das
minhas ovelhas. É um presente. Os sonhos são tão
verdadeiros como tudo na vida.”
No fundo, podia ler-se o nome que não lhe
dissera:
“Alvão, pastor de sonhos e de nuvens!”
---------
Vila Real, 20 de Junho de 2013
José Emílio Matos (Neves d’Alvão)
S-ar putea să vă placă și
- VertisDocument212 paginiVertisLeonardo VieiraÎncă nu există evaluări
- Apostila Tiro DefensivoDocument40 paginiApostila Tiro DefensivoIsaacpontes100% (2)
- Astrologia e Mitologia - Ariel Guttman e Kenneth JohnsonDocument13 paginiAstrologia e Mitologia - Ariel Guttman e Kenneth JohnsonAlmir Campos Pimenta50% (2)
- As Dez VirgensDocument34 paginiAs Dez Virgensgaby_marrie60% (5)
- O Que É Apometria e Qual Seu ObjetivoDocument16 paginiO Que É Apometria e Qual Seu ObjetivoESPACO HOLISTICO KUANÎncă nu există evaluări
- Ficha Alternativa D&D 5E - PT-BR (Editável)Document3 paginiFicha Alternativa D&D 5E - PT-BR (Editável)arthur seabraÎncă nu există evaluări
- Ficha de Aferição Da LeituraDocument4 paginiFicha de Aferição Da LeituraDavid Carpinteiro100% (2)
- 2.26 Versao Finalizada-Transporte Distribuicao 29-04-15Document60 pagini2.26 Versao Finalizada-Transporte Distribuicao 29-04-15nuncafalhaÎncă nu există evaluări
- Manual jkw5 Rev Nov 18 PDFDocument6 paginiManual jkw5 Rev Nov 18 PDFEnzio Jorge RicardoÎncă nu există evaluări
- 04.02 Fonte de Agua VivaDocument1 pagină04.02 Fonte de Agua VivaEmílioMatosÎncă nu există evaluări
- És A Senhora Da Terra e Dos Céus. A Serva Humilde de Deus. Envolve Este Mundo Com o Teu Amor E Cuida de Todos NósDocument1 paginăÉs A Senhora Da Terra e Dos Céus. A Serva Humilde de Deus. Envolve Este Mundo Com o Teu Amor E Cuida de Todos NósEmílioMatosÎncă nu există evaluări
- CaminhamosDocument1 paginăCaminhamosEmílioMatosÎncă nu există evaluări
- Cânticos Do Terço PDFDocument2 paginiCânticos Do Terço PDFAnaQuintelaÎncă nu există evaluări
- Recital de Natal 2019.ppsxDocument13 paginiRecital de Natal 2019.ppsxEmílioMatosÎncă nu există evaluări
- 617 O Templo de DeusDocument1 pagină617 O Templo de DeusFire_Încă nu există evaluări
- Nos Somos As PedrasDocument1 paginăNos Somos As PedrasJuan CarvalhoÎncă nu există evaluări
- Pastor de Sonhos e de NuvensDocument12 paginiPastor de Sonhos e de NuvensEmílioMatosÎncă nu există evaluări
- GacheDocument5 paginiGacheEmílioMatosÎncă nu există evaluări
- Izabel CavalletDocument82 paginiIzabel CavalletCarmen Lidia KollenzÎncă nu există evaluări
- O Livre ArbítrioDocument4 paginiO Livre ArbítriopcfiuzalimaÎncă nu există evaluări
- 11Document2 pagini11Diego CiênciaÎncă nu există evaluări
- Min Fin 816369Document28 paginiMin Fin 816369Eduardo Sebastiaõ Monteiro MonteiroÎncă nu există evaluări
- 1 Ano BiologiaDocument5 pagini1 Ano BiologiaCleonete F AraujoÎncă nu există evaluări
- Perfil Técnico Eco-Star Oxy-Brite LT - 19-01-2015 PDFDocument3 paginiPerfil Técnico Eco-Star Oxy-Brite LT - 19-01-2015 PDFMaykon AbreuÎncă nu există evaluări
- Mapa Der RodoviarioDocument1 paginăMapa Der RodoviarioghutenthagÎncă nu există evaluări
- Acadêmico - EddydataDocument1 paginăAcadêmico - EddydataLuis Eduardo CarloniÎncă nu există evaluări
- Cronograma Proerd 2023.2 002Document3 paginiCronograma Proerd 2023.2 002Janbrito212Încă nu există evaluări
- Histórico Escolar - Vinicius Costa de OliveiraDocument2 paginiHistórico Escolar - Vinicius Costa de OliveiraVinícius CostaÎncă nu există evaluări
- Poesia Acustica LetraDocument4 paginiPoesia Acustica LetraSaraÎncă nu există evaluări
- Dietas Com Diferentes Fontes de Fibra para Genatipos OvinosDocument166 paginiDietas Com Diferentes Fontes de Fibra para Genatipos OvinosRodrigo VolpatoÎncă nu există evaluări
- Sonhos - Helena Petrovna BlavatskyDocument19 paginiSonhos - Helena Petrovna Blavatsky777AprendizÎncă nu există evaluări
- Procedimento Operacional Padrão (UAN)Document16 paginiProcedimento Operacional Padrão (UAN)Juninho Ferreira TjsÎncă nu există evaluări
- Cavaleiros Teutônicos 10 FatosDocument20 paginiCavaleiros Teutônicos 10 FatosAlexandre MacielÎncă nu există evaluări
- As Parábolas de Jesus para Crianças Livro para ColorirDocument19 paginiAs Parábolas de Jesus para Crianças Livro para Colorirsouzawellinton026Încă nu există evaluări
- Artigo CbpatDocument10 paginiArtigo CbpatMyrela VieiraÎncă nu există evaluări
- Planejador Bora Organizar - Larissa Sassi - Agosto de 2021Document5 paginiPlanejador Bora Organizar - Larissa Sassi - Agosto de 2021Claudia MinaÎncă nu există evaluări
- Apostila de Medicina Nuclear 2014 PDFDocument51 paginiApostila de Medicina Nuclear 2014 PDFNathália CassianoÎncă nu există evaluări
- Um páSsArO cOM Um coRAÇãO de BúzioDocument9 paginiUm páSsArO cOM Um coRAÇãO de BúzioLeá CunhaÎncă nu există evaluări
- Os CavaleirosDocument8 paginiOs CavaleirosLucas VieiraÎncă nu există evaluări