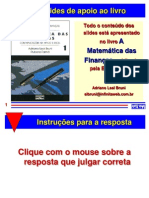Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Os Mercados Precisam Do Governo (Anarcocapitalismo)
Încărcat de
Renan Maciel0 evaluări0% au considerat acest document util (0 voturi)
11 vizualizări41 pagini.
Drepturi de autor
© © All Rights Reserved
Formate disponibile
PDF, TXT sau citiți online pe Scribd
Partajați acest document
Partajați sau inserați document
Vi se pare util acest document?
Este necorespunzător acest conținut?
Raportați acest document.
Drepturi de autor:
© All Rights Reserved
Formate disponibile
Descărcați ca PDF, TXT sau citiți online pe Scribd
0 evaluări0% au considerat acest document util (0 voturi)
11 vizualizări41 paginiOs Mercados Precisam Do Governo (Anarcocapitalismo)
Încărcat de
Renan Maciel.
Drepturi de autor:
© All Rights Reserved
Formate disponibile
Descărcați ca PDF, TXT sau citiți online pe Scribd
Sunteți pe pagina 1din 41
Introdução
Os mercados precisam do governo?
Praticamente todo economista acredita que sim.
Até os pensadores mais libertários sustentam que
os mercados necessitam do governo para
estabelecer as regras das trocas no mercado e
para impor essas regras. Como Milton Friedman
disse, “o governo é essencial tanto como um foro
para determinar as ‘regras do jogo’ quanto como
um árbitro para interpretar e impor as regras
adotadas” (Friedman, 1962: 15).
Os mercados, no entanto, podem ser
melhores na produção de instituições suas para o
cumprimento de normas do que pensamos. Os
economistas poderiam ter subestimado o poder e
a beleza dos mercados quanto a isso? A
importância dessa pergunta vai além da mera
importância hipotética. Pelo menos 10% dos
governos do mundo são classificados como
“fracos ou fracassados” (Foreign Policy, 2006).
Nesses países, o Estado é corrupto, frágil ou então
deficiente de tal maneira que cria condições
anárquicas (como no caso da Somália) ou “quase
anárquicas”. Os cidadãos não podem contar com
os juízes civis para executar contratos ou proteger
direitos individuais de propriedade. Além disso, a
atividade internacional do mercado, que agora
abarca quase um quarto do PIB mundial (Banco
Mundial, 2005), não tem nenhuma autoridade
supranacional abrangente para interpretar ou
impor acordos comerciais. Também nesses
mercados, não se pode contar com o governo
para criar ou impor as regras do jogo necessárias
para que os relacionamentos de troca prosperem.
Contudo, os mercados, tanto nos “Estados
fracos e fracassados” quanto internacionalmente,
florescem. A duradoura existência de mercados
vibrantes sob condições de carência completa ou
parcial de um Estado sugere que “regras do jogo”
privadas têm de ser possíveis sem o governo. Esse
capítulo examina essas regras, como elas surgem
e como são impostas. Investiga se poderia existir
algo como “leis da anarquia”. Considero duas
grandes áreas do direito: o direito comercial ou
contratual e o direito penal. A primeira parte
desse capítulo examina como o direito contratual
poderia ser proporcionado privadamente e
apresenta provas dessa possibilidade. A segunda
parte examina como o direito penal poderia ser
proporcionado privadamente. Diferentemente do
direito contratual, o problema do direito penal
sob a anarquia mal tem sido abordado. Além de
explorar essa questão teoricamente, também
considero provas da evolução espontânea do
direito penal sem o governo.
O dilema social implica a necessidade
do governo?
O argumento tradicional em favor do
governo está baseado na obra de Thomas Hobbes
(1651 [1955]), que, como se sabe, descreveu a vida
sob a anarquia como “solitária, ruim, detestável,
selvagem e breve”. A descrição de Hobbes foi
ulteriormente formalizada por especialistas em
teoria dos jogos como o dilema do prisioneiro, o
jogo clássico de conflito. Sem um órgão formal de
imposição, os indivíduos nesse meio não têm
nada que lhes impeça de roubar, fraudar e, em
geral, deixar de reconhecer os direitos de
propriedade dos outros. Como cada indivíduo
está em posição de ganhar mais espoliando seu
companheiro do que interagindo com ele
pacificamente, a sociedade acaba entrando em
uma “guerra de todos contra todos” em que cada
um fica em pior situação do que se tivesse
interagido pacificamente um com o outro. Essa
situação está retratada na Figura 1.
Os indivíduos podem seguir uma de duas
estratégias básicas ao lidar com os outros:
cooperar ou trair. A cooperação refere-se a
qualquer comportamento individual compatível
com os objetivos dos outros membros da
sociedade, como o comércio, o respeito aos
direitos de propriedade de outrem e assim por
diante. A traição refere-se à forma oposta de
comportamento. Aqui, um indivíduo age de um
modo que o beneficia à custa dos outros. A
fraude, o roubo e a violência física são exemplos
disso. Quando ambos os indivíduos cooperam,
ambos recebem α. Se um coopera e outro não, o
indivíduo cooperativo de quem se tira proveito
recebe θ, ao passo que o traidor recebe γ. Se
nenhum indivíduo coopera, ambos ganham
menos do que poderiam por meio da cooperação
e cada um recebe apenas β. Nesse jogo, γ > α > β
> θ, onde 2α > (γ + θ) > 2β, o que quer dizer que a
cooperação mútua é socialmente eficiente.
O equilíbrio excepcional obtido após uma
rodada do jogo consiste na traição dos dois
indivíduos. Falando rigorosamente, a lógica do
jogo sugere que no estado de natureza os
indivíduos nunca cooperarão e sempre atacarão
uns aos outros. Essa situação – o equilíbrio de
Nash da pura estratégia do jogo – é claramente
dominada, em termos do Ótimo de Pareto, por
aquela em que ambos os agentes comportam-se
pacificamente um em relação ao outro. De acordo
com esse raciocínio, para impedir a degeneração
da interação social e facilitar a cooperação, da
qual a troca no mercado é uma forma, a
sociedade precisa de uma autoridade formal que
crie regras e imponha-as – um governo. Sem essa
autoridade, os integrantes da sociedade ficam
presos ao equilíbrio de mútua traição; não há
comércio, mas apenas a guerra. Com base nisso, é
fácil entender por que todos, de Thomas Hobbes
a Milton Friedman, consideram o governo
indispensável para que o mercado funcione.
Tanto observações despreocupadas quanto
pesquisas recentes, contudo, sugerem que o
resultado estritamente fundamentado na teoria
dos jogos dessa situação é severo demais. Onde a
imposição formal está ausente, os agentes não
tentam sempre e imediatamente matar uns aos
outros. A presença da anarquia internacional, por
exemplo, não resultou na adoção por todos os
países de uma política de atacar primeiro,
levando a uma guerra perpétua que se encerra
com a aniquilação do mundo. Na verdade, a
maioria dos países, na maior parte do tempo, está
em estado de paz, não de conflito. De maneira
semelhante, entre os povos primitivos, a anarquia
não levou a lutas intermináveis e à inexistência
de comércio (Leeson e Stringham, 2005). Pelo
contrário, em sociedades primitivas sem Estado,
assim como internacionalmente, um comércio
substancial e a coabitação pacífica prevaleceram
predominantemente. A representação tradicional
da anarquia na Figura 1 prognostica
incorretamente o resultado da ausência de Estado
porque deixa de levar em conta instituições de
governança além do governo. Embora seja
verdade que, na falta de toda e qualquer lei, a
sociedade pode sucumbir, como discuto abaixo,
evidentemente não é verdade que, na falta do
governo, a sociedade careça de regras.
Isso realmente não deveria ser tão
surpreendente, considerando as suposições sobre
os indivíduos que o jogo da Figura 1 faz, a saber,
que eles são racionalmente egoístas. Isso, afinal, é
o que leva os agentes a trair no jogo em primeiro
lugar. Os indivíduos são capazes de calcular suas
recompensas esperadas e, com base nesse cálculo,
ver que, não importa o que os outros possam
fazer, ficam em melhor situação ao trair na sua
interação com os outros. O egoísmo racional, no
entanto, é uma faca de dois gumes. Ao mesmo
tempo em que permite que os indivíduos façam
os cálculos que os encorajam a trair na ausência
de imposição estatal, ele também os encoraja a
desenvolver soluções privadas ao dilema social
que, do contrário, seria um obstáculo para a sua
habilidade de conquistar os ganhos das trocas.
Enquanto atores irracionais ou generosos
poderiam ficar inertes e deixar a ausência do
governo impedi-los de lucrar, atores racionais e
egoístas não fariam isso. Assim, o egoísmo
racional é tanto a causa como a solução do
problema que Hobbes identificou. É claro, o
reconhecimento dessa possibilidade está longe de
demonstrar que soluções privadas vão, de fato, se
desenvolver. Para isso, precisamos definir como
os indivíduos poderiam empreender o
estabelecimento e a imposição de regras privadas
– leis – que sustentassem a cooperação social e as
trocas sob a anarquia, e determinar se, de fato,
alguma dessas regras surgiu sem o governo. Volto
a essa tarefa abaixo.
Direito comercial autoimposto
Não é especialmente difícil imaginar o
desenvolvimento do direito comercial,
principalmente no tocante a acordos contratuais,
sem o governo. No nível mais fundamental, ele
exige regras contra a fraude e violações
contratuais. Como Berman (1983), por exemplo,
salienta, o que é agora o direito comercial
entesourado pelo Estado nos países de tradição
jurídica britânica é verdadeiramente apenas o
produto de regras regulando as trocas que
existiam no direito costumeiro muito antes de o
governo envolver-se com ele. Hayek (1960, 1973) e
outros igualmente enfatizaram que a maioria das
leis comerciais “criadas” no âmbito do governo
existia, na verdade, antes dos tribunais do Estado.
De fato, ao menos nos países de tradição jurídica
britânica, os juízes do Estado eram inicialmente
vistos “descobrindo” princípios legais pré-
existentes que regulavam interações comerciais,
assim como outras interações, e não criando essas
regras do nada. Assim, praticamente ninguém
nega que regras amplas delineando condutas
legítimas e ilegítimas podem surgir e de fato
surgiram para regular o comércio sem o governo.
Provavelmente por essas razões, a
determinação de regras comerciais não tem sido
vista como a objeção principal e mais importante
ao funcionamento dos mercados sob a anarquia.
Em vez disso, a imposição dessas regras sem o
governo tem recebido o foco da atenção que trata
da ordem comercial sem o Estado. Regras
comerciais, como aquelas contra a fraude e o
descumprimento de contratos, podem surgir sem
o governo. Mas como, na ausência de imposição
estatal, essas regras poderiam ser impostas?
Uma literatura em expansão demonstra a
funcionalidade de instituições privadas de trocas
auto-impostas onde o governo está ausente (cf.,
por exemplo, Ellickson, 1991; Greif, 1993). Na
maioria desses casos, a punição multilateral em
conjunto com a sombra do futuro são usadas
como substitutos da garantia estatal de
cumprimento de acordos comerciais. Por
exemplo, imagine uma versão do jogo da Figura 1
em que a cooperação refira-se ao cumprimento
das suas obrigações sob um contrato com o outro
jogador e a traição refira-se ao descumprimento
desse acordo ou, de alguma outra maneira, à
violação de suas cláusulas. Há muitos exemplos
disso. Acordos de crédito são um exemplo. Na
ausência de qualquer mecanismo institucional de
governança, os devedores não têm nenhum
incentivo para restituir seus credores. Após o
recebimento de seu crédito, sua recompensa é
maximizada com a recusa à restituição – uma
forma de roubo. A fraude é outro exemplo disso.
Na ausência de qualquer mecanismo de garantia
de cumprimento dos contratos, os vendedores
que concordarem em oferecer aos compradores
algum produto de qualidade, digamos, X têm um
incentivo para aceitar pagamentos de
compradores apenas para oferecê-los um produto
que, após uma inspeção pelos compradores, é de
uma qualidade inferior, y. Percebendo que essa é
a estratégia dominante do devedor ou do
vendedor, os credores não oferecerão crédito e os
compradores não selarão contratos com os
vendedores, levando o mercado a encolher-se e
os ganhos do comércio a ficarem inexplorados.
Se a interação entre um comprador e um
vendedor ou entre um credor e um devedor for
repetida, contudo, esse problema é superado
muito facilmente. Nesse caso, contanto que o
devedor ou o vendedor queiram desfrutar dos
benefícios de selar contratos com a outra parte de
novo, não poderão enganar seu parceiro de
trocas. Se fizerem isso, seu parceiro se recusará a
negociar com eles de novo, fazendo com que
percam o valor presente do fluxo de trocas
futuras que uma conduta honesta teria
possibilitado. Desde que essa perda de negócios
futuros para o agente desonesto tenha mais valor
do que a recompensa única decorrente da
trapaça, ele maximiza sua recompensa ao agir
honestamente. Assim, a ameaça verossímil do seu
parceiro de negócios de encerrar negociações
futuras em caso de trapaça obriga-o,
verossimilmente, a cooperar, tornando o contrato
auto-imposto sem o governo ou qualquer outra
forma de coerção externa. A instituição de trocas
auto-impostas descrita aqui baseia-se no que os
economistas chamam de punição bilateral. A
punição bilateral, no entanto, não é um
mecanismo rígido de imposição de contratos
comerciais. Se, por exemplo, os indivíduos
tiverem taxas de desconto relativamente altas, de
modo que o valor presente do fluxo de renda
futuro possibilitado por repetidas trocas
cooperativas valha menos aos possíveis
transgressores do que a recompensa única da
trapaça, então trapaças acontecerão e o mercado
consequentemente encolherá em resposta a essa
perspectiva.
O que é necessário nesse caso é a
capacidade de impor uma perda maior sobre
aqueles que têm uma tendência a descumprir
contratos de modo que, mesmo quando
estiverem mais impacientes, continue a valer a
pena cumprir integralmente os acordos
comerciais. Uma forma coordenada de punição
bilateral, denominada punição multilateral,
consegue isso. Sob essa estratégia, se um agente
violar o contrato, todo um grupo de indivíduos
recusa-se a negociar com ele novamente, tenha
qualquer integrante individual do grupo sido a
parte violada ou não. Uma manifestação comum
desse mecanismo é o boicote ou embargo. Como
examino abaixo, esse mecanismo de auto-
imposição de contratos é usado por comerciantes
na arena internacional, onde eles gozam de
proteção a contratos muito limitada, e às vezes
inexistente, por parte do governo. A maneira
como ele funciona é bastante simples. Suponha
que um indivíduo viole seu contrato com outro
indivíduo. Em resposta, o agente trapaceado
reporta essa informação por meio da sua
importante rede de contatos com outros
comerciantes internacionais. Associações
comerciais internacionais e foros de arbitragem,
como a Câmara Internacional de Comércio e
a Câmara de Comércio de Estocolmo, das quais
trato abaixo, facilitam essa comunicação.
Muitos comerciantes internacionais podem
ser membros de associações comerciais – como
associações de indústrias – que permitem que
eles façam contatos, encontrem-se e assim por
diante. Nesses foros, eles trocam informações
sobre a conduta de outros membros da
comunidade de comércio internacional. Ao trocar
informações sobre a identidade do comerciante
que o trapaceou, o indivíduo que sofreu a trapaça
coordena as respostas da sua rede de
relacionamentos com outros comerciantes, que,
não querendo ser vítimas de trapaças, abstêm-se
de interações comerciais com o trapaceiro. Isso
tem o efeito de afastar o trapaceiro não apenas de
negociações futuras com o indivíduo que
trapaceou, mas também de toda a rede comercial
desse indivíduo. Assim, é imposta uma pena
muito mais severa sobre a violação contratual do
que a versão bilateral dessa punição, que envolve
apenas a cessação de negociações futuras com um
indivíduo. Dessa maneira, a punição multilateral
é muito mais eficaz na criação de obediência
contratual do que a punição bilateral. Uma vez
que todos os comerciantes sabem que a trapaça é
tratada com essa forma dura de punição, eles
maximizam sua recompensa mediante a
cooperação, ao invés da traição. E, uma vez que
todos sabem que essa é a estratégia de
maximização de recompensas de todos os outros,
eles podem participar do mercado livres do medo
de violações, o qual os impediria de participar do
mercado.
A punição multilateral é uma maneira eficaz
de criar boa reputação a comerciantes individuais
que têm valor para aqueles que são honestos.
Indivíduos honestos têm boa reputação e podem
tirar bom proveito disso por meio de relações
contratuais com muitos outros que estão
dispostos a selar contratos com eles devido à sua
boa reputação. Trapacear seria muito custoso a
indivíduos com boa reputação porque fazer isso
destruiria o valor de seus históricos de boa
conduta e, com isso, o valor de suas reputações e,
assim, a capacidade de comerciar com outros no
futuro. A criação de reputação, portanto, atua
como um vínculo que leva os comerciantes a
comprometerem-se a proceder honestamente. Se
eles não o fizerem, sacrificam o valor de seu
vínculo.[1] Isso é importante porque significa que
os comerciantes provavelmente cumprirão suas
obrigações contratuais com outros mesmo
quando não esperam negociar com esse parceiro
comercial específico nunca mais (Leeson, 2003).
Em outras palavras, mesmo na versão sem
repetições do jogo da Figura 1, a cooperação sob a
punição multilateral é possível. A razão disso é a
reputação. Embora um indivíduo possa nunca
mais selar contratos com você novamente, ele
ainda assim deseja evitar trapaceá-lo. Se ele não
evitar trapaceá-lo, você comunicará isso ao resto
de sua rede de contatos de comerciantes, que
consiste de alguns indivíduos com os quais ele
prevê que desejará negociar no futuro. Isso cria
uma reputação negativa para ele que o impede de
selar contratos com esses outros indivíduos.
Assim, a cooperação não exige que ele interaja
com você por um infinito número de vezes.
Contanto que reputações possam ser
estabelecidas, ele cooperará com você mesmo
que pretenda interagir com você apenas uma vez.
Mecanismos privados como a reputação são
altamente importantes para impor o
cumprimento de contratos mesmo onde o
governo está presente e ativo. A razão disso é
bem simples. Mesmo onde o governo existe e é
altamente ativo, a imposição de contratos pelo
Estado é cara e imperfeita.[2] Para muitos
acordos contratuais, não é vantajoso buscar a
imposição estatal mesmo que uma parte tenha
certeza de que vencerá a ação. O valor que
receberia é menor do que o custo de procurar a
imposição estatal. Dada essa situação, poder-se-ia
esperar que nenhum contrato abaixo desse limite
crítico fosse estabelecido porque, sem o recurso à
imposição estatal, a violação seria endêmica. Mas,
evidentemente, esse não é o caso. Onde a
imposição estatal é proibitivamente cara e, por
conseguinte, não pode oferecer proteção prática,
a reputação aliada à punição bilateral ou
multilateral, tratadas acima, assegura o
cumprimento dos contratos.
Provas da arena internacional
Talvez a melhor prova da eficácia da auto-
imposição do direito comercial seja a do
comércio internacional. Contratos comerciais
internacionais são amplamente tutelados por
uma instituição chamada de Lex mercatoria, ou
lei mercantil. A Lex mercatoria originou-se da
necessidade dos comerciantes internacionais do
final do século X de auferir os benefícios das
trocas na ausência da imposição estatal (confira,
por exemplo, Benson, 1989; Leeson, 2006, 2007a,
2007b). Os comerciantes estão separados por
suas próprias leis internas, que tratavam dos
contratos comerciais de modos diferentes. Além
disso, as leis dos países não tinham normas que
tutelassem contratos comerciais internacionais:
suas leis estendiam-se unicamente aos acordos
contratuais internos. Isso era problemático de
várias maneiras. Em primeiro lugar, significava
que não existia um direito universal a tutelar
acordos comerciais internacionais ou a solucionar
conflitos comerciais internacionais. Por exemplo,
a lei interna de qual parte seria aplicada a um
acordo no caso de um conflito surgir? Em
segundo lugar, não havia um corpo de imposição
comum para os contratos. Por exemplo, os
tribunais do Estado julgariam o conflito no país
de qual parte? A maioria dos tribunais internos
não julgaria conflitos envolvendo partes
internacionais. Talvez ainda mais importante,
mesmo que isso pudesse ser superado, como um
tribunal estatal empreenderia a imposição de sua
decisão? Se os bens do perdedor encontrassem-se
em seu país natal, que não era o país em que o
conflito tinha sido julgado, como os seus bens
poderiam ser apreendidos se ele não se sujeitasse
ao julgamento do tribunal do Estado?
Para superar esses problemas, as partes no
comércio internacional precisavam de um
conjunto comum de normas tutelando as trocas e
de um mecanismo para impor a sujeição a essas
normas. Desses obstáculos, desenvolveu-se um
sistema espontâneo de direito costumeiro, a Lex
mercatoria, que, com o tempo, estabeleceu
normas que tutelavam os acordos comerciais
internacionais. Primeiramente, os conflitos
internacionais eram julgados em “cortes
mercantis” privadas, informais – corpos de
resolução de controvérsias que proferiam
sentenças com base nas normas da Lex
mercatoria. As cortes mercantis consistiam de
comerciantes internacionais que estavam
familiarizados com as normas do direito
mercantil e, assim, podiam aplicá-lo a casos
apresentados a eles. Como eram privadas, as
decisões a que chegavam não eram formalmente
obrigatórias. Ao invés disso, a reputação,
combinada à punição bilateral e multilateral
discutida acima, criava sujeição às decisões das
cortes mercantis. Rejeitar uma decisão de uma
corte mercantil não acarretava sanções formais,
mas poderia resultar em um boicote ou no
ostracismo da comunidade, o que criava um forte
incentivo aos comerciantes internacionais no
sentido de sujeitar-se às normas da Lex
mercatoria.
Esse sistema funcionava com eficácia e
orientava a preponderância dos acordos
comerciais internacionais entre os séculos XI e
XVI por toda a Europa (Benson, 1989). Hoje, os
acordos comerciais internacionais são
amplamente tutelados pela Lex mercatoria
moderna, que funciona de modo semelhante. No
lugar das cortes mercantis, estão as associações
internacionais de arbitragem. Algumas das
maiores delas incluem a Câmara Internacional de
Comércio (ICC, International Chamber of
Commerce), a Câmara de Comércio de
Estocolmo, a Corte Internacional de Arbitragem
de Londres e o Centro Internacional para a
Solução de Controvérsias, embora outras
centenas existam pelo mundo. Essas associações
estão localizadas por todo o mundo e decidem
privadamente conflitos decorrentes da maioria
dos contratos comerciais internacionais. Mais de
90% dos acordos comerciais internacionais
contêm cláusulas de arbitragem, estipulando que
as controvérsias, se surgirem, serão julgadas por
uma associação de arbitragem privada (Volckart e
Mangels, 1999). As partes podem estipular ex
ante qual associação utilizarão, qual lei aplicarão
a seu conflito (inclusive as evoluídas normas
costumeiras da Lex mercatoria) e assim por
diante.
Até 1958, as decisões arbitrais privadas
internacionais não tinham validade perante
tribunais estatais. Assim, para criar sujeição, os
comerciantes internacionais contavam com a
reputação e a punição multilateral, descritas
acima. Desde então, vários tratados
internacionais, o mais notável dos quais é
chamado de Convenção de Nova York, tornam a
imposição estatal de decisões arbitrais
internacionais possível na teoria. Trabalhos
recentes sugerem, contudo, que essa convenção
(e outras que vieram depois dela) não contribuiu
dramaticamente para o tamanho e o crescimento
do comércio internacional moderno (Leeson,
2008b). Assim, o argumento de que a sombra do
Estado é responsável pela magnitude incrível do
comércio internacional desde 1958 está incorreto.
Pelo contrário, parece que a arbitragem privada e
mecanismos de imposição na linha dos discutidos
acima merecem o crédito esmagador pelo surto
de crescimento do comércio internacional. Essa
descoberta é corroborada por relatórios da maior
associação de arbitragem internacional do
mundo, a ICC, que avalia que 90% de suas
decisões são cumpridas voluntariamente pelas
partes do comércio internacional (Craig et al.,
2000).
Direito penal auto-imposto
Diferentemente do tópico do direito
comercial auto-imposto, o tema do direito penal
auto-imposto tem recebido escassa atenção.
Anderson e Hill (2004), Friedman (1979), Posner
(1995), Benson (1990) e Leeson (2007c, 2007f, no
prelo) discutiram sobre esse tópico.
Relativamente poucas obras, no entanto, tratam
da questão da prevenção e da punição da
violência sem o governo. Isso é significativo,
porque, ao menos superficialmente, o problema
da violência representa uma ameaça
consideravelmente mais séria à capacidade dos
mercados de florescerem sem o governo do que o
“roubo pacífico”, como a fraude a ou a violação
contratual, discutidas acima. A razão disso é
dupla. Em primeiro lugar, embora o mercado
possa ser bastante débil se ajustes institucionais
privados não puderem impor regras comerciais
sob a anarquia, a sociedade em si não será
destruída nesse caso. Os indivíduos serão
relativamente pobres, mas a violência não se
seguirá. As coisas são diferentes, contudo, se
ajustes institucionais privados não puderem
impedir a violência. Não apenas o mercado será
débil e a sociedade por conseguinte pobre, mas, o
que é mais importante, pode advir a possibilidade
de uma carnificina generalizada que envolva a
morte de muitos indivíduos.
Por essas razões, mesmo aqueles que se
prontificam a defender a possibilidade de acordos
comerciais auto-impostos não se prontificam a
descartar o governo quando se trata de assuntos
que tipicamente enquadram-se no âmbito do
direito penal. De acordo com essa visão, a
sociedade necessita de um governo que impeça
indivíduos fisicamente mais fortes de utilizar sua
força superior para espoliar violentamente
indivíduos fisicamente mais fracos. Mesmo Adam
Smith sustentava essa posição. Como ele
escreveu:
É apenas sob o abrigo do magistrado civil
que o dono de… propriedades… pode dormir uma
única noite com segurança. Ele está a todo
momento cercado por inimigos desconhecidos,
que, embora ele nunca tenha provocado, ele
nunca pode aplacar, e de cuja injustiça ele pode
ser protegido somente pelo braço poderoso do
magistrado civil continuamente erguido para
castigá-los. (Smith, 1965 [1776]: 670).
Apesar do problema maior que o “roubo
violento” representa para a ordem social
comparado ao “roubo pacífico”, como a fraude e a
violação contratual, não há motivo para se pensar
que soluções institucionais privadas para esse
problema tenham menor probabilidade de surgir
para facilitar o comércio na ausência do governo
do que para solucionar os problemas do “roubo
pacífico”. De fato, a ameaça maior que o “roubo
violento” representa sugere que os mecanismos
privados para tratar da violência têm maior
probabilidade de surgir, já que os custos para os
indivíduos, se não surgirem, são muito maiores.
Fazendo negócios com bandidos
O primeiro exemplo de trocas auto-
impostas na presença de ameaças violentas que
gostaria de considerar é um exemplo que discuti
em outro lugar, que examina um episódio
histórico na África pré-colonial (Leeson, 2007c).
Esse caso não é tanto um caso da emergência do
direito penal sob a anarquia, mas, em vez disso, é
um caso que demonstra que a emergência de
ajustes institucionais privados utilizados para
facilitar a atividade do mercado por meio da
superação inicial da ameaça de violência. Assim,
embora não trate diretamente do direito penal,
ele diz, sim, respeito ao tema central com que
esse capítulo envolve-se – a capacidade dos
mercados de operarem sem o governo, com uma
ênfase especial no obstáculo que a ameaça da
violência representa para essa capacidade.
Em Angola, no final do século XIX, havia
um próspero comércio de exportação consistindo
de cera de abelha, marfim e borracha silvestre,
para os quais havia uma ampla demanda
estrangeira (europeia). Esses bens eram
produzidos por africanos nativos no interior
remoto do centro-oeste africano. Havia dois lados
nesse comércio voltado à exportação. Em um
lado, estavam os intermediários e os agentes
europeus que os empregavam para obter marfim
e o resto dos produtores do interior. No outro
lado dessa rede comercial, estavam os próprios
produtores. Os intermediários movimentavam-se
muito, estavam com frequência armados e
viajavam em grandes caravanas. Os produtores,
ao contrário, eram fixos, com frequência
desarmados e viviam em pequenas vilas. Os
intermediários, então, tipicamente constituíam a
força substancialmente mais forte nas interações
entre os integrantes desses dois grupos. De fato,
quando podiam, caravanas de intermediários
violentamente saqueavam os produtores do
interior – roubando ao invés de comercializar os
bens que desejavam. O comércio pacífico e não o
roubo violento, contudo, caracterizava
predominantemente essas interações. De fato, o
comércio de exportação baseado nas trocas entre
produtores e intermediários floresceu nessa
época.
Isso ocorreu apesar da ausência de governo
nessa sociedade. Muitas das comunidades de
produtores do interior não tinham Estados.
Mesmo os “reinos” africanos que tinham
governantes mais formais dificilmente eram
formais sob uma perspectiva ocidental. Os
europeus (em sua maioria, portugueses) tinham
postos próximos à costa, mas esses postos não
tinham nenhuma autoridade oficial sobre as
comunidades nativas no interior. De modo mais
importante, como não havia nenhuma autoridade
formal abrangente para supervisionar as
interações entre indivíduos de diferentes
comunidades nativas ou européias, existia amplos
interstícios sem governo para as interações entre
integrantes desses grupos diferentes. A interação
social era essencialmente anárquica.
Diante da ameaça de roubos violentos que a
superioridade de força dos intermediários
apresentava, os produtores desenvolveram uma
prática que, por meio do crescente uso ao longo
do tempo, foi institucionalizada sem um controle
central para facilitar a cooperação com os
intermediários. Os produtores tinham um forte
incentivo para encontrar uma solução para esse
obstáculo às trocas, já que, sozinhos, em geral
fixos e isolados dos mercados globais, podiam
ganhar muito pouco. As interações com os
intermediárias ofereceram uma oportunidade
para lucros maiores, mas também os tornaram
vulneráveis a saques violentos. A prática que os
produtores empregaram com esse propósito foi o
crédito. Normalmente, pensamos em acordos de
crédito como a causa de um possível
oportunismo. A separação entre o pagamento e o
contrato torna o credo vulnerável ao
descumprimento do devedor. No contexto de
relações entre produtores e intermediários, no
entanto, tinha exatamente o efeito oposto. O
modo como o crédito sustentava a cooperação é
bem simples. No tempo t, os produtores não
produziriam realmente nada. Não obteriam a
cera, a borracha e o marfim. Quando as caravanas
de intermediários procurando bens para roubar
viajassem em direção aos distantes produtores do
interior e chegassem a uma vila, encontrariam
pouca coisa para tomar à força. Isso era
problemático do ponto de vista dos
intermediários, já que viajar para o interior podia
ser bastante caro.
Os produtores ofereceriam então aos
intermediários os bens que buscavam se
recebessem um crédito. Os intermediários
pagariam adiantado e os produtores colheriam os
bens depois que os intermediários partissem. Os
intermediários retornariam mais tarde no tempo
t + 1 para recolher o que lhes era devido. Ao
endividarem-se com intermediários mais fortes,
os produtores criavam um incentivo aos
intermediários para evitar que os maltratassem
fisicamente e para garantir que outros
intermediários não usassem de violência contra
eles. A razão disso é simples: para restituir o que
deviam, os produtores tinham de estar vivos e
com boa saúde. A saúde financeira dos
intermediários que proporcionavam bens aos
produtores como crédito ligou-se à saúde física
dos produtores que eram seus devedores.
Quando os intermediários retornavam para
recolher sua parte do acordo, tudo que estava
disponível para saquear era o que lhe era devido.
Se eles quisessem mais, podiam selar um contrato
para uma nova rodada de troca de crédito ou ir
embora, sabendo que, da próxima vez que
voltassem, novamente não haveria nada para
levar de volta aos seus empregadores para a
exportação. Os intermediários frequentemente
optavam por renovar sua relação de crédito.
Dessa maneira, o crédito surgiu como um ajuste
institucional espontâneo que impedia a violência
e permitia que ambos os lados auferissem os
ganhos do comércio, apesar da ausência do
governo e da força superior de alguns integrantes
da sociedade. Notavelmente, esses ajustes de
crédito não criavam o problema de oportunismo
ex post por parte dos produtores, que
normalmente acompanha acordos de crédito.
Dada a força superior dos seus credores, os
produtores sabiam que, se deixassem de cumprir
o prometido, os intermediários podiam
facilmente puni-los com sua força maior. Assim,
essa ordem espontânea resolveu problemas
múltiplos de compromisso que surgem sob o
dilema social de uma vez e, em cada caso,
substituiu o conflito pela cooperação.
Embora o mecanismo de crédito não tenha
criado nada parecido como um sistema
abrangente de direito penal no fim do período
pré-colonial na África, ele de fato superou a
ameaça de violência ao transformar os incentivos
dos intermediários do banditismo ao comércio.
Esse episódio histórico é, portanto, instrutivo no
tocante à capacidade de os mercados superarem
o obstáculo da violência. Ele sugere também que
o governo não é, ao menos em alguns casos,
necessário para que os indivíduos recolham os
benefícios das trocas, mesmo onde alguns
agentes são mais fortes do que outros e, assim,
são tentados a usar a força ao invés de
comercializar para obter o que desejam. Em
suma, mesmo diante de uma tendência à
violência, a ausência do governo não tem de
impedir o funcionamento dos mercados.
A ordem espontânea no direito penal
Embora o caso considerado acima tenha
demonstrado como atores do mercado delineiam
soluções para o problema da violência que
ameaça o mercado da impossibilidade de operar,
ele não demonstrou o surgimento privado do
direito penal. Aqui, abordarei brevemente esse
assunto. Um episódio histórico interessante na
fronteira entre Inglaterra e Escócia entre os
séculos XIII e XVI lança luz obre a evolução
espontânea do direito penal autoimposto
(Leeson, no prelo). Esse território estava dividido
em seis regiões chamadas de “marches”, três no
lado inglês e três no lado escocês, conhecidos
como o leste inglês e escocês, marches central e
ocidental, respectivamente. Embora cada march
fosse oficialmente governado pelo um
“administrador” nomeado por sua respectiva
coroa, entre os séculos XIII e XVI as fronteiras
entre Inglaterra e Escócia constituíam uma região
significativa de anarquia. Há varia razões para
isso.
Em primeiro lugar, os administradores dos
marches raramente aplicavam ou impunham o
direito interior oficial do país, o qual, de qualquer
modo, era incompleto e mal definido. Em
segundo lugar, e o que é mais importante, já que
até o início do século XVII a Inglaterra e a Escócia
eram completamente soberanas, não havia
quaisquer leis comuns, formais – penais ou não –
que se estendessem para além da fronteira. Esse
era um problema relevante, uma vez que as
pessoas da área de fronteira dificilmente
reconheciam seus países “oficiais”, mas, ao invés
disso, definiam-se como membros de clãs que
ultrapassavam as fronteiras nacionais. Assim,
habitantes dos dois lados da fronteira anglo-
escocesa interagiam frequentemente, tanto que a
região da fronteira formava uma terceira região,
quase separada, entre a Inglaterra e a Escócia, em
vez de ser parte de ambos (Fraser, 1995). Como
nem as leis internas da Inglaterra nem as da
Escócia estendiam-se ao reino oposto, essa
terceira região, por assim dizer, era anárquica no
sentido de que não havia nenhuma autoridade
supranacional final para criar ou impor leis que
lidassem com o “crime trans-fronteiriço” – atos
criminosos perpetrados por cidadãos de um dos
lados da fronteira contra outros do outro lado.
Isso era problemático de várias maneiras. Talvez
o mais importante entre esses problemas, no
entanto, fosse o potencial para o caos violento
dominando as fronteiras. A fronteira anglo-
escocesa durante esse período era a casa do
infame “bandido da fronteira” – aquela
considerável classe de criminosos trans-
fronteiriços celebrada por Sir Walter Scott, que
atacava e pilhava profissionalmente como um
modo de vida. Sem um soberano supranacional a
regular o sistema trans-fronteiriço de saques, ele
ameaçava mergulhar as fronteiras em sangrenta
desordem.
Diante dessa ameaça, as fronteiras
desenvolveram um “sistema legal” internacional
singular baseado em antigos costumes trans-
fronteiriços, denominado “Leges marchiarum”,
ou lei dos marches.[3] As Leges marchiarum
fazem lembrar um pouco a Lex mercatoria
descrita acima. Elas conseguiram para as
fronteiras no contexto do direito penal
internacional o que a Lex mercatoria conseguiu
para os comerciantes internacionais no contexto
do direito comercial internacional. As Leges
marchiarumpreocupavam-se principalmente com
as regras relacionadas à violência. Elas tratavam
dos crimes trans-fronteiriços violentos, incluindo
assassinatos, roubo violento, mutilação, etc., e
estipulavam punições para esses crimes. As
punições desenvolveram-se ao longo do tempo
juntamente ao sistema de regras da fronteira; na
maioria dos casos, no entanto, elas envolviam
multas e/ou a entrega de agressores a vítimas
para resgatar ou, de outro modo, dispensar, como
as vítimas consideravam adequado.
Para impor essas normas, as fronteiras
desenvolveram uma instituição similar a um
tribunal conhecida como “dia da trégua”, que se
reunia mensalmente para solucionar conflitos
trans-fronteiriços e para tratar de violações do
direito da fronteira de acordo com a Leges
marchiarum. Os administradores coordenavam
os dias de trégua, mas atuavam principalmente
de uma maneira informal sob os costumes da
fronteira e não como agentes oficiais do Estado.
Os administradores anunciavam os dias de trégua
que se aproximavam nas cidades comerciais nos
seus marches dos dois lados da fronteira. Os
cidadãos da fronteira, então, informavam àqueles
do lado oposto da fronteira com quem tinham
pendência (ou aos administradores desses
indivíduos) de sua intenção de protocolar uma
“ação de reclamação” no dia de trégua iminente.
Isso funcionava como uma intimação aos
acusados para comparecer ao dia de trégua e
ouvir seu caso. No dia de trégua, cada lado criava
“júris” – o lado inglês selecionando seis escoceses
para a tarefa e o lado escocês selecionando seis
ingleses. O júri de cada lado então ouvia as ações
de reclamação protocoladas pelo outro lado (o
júri inglês ouvia as reclamações de escoceses e
vice versa), e decidiam se o direito da fronteira
havia sido violado e qual costume da fronteira
prescrevia a punição apropriada. Havia vários
detalhes nesse ajuste institucional bastante
refinado, nos quais o espaço não permite que me
aprofunde aqui. Basta dizer que, com o tempo, o
sistema desenvolveu normas relacionadas a uma
vasto conjunto de contingência criminais.
O dia de trégua funcionava um tanto
analogamente às cortes mercantis medievais sob
a Lex mercatoria, embora o dia de trégua lidasse
principalmente com violações criminais, como o
roubo violento, assassinato, etc. Assim como as
cortes mercantis, como o dia de trégua não se
enquadrava no âmbito de uma soberania
supranacional, suas decisões não podiam, em sua
maior parte, ser formalmente impostas. Na
ausência de mecanismos formais para imposição
dessas decisões, mecanismos informais surgiram
ao lado do processo das Leges marchiarum e do
dia de trégua para garantir a sujeição às decisões
do dia de trégua. Vários mecanismos foram
usados com esse propósito. As limitações de
espaço, novamente, impedem-me de discorrer
minuciosamente sobre todos eles. Dois, em
particular, no entanto, merecem maior atenção:
os vínculos e as rixas mortais. Os vínculos
envolviam o uso de reféns humanos –
tipicamente, o membro da família do
acusado/culpado ou, se impossível, um dos seus
companheiros de clã. Se, por exemplo, um
habitante das fronteiras acusado não aparecesse
no dia de trégua para o qual ele fora intimado,
um dos membros de sua família ou companheiro
de clã seria entregue ao administrador do
acusado ou do acusador para compeli-lo a
participar. Apenas o comparecimento no dia de
trégua podia levar à soltura do vínculo.
Similarmente, se um acusado fosse declarado
culpado pelo júri no dia de trégua e recusasse-se
a obedecer à decisão do júri, um membro da
família ou companheiro de clã seria enviado ao
acusador como uma garantia até que o culpado
pagasse a multa ao acusador, etc.
A rixa mortal também era usada para impor
as Leges marchiarum e as decisões do dia de
trégua.[4] Isso é um tanto peculiar, já que, como
o nome sugere, a rixa mortal era uma instituição
violenta a envolver a prolongada matança da
família de outrem. A ideia por trás dessa prática,
entesourada nos costumes da fronteira, era a
seguinte: assassinar um homem, por exemplo, em
violação do direito da fronteira, podia resultar na
retribuição violenta do clã do homem
assassinado. Normalmente, em resposta a isso, o
clã do primeiro agressor responderia na mesma
moeda e um lá e cá mortal se seguiria entre os
dois clãs. Obviamente, caso iniciada, uma rixa
mortal podia resultar em muitas mortes de
ambos os lados. Dada uma expectativa mútua e
verossímil dessa resposta a agressões ilegais
contra o integrante de outro clã, o custo de agir
assim, portanto, era extremamente elevado. Essa
expectativa criada pela instituição da rixa mortal
oferecia um incentivo poderoso para comportar-
se dentro dos limites do direito da fronteira, em
primeiro lugar. Além das rixas, os habitantes das
fronteiras também utilizavam duelos para
alcançar fins semelhantes. Um habitante da
fronteira que deixasse de honrar sua promessa
sob os termos do direito da fronteira ou de
sujeitar-se a uma decisão do dia de trégua, por
exemplo, podia ser desafiado pela parte lesada a
um duelo ligado ao dever. É claro, esses
mecanismos de imposição estavam longe de ser
perfeitos. Rixas prolongadas, por exemplo, às
vezes surgiam. Precisamente devido a essa
possibilidade, no entanto, os habitantes da
fronteira tinham um incentivo para evitar violar o
direito da fronteira, sob pena de serem arrastados
a uma batalha longa e sangrenta. É interessante
observar que mesmo esses mecanismos um tanto
grosseiros para impor proibições sobre
comportamentos violentos procediam de acordo
com as normas firmemente estabelecidas da
fronteira. Em alguns casos, por exemplo, um
contrato altamente detalhado dispondo sobre a
natureza do duelo, as regras de acordo com as
quais devia proceder (como as armas que podiam
ser usadas), etc., era elaborado e proporcionava
uma estrutura impressionante a esse mecanismo
violento de imposição.
As Leges marchiarum e seus mecanismos de
imposição funcionavam extraordinariamente
bem na regulação da violência ao longo da
fronteira quando se considera que a sociedade em
que surgiram era efetivamente uma sociedade de
bandidos violentos. É claro, o sistema estava
longe da perfeição. Mas esse é um padrão
irracional para comparar à luz da época, dos
indivíduos indisciplinados que abrangia e da
imperfeição equivalente das instituições do
governo para lidar com atividades criminosas que
existiam em outros lugares da Inglaterra e da
Escócia nessa época. Não importa o que se possa
dizer sobre esse episódio, ele de fato mostra que
normas e instituições de imposição informais e
bastante intricadas podem surgir sob a anarquia
para impedir e punir o comportamento
criminoso.
Observações finais
Minha argumentação leva a três conclusões.
Primeiro, o mercado tem maior capacidade de
produzir instituições para sua própria imposição
do que a sabedoria comum admite. Onde o
governo está ausente, a sociedade não se lança
em um frenesi violento e desonesto que leva ao
fim do comércio e à morte de muitos de seus
integrantes. Ao invés disso, ajustes institucionais
privados surgem como resultado dos esforços
individuais para encontrar mecanismos
alternativos para assegurar a paz e a honestidade
de modo que possam recolher os benefícios
imensos do comércio.
Segundo, regras comerciais,
particularmente aqueles referentes a contratos,
podem e de fato surgem onde o governo está
ausente. Talvez seja mais importante que
mecanismos privados para sua imposição surjam
ao seu lado. Dados de sociedades sem Estados
não consideradas aqui, como aquela da
Somália[5] e da arena internacional, a qual
considerei apenas brevemente, sustentam essa
afirmação. Significativamente, essa última arena é
imensa e envolve milhares de comerciantes com
antecedentes muito diferentes e de países que são
capazes de coordenar-se em tão nível que suas
atividades do mercado resultantes constituem
quase 25% da atividade econômica global.
Finalmente, de modo contrário à sabedoria
predominante, o comportamento criminoso não
representa um problema especial para os
mercados sob a anarquia. Como as regras para
lidar com o “roubo pacífico”, como aqueles que
surgem endogenamente para tutelar os contratos
comerciais, regras para lidar com o “roubo
violento” também surgem endogenamente sem
uma direção central que regule a disposição
violenta de alguns integrantes da sociedade. De
modo importante, instituições privadas para sua
imposição, incluindo mecanismos para julgar
acusações de comportamento criminoso, e
mecanismos para impor as decisões de tais
julgamentos desenvolvem-se ao lado de normas
referentes à conduta criminal para elevar a
segurança de que os indivíduos precisam para
que os mercados operem
S-ar putea să vă placă și
- Retorno À Santidade - Gregory R. FrizzellDocument151 paginiRetorno À Santidade - Gregory R. FrizzellJafer Gomes100% (3)
- LivroDocument204 paginiLivroAlmir PeresÎncă nu există evaluări
- Estudo de Caso - 1Document4 paginiEstudo de Caso - 1silvimipa100% (1)
- Criação de Um PMO - Escritório de ProjetosDocument23 paginiCriação de Um PMO - Escritório de Projetosmc3imc3100% (1)
- Técnicas de Animação TurísticaDocument119 paginiTécnicas de Animação Turísticaajsequeira100% (3)
- Aula 5 - Marketing No AgronegóciosDocument58 paginiAula 5 - Marketing No AgronegóciosGerson SchafferÎncă nu există evaluări
- Roteiro para Elaboração de Prjoetos PETROBRASDocument40 paginiRoteiro para Elaboração de Prjoetos PETROBRASTrash Can88% (8)
- A Metodologia 8 Ps Do Marketing DigitalDocument2 paginiA Metodologia 8 Ps Do Marketing Digitaltakezo_akiraÎncă nu există evaluări
- Teorias e Praticas Ensino Algebra 1 PDFDocument87 paginiTeorias e Praticas Ensino Algebra 1 PDFsergio paulino bandeiraÎncă nu există evaluări
- Resumos GMEE 2Document28 paginiResumos GMEE 2Adriana PintoÎncă nu există evaluări
- A Revolução Das Midias SociaisDocument35 paginiA Revolução Das Midias SociaisCaesar SilvaÎncă nu există evaluări
- 7 ARTIGO Contabilidade Por Responsabilidade: Apurando Resultados Financeiros Na Agroindústria Rita de Cássia Fonseca Rodrigues 2005Document16 pagini7 ARTIGO Contabilidade Por Responsabilidade: Apurando Resultados Financeiros Na Agroindústria Rita de Cássia Fonseca Rodrigues 2005Iaísa MagalhaesÎncă nu există evaluări
- O Papel Que Cumprimos Os Professores de Espanhol Como Língua Estrangeira E LE No BrasilDocument15 paginiO Papel Que Cumprimos Os Professores de Espanhol Como Língua Estrangeira E LE No BrasilDani LuzÎncă nu există evaluări
- Atividade Avaliativa 05 - Forças de PorterDocument2 paginiAtividade Avaliativa 05 - Forças de Portermurilo morelatoÎncă nu există evaluări
- Artigo - O Desafio de Comunicacao Nas ONGSDocument4 paginiArtigo - O Desafio de Comunicacao Nas ONGSrhabetoÎncă nu există evaluări
- Laize Guazina - Práticas Musicais em ONGs - 2011Document344 paginiLaize Guazina - Práticas Musicais em ONGs - 2011laizeg100% (1)
- Plano Estrat 2004-2013 PDFDocument92 paginiPlano Estrat 2004-2013 PDFLuis BembeleÎncă nu există evaluări
- O Uso de Um Criminoso Como Testemunha: Um Problema Especial - Stephen S. TrottDocument26 paginiO Uso de Um Criminoso Como Testemunha: Um Problema Especial - Stephen S. Trottarquivo abertoÎncă nu există evaluări
- EduardoCatroga Curriculo Tretas Org de Eduardo de Almeida CatrogaDocument1 paginăEduardoCatroga Curriculo Tretas Org de Eduardo de Almeida CatrogaJoão SantosÎncă nu există evaluări
- Um Modelo Social de DesignDocument7 paginiUm Modelo Social de DesignGeyza Dalmásio MunizÎncă nu există evaluări
- Matfinancas v1Document42 paginiMatfinancas v1Placido Macedo100% (1)
- Guia para Revisores de TextoDocument124 paginiGuia para Revisores de Textojestergirl100% (1)
- Procedimentos Metodológicos Na Construção Do Conhecimento CientíficoDocument9 paginiProcedimentos Metodológicos Na Construção Do Conhecimento Científicoclovis_gualbertoÎncă nu există evaluări
- Prevenção Do Bullying No Contexto EscolarDocument11 paginiPrevenção Do Bullying No Contexto EscolarJuliana LoureiroÎncă nu există evaluări
- Aula 00 - Apresentação Do Curso. COSIF - Parte IDocument60 paginiAula 00 - Apresentação Do Curso. COSIF - Parte ILucas de LimaÎncă nu există evaluări
- Aula 02 Licia e Eliete Ebserh Hospitalar - Análise InstitucionalDocument22 paginiAula 02 Licia e Eliete Ebserh Hospitalar - Análise Institucionaldaniella100% (1)
- Apostila Dos Princípios de Relações Humanas e MarketingDocument9 paginiApostila Dos Princípios de Relações Humanas e MarketingAlexandre ZambrozuskiÎncă nu există evaluări
- PPRA VIANENSE Pavuna Filial 13 Ava. Dosimetria e CalorDocument23 paginiPPRA VIANENSE Pavuna Filial 13 Ava. Dosimetria e CalorAugusto TeixeiraÎncă nu există evaluări
- Concepções Alternativas Dos Estudantes PDFDocument16 paginiConcepções Alternativas Dos Estudantes PDFFlaviaSouzaÎncă nu există evaluări
- A Epistemologia de WeberDocument9 paginiA Epistemologia de WeberDécio Soares VicenteÎncă nu există evaluări