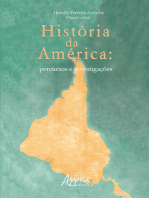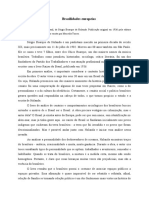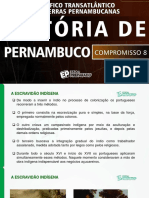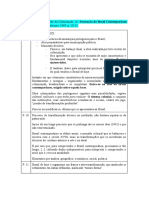Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Resenha Alencastro O Trato Dos Viventes
Încărcat de
Juliana FerreiraDescriere originală:
Drepturi de autor
Formate disponibile
Partajați acest document
Partajați sau inserați document
Vi se pare util acest document?
Este necorespunzător acest conținut?
Raportați acest documentDrepturi de autor:
Formate disponibile
Resenha Alencastro O Trato Dos Viventes
Încărcat de
Juliana FerreiraDrepturi de autor:
Formate disponibile
Tempo
ISSN: 1413-7704
secretaria.tempo@historia.uff.br
Universidade Federal Fluminense
Brasil
Baptista Bicalho, Maria Fernanda
Reseña de "O Trato dos Viventes. A Formacao do Brasil no Atlantico Sul" de Luiz Felipe de Alencastro
Tempo, vol. 6, núm. 11, julio, 2001, pp. 1-7
Universidade Federal Fluminense
Niterói, Brasil
Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=167018156019
Como citar este artigo
Número completo
Sistema de Informação Científica
Mais artigos Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal
Home da revista no Redalyc Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto
1
11. Tempo
Monumenta Brasiliae:
O Império Português no
Atlântico-Sul
Maria Fernanda Baptista Bicalho
Resenha do Livro: O Trato dos Viventes. A Formação do Brasil no Atlântico Sul, de Luiz
Felipe de Alencastro, São Paulo, Companhia das Letras, 2000, 525 páginas.
Não é tarefa fácil escrever sobre o livro O Trato dos Viventes. Formação do
Brasil no Atlântico Sul e, ao mesmo tempo, fazer jus a uma obra que, pela sua
solidez e importância, vem, sem dúvida nenhuma, abrir novos caminhos – alguns
bastante inovadores – para se pensar a história do Brasil nos tempos coloniais. É um
livro que ilumina, instiga e provoca o debate historiográfico, ao propor o
deslocamento de alguns pressupostos clássicos da historiografia brasileira.
Não é à toa que, desde que veio a público, tenha suscitado tantas resenhas,
conferindo ao trabalho de Luiz Felipe de Alencastro o mérito de tecer uma análise
tanto abrangente quanto original, que o faz figurar entre as obras que se tornaram
marcos de um novo paradigma interpretativo da história do Brasil. É impossível, ao
ler O Trato dos Viventes , deixar de invocar o que há de melhor em nossa tradição
historiográfica. Logo nos vem à mente o livro de Caio Prado Júnior, Formação do
Brasil Contemporâneo. Revolucionário para a época em que foi publicado – na
década de 1940 – indispensável ainda hoje, Caio Prado nos levou a incorporar
definitivamente o sentido comercial da colonização. Cerca de tinta anos mais tarde,
a análise magistral de Fernando Novais, Portugal e Brasil na Crise do Antigo
Sistema Colonial, explora e sofistica a noção do sentido mercantil da colonização,
incorporando o mecanismo do exclusivo metropolitano e a engrenagem do tráfico
negreiro como elementos primordiais na compreensão do pacto e do escravismo
coloniais, insistindo no relacionamento e no conflito, mormente em tempos de crise,
entre metrópole e colônia, chaves explicativas da dinâmica da sociedade colonial.
Tempo, Rio de Janeiro, Vol. 6, n° 11, 2001, pp. 267-273.
2
Fora do Brasil, a historiografia portuguesa atrela a existência e a lógica da
colonização moderna ao movi mento da expansão ultramarina européia. Expoente
nesta vertente explicativa, e influente na produção acadêmica que se impôs nos dois
lados do Atlântico, destaca-se a obra de Vitorino Magalhães Godinho. A Economia
dos Descobrimentos Henriquinos e Os Descobrimentos e a Economia Mundial
discutem as sociedades ultramarinas enquanto espaços de atualização dos
mecanismos que motivaram a Expansão, privilegiando seus aspectos econômicos,
lançando poucas luzes às engrenagens políticas igualmente responsáveis pela
fundação dos pilares das sociedades coloniais.
A recente produção historiográfica portuguesa procura pensar as conexões
entre Portugal e os territórios ultramarinos, incorporando a política, a administração,
a religião e as formas de pensamento, embora continue priorizando o tema – e o
pressuposto teórico-metodológico – da Expansão, a exemplo do gigantesco esforço
editorial, em cinco volumes, coordenado por Francisco Bethencourt e Kirti
Chaudhuri: História da Expansão Portuguesa.
A partir da década de 1960, devido à contribuição anglo-saxônica, surgiu a
noção de Império, que teve em C. R. Boxer – O Império Colonial Português e
Salvador de Sá. A Luta pelo Brasil e Angola – o seu maior expoente. Sua obra
discute a construção da soberania portuguesa em áreas tão distintas e distantes, do
Maranhão a Macau, conjugando atividades comerciais, incursões missionárias,
campanhas militares e administração imperial. Esta abordagem fez escola,
distinguindo alguns de seus discípulos, como J. A R. Russell-Wood, cujo livro, Um
Mundo em Movimento. Os Portugueses na África, Ásia e América, é uma
contribuição fundamental à historiografia, além de um sensível tributo aos
ensinamentos do mestre.
Os estudos sobre as articulações imperiais dos portugueses frutificaram, e, em
certa medida, especializaram -se nos seus diferentes circuitos geográficos. É o caso
da obra de Sanjay Subrahmanyam, em particular O Império Asiático Português; ou
ainda o indispensável e belíssimo livro De Ceuta a Timor, de Luís Felipe Thomaz.
Consolidou-se, assim, uma nova chave interpretativa com a qual os historiadores
brasileiros só muito recentemente passaram a dialogar.
O livro de Luiz Felipe de Alencastro, tributário de muitas destas
interpretações, constrói uma perspectiva e estabelece um recorte que, além de
imperial, é atlântico. Tendo realizado parte principal de sua formação na França,
dialoga com alguns dos grandes mestres da historiografia francesa, como Fernand
Braudel e Frédéric Mauro, além de Pierre Verger. Resgata seus métodos
interpretativos, assim como seus argumentos, ao tecer no espaço Atlântico e nas
trocas mercantis nele realizadas – mormente no tráfico negreiro – a chave
explicativa, ou o “paradoxo histórico”, capaz de dar inteligibilidade à formação do
Brasil.
O Trato dos Viventes começa pelo deslocamento que conduz a sua original
perspectiva: “Sempre se pensou o Brasil fora do Brasil, mas de maneira incompleta:
o país aparece no prolongamento da Europa”. Não obstante, “a colonização
Tempo, Rio de Janeiro, Vol. 6, n° 11, 2001, pp. 267-273.
3
portuguesa, fundada no escravismo, deu lugar a um espaço econômico e social
bipolar, englobando uma zona de produção escravista, situada no litoral da América
do Sul, e uma zona de reprodução de escravos, centrada em Angola”. Para
demonstrá-lo, não se propõe a fazer, à maneira norte-americana, uma história
comparativa das colônias portuguesas no Atlântico. Com extrema erudição, defende
a tese de que os enclaves portugueses na América e na África “se complementam
num só sistema de exploração colonial”.
O primeiro capítulo parte do pressuposto de que a colonização não surge
acabada, tendo, ao contrário, decorrido de múltiplos aprendizados. Desvincula, por
terem sentidos distintos e pressuporem práticas diferenciadas, domínio e exploração,
uma vez que “a presença de colonos num território não assegura a exploração
econômica do mesmo território”. Só a partir do momento em que “os colonos
compreendem que o aprendizado da colonização deve coincidir com o aprendizado
do mercado [...] podem se coordenar e completar a dominação colonial e a
exploração colonial.” Neste contexto, o tráfico negreiro surge como a “alavancagem
do Império do Ocidente”, responsável pela transmutação da escravidão em
escravismo, sistema que extrapola simples “operações de compra, transporte e venda
de africanos para moldar o conjunto da economia, da demografia, da sociedade e da
política da América portuguesa”. A grande viragem interpretativa da análise de
Alencastro consiste no argumento de que o tráfico atlântico de africanos “modifica
de maneira contraditória o sistema colonial”, pois, “desde o século XVII interesses
luso-brasileiros ou, melhor dizendo, brasílicos, se cristalizam nas áreas escravistas
sul-americanas e nos portos africanos de trato [...] carreiras bilaterais vinculam
diretamente o Brasil à África Ocidental”.
O segundo capítulo nos conduz ao território africano, acompanhando as
caravanas de camelos que trafegavam “contra o mar”, sem ciência das caravelas que,
já àquela altura, arranhavam as costas. Vão-se, pouco a pouco, tecendo a geografia
comercial – ainda medieval, transaariana – e a história africana, que favoreceram a
penetração européia. Vitoriosas sobre as caravanas, as caravelas navegam
empurradas pelos “ventos negreiros”, fenômeno natural, atmosférico e marítimo,
interpretado por Vieira como “presságio divino”. Materialismo geográfico e
justificações ideológico-cristãs fundem-se na análise de Alencastro, descortinando-
nos os múltiplos significados da grande “transmigração”, o transporte contínuo de
africanos através do Atlântico Sul. África e América não podem ser pensadas uma
sem a outra.
No capítulo seguinte, Lisboa nos é apresentada como a capital negreira do
Atlântico, quando o tráfico deixa de ser uma, entre várias atividades ultramarinas,
para se tornar o “esteio da economia no Império do Ocidente”. Tal fato não se
explica tão somente pela demanda dos enclaves brasílicos, mas, e sobretudo, em
função do asiento, contratado por comerciantes portugueses junto à coroa espanhola.
Forma-se, então, a teia que avassalará os sertões africanos, tecida por portugueses e
bandos jagas, sacudindo regiões inteiras do Congo e de Angola, fundando o
intercâmbio de produtos coloniais nos dois lados do Atlântico. Multiplicam -se as
Tempo, Rio de Janeiro, Vol. 6, n° 11, 2001, pp. 267-273.
4
conexões. Ao mesmo tempo em que aumentam os embarques angolanos,
decorrência do consórcio entre os governadores de Angola e os detentores do
asiento, o ultramar submete-se a uma virada decisiva, a partir do refluxo de capitais,
antes investidos no Império lusitano do Oriente, para o Império do Ocidente.
O capítulo 4 se volta para os contrastes entre o comércio de africanos e de
índios nos enclaves da América portuguesa. Vários são os argumentos para o
malogro deste último e a imposição do primeiro. A organização social dos tupis, dos
aruaques, dos caribes e dos jês mostrava-se avessa à troca extensiva de escravos.
Devido à frágil presença de forças militares na América, e sempre atenta ao perigo
de assédio estrangeiro, a Coroa tenta preservar a paz com os índios, utilizando-os
como aliados contra invasores. Havia, no entanto, a possibilidade de comércio a
longa distância de escravos indígenas, através de trocas entre as capitanias. Porém a
irregularidade dos transportes marítimos entre os portos coloniais, além da
inexistência de uma rede mercantil de gêneros tropicais – privilégio de mercadores
ligados às casas metropolitanas – faria gorar qualquer tentativa neste sentido. Afinal,
a acumulação proporcionada pelo trato indígena era incompatível com as redes que
forjavam o sistema colonial, tanto no que diz respeito à dinâmica própria do capital
mercantil e aos interesses fiscais da Coroa, quanto à estruturação de uma política
imperial. E, não menos importante, à opção ideológica pela evangelização dos
índios.
O capítulo 5 apresenta-nos, de forma eloqüente, o “ajustamento doutrinário
pró-escravista operado pelos jesuítas em Angola e no Brasil”, do qual emergiria uma
consistente “teoria negreira jesuítica”. Discute o “tortuoso processo de moldagem da
doutrina religiosa à ordem ultramarina” e escravista, enunciada pela bula Romanus
Pontifex, re-atualizada nas cartas ânuas e nos sermões, de Nóbrega a Vieira. O ponto
alto do argumento fica a cargo do grande apóstolo da África, Baltazar Barreira,
evangelizador de Angola, de Cabo Verde e da Guiné. Sua defesa do tráfico,
transformada em contundente “manifesto negreiro”, enuncia, de forma clara e
inquestionável, o que, para Alencastro, consiste no verdadeiro sentido da
colonização: “o comércio negreiro apresentava-se como um elo fundamental da
inserção da África no mercado mundial. Suprimi-lo seria pôr em cheque o domínio
ultramarino português e romper a cadeia de comércio montada no Império do
Ocidente”. Do outro lado do Atlântico, com a argúcia e a maestria que sempre lhe
couberam, Vieira forjaria uma das mais brilhantes justificações ideológicas do
tráfico atlântico, garantindo a cumpl icidade entre a cruz e a espada, a Fé e o Império.
Em seus sermões, transformava a transmigração dos negros dos sertões africanos
para a América em “grande milagre”, por viabilizar a salvação de suas almas,
resgatadas das brenhas da Etiópia. Neste sentido, através de argumentações terrenas
e teológicas, ao defenderem a evangelização numa só colônia, “os jesuítas
portugueses definem no Atlântico Sul uma complementaridade missionária que
justifica o negócio negreiro e propicia a política pró-indígena no Brasil”.
O capítulo 6 tece, a partir dos interesses negreiros sediados na Guanabara –
assim como por força da ascensão de cristãos-novos portugueses, enriquecidos nos
Tempo, Rio de Janeiro, Vol. 6, n° 11, 2001, pp. 267-273.
5
tratos da Índia, a banqueiros e contratadores do asiento junto à Coroa espanhola – a
espessa trama da geografia sul -atântica, que ligava os enclaves portugueses no Rio
de Janeiro e em Angola ao estuário do Prata. Na visão do autor, “essa remexida no
Centro-Sul leva os negócios marítimos, negreiros, intercoloniais dos fluminenses a
apartarem-se das empreitadas continentais, indígenas, autonomistas,
antimetropolitanas e antijesuíticas dos paulistas.” Para Alencastro, o autonomismo
paulista ter-se-ia forjado na contramão dos interesses peruleiros centrados no Rio de
Janeiro; estes, sim, responsáveis pe la configuração de uma nova região aterritorial a
partir da presença luso-brasileira – ou “brasílica” – em Angola. Naquele tempo dos
flamengos nos enclaves portugueses nas duas margens do Atlântico, tornava -se
patente que sem Angola não havia Brasil e, menos ainda, subsistiria a Nova
Holanda, como bem entendera Nassau, príncipe humanista, cuja “militância
negreira” induziu os holandeses ao aprendizado do tráfico nas costas da África e à
conquista de Luanda. Coube aos interesses sediados no Rio de Janeiro a tarefa de
fornecer gente e petrechos para a reconquista de Angola, abrindo-se um “espaço de
co-gestão lusitana e brasílica no Atlântico Sul”. Através da figura emblemática de
Salvador de Sá e de sua parentela, Alencastro deslinda – como fizera Boxer – a r ede
constitutiva dos “negócios marítimos, negreiros, intercoloniais dos fluminenses”,
totalmente afeita à lógica da exploração colonial e do imperium. Conclui que “todo
esse poderio oligárquico acoplava-se ao triângulo Rio-Luanda-Buenos Aires, base
de uma rede mercantil que interessava a Lisboa”. Era-lhe, porém, igualmente, fonte
de inquietação, pois, “embora buscasse a reabertura do acesso à prata peruana após a
Restauração, a corte lisboeta temia que Salvador de Sá – atraído por honras, lucros e
vínculos familiares – se bandeasse para o lado espanhol”.
O capítulo 7, “Angola Brasílica”, é denso e surpreendente, devido à
quantidade e à importância de processos e episódios – desconhecidos ou
insuficientemente analisados pela historiografia brasileira – fundamentais para se
entender a formação do Brasil colonial. Nele é analisado como, através da guerra e
do comércio – aliás, indissociáveis – os interesses luso-brasileiros penetraram e se
impuseram em Angola: tanto pela ação predatória de seus governadores – Salvador
Correia de Sá, João Fernandes Vieira, André Vidal de Negreiros – que, ao
introduzirem na África os métodos da guerra brasílica, procuravam ampliar o seu
raio de ação na engrenagem do tráfico, quanto pelo comércio – bilateral – que
contava com uma série de produtos – brasílicos – utilizados como moeda na troca
por escravos: a mandioca, o zimbo ou jimbo, a cachaça ou jeribita.
Chegando à sua conclusão, “Singularidade do Brasil” – na qual o autor
esboça um amplo panorama da conjuntura pós-guerra e nos remete a um novo ponto
de inflexão, que prenuncia o século de e do ouro do Brasil – só nos resta concluir
que O Trato dos Viventes é, de fato, um livro excepcional .
E, nesse ponto, está de acordo grande parte dos estudiosos que o resenharam.
Não há espaço aqui para dialogar com todos eles, embora não possa deixar de me
remeter a algumas questões levantadas por Milton Ohata, na resenha “O elo perdido
da civilização brasileira”, publicada no nº 59 da revista Novos Estudos, do Cebrap.
Tempo, Rio de Janeiro, Vol. 6, n° 11, 2001, pp. 267-273.
6
A certa altura, Ohata estranha a inexistência da noção de pacto colonial no livro de
Alencastro, que, a seu ver, “privilegia tão só a ‘autonomia’ do comércio bilateral e
do colonato brasílico”. E se pergunta: “sendo a colônia ‘autônoma’ naquilo que lhe
era imprescindível, por que motivo continuou durante tanto tempo, ligada à
metrópole?”
O que talvez pudesse responder a esta questão fosse uma re-leitura do pacto,
não propriamente em sua vertente econômica, como a tecida por Novais, mas em
sua configuração política, mais afeita à interpretação de Evaldo Cabral de Mello.
Embora a obra deste autor seja referência constante n’O Trato dos Viventes – que
atribui à Olinda Restaurada “páginas antológicas” sobre a restauração
pernambucana – Alencastro não incorpora, em sua análise sobre a “restauração de
Angola” – movimento que levaria a uma segunda “restauração metropolitana” e se
inseria no processo da “Restauração portuguesa” – uma discussão acerca do
imaginário político, que unia, no contexto do Império ultramarino, vassalos
brasílicos à Coroa lusitana. O Trato dos Viventes nos fornece uma interpretação
consistente dos interesses peruleiros e negreiros que levaram à re-conquista de
Angola; embora possa induzir o leitor à pergunta: mas, enfim, o que os ligava à
metrópole?
Em Rubro Veio, no capítulo em que Evaldo Cabral de Mello analisa as
representações dos pernambucanos ao rei, pedindo-lhe honras, mercês e cargos, em
troca de seu empenho na expulsão dos holandeses – “à custa de nosso sangue, vidas
e fazendas” – acredito podermos encontrar uma das chaves explicativas para esta
questão. O imaginário político que deu corpo a esse discurso – baseado na pretensão
de que os pernambucanos deviam ser considerados como “súditos políticos” do rei
de Portugal, por lhe terem restituído o domínio da capitania – fundava-se numa
concepção contratual ou pactícia, que não era estranha à teoria do direito ibérico no
Antigo Regime. Tampouco era estranha aos demais vassalos portugueses, reinóis e
ultramarinos. Assim, embora o ‘autonomismo paulista’ possuísse todo um
significado antimetropolitano e antieuropeu – porque, segundo Alencastro,
“evoluindo fora das redes mercantis estabelecidas, as expedições preadoras de índios
escapavam ao controle social metropolitano”, tornando-se potencialmente perigosas
para o domínio colonial – também eles, paulistas, esperavam receber o devido
reconhecimento da Coroa, dados os “grandiosos subsídios de farinhas, legumes e
carnes” que haviam remetido para o sustento das tropas na Bahia.
Em contrapartida a demonstrações de empenho e vassalagem na manutenção
e na defesa do Império, os brasílicos – fossem pernambucanos, fluminenses ou
paulistas – reivindicavam para si uma série de distinções e um acesso privilegiado
ao governo nas conquistas. Ao retribuir os feitos de seus vassalos, a Coroa
reafirmava o pacto político que unia súditos – reinóis e coloniais – a si própria,
tecendo as malhas da soberania portuguesa sobre o Império ultramarino. Acredito
ser também a partir destes valores, destas noções e práticas típicas do Antigo
Regime, que indivíduos como Salvador Correa de Sá, João Fernandes Vieira e
André Vidal de Negreiros dispunham suas vidas e fazendas em prol de uma causa
Tempo, Rio de Janeiro, Vol. 6, n° 11, 2001, pp. 267-273.
7
que não era apenas sua ou dos grupos que representavam; tornando-se, enquanto
‘brasílicos’, agentes da construção da soberania lusitana no Atlântico Sul.
Por outro lado, Luiz Felipe de Alencastro argumenta que o movimento de
Restauração portuguesa levou a
(..) uma separação que pode – e deve – ser estabelecida, entre dois agentes sociais distintos: (...)
o ‘homem ultramarino’ e o ‘homem colonial’. O primeiro faz sua carreira no ultramar buscando
lucros, recompensas e títulos desfrutáveis na corte. O segundo circula em diversas regiões do
Império, mas joga todas as suas fichas na promoção social e econômica acumulada numa
determinada praça, num enclave colonial.
Não obstante, a separação entre ‘homem ultramarino’ e ‘homem colonial’ corre o
risco de nos remeter, mais uma vez, à visão dicotômica metrópole versus colônia,
perdendo -se a perspectiva mais geral e inovadora, que, aliás, pautou toda a leitura e
a compreensão que o autor tem do processo de formação do Brasil no Atlântico Sul,
ou seja, a perspectiva do Império. No interior deste, tanto o ‘homem ultramarino’,
quanto o ‘homem colonial’ são ambos produto de redes e interesses comerciais e
políticos, que lhe teceram não apenas a geografia, mas também a soberania. Afinal,
um João Fernandes Vieira, nascido no Funchal, Ilha da Madeira, foi grande
proprietário de engenhos no nordeste, governador da Paraíba e de Angola, tornou-se
membro do Conselho de Guerra, em Lisboa, recebeu duas comendas da Ordem de
Cristo, vindo a falecer em Olinda. Salvador Correia de Sá e Benevides nasceu em
Cádiz, foi encomendero em Tucumã, senhor de engenho na Guanabara, governador
do Rio e de Angola, membro do Conselho Ultramarino em Lisboa, onde viria a
morrer. Porque o primeiro é ‘colonial’ e segundo, ‘ultramarino’? Não teriam sido
ambos ‘homens imperiais’, no sentido mais amplo e complexo do termo?
Estas são algumas questões que, nos últimos tempos, têm marcado nossa
produção historiográfica. Questões que nos são suscitadas pela leitura d’ O Trato dos
Viventes, tese de fôlego monumental, cuja edição era tão esperada, já que só a
conhecíamos através de fragmentos, e que, desde então, vem sendo incorporada em
nossas aulas, pesquisas e publicações. Por tudo isso, pelos caminhos e interrogações
que nos propõe, é um privilégio e um prazer ter em mãos este livro.
Tempo, Rio de Janeiro, Vol. 6, n° 11, 2001, pp. 267-273.
S-ar putea să vă placă și
- História da América: Percursos e InvestigaçõesDe la EverandHistória da América: Percursos e InvestigaçõesÎncă nu există evaluări
- A Bolívia e seu Protagonismo na Guerra Grande (1865-1868)De la EverandA Bolívia e seu Protagonismo na Guerra Grande (1865-1868)Încă nu există evaluări
- História Indígena (Resenhas)Document12 paginiHistória Indígena (Resenhas)mesquichat100% (1)
- Capoeira - A História E Trajetória de Um Patrimônio Cultural Do Brasil - Ricardo Martins Porto Lussac E Manoel José Gomes TubinoDocument10 paginiCapoeira - A História E Trajetória de Um Patrimônio Cultural Do Brasil - Ricardo Martins Porto Lussac E Manoel José Gomes TubinoIvan DominguezÎncă nu există evaluări
- Cento e Vinte Milhões de Crianças No Centro Da TormentaDocument4 paginiCento e Vinte Milhões de Crianças No Centro Da Tormentathalitaguitar0% (1)
- História Da ÁfricaDocument4 paginiHistória Da ÁfricaMatheus SouzaÎncă nu există evaluări
- Paul Lovejoy 1Document44 paginiPaul Lovejoy 1IsadoraMaria100% (1)
- Fichamento Casa Grande e SenzalaDocument3 paginiFichamento Casa Grande e SenzalaKamila MartinsÎncă nu există evaluări
- 3 - A Afirmação Dos Índios No Nordeste (6 P) PDFDocument6 pagini3 - A Afirmação Dos Índios No Nordeste (6 P) PDFflavio benitesÎncă nu există evaluări
- Pedagogia Indígena DecolonialDocument11 paginiPedagogia Indígena DecolonialMabia Aline Freitas SalesÎncă nu există evaluări
- Balanço Historiografico Escravidao BrasilDocument11 paginiBalanço Historiografico Escravidao BrasilCristiane Kozlowsky NevesÎncă nu există evaluări
- Alencastro LuizFelipede LD PDFDocument171 paginiAlencastro LuizFelipede LD PDFiaventoÎncă nu există evaluări
- Formação Do Brasil Contemporâneo Cap MineraçãoDocument2 paginiFormação Do Brasil Contemporâneo Cap MineraçãoJauzão PescaÎncă nu există evaluări
- SOUZA, Laura de Mello - Política e Administração ColonialDocument25 paginiSOUZA, Laura de Mello - Política e Administração ColonialRafaela PalomboÎncă nu există evaluări
- Resistir para existir: O samba de véio da ilha do MassanganoDe la EverandResistir para existir: O samba de véio da ilha do MassanganoÎncă nu există evaluări
- História Da ÁfricaDocument4 paginiHistória Da ÁfricaCláudio Henrique de SouzaÎncă nu există evaluări
- Escravidão No Brasil Escravidão IndígenaDocument3 paginiEscravidão No Brasil Escravidão Indígenabya rbyaÎncă nu există evaluări
- Programa Hist Africa Contemporanea Diurno 2sem 2016Document6 paginiPrograma Hist Africa Contemporanea Diurno 2sem 2016Ana Flavia Ramos100% (1)
- 9 Rural Como Categoria de PensamentoDocument31 pagini9 Rural Como Categoria de PensamentoRayane De Moura SantosÎncă nu există evaluări
- Solução Caseira - Revista de HistóriaDocument3 paginiSolução Caseira - Revista de HistóriaGneadUfbaÎncă nu există evaluări
- Afrânio Garcia - A Sociologia Rural No BrasilDocument18 paginiAfrânio Garcia - A Sociologia Rural No BrasilDiego AmoedoÎncă nu există evaluări
- A Colonização Portuguesa Na AméricaDocument8 paginiA Colonização Portuguesa Na AméricaLucas Dos Santos OliveiraÎncă nu există evaluări
- A Luta Anticolonial Angolana em Luandino e Pepetela PDFDocument25 paginiA Luta Anticolonial Angolana em Luandino e Pepetela PDFJh SkeikaÎncă nu există evaluări
- Resenha Raizes Do BrasilDocument3 paginiResenha Raizes Do BrasilMARCELLA TORRESÎncă nu există evaluări
- Celestino Escravidao - Indigena - e - Trabalho - Compulsorio - No - RioDocument18 paginiCelestino Escravidao - Indigena - e - Trabalho - Compulsorio - No - Riopaulo costa100% (1)
- Fichamento Casa GrandeDocument7 paginiFichamento Casa GrandeFelipe FernandesÎncă nu există evaluări
- 016843-18 CompletoDocument455 pagini016843-18 CompletoN NogueiraÎncă nu există evaluări
- Cartilha Povos OrigináriosDocument6 paginiCartilha Povos OrigináriosMayara HelenaÎncă nu există evaluări
- A Escravidão Indígenas e Os JesuítasDocument16 paginiA Escravidão Indígenas e Os JesuítasOs Bunitos100% (1)
- ResenhaDocument6 paginiResenhaJoyNascimentoÎncă nu există evaluări
- Programa de Sociologia Rural (ERU 418) - PHTDocument7 paginiPrograma de Sociologia Rural (ERU 418) - PHTPamela EllerÎncă nu există evaluări
- A Voz Dos Fiéis No Candomblé Reafricanizado de São PauloDocument185 paginiA Voz Dos Fiéis No Candomblé Reafricanizado de São Paulomarioa_3Încă nu există evaluări
- Piratas e Corsários Na Idade ModernaDocument34 paginiPiratas e Corsários Na Idade ModernaRenato Renan SantosÎncă nu există evaluări
- Antropologia Da AlimentaçãoDocument27 paginiAntropologia Da AlimentaçãoSandro SilvaÎncă nu există evaluări
- Resenha de Feitores Do Corpo, Missionários Da Mente - Washington Santos NascimentoDocument10 paginiResenha de Feitores Do Corpo, Missionários Da Mente - Washington Santos NascimentoJP HaddadÎncă nu există evaluări
- Fichamento Do Livro - A Escravidão No BrasilDocument14 paginiFichamento Do Livro - A Escravidão No BrasilPique Artilheira100% (1)
- 02-As Alforrias em Minas Gerais No Século XIXDocument16 pagini02-As Alforrias em Minas Gerais No Século XIXCaio da Silva BatistaÎncă nu există evaluări
- Quilombos No BrasilDocument12 paginiQuilombos No Brasilbullzeboss100% (1)
- Artigo Escravidao - Interna - Na - Africa - Antes - Do - Trafico - Negr PDFDocument13 paginiArtigo Escravidao - Interna - Na - Africa - Antes - Do - Trafico - Negr PDFPedro Sérgio PereiraÎncă nu există evaluări
- Resenha Casa-Grande SenzalaDocument2 paginiResenha Casa-Grande SenzalaNina FonsecaÎncă nu există evaluări
- Resenha A Escravidão Na África Paul LovejoyDocument3 paginiResenha A Escravidão Na África Paul LovejoyNah CostaÎncă nu există evaluări
- 2.O Primeiro Reinado em Revisão - Gladys RibeiroDocument4 pagini2.O Primeiro Reinado em Revisão - Gladys RibeiroFabioPaulaDuarte0% (1)
- Jorge Ferreira - O Nome e A CoisaDocument3 paginiJorge Ferreira - O Nome e A CoisaCarlos Eduardo LimaÎncă nu există evaluări
- Breila Maria Rocha de Oliveira Um Resgate Histórico Dos Jornais de Guariba (SP)Document130 paginiBreila Maria Rocha de Oliveira Um Resgate Histórico Dos Jornais de Guariba (SP)Luciano José MendesÎncă nu există evaluări
- Blackness Identidades, Racismo e Masculinidades em Bell HooksDocument12 paginiBlackness Identidades, Racismo e Masculinidades em Bell HooksViviane A. Suzy PistacheÎncă nu există evaluări
- História Da Amazônia III Plano de CursoDocument2 paginiHistória Da Amazônia III Plano de CursoANNA COELHOÎncă nu există evaluări
- Marcelo Bittencourt Leituras Do ColonialismoDocument20 paginiMarcelo Bittencourt Leituras Do ColonialismoYasmin Hashimoto Tonini100% (1)
- FRY, P. O Que A Cinderela Negra Tem A Dizer Sobre A Política Racial No BrasilDocument14 paginiFRY, P. O Que A Cinderela Negra Tem A Dizer Sobre A Política Racial No BrasilAline Ramos BarbosaÎncă nu există evaluări
- História Da ÁfricaDocument60 paginiHistória Da ÁfricapaztodÎncă nu există evaluări
- 8 o Tráfico Transatlântico para Terras PernambucanasDocument74 pagini8 o Tráfico Transatlântico para Terras Pernambucanasjadeilson nascimentoÎncă nu există evaluări
- RESENHA - A África e Os Africanos - Marcio ValenteDocument6 paginiRESENHA - A África e Os Africanos - Marcio ValenteMValenteÎncă nu există evaluări
- O Pensamento Brasileiro e A Questão Racial - RCRC - Rev Áfr e Africanidds - Ago10Document19 paginiO Pensamento Brasileiro e A Questão Racial - RCRC - Rev Áfr e Africanidds - Ago10Ricardo Cesar CostaÎncă nu există evaluări
- Escravidao Na Africa Uma Historia de Suas TransformacoesDocument9 paginiEscravidao Na Africa Uma Historia de Suas TransformacoesBrayan de SouzaÎncă nu există evaluări
- Caio Prado Jr. - O Sentido Da Colonização - FichamentoDocument13 paginiCaio Prado Jr. - O Sentido Da Colonização - FichamentoAna de Macedo BuzziÎncă nu există evaluări
- 3b - PORTILLA, Miguel Leon - A Mesoamérica Antes de 1519Document21 pagini3b - PORTILLA, Miguel Leon - A Mesoamérica Antes de 1519Priscilla Pereira Goncalves Ramal 4146Încă nu există evaluări
- Viva o Povo Brasileiro Cronicas e Uma JDocument76 paginiViva o Povo Brasileiro Cronicas e Uma JHerminia Delgado NúñezÎncă nu există evaluări
- Matriz TupiDocument3 paginiMatriz TupiHal WildsonÎncă nu există evaluări
- Alforrias em Rio de ContasDocument208 paginiAlforrias em Rio de ContasJorge Chastinet100% (1)
- Oliveira Nascimento Do Brasil Cap1Document36 paginiOliveira Nascimento Do Brasil Cap1Amanda CardosoÎncă nu există evaluări
- Tabela Das Funcoes Organicas 17288Document3 paginiTabela Das Funcoes Organicas 17288Janaina AlvesÎncă nu există evaluări
- Resenha A Construcao Nacional 1830 1889Document4 paginiResenha A Construcao Nacional 1830 1889Juliana FerreiraÎncă nu există evaluări
- Lista de Revistas - QualisDocument16 paginiLista de Revistas - QualisDanielle MoraisÎncă nu există evaluări
- HOBSBAWM ResenhaDocument2 paginiHOBSBAWM ResenhaJuliana FerreiraÎncă nu există evaluări
- Resenha Encruzilhadas Da LiberdadeDocument2 paginiResenha Encruzilhadas Da LiberdadeJuliana FerreiraÎncă nu există evaluări
- Nazismo Cinema e Os Judeus O Antissemiti PDFDocument10 paginiNazismo Cinema e Os Judeus O Antissemiti PDFJuliana FerreiraÎncă nu există evaluări
- Gramisk Cadernos Do Cárcere Volume 1 ResenhaDocument11 paginiGramisk Cadernos Do Cárcere Volume 1 ResenhaJuliana FerreiraÎncă nu există evaluări
- Planejamento2017.2 DidáticaDocument4 paginiPlanejamento2017.2 DidáticaJuliana FerreiraÎncă nu există evaluări
- Resenha Foucoult PDFDocument7 paginiResenha Foucoult PDFJuliana FerreiraÎncă nu există evaluări
- Resenha CaufieldDocument3 paginiResenha CaufieldJuliana FerreiraÎncă nu există evaluări
- Resenha CaufieldDocument3 paginiResenha CaufieldJuliana FerreiraÎncă nu există evaluări
- Resenha Encruzilhadas Da LiberdadeDocument2 paginiResenha Encruzilhadas Da LiberdadeJuliana FerreiraÎncă nu există evaluări
- Linha Do Tempo FerroviáriaDocument3 paginiLinha Do Tempo FerroviáriaScribdTranslationsÎncă nu există evaluări
- Aula 02 - Redação para ConcursosDocument77 paginiAula 02 - Redação para ConcursosDjanilson LopesÎncă nu există evaluări
- Livro Gestão de Projetos - Conhecendo Os Grupos de ProcessoDocument76 paginiLivro Gestão de Projetos - Conhecendo Os Grupos de ProcessoSilvio AntonioÎncă nu există evaluări
- Exploração Do Movimento Retilíneo Uniforme PDFDocument3 paginiExploração Do Movimento Retilíneo Uniforme PDFAlexandre PereiraÎncă nu există evaluări
- Anatomia em PanoramicaDocument10 paginiAnatomia em PanoramicaDouglas Monteiro100% (1)
- Declaração Consentimento - RGPDDocument1 paginăDeclaração Consentimento - RGPDJoana RochaÎncă nu există evaluări
- Novo Curso Da Cipa 2023 - 2024 - 230725 - 111548Document208 paginiNovo Curso Da Cipa 2023 - 2024 - 230725 - 111548Emerson L SantosÎncă nu există evaluări
- Dentes Do Siso Incluso e Semi InclusoDocument6 paginiDentes Do Siso Incluso e Semi InclusoMarcos ZopelariÎncă nu există evaluări
- AE PERFIL EMPREENDEDOR Material Apoio Professor ElizeuDocument27 paginiAE PERFIL EMPREENDEDOR Material Apoio Professor ElizeuPoliana FerreiraÎncă nu există evaluări
- Fispq Spectrogel BP Rev 05Document9 paginiFispq Spectrogel BP Rev 05Rosiane Vieira BarrosÎncă nu există evaluări
- Editoração Eletrônica e Sua HistóriaDocument7 paginiEditoração Eletrônica e Sua HistóriaTássia CrisÎncă nu există evaluări
- Apresentação - Gestao de TIDocument8 paginiApresentação - Gestao de TIPauloÎncă nu există evaluări
- Nobre ExplicaçãoDocument56 paginiNobre Explicaçãoموسى بشيرÎncă nu există evaluări
- Resumo Livro Qualidade Gestão e Métodos - ToledoDocument18 paginiResumo Livro Qualidade Gestão e Métodos - ToledoGuilherme TieppoÎncă nu există evaluări
- Lista 05Document2 paginiLista 05Giovanni AtaídeÎncă nu există evaluări
- Catalogo Dist 2008Document52 paginiCatalogo Dist 2008jose rochaÎncă nu există evaluări
- Catalogo Ermeto (2003)Document358 paginiCatalogo Ermeto (2003)fogacsmu67% (3)
- Catalogo Ghelplus de 2023 Virtual Copy 1Document32 paginiCatalogo Ghelplus de 2023 Virtual Copy 1Amanda OliveiraÎncă nu există evaluări
- Necessaire Meia LuaDocument4 paginiNecessaire Meia LuaFernanda Paz BritoÎncă nu există evaluări
- Relatório de GeologiaDocument2 paginiRelatório de Geologialeooopassos9Încă nu există evaluări
- TEXTO PARA REFLEXÃO Bons Pais Corrigem Erros Pais Brilhantes Ensinam A PensarDocument3 paginiTEXTO PARA REFLEXÃO Bons Pais Corrigem Erros Pais Brilhantes Ensinam A PensarAparecida De Fatima Gomes MacaubasÎncă nu există evaluări
- (Ebook) - 5 Chaves Da Alta Performance No Day TradeDocument9 pagini(Ebook) - 5 Chaves Da Alta Performance No Day TradeLuizÎncă nu există evaluări
- A Comunicação Oral Na Sala de Aula PDFDocument128 paginiA Comunicação Oral Na Sala de Aula PDFBruno Filipe PiresÎncă nu există evaluări
- Estrutura Interna Da TerraDocument1 paginăEstrutura Interna Da TerraRaymakson CarvalhoÎncă nu există evaluări
- Anatomia Da Veia de LabbéDocument26 paginiAnatomia Da Veia de LabbéHugo NapoleãoÎncă nu există evaluări
- Relatório IV - Relação Carga e Massa Do ElétronDocument14 paginiRelatório IV - Relação Carga e Massa Do ElétronThaisa Uzan100% (1)
- O Que É FEL e Como Funciona A Metodologia CAPEX e OPEX - Glic FàsDocument5 paginiO Que É FEL e Como Funciona A Metodologia CAPEX e OPEX - Glic FàsNobruScribÎncă nu există evaluări
- 7 PrebosteejuizDocument5 pagini7 PrebosteejuizFrancisco LimaÎncă nu există evaluări
- Plano de Aula de Sistemas de Comunicações Digitais 2018.2 PDFDocument3 paginiPlano de Aula de Sistemas de Comunicações Digitais 2018.2 PDFyohfonseca88Încă nu există evaluări
- Lista de Inscritos Aperfeicoamento 2022Document7 paginiLista de Inscritos Aperfeicoamento 2022Charles DonatoÎncă nu există evaluări