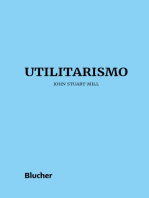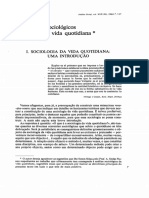Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
John Stuart Mill - Da Definição de Economia Política e Do Método de Investigação Próprio A Ela
Încărcat de
Guilherme Quadras Rodrigues0 evaluări0% au considerat acest document util (0 voturi)
97 vizualizări18 pagini1) O documento discute as definições de economia política e como elas evoluíram após o desenvolvimento da própria ciência, ao invés de precedê-la.
2) A definição mais comum vê a economia política como a ciência que estuda as leis da produção, distribuição e consumo da riqueza.
3) No entanto, a ilustração frequente de que a economia política se relaciona ao Estado assim como a economia doméstica à família é problemática, pois a economia doméstica é uma arte e não uma
Descriere originală:
ok
Titlu original
John Stuart Mill – Da Definição de Economia Política e Do Método de Investigação Próprio a Ela
Drepturi de autor
© © All Rights Reserved
Formate disponibile
TXT, PDF, TXT sau citiți online pe Scribd
Partajați acest document
Partajați sau inserați document
Vi se pare util acest document?
Este necorespunzător acest conținut?
Raportați acest document1) O documento discute as definições de economia política e como elas evoluíram após o desenvolvimento da própria ciência, ao invés de precedê-la.
2) A definição mais comum vê a economia política como a ciência que estuda as leis da produção, distribuição e consumo da riqueza.
3) No entanto, a ilustração frequente de que a economia política se relaciona ao Estado assim como a economia doméstica à família é problemática, pois a economia doméstica é uma arte e não uma
Drepturi de autor:
© All Rights Reserved
Formate disponibile
Descărcați ca TXT, PDF, TXT sau citiți online pe Scribd
0 evaluări0% au considerat acest document util (0 voturi)
97 vizualizări18 paginiJohn Stuart Mill - Da Definição de Economia Política e Do Método de Investigação Próprio A Ela
Încărcat de
Guilherme Quadras Rodrigues1) O documento discute as definições de economia política e como elas evoluíram após o desenvolvimento da própria ciência, ao invés de precedê-la.
2) A definição mais comum vê a economia política como a ciência que estuda as leis da produção, distribuição e consumo da riqueza.
3) No entanto, a ilustração frequente de que a economia política se relaciona ao Estado assim como a economia doméstica à família é problemática, pois a economia doméstica é uma arte e não uma
Drepturi de autor:
© All Rights Reserved
Formate disponibile
Descărcați ca TXT, PDF, TXT sau citiți online pe Scribd
Sunteți pe pagina 1din 18
John Stuart Mill � Da Defini��o de Economia Pol�tica e do M�todo de Investiga��o
Pr�prio a Ela
Poder-se-ia imaginar, numa vis�o superficial da natureza e objetos da defini��o,
que a defini��o de uma ci�ncia ocuparia o mesmo lugar na ordem cronol�gica que
comumente apresenta na ordem did�tica. Como um tratado em qualquer ci�ncia
comumente come�a com uma tentativa de exprimir, numa f�rmula breve, o que a ci�ncia
� e no que ela difere com rela��o �s outras ci�ncias, poderia supor-se que a
constru��o de tal f�rmula naturalmente precedeu o cultivo afortunado da ci�ncia.
Entretanto, est� longe de ter sido este o caso. A defini��o de uma ci�ncia quase
invariavelmente n�o precedeu a cria��o da pr�pria ci�ncia, mas a seguiu. Como o
muro de uma cidade, que comumente foi constru�do n�o para ser um recept�culo para
aqueles edif�cios que poderiam mais tarde levantar-se mas para circunscrever um
agregado j� existente. A humanidade n�o mediu o terreno para o cultivo intelectual
antes de come�ar a plant�-lo; n�o dividiu o campo de investiga��o humana primeiro
em compartimentos regulares, para em seguida come�ar a colher verdades com o
prop�sito de serem ali depositadas; procedeu de modo menos sistem�tico. Como as
descobertas foram reunidas uma a uma ou em grupos como resultado do processamento
continuado de algum curso uniforme de discurso, as verdades que foram
sucessivamente acumuladas aderiam e tornavam-se aglomeradas de acordo com suas
afinidades individuais. Sem nenhuma classifica��o intencional, os fatos se auto
classificam. Eles se tornam associados na mente, de acordo com suas semelhan�as
gerais e �bvias; e os agregados assim formados, tendo que ser frequentemente
indicados como agregados, acabam por ser denotados por um nome comum. Qualquer
corpo de verdades que adquire assim uma denomina��o coletiva foi chamado uma
ci�ncia. Passou-se muito tempo antes que se sentisse que esta classifica��o
fortuita n�o era suficientemente precisa. Foi num est�gio mais avan�ado do
progresso do conhecimento que a humanidade se tornou sens�vel da vantagem em
investigar se os fatos que tinham assim agrupado se distinguiam de todos os outros
fatos por algumas propriedades comuns, e quais eram estas propriedades. As
primeiras tentativas de responder a esta quest�o foram comumente muito in�beis, e
as defini��es consequentes extremamente imperfeitas.
E, na verdade, existe raramente qualquer investiga��o no corpo total da ci�ncia que
requeira t�o alto grau de an�lise e abstra��o como a investiga��o do que a ci�ncia
� em si mesma; em outras palavras, quais s�o as propriedades comuns a todas as
verdades que a comp�em e que distinguem estas [mesmas verdades] de todas as outras
verdades. Consequentemente, muitas pessoas que s�o profundamente versadas nos
detalhes de uma ci�ncia ficariam muito perplexas em fornecer uma defini��o de
ci�ncia em si mesma que n�o fosse suscet�vel de obje��es l�gicas bem fundadas.
Desta observa��o n�o podemos excetuar os autores de tratados cient�ficos
elementares. As defini��es que esses trabalhos fornecem das ci�ncias na maior parte
ou n�o se acomodam a elas - algumas defini��es sendo muito amplas, outras muito
estritas - ou n�o penetram suficientemente no interior delas, mas definem uma
ci�ncia por seus acidentes, n�o por suas ess�ncias; por alguma de suas propriedades
que pode, com efeito, servir ao prop�sito de um marco distintivo, mas que � de
muito pouca import�ncia para ter por si mesma levado a humanidade a dar � ci�ncia
um nome e classific�-la como um objeto de estudo separado.
A defini��o de uma ci�ncia deve, de fato, ser colocada entre a classe de verdades
que Dugald Stewart tinha em mente quando observou que os primeiros princ�pios de
todas as ci�ncias pertencem � filosofia da mente humana. A observa��o � exata; e os
primeiros princ�pios de todas as ci�ncias, incluindo a defini��o delas,
consequentemente participaram at� agora na vaguidade e incerteza que atravessa o
mais dif�cil e infundado de todos os ramos de conhecimento. Se abrirmos qualquer
livro, mesmo de matem�tica ou de filosofia natural, � imposs�vel n�o sermos
surpreendidos pela obscuridade do que verificamos representado como no��es
preliminares e fundamentais e pela maneira muito insuficiente pela qual as
proposi��es, que nos s�o impostas como primeiros princ�pios, parecem ser provadas,
em contraste com a lucidez das explica��es e a conclusividade das provas t�o logo o
escritor penetre nos detalhes de seu objeto. De onde vem esta anomalia? Por que a
admitida certeza dos resultados dessas ci�ncias n�o � de modo algum prejudicada
pela falta de solidez em suas premissas? Como acontece que uma firme superestrutura
se erija sobre uma funda��o inst�vel? A solu��o do paradoxo � que o que se chama
primeiros princ�pios s�o na verdade �ltimos princ�pios. Ao inv�s de serem o ponto
fixo a partir de onde a cadeia de provas, que suporta todo o resto da ci�ncia, fica
suspensa, eles pr�prios s�o os v�nculos mais remotos da cadeia. Apesar de
apresentados como se todas as verdades devessem ser deduzidas deles, s�o verdades
que chegaram por �ltimo; o resultado do �ltimo est�gio de generaliza��o, ou do
�ltimo e mais sutil processo de an�lise, ao qual as verdades particulares da
ci�ncia podem ser sujeitas; averiguando-se previamente estas verdades particulares
pela evid�ncia adequada � sua pr�pria natureza.
Como outras ci�ncias, a economia pol�tica permaneceu destitu�da de uma defini��o
constru�da em princ�pios estritamente l�gicos, ou at� mesmo de uma defini��o
exatamente co-extensiva � coisa definida, o que � mais f�cil de se ter. Isto n�o
ocasionou, talvez, que os limites reais da ci�ncia fossem, pelo menos neste pa�s,
praticamente mal compreendidos ou ultrapassados; mas ocasionou - talvez devamos
antes dizer est� ligado com - concep��es indefinidas e frequentemente err�neas do
modo pelo qual a ci�ncia deveria ser estudada.
Prosseguimos verificando estas asser��es por um exame das defini��es mais
geralmente admitidas da ci�ncia.
1 - Primeiro, pelo que diz respeito � no��o vulgar de natureza e objeto da economia
pol�tica, n�o estaremos longe do marco se o enunciarmos ser alguma coisa com o
seguinte resultado: que a ci�ncia pol�tica � uma ci�ncia que ensina, ou professa
ensinar, de que maneira uma na��o pode ser tornada rica. Esta no��o do que
constitui a ci�ncia est� em algum grau apoiada pelo t�tulo e arranjo que Adam Smith
deu a seu inestim�vel trabalho. Um tratado sistem�tico de economia pol�tica, que
ele escolheu chamar uma Investiga��o da Natureza e Causas da Riqueza das Na��es
(Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations); e os t�picos s�o
introduzidos em uma ordem apropriada �quela vis�o do prop�sito de seu livro.
Com rela��o � defini��o em quest�o, se ela pode ser chamada uma defini��o que n�o
se encontra em alguma forma de conjunto de palavras, mas, deixada para ser
alcan�ada por um processo de abstra��o de uma centena de modos correntes de falar
acerca da quest�o, parece sujeita � obje��o conclusiva de que ela confunde as
ideias essencialmente distintas, apesar de estreitamente unidas, de ci�ncia e arte.
Estas duas ideias diferem entre si como o entendimento difere da vontade, ou como o
modo indicativo na gram�tica difere do imperativo. Uma negocia com fatos, a outra
com preceitos. A ci�ncia � uma cole��o de verdades; a arte, um corpo de regras ou
dire��es para a conduta. A linguagem da arte �, fa�a isto; evite aquilo. A ci�ncia
toma cogni��o de um fen�meno, e se esfor�a em descobrir sua lei; a arte prop�e para
si um fim e procura meios para efetu�-lo.
Se, portanto, a economia pol�tica for uma ci�ncia, n�o pode ser uma cole��o de
regras pr�ticas, embora seja poss�vel que regras pr�ticas sejam fundadas nela, a
menos que ela seja uma ci�ncia in�til. A ci�ncia da mec�nica, um ramo da filosofia
natural, estabelece as leis do movimento e as propriedades do que se chama for�as
mec�nicas. A arte da mec�nica pr�tica ensina como n�s podemos aproveitar daquelas
leis e propriedades para aumentar nosso controle sobre a natureza exterior. Uma
arte n�o seria uma arte a menos que estivesse fundada no conhecimento cient�fico
das propriedades do objeto de estudo; sem isto, n�o seria filosofia, mas empirismo;
empeiria (teoria), n�o t�chne (arte) no sentido plat�nico. Portanto, as regras para
fazer uma na��o aumentar em riqueza n�o constituem uma ci�ncia, mas s�o os
resultados da ci�ncia. A economia pol�tica n�o instrui por si mesma como fazer uma
na��o rica; mas quem quer que esteja qualificado para julgar os meios de tornar
rica uma na��o deve antes ser um economista pol�tico.
2 - A defini��o mais comumente aceita entre pessoas instru�das, e colocada no
come�o de muitos dos tratados competentes sobre a quest�o, tem o seguinte
resultado: que a economia pol�tica nos informa acerca das leis que regulam a
produ��o, distribui��o e consumo da riqueza. A esta defini��o anexa-se
frequentemente uma ilustra��o familiar. A economia pol�tica, diz-se, est� para o
Estado assim como a economia dom�stica est� para a fam�lia.
Esta defini��o est� livre do defeito que apontamos na primeira. Observa com
precis�o que a economia- pol�tica � uma ci�ncia e n�o uma arte; que � versada nas
leis da natureza, n�o com m�ximas de conduta, e nos ensina como as coisas acontecem
em si mesmas, n�o de que maneira � �til para n�s form�-las de modo a atingir algum
fim particular.
Mas, embora a defini��o n�o seja objet�vel, raramente se pode dizer o mesmo para a
ilustra��o que a acompanha, que ao contr�rio remete � no��o corrente e vaga de
economia pol�tica j� refutada. A economia pol�tica � realmente, e � estabelecida na
defini��o para ser, uma ci�ncia; mas a economia dom�stica, na medida em que �
pass�vel de ser reduzida a princ�pios, � uma arte. Consiste de regras ou m�ximas de
prud�ncia para manter a fam�lia regularmente suprida com o que suas necessidades
requerem, e assegurando, com alguma quantidade dada de meios, a maior quantidade
poss�vel de conforto f�sico e prazer. Indubitavelmente o resultado ben�fico, a
grande aplica��o pr�tica da economia pol�tica seria realizar para uma na��o algo
semelhante ao que a mais perfeita economia dom�stica realiza para uma �nica
fam�lia; mas, supondo-se este prop�sito realizado, haveria a mesma diferen�a entre
as regras pelas quais isso seria efetuado e a economia pol�tica, que existe entre a
arte de artilharia e a teoria dos proj�teis ou entre as regras de agrimensura
matem�tica e a ci�ncia da trigonometria.
A defini��o, embora n�o esteja sujeita � mesma obje��o da ilustra��o que lhe �
anexada, est� em si mesma longe de ser irrecuper�vel. A nenhuma delas, consideradas
como estabeleci das � frente de um tratado, temos muito a objetar. Numa �poca muito
pr�xima ao in�cio do estudo da ci�ncia, algo mais preciso seria in�til e, portanto,
pedante. Numa defini��o meramente inicial, n�o se requer precis�o cient�fica. o
prop�sito � insinuar � mente do aprendiz - � apenas material atrav�s de que meios -
alguma preconcep��o geral de quais s�o os usos da ocupa��o, e quais s�o as s�ries
de t�picos atrav�s dos quais ele est� por viajar. Enquanto mera antecipa��o ou
�bauche (esbo�o) de uma defini��o, que tenciona indicar a um aprendiz tanto quanto
ele seja capaz de entender, antes de come�ar, da natureza do que est� por lhe ser
ensinado, n�o polemizamos com a f�rmula admitida. Mas, se ela pede para ser
admitida como aquela definitio (defini��o) completa ou linha fronteiri�a que
resulta de uma explora��o completa de toda a extens�o do tema, e tenciona-se que
ela marque o lugar exato da economia pol�tica entre as ci�ncias, sua pretens�o n�o
pode ser admitida.
"A ci�ncia das leis que regulam a produ��o, distribui��o e consumo da riqueza. O
termo "riqueza" est� envolto por um nevoeiro de associa��es flutuantes e
quim�ricas, que n�o permite que nada do que � visto atrav�s delas se mostre
distintamente. Complementemos seu local por circunl�quio. Define-se a riqueza como
todos os objetos �teis ou convenientes � humanidade, com exce��o daqueles que podem
ser obtidos em quantidade indefinida sem trabalho. Ao inv�s de todos os objetos,
algumas autoridades dizem "todos os objetos materiais; a distin��o n�o tem nenhuma
import�ncia para o presente prop�sito.
Restringindo-nos � produ��o: se as leis da produ��o de todos os objetos, ou at� de
todos os objetos materiais, que s�o �teis ou agrad�veis � humanidade, estivessem
contidas na economia pol�tica, seria dif�cil dizer onde a ci�ncia terminaria; pelo
menos, todo ou aproximadamente todo o conhecimento f�sico estaria inclu�do nela. O
trigo e o gado s�o objetos materiais em alto grau �teis � humanidade. As leis de
produ��o do primeiro incluem os princ�pios de agricultura; a produ��o do outro � o
objeto da arte de cria��o bovina, que, na medida em que � realmente uma arte, deve
ser constru�da a partir da ci�ncia da fisiologia. As leis da produ��o de artigos
manufaturados envolvem o todo da mec�nica. As leis de produ��o da riqueza que �
extra�da das entranhas da terra n�o podem ser estabelecidas sem assumir uma grande
parte da geologia.
Quando uma defini��o ultrapassa t�o claramente em extens�o o que professa definir,
devemos supor que isto n�o significa que ela deva ser interpretada literalmente,
embora as limita��es com as quais ela deve ser entendida n�o estejam formuladas.
Talvez se diga que a economia pol�tica � versada unicamente naquelas leis da
produ��o da riqueza que s�o aplic�veis a todas as esp�cies de riqueza; aquelas que
se referem aos detalhes de ocupa��es ou empregos formam o objeto de outras ci�ncias
totalmente distintas.
Se, entretanto, n�o existisse na distin��o entre economia pol�tica e ci�ncia f�sica
nada mais do que isto, nos aventurar�amos a afirmar que a distin��o nunca teria
sido feita. N�o existe nenhuma divis�o similar em qualquer outro departamento do
conhecimento. N�o dividimos a zoologia e a mineralogia em duas partes, uma que
trata das propriedades comuns a todos os animais ou a todos os minerais, outra
versada "nas propriedades peculiares a cada esp�cie particular de animais ou
minerais. A raz�o � �bvia; n�o existe nenhuma distin��o de esp�cie entre as leis
gerais da natureza animal ou mineral e as propriedades particulares das esp�cies
particulares. Existe uma analogia t�o pr�xima entre as leis gerais e as
particulares quanto existe entre uma das leis gerais e outra; mais comumente, de
fato, as leis particulares nada mais s�o do que o resultado complexo de uma
pluralidade de leis gerais que se modificam mutuamente. Portanto, uma separa��o
entre as leis gerais e as particulares, simplesmente porque as primeiras s�o gerais
e as �ltimas particulares, iria igualmente contra os mais fortes motivos de
conveni�ncia e as naturais tend�ncias da mente. Se o caso � diferente com as leis
da produ��o de riqueza, deve ser porque, neste caso, as leis gerais diferem em
esp�cie das particulares. Mas, se assim o for, a diferen�a de esp�cie � a distin��o
radical, e dever�amos descobrir qual � essa diferen�a e fundar nela nossa
defini��o.
Todavia, al�m disso, as reconhecidas fronteiras que separam o campo da economia
pol�tica do da ci�ncia f�sica de modo algum correspondem � distin��o entre as
verdades que concernem a todas as esp�cies de riqueza e aquelas que se referem
somente a algumas esp�cies. As tr�s leis do movimento e a lei de gravita��o s�o
comuns a toda mat�ria, desde que a observa��o humana j� se tenha alargado; e estas,
portanto, estando entre as leis da produ��o de toda riqueza, deveriam ser parte da
economia pol�tica. Dificilmente existe algum dos processos industriais que n�o
dependa parcialmente das propriedades da alavanca; mas seria uma classifica��o
estranha a que inclu�sse aquelas propriedades entre as verdades da economia
pol�tica. Ora, esta �ltima ci�ncia tem muitas investiga��es t�o completamente
especiais, e que se referem t�o exclusivamente a tipos particulares de objetos
materiais quanto qualquer dos ramos da ci�ncia f�sica. A investiga��o de algumas
das circunst�ncias que regulam o pre�o do trigo tem t�o pouca rela��o com as leis
comuns � produ��o de toda riqueza quanto qualquer parte do conhecimento do
agricultor. A investiga��o da renda das minas e da pesca, ou do valor dos metais
preciosos, obt�m verdades que t�m refer�ncia imediata unicamente � produ��o de
esp�cies peculiares de riqueza; todavia admite-se que estas esp�cies peculiares
est�o corretamente localizadas na ci�ncia da economia pol�tica.
A distin��o real entre economia pol�tica e ci�ncia f�sica deve ser procurada em
algo mais profundo do que a natureza do objeto de estudo; que, de fato, � na maior
parte comum a ambas. A economia pol�tica e as bases cient�ficas de todas as artes
�teis t�m na verdade um e mesmo objeto de estudo - notadamente, os objetos que
conduzem a conveni�ncia e satisfa��o dos homens, mas elas s�o, no entanto, ramos
distintos do conhecimento.
Se contemplarmos o campo total, alcan�ado ou alcan��vel, do conhecimento humano,
verificaremos que ele se separa obviamente, e como se fosse espontaneamente, em
duas divis�es que se relacionam entre si t�o surpreendentemente por oposi��o e
contraposi��o que em todas as classifica��es de nosso conhecimento elas foram
mantidas separadas. S�o estas a ci�ncia f�sica e a ci�ncia moral ou psicol�gica. A
diferen�a entre estes dois departamentos de nosso conhecimento n�o reside no objeto
de estudo em que eles s�o versados; pois, a despeito das partes mais simples e mais
elementares de cada um, pode dizer-se, com uma aproxima��o � verdade, que eles
dizem respeito a objetos de estudo diferentes - notadamente um refere-se � mente
humana, o outro a todas as outras coisas com exce��o da mente; esta distin��o n�o
vale entre as regi�es mais eminentes das duas ci�ncias. Tome-se a ci�ncia da
pol�tica, por exemplo, ou a das leis: quem dir� que estas s�o ci�ncias f�sicas? E,
no entanto, n�o � �bvio que elas s�o inteiramente versadas tanto na mat�ria quanto
na mente? Tome-se, agora, a teoria da m�sica, da pintura, de qualquer outra das
belas-artes e quem se aventurar� em afirmar que os fatos em que elas s�o versadas
pertencem inteiramente � classe da mat�ria ou inteiramente �quela da mente?
O que se segue parece ser a raz�o fundamental da distin��o entre ci�ncia f�sica e
ci�ncia moral.
Em toda rela��o do homem com a natureza, quer o consideremos agindo sobre ela, quer
recebendo impress�es dela, o efeito ou fen�meno depende de causas de duas esp�cies:
as propriedades do objeto que age, e as do objeto sobre o qual se age. Tudo aquilo
que pode provavelmente acontecer e ao qual dizem respeito conjuntamente o homem e
as coisas exteriores, resulta da opera��o conjunta de uma lei ou leis da mat�ria e
uma lei ou leis da mente humana. Assim a produ��o de trigo pelo trabalho humano � o
resultado de uma lei da mente e de muitas leis da mat�ria. As leis da mat�ria s�o
aquelas propriedades do solo e da vida vegetal que causam a germina��o da semente
na terra, e aquelas propriedades do corpo humano que fazem a alimenta��o necess�ria
ao seu sustento. A lei da mente � que o homem deseja apoderar-se da subsist�ncia e
consequentemente determina os meios necess�rios para obt�-la.
As leis da mente e as leis da mat�ria s�o t�o dessemelhantes em sua natureza que
seria contr�rio a todos os princ�pios de arranjo racional mistur�-las como partes
do mesmo estudo. Portanto, em todos os m�todos cient�ficos, elas s�o colocadas
separadamente. Qualquer efeito ou fen�meno composto que depende tanto das
propriedades da mat�ria como das da mente-pode assim tornar-se o objeto de duas
ci�ncias ou ramos de ci�ncia completamente distintos: um, que trata do fen�meno
somente enquanto ele dependa das leis da mat�ria; o outro, que o trata enquanto ele
dependa das leis da mente.
As ci�ncias f�sicas s�o aquelas que tratam das leis da mat�ria e de todos os
fen�menos complexos enquanto dependentes das leis da mat�ria.
Grande parte das ci�ncias morais pressup�e a ci�ncia f�sica, mas pouco das ci�ncias
f�sicas pressup�e a ci�ncia moral. A raz�o � �bvia. Existem muitos fen�menos (um
terremoto, por exemplo, ou os movimentos dos planetas) que dependem exclusivamente
das leis da mat�ria e n�o t�m rela��o alguma com as leis da mente. Muitas,
portanto, das ci�ncias f�sicas podem ser tratadas sem qualquer refer�ncia � mente e
como se a mente existisse unicamente como um recipiente de conhecimento, n�o como
uma causa que produz efeitos. Mas n�o existem fen�menos que dependam exclusivamente
das leis da mente; at� mesmo os fen�menos da pr�pria mente sendo dependentes das
leis fisiol�gicas do corpo. Desta forma, todas as ci�ncias mentais, n�o se
excetuando a ci�ncia pura da mente, devem levar em conta uma grande variedade de
verdades f�sicas, e (como a ci�ncia � comumente e muito apropriadamente estudada
antes) pode-se dizer que as pressup�em, tomando os fen�menos complexos onde a
ci�ncia f�sica os deixa.
Ora, verificar-se-� que isto � um enunciado preciso da rela��o que a economia
pol�tica estabelece com as v�rias ci�ncias que s�o tribut�rias das artes de
produ��o.
As leis da produ��o dos objetos, que constituem a riqueza, s�o o objeto de estudo
tanto da economia pol�tica como de quase todas as ci�ncias f�sicas. Contudo,
algumas dessas leis, que s�o puramente leis da mat�ria, pertencem � ci�ncia f�sica,
e pertencem exclusivamente a ela. Algumas delas, que s�o leis da mente humana, e
nenhuma outra, pertencem � economia pol�tica, que finalmente resume o resultado da
combina��o de ambas.
A economia pol�tica, portanto, pressup�e todas as ci�ncias f�sicas; assume todas
aquelas verdades daquelas ci�ncias, que dizem respeito � produ��o dos objetos
exigidos pelas necessidades da humanidade; ou pelo menos assume que a parte f�sica
do processo acontece de algum modo.
Investiga, pois, quais s�o os fen�menos da mente que dizem respeito � produ��o e
distribui��o daqueles mesmos objetos; empresta da pura ci�ncia da mente as leis
daqueles fen�menos, e investiga que efeitos se seguem dessas leis mentais que agem
em conjunto com as leis f�sicas.
(Dizemos a produ��o e distribui��o e n�o, como � comum em escritores desta ci�ncia,
a produ��o, distribui��o e consumo. Pois sustentamos que a economia pol�tica, como
� concebida por esses mesmos escritores, n�o tem rela��o alguma com o consumo da
riqueza, ainda mais que a considera��o dele � insepar�vel da considera��o da
produ��o e da distribui��o. N�o temos conhecimento de quaisquer leis do consumo da
riqueza como o objeto de uma ci�ncia precisa; essas leis n�o podem ser outras al�m
das leis da satisfa��o humana. Os economistas pol�ticos nunca trataram o consumo em
si mesmo, mas sempre com o prop�sito de investigar de que maneira diferentes
esp�cies de consumo afetam a produ��o e distribui��o da riqueza. Sob o t�tulo de
consumo, em tratados competentes sobre a ci�ncia, os seguintes temas s�o tratados:
primeiro, a distin��o entre consumo produtivo e improdutivo; segundo, a
investiga��o de se � poss�vel tanta riqueza ser produtiva, e t�o grande por��o do
que foi produzido ser aplicada para fins da produ��o subsequente; terceiro, a
teoria dos impostos, isto �, as duas quest�es seguintes: por quem cada imposto
particular � pago (uma quest�o de distribui��o), e de que maneira os impostos
particulares afetam a produ��o. As leis f�sicas da produ��o de objetos �teis s�o
todas igualmente pressupostas pela ci�ncia da economia pol�tica: no entanto, ela
pressup�e muitas delas de modo geral, parecendo nada dizer delas. Algumas (tais
como, por exemplo, a raz�o decrescente pela qual o produto do solo � aumentado por
uma aplica��o crescente de trabalho) ela � particularmente obrigada a especificar,
e assim parece emprestar aquelas verdades das ci�ncias f�sicas, �s quais elas
propriamente pertencem, e inclu�-las entre suas pr�prias verdades).
Das considera��es acima o que se segue parece surgir como a defini��o correta e
completa de economia pol�tica: "A ci�ncia que trata da produ��o e distribui��o da
riqueza na medida em que elas dependam das leis da natureza humana". Ou assim: "A
ci�ncia relacionada �s leis morais ou psicol�gicas da produ��o e distribui��o da
riqueza".
Para o uso popular esta defini��o � amplamente suficiente, mas est� aqu�m da
completa exatid�o requerida para os prop�sitos do fil�sofo. A economia pol�tica n�o
trata da produ��o e distribui��o da riqueza em todos os estados da humanidade, mas
somente no que � denominado o estado social; nem na medida em que ela depende das
leis da natureza humana, mas somente na medida em que depende de uma certa parte
dessas leis. Esta, pelo menos, � a vis�o que deve ser tomada da economia pol�tica
se pretendemos que ela encontre algum lugar numa divis�o enciclop�dica do campo da
ci�ncia: Em qualquer outra perspectiva, ou ela n�o � em absoluto ci�ncia ou �
v�rias ci�ncias. Isto tornar-se-� claro se, por um lado, realizarmos um apanhado
geral das ci�ncias morais, com o objetivo de designar o lugar exato da economia
pol�tica entre elas, enquanto, por outro lado, consideramos atentamente a natureza
dos m�todos ou processos pelos quais as verdades, que s�o o objeto daquelas
ci�ncias, s�o alcan�adas.
O homem, que, considerado como um ser tendo uma moral ou natureza mental, � o
objeto de estudo de todas as ci�ncias morais, pode, com rela��o �quela parte d� sua
natureza, formar o objeto da investiga��o filos�fica sob v�rias hip�teses
distintas. Podemos investigar o que pertence ao homem considerado individualmente,
como se nenhum Ser humano existisse al�m dele pr�prio; podemos a seguir consider�-
lo enquanto estabelece contato com outros indiv�duos; e finalmente, enquanto vive
num estado de sociedade, isto �, enquanto toma parte de um corpo ou agregado de
seres humanos, cooperando sistematicamente para fins comuns. Deste �ltimo estado, o
governo pol�tico, ou a sujei��o a um superior comum, � um ingrediente ordin�rio,
mas n�o toma necessariamente nenhuma parte na concep��o, e, com rela��o a nosso
atual prop�sito, n�o precisa ser mais detalhada mente advertido.
Aquelas leis ou propriedades da natureza humana que pertencem ao homem como um
simples indiv�duo e n�o pressup�em, como condi��o necess�ria, a exist�ncia de
outros indiv�duos (exceto, talvez, como simples instrumentos ou meios) fazem parte
do objeto da filosofia mental pura. Compreendem todas as leis do simples intelecto,
e aquelas dos desejos puramente autorreferentes.
Aquelas leis da natureza humana que se referem aos sentimentos de um ser humano
exigido por outros seres humanos ou inteligentes, individuais enquanto tais -
notadamente as afec��es, a consci�ncia ou sentimento de dever, e o amor de
aprova��o; e que se referem � conduta do homem, na medida em que ela depende dessas
partes de sua natureza, ou com elas tem rela��o - formam o objeto de outra parte da
filosofia mental pura, notadamente aquela parte dela na qual a moral ou a �tica
est�o fundadas. Pois a pr�pria moralidade n�o � uma ci�ncia, mas uma arte; n�o tem
verdades, mas regras. As verdades nas quais as regras est�o fundadas s�o inferidas
(como � o caso em todas as artes) de uma variedade de ci�ncias; mas as principais
verdades, e aquelas que s�o muito proximamente peculiares a essa arte particular,
pertencem a um ramo da ci�ncia da mente.
Finalmente, existem certos princ�pios da natureza humana que est�o peculiarmente
ligados com as ideias e os sentimentos gerados no homem por viver num estado de
sociedade, isto �, por tomar parte de uma uni�o ou agregados de seres humanos com
um prop�sito ou prop�sitos comuns. De fato, poucas das leis elementares da mente
humana s�o peculiares a este estado, quase todas sendo colocadas em a��o nos dois
outros estados. Mas aquelas leis simples da natureza humana, operando naquele campo
mais amplo, originam resultados de um car�ter suficientemente universal, e mesmo
(quando comparados tom fen�menos ainda mais complexos dos quais eles s�o as causas
determinantes) suficientemente simples, para admitirem ser chamadas, embora num
sentido algo amb�guo, leis da sociedade ou leis da natureza humana no estado
social. Estas leis ou verdades gerais formam o objeto de um ramo da ci�ncia que
pode ser apropriadamente designado pelo t�tulo de economia social; de modo um pouco
menos feliz pelo de pol�tica especulativa ou ci�ncia da pol�tica, enquanto
contraposta � arte. Esta ci�ncia mant�m a mesma rela��o com o social que a anatomia
e a fisiologia mant�m com o corpo f�sico. Mostra por que princ�pios de sua natureza
o homem � induzido a entrar num estado de sociedade; como esta caracter�stica em
sua posi��o age sobre seus interesses e sentimentos, e atrav�s deles em sua
conduta; como a associa��o tende progressivamente a tornar-se mais unida, e a
coopera��o se estende a mais e mais prop�sitos; quais s�o aqueles prop�sitos e
quais s�o as variedades de meios mais geralmente adotados para favorec�-los; quais
s�o as v�rias rela��es que se estabelecem entre os seres humanos como consequ�ncia
ordin�ria da uni�o social; quais s�o aquelas que s�o diferentes em diferentes
estados de sociedade; em que ordem hist�rica aqueles estados tendem a se suceder; e
quais s�o os efeitos de cada estado na conduta e car�ter do homem.
Este ramo da ci�ncia, quer prefiramos cham�-lo economia social, pol�tica
especulativa ou hist�ria natural da sociedade, pressup�e o todo da ci�ncia da
natureza da mente individual; desde que todas as leis das quais a �ltima ci�ncia
toma conhecimento s�o colocadas em jogo num estado de sociedade, e as verdades nada
mais s�o do que enunciados da maneira pela qual aquelas leis simples se efetuam em
circunst�ncias complicadas. A filosofia mental pura, portanto, � uma parte
essencial ou preliminar da filosofia pol�tica. A ci�ncia da economia social engloba
toda a parte da natureza do homem, na medida em que influencia a conduta ou
condi��o do homem em sociedade; e, portanto, pode ser denominada "pol�tica
especulativa" ou "a arte do governo", da qual a arte da legisla��o � uma parte.
(A ci�ncia da legisla��o � uma express�o incorreta e enganosa. A legisla��o � o
fazer leis. N�o falamos da ci�ncia de fazer alguma coisa. Mesmo a ci�ncia do
governo seria uma express�o objet�vel n�o fosse que o governo � frequentemente
considerado significar, de modo impreciso, n�o o ato de governar, mas o estado ou
condi��o de ser governado ou de viver sob um governo. A express�o prefer�vel seria
a "ci�ncia da sociedade pol�tica"; um ramo principal da ci�ncia mais extensa da
sociedade, caracterizada no texto).
� a esta importante divis�o do campo da ci�ncia que um dos escritores que mais
corretamente conceberam e mais abundantemente ilustraram sua natureza e limites -
referimo-nos ao Sr. Say - escolheu para dar o nome "economia pol�tica". E, de fato,
esta ampla extens�o da significa��o daquele termo est� contida por sua etimologia.
Mas as palavras "economia pol�tica" h� muito tempo cessaram de ter t�o amplo
significado. Todo escritor tem o direito de usar as palavras que s�o seus
instrumentos do modo que ele julga mais �til aos prop�sitos gerais da exposi��o da
verdade; mas ele exerce esta descri��o sujeito a cr�ticas; e o Sr. Say parece ter
feito nesta inst�ncia o que nunca deveria ser feito sem fortes raz�es - alterar o
significado de um nome que era apropriado para um prop�sito particular (e para o
qual, portanto, um substituto deve ser providenciado) de modo a transferi-lo a um
objeto para o qual era f�cil encontrar uma denomina��o mais caracter�stica.
Ora, o que comumente se entende pelo termo "economia pol�tica" n�o � a ci�ncia da
pol�tica especulativa, mas um ramo daquela ci�ncia. N�o trata do todo da natureza
humana enquanto modificada pelo estado social, nem da conduta global do homem em
sociedade. Diz respeito ao homem somente enquanto um ser que deseja possuir riqueza
e que � capaz de julgar a efic�cia comparativa dos meios para obter aquele fim.
Prediz unicamente aqueles fen�menos do estado social que ocorrem em consequ�ncia da
busca de riqueza. Faz total abstra��o de toda outra paix�o ou motivo humano, exceto
aqueles que podem ser tidos como princ�pios perpetuamente antagonistas ao desejo de
riqueza, notadamente a avers�o ao trabalho e o desejo da satisfa��o presente de
indulg�ncias dispendiosas. Estas ela considera, at� certo ponto, em seus c�lculos,
porque n�o apenas, como outros desejos, ocasionalmente conflitam com a busca da
riqueza, mas a acompanham sempre, como um obst�culo ou impedimento, e est�o,
portanto, inseparavelmente misturados em sua considera��o. A economia pol�tica
considera a humanidade enquanto ocupada unicamente em adquirir ou consumir a
riqueza; e aspira a mostrar qual � o curso de a��o no qual a humanidade, vivendo
num estado de sociedade, seria impelida se aquela causa, exceto na medida em que �
refreada pelos dois motivos perp�tuos acima observados, que se lhe contrap�em,
fosse a regra absoluta de todas as suas a��es. Sob a influ�ncia desse desejo ela
mostra que a humanidade acumula a riqueza e emprega essa riqueza na produ��o de
outra riqueza; sanciona por acordo m�tuo a institui��o da propriedade; estabelece
leis para evitar que os indiv�duos usurpem a propriedade de outros pela for�a ou
fraude; adota v�rias inven��es para aumentar a produtividade de seu trabalho;
realiza a divis�o do produto por acordo, sob influ�ncia da competi��o (sendo a
pr�pria competi��o governada por certas leis, que s�o portanto as reguladoras
fundamentais da divis�o do produto); e emprega certos expedientes (como o dinheiro,
o cr�dito, etc.) para facilitar a distribui��o. Todas estas opera��es, apesar de
muitas delas serem realmente o resultado de uma pluralidade de motivos, s�o
consideradas pela economia pol�tica como decorrentes unicamente do desejo de
riqueza. A ci�ncia procede ent�o investigando as leis que governam essas v�rias
opera��es, sob a suposi��o de que o homem � um ser que � determinado, pela
necessidade de sua natureza, a preferir uma maior por��o de riqueza ao inv�s de uma
menor em todos os casos, sem qualquer outra exce��o al�m daquela constitu�da pelos
dois motivos, que se lhe contrap�em, j� especificados. N�o porque todo economista
pol�tico seja sempre t�o rid�culo a ponto de supor que a humanidade realmente assim
se constitui, mas porque este � o modo pelo qual a ci�ncia deve necessariamente
proceder. Quando um efeito depende de uma concorr�ncia de causas, estas causas
devem ser estudadas cada uma � sua vez e suas leis devem ser investigadas
separadamente se desejarmos, atrav�s das causas, obter o poder ou de prever ou de
controlar o efeito, uma vez que a lei do efeito � composta pelas leis de todas as
causas que o determinam. Deve-se conhecer a lei da for�a centr�peta e a da for�a
tangencial antes que os movimentos da terra e dos planetas possam ser explicados ou
muitos deles previstos. O caso � o mesmo com a conduta do homem na sociedade. De
modo a julgar como agir� sob a variedade de desejos e avers�es que est�o operando
conjuntamente sobre ele, devemos saber como ele agiria sob a influ�ncia exclusiva
de cada uma em particular. N�o existe talvez, na vida de um homem, nenhuma a��o na
qual ele n�o esteja sob a influ�ncia imediata ou sob a influ�ncia remota de algum
impulso que n�o seja o simples desejo de riqueza. Com rela��o �quelas partes da
conduta humana das quais a riqueza n�o � precisamente o objeto principal, a
economia pol�tica n�o pretende que suas conclus�es sejam aplic�veis a estas partes.
Mas existem tamb�m certos departamentos de afazeres humanos nos quais a obten��o da
riqueza � o fim principal e reconhecido. A economia pol�tica leva em conta
unicamente estes �ltimos. A maneira pela qual ela necessariamente procede � a de
tratar o fim principal e reconhecido como se fosse o �nico fim; que, de todas as
hip�teses igualmente simples, � o mais pr�ximo da verdade. O economista pol�tico
investiga quais s�o as a��es que seriam produzidas por este desejo se, no interior
dos departamentos em quest�o, n�o fosse impedido por algum outro desejo. Deste modo
� obtida uma maior aproxima��o � ordem real dos afazeres naqueles departamentos, s�
que o seria de qualquer outro modo exequ�vel. Esta aproxima��o deve, portanto, ser
corrigida, fazendo-se a concess�o apropriada aos efeitos de alguns impulsos de uma
descri��o desigual que se pode mostrar que interferem no resultado de qualquer caso
particular. Somente em poucos dos mais surpreendentes casos (tais como no
importante caso do princ�pio de popula��o) s�o estas corre��es interpoladas nas
exposi��es da pr�pria economia pol�tica; afastando-se um pouco, por isso, a
precis�o dos arranjos puramente cient�ficos com vistas � utilidade pr�tica. Na
medida em que se sabe, ou se pode presumir, que a conduta da humanidade na procura
da riqueza est� sob a influ�ncia colateral de algumas outras propriedades de nossa
natureza al�m do desejo de obter a maior quantidade de riqueza com o menor trabalho
ou abnega��o, as conclus�es da economia pol�tica falhar�o nessa medida em serem
aplic�veis � explica��o ou previs�o dos eventos reais at� que sejam modificadas por
uma admiss�o correta do grau de influ�ncia exercido pelas outras causas.
A economia pol�tica pode, ent�o, ser definida como segue, e � defini��o parece
estar completa:
A ci�ncia que tra�a as-leis daqueles fen�menos da sociedade que se originam das
opera��es combinadas da humanidade para a produ��o da riqueza, na medida em que
aqueles fen�menos n�o sejam modificados pela procura de qualquer outro objeto.
Mas, enquanto esta � uma defini��o correta da economia pol�tica como uma por��o do
campo da ci�ncia, o escritor did�tico nesta mat�ria combinar� naturalmente, em sua
exposi��o, com as verdades da ci�ncia pura, tantas das modifica��es pr�ticas
quantas sejam, em sua estimativa, mais conducentes � utilidade de seu trabalho.
Pode-se pensar que a tentativa acima de construir uma defini��o mais precisa da
ci�ncia do que as que n�o comumente aceitas como tais � de pouco uso ou, quando
muito, � principalmente �til num estudo de classifica��o geral das ci�ncias antes
do que como condutora de uma investiga��o mais bem-sucedida da ci�ncia particular
em quest�o. Pensamos diferentemente, e por esta raz�o � que a considera��o da
defini��o de uma ci�ncia est� inseparavelmente ligada � do m�todo filos�fico da
ci�ncia, a natureza do processo pelo qual suas investiga��es devem ser conduzi das,
suas verdades devem ser alcan�adas.
Ora, em qualquer ci�ncia existem diferen�as sistem�ticas de opini�o - o que
significa aproximadamente dizer: em todas as ci�ncias morais e mentais, e na
economia pol�tica entre o resto; em qualquer ci�ncia existem diferen�as, entre
aqueles que tratam do objeto, as quais s�o comumente chamadas diferen�as de
princ�pio, enquanto distintas das diferen�as de dados de fato ou de detalhes - a
causa verificar-se-� estar numa diferen�a de suas concep��es do m�todo filos�fico
da ci�ncia. As fac��es que diferem s�o guiadas, consciente ou inconscientemente,
por diferentes vis�es concernentes � natureza da evid�ncia apropriada ao objeto.
Diferem n�o somente no que eles pr�prios acreditam ver, mas na posi��o de onde eles
obt�m na luz pela qual eles pensam v�-lo.
A mais universal das formas pela qual esta diferen�a de m�todo costuma se
apresentar � a antiga contenda entre o que se chama teoria e o que se chama pr�tica
ou experi�ncia. Existem, nas quest�es sociais e pol�ticas, duas esp�cies de
pensadores: existe uma parte deles que se denominam homens pr�ticos, e chamamos os
outros te�ricos - um t�tulo que estes �ltimos n�o rejeitam, embora de modo algum o
reconhe�am como particular a eles. A distin��o entre as duas esp�cies � muito
extensa, embora seja uma distin��o da qual a linguagem empregada � um expoente
muito incorreto. Demonstrou-se v�rias vezes que aqueles que s�o acusados de
desdenhar os fatos e menosprezar a experi�ncia baseiam-se e professam estar
baseados inteiramente nos fatos e na experi�ncia; enquanto aqueles que repudiam a
teoria n�o podem dar um passo sem teorizar. Mas, apesar de que ambas as classes de
investigador.es nada mais fazem a n�o ser teorizar e consultar nenhum outro guia
al�m da experi�ncia, existe esta diferen�a muito importante: aqueles que s�o
chamados homens pr�ticos requerem uma experi�ncia espec�fica e argumentam
totalmente para cima dos fatos particulares a uma conclus�o geral; enquanto aqueles
que s�o chamados te�ricos aspiram a abra�ar um campo maior da experi�ncia, e, tendo
argumentado para cima de fatos particulares a um princ�pio geral que inclui um
campo muito mais extenso do que aquele da quest�o em discuss�o, argumentam ent�o
para baixo daquele princ�pio geral a uma variedade de conclus�es espec�ficas.
Suponha-se, por exemplo, que a quest�o fosse a de saber se os reis absolutos
estavam propensos a empregar os poderes do governo para o bem-estar ou para a
opress�o de seus s�ditos. Os investigadores pr�ticos se esfor�ariam em determinar
esta quest�o por uma indu��o completa da conduta de monarcas desp�ticos
particulares, tal como � testemunhado pela hist�ria. Os investigadores te�ricos
remeteriam a quest�o a ser julgada ao teste n�o somente de nossa experi�ncia dos
reis, mas de nossa experi�ncia dos homens. Discutiriam que uma observa��o das
tend�ncias que a natureza manifestou na variedade de situa��es em que os seres
humanos foram colocados, e especialmente uma observa��o daquilo que passa por
nossas mentes, nos autoriza a inferir que um ser humano na situa��o de um rei
desp�tico faria um mau uso do poder; e que esta conclus�o n�o perderia nada de sua
certeza mesmo se os reis absolutos nunca tivessem existido ou se a hist�ria n�o nos
fornecesse nenhuma informa��o acerca da maneira pela qual eles se conduziram.
O primeiro desses m�todos � simplesmente um m�todo de indu��o; o segundo � uma
mistura do m�todo de indu��o e de racioc�nio. O primeiro pode ser chamado o m�todo
a posteriori; o �ltimo, o m�todo a priori. Estamos conscientes de que esta �ltima
express�o � algumas vezes usada para caracterizar um suposto m�todo de filosofar
que n�o professa de modo algum estar fundado na experi�ncia. Mas n�o sabemos, de
qualquer modo de filosofar, pelo menos no que diz respeito a objetos pol�ticos, ao
qual tal descri��o seja adequadamente aplic�vel. Pelo m�todo a posteriori
significamos aquele que requer, como base de suas conclus�es, n�o simplesmente a
experi�ncia, mas uma experi�ncia espec�fica. Pelo m�todo a priori significamos (o
que se significa comumente) o racioc�nio a partir de uma hip�tese assumida; a qual
n�o � uma pr�tica confinada � matem�tica mas pertence � ess�ncia de toda ci�ncia
que admite a raz�o geral. A verifica��o a posteriori da pr�pria hip�tese, isto �, o
exame da concord�ncia, em qualquer caso real, dos fatos � hip�tese, n�o constitui
de modo algum uma parte da tarefa da ci�ncia, mas da aplica��o da ci�ncia.
Na defini��o que tentamos construir da ci�ncia da economia pol�tica, a
caracterizamos como essencialmente uma ci�ncia abstrata e seu m�todo como o m�todo
a priori. Tal � indubitavelmente seu car�ter no entendimento e ensino operado por
todos os seus mais eminentes professores. Ela raciocina e, como sustentamos, deve
necessariamente raciocinar a partir de assun��es, n�o a partir de fatos. �
constru�da sobre hip�teses estritamente an�logas �s que sob o nome de defini��es
s�o o fundamento das outras ci�ncias abstratas. A geometria pressup�e uma defini��o
arbitr�ria de uma reta - "aquela que tem comprimento, mas n�o largura". De modo
exatamente an�logo a economia pol�tica pressup�e uma defini��o arbitr�ria do homem
como ser que invariavelmente realiza aquilo atrav�s do que pode obter a maior soma
de coisas necess�rias, de conveni�ncias e de luxos com a menor quantidade de
trabalho e abnega��o f�sica exigi das para poder obt�-los no estado existente de
conhecimento. � verdade que esta defini��o de homem n�o est� prefixada formalmente
a qualquer trabalho em economia pol�tica, como a defini��o de uma reta � prefixada
nos Elementos de Euclides; e, na medida em que sendo assim prefixada haveria menos
perigo de esquec�-la, podemos ter base para lamentar que isto n�o seja feito. �
natural que o que se assume em cada caso particular se apresente de uma vez por
todas diante da mente em sua extens�o total, sendo em algum lugar enunciado
formalmente como uma m�xima geral. Ora, ningu�m que seja versado em tratados
sistem�ticos de economia pol�tica questionar� que, sempre que um economista
pol�tico tenha mostrado que um trabalhador, agindo de uma maneira particular, pode
obviamente obter maiores sal�rios, e o capitalista maiores lucros ou um
propriet�rio de terras maior rendimento, ele conclui como algo esperado que eles
certamente agir�o daquela maneira. A economia pol�tica, portanto, raciocina a
partir de premissas assumidas - a partir de premissas que poderiam n�o ter nenhum
fundamento nos fatos e que n�o se pretende estarem universalmente de acordo com
eles. As conclus�es da economia pol�tica, consequentemente, como as da geometria,
s�o verdadeiras somente enquanto a express�o comum � no abstrato, isto �, elas
somente s�o verdadeiras sob certas suposi��es nas quais nenhuma a n�o ser as causas
gerais - causas comuns � classe total de casos em considera��o - s�o levadas em
conta.
Isto n�o deve ser negado pelo economista pol�tico. Se ele o nega, ent�o, e somente
ent�o, ele se coloca no erro. O m�todo a priori, que se coloca ao seu ataque, como
se seu emprego dele provasse toda a sua ci�ncia ser in�til, �, como mostraremos
presentemente, o �nico m�todo atrav�s do qual a verdade pode ser alcan�ada em
qualquer departamento da ci�ncia social. Tudo o que se requer � que ele esteja
atento para n�o atribuir �s conclus�es que s�o fundadas numa hip�tese uma esp�cie
diferente de certeza daquela que realmente lhes pertence. Elas seriam verdadeiras
sem qualifica��o apenas num caso que seja puramente imagin�rio. � medida que os
fatos reais se agastam da hip�tese, ele deve admitir um desvio correspondente da
estrita letra de sua conclus�o; de outro modo ela ser� verdadeira somente para
aquelas coisas que ele arbitrariamente sup�s, n�o para aquelas coisas que realmente
existem. Aquilo que � verdadeiro em abstrato � sempre verdadeiro em concreto, com
concess�es apropriadas. Quando uma certa causa existe realmente e se, deixada a si
pr�pria, infalivelmente produz um certo efeito, esse mesmo efeito, modificado por
todas as outras causas concorrentes, corresponder� corretamente ao resultado
realmente produzido.
As conclus�es da geometria n�o s�o estritamente verdadeiras para aquelas linhas,
�ngulos e figuras que as m�os humanas podem construir. Mas ningu�m sustentaria, por
conseguinte, que as conclus�es da geometria n�o t�m nenhuma utilidade ou que seria
melhor fechar os Elementos de Euclides e contentar-nos com a "pr�tica" e a
"experi�ncia".
Nenhum matem�tico jamais pensou que sua defini��o de uma reta correspondesse a uma
reta real. Tampouco qualquer economista pol�tico jamais imaginou que os homens n�o
tivessem nenhum objeto de desejo a n�o ser a riqueza ou nada que n�o desse lugar ao
t�nue motivo de tipo pecuni�rio. Mas eles estavam justificados ao assumir isto para
os prop�sitos de suas argumenta��es, porque unicamente aquelas partes da conduta
humana que t�m vantagem pecuni�ria lhes dizem respeito como objeto direto e
principal e porque, como dois casos individuais n�o s�o exatamente iguais, nunca se
podem estabelecer m�ximas gerais a menos que algumas das circunst�ncias do caso
particular n�o sejam levadas em considera��o. Mas vamos al�m de afirmar que o
m�todo a priori � um modo leg�timo de investiga��o filos�fica nas ci�ncias morais;
sustentamos que � o �nico modo. Afirmamos que o m�todo a posteriori ou da
experi�ncia espec�fica � totalmente ineficiente nestas ci�ncias como um meio de
chegar a algum corpo consider�vel de verdades valiosas, embora ele admita ser
proveitosamente aplicado em aux�lio do m�todo a priori, e at� mesmo constitui um
complemento indispens�vel dele.
Existe uma propriedade comum a quase todas as ci�ncias morais, atrav�s da qual elas
s�o distinguidas de muitas das Ci�ncias f�sicas; esta propriedade � a de que
raramente temos o poder de fazer experimentos nelas. Na qu�mica e na filosofia
natural podemos n�o s� observar o que acontece sob todas as combina��es de
circunst�ncias que a natureza coloca juntas, mas podemos tentar tamb�m um n�mero
indefinido de novas combina��es. Raramente podemos fazer isto na ci�ncia �tica e
quase nunca na ci�ncia pol�tica. N�o podemos experimentar em nossos laborat�rios
formas de governo e sistemas de pol�tica nacional numa escola diminuta, dispondo
nossos experimentos de modo que pensamos eles conduzirem mais ao avan�o do
conhecimento. Estudamos, portanto, nestas ci�ncias a natureza sob circunst�ncias de
grande desvantagem, estando confinados ao n�mero limitado de experimentos que
ocorrem (se assim podemos falar) de sua pr�pria vontade, sem qualquer prepara��o ou
manipula��o nossa, em circunst�ncias, al�m do mais, de grande complexidade e nunca
perfeitamente conhecidas por n�s, e com a maior parte dos processos ocultos � nossa
observa��o.
A consequ�ncia deste defeito inevit�vel nos materiais da indu��o � que raramente
podemos obter o que Bacon de modo original, mas muito impropriamente chamou um
experimentum crucis (experimento crucial).
Em qualquer ci�ncia que admite uma classe ilimitada de experimentos arbitr�rios, um
experimentum crucis pode sempre ser obtido. Sendo capazes de variar todas as
circunst�ncias, podemos sempre adotar meios efetivos para averiguar quais delas s�o
e quais n�o s�o materiais. Chame-se o efeito de B e seja a quest�o de se a causa A
de algum modo contribui para ele. Examinamos um experimento em que todas as
circunst�ncias pr�ximas s�o alteradas com exce��o unicamente de A; se o efeito B �
n�o obstante produzido, A � a causa dele. Ou, ao inv�s de deixar A e mudar as
outras circunst�ncias, deixamos todas as outras circunst�ncias e mudamos A; se o
efeito B neste caso n�o ocorre, ent�o novamente A � uma condi��o necess�ria de sua
exist�ncia. Qualquer um destes experimentos, se cuidadosamente realizado, � um
experimentum crucis; converte a conjectura que t�nhamos antes da exist�ncia de uma
conex�o entre A e B numa prova pela nega��o de toda outra hip�tese que explicaria
as apar�ncias.
Mas isto raramente pode ser feito nas ci�ncias morais, devido � imensa multid�o das
circunst�ncias influenciadoras e de nossos meios muito escassos para variar o
experimento. Mesmo operando uma mente individual, que � o caso que proporciona a
maior possibilidade de experimenta��o, n�o podemos frequentemente obter um
experimento crucial. Na educa��o, por exemplo, o efeito de uma circunst�ncia
particular na forma��o do car�ter pode ser verificado numa variedade de casos, mas
dificilmente podemos estar certos de que quaisquer dois desses casos diferem em
todas as suas circunst�ncias com exce��o daquele caso solit�rio do qual desejamos
estimar a influ�ncia. Esta dificuldade deve existir em grau muito maior nos
assuntos de Estado, onde mesmo o n�mero de experimentos registrados � t�o escasso
em compara��o � variedade e multid�o de circunst�ncias que dizem respeito a cada
um. Como, por exemplo, podemos obter um experimento crucial sobre o efeito de uma
pol�tica comercial restritiva na riqueza nacional? Devemos encontrar duas na��es
semelhantes em todos os outros aspectos ou pelo menos possuidoras num grau
exatamente igual de tudo que conduz � opul�ncia nacional e adotando exatamente a
mesma pol�tica em todos os seus outros assuntos, mas diferindo somente em que uma
delas adota um sistema de restri��es comerciais e a outra adota o livre com�rcio.
Este seria um experimento decisivo, similar �queles que quase sempre podem ser
usados na f�sica experimental. Se a pud�ssemos obter, esta seria indubitavelmente a
mais conclusiva de todas as evid�ncias. Mas deixe-se algu�m considerar qu�o
infinitamente numerosas ou variadas s�o as circunst�ncias que diretamente ou
indiretamente influenciam ou podem influenciar a soma da riqueza nacional; e ent�o
se pergunte quais s�o as probabilidades de que sejam encontradas duas na��es que no
mais extenso ciclo das eras concordem, e se possa mostrar que concordam, em todas
aquelas circunst�ncias exceto uma.
Portanto, desde que � v�o esperar que a verdade possa ser alcan�ada tanto na
economia pol�tica como em qualquer outro departamento da ci�ncia social � medida
que observamos os fatos na roupagem concreta com toda a complexidade na qual a
natureza os envolveu, e nos esfor�amos em obter uma lei geral atrav�s de um
processo de indu��o a partir de uma compara��o de detalhes, n�o resta nenhum outro
m�todo al�m do m�todo a priori ou daquele de "especula��o abstrata".
Embora n�o se proporcionem, no campo da pol�tica, bases suficientemente amplas para
uma indu��o satisfat�ria por uma compara��o dos efeitos, as causas podem em todos
os casos ser tornadas o objeto de experimentos espec�ficos. Essas causas s�o as
leis da natureza humana e as circunst�ncias capazes de excitar a vontade humana �
a��o. Os desejos do homem e a natureza da conduta para a qual eles o incitam est�o
ao alcance de nossa observa��o. Podemos observar tamb�m quais s�o os objetos que
excitam aqueles desejos. Qualquer um pode fundamentalmente colher os materiais
deste conhecimento dentro de si pr�prio, com a considera��o racional das
diferen�as, das quais a experi�ncia lhe revela a exist�ncia, entre ele pr�prio e as
outras pessoas. Conhecendo, portanto, exatamente as propriedades das subst�ncias �s
quais nos referimos, podemos raciocinar a partir de qualquer conjunto assumido de
circunst�ncias com tanta certeza quanto nas partes mais demonstrativas da f�sica.
Isto seria simplesmente insignificante se as circunst�ncias assumidas n�o tivessem
nenhuma esp�cie de semelhan�a com quaisquer circunst�ncias reais; mas, se a
assun��o fosse concreta em toda a sua extens�o, e n�o diferisse da verdade de
nenhum outro modo al�m daquele pelo qual uma parte difere do todo, ent�o as
conclus�es que s�o corretamente deduzi das da assun��o constituem a verdade
abstrata; e, quando completadas por acr�scimo ou subtra��o do efeito das
circunst�ncias n�o calculadas, elas s�o verdadeiras no concreto e podem ser
aplicadas � pr�tica.
A ci�ncia da economia pol�tica tem este car�ter nos escritos de seus melhores
professores. Para torn�-la perfeita enquanto uma ci�ncia abstrata, as combina��es
de circunst�ncias que ela assume de modo a investigar seus efeitos deveriam
incorporar todas as circunst�ncias que s�o comuns a todos os casos, e de modo
an�logo todas as circunst�ncias que s�o comuns a qualquer classe importante de
casos. As conclus�es corretamente deduzidas dessas assun��es seriam t�o verdadeiras
no abstrato quanto as da matem�tica, e seriam uma aproxima��o quase na mesma medida
em que a verdade abstrata � uma aproxima��o � verdade no concreto.
Quando os princ�pios da economia pol�tica devem ser aplicados a um caso particular,
� necess�rio, ent�o, levar em conta todas as circunst�ncias individuais daquele
caso, n�o apenas examinando a qual dos conjuntos de circunst�ncias contemplados
pela ci�ncia abstrata as circunst�ncias do caso em quest�o correspondem, mas de
modo an�logo que outras circunst�ncias podem existir naquele caso que, n�o sendo
comuns a ele com qualquer classe ampla e fortemente marcada de casos, n�o ca�ram
sob a cogni��o da ci�ncia. Estas circunst�ncias foram chamadas "casos
perturbadores". E � somente aqui que um elemento de incerteza entra no processo -
uma incerteza inerente � natureza desses fen�menos complexos, e que se origina da
impossibilidade de se estar certo de que conhecemos detalhadamente todas as
circunst�ncias do caso particular e de que nossa aten��o n�o � indevidamente
desviada de nenhum deles.
Isto constitui a �nica incerteza da economia pol�tica; e n�o dela isoladamente, mas
das ci�ncias morais em geral. Quando as causas perturbadoras s�o conhecidas, o
atenuante necess�rio que a elas se concede n�o diminui de modo algum a precis�o
cient�fica, nem constitui qualquer desvio do m�todo a priori. N�o se guiam as
causas perturbadoras para resolv�-las por mera conjectura. Como a fric��o na
mec�nica � qual elas t�m sido frequentemente comparadas, elas podem a princ�pio ser
consideradas simplesmente como uma dedu��o n�o designada, a ser feita por
conjectura a partir do resultado dado pelos princ�pios gerais da ci�ncia; mas com o
tempo muitas delas s�o conduzidas ao interior do territ�rio da pr�pria ci�ncia
abstrata; e verifica-se que seus efeitos admitem uma estimativa t�o precisa quanto
os efeitos mais surpreendentes que elas modificam. As causas perturbadoras t�m suas
leis, assim como as causas, que s�o desse modo perturbadas, t�m as suas; e das leis
das causas perturbadoras pode-se predizer a priori a natureza e quantidade da
perturba��o, assim como a opera��o das leis mais gerais que se diz que elas
modificam ou perturbam, mas com as quais dever-se-ia dizer mais apropriadamente que
elas s�o concorrentes. O efeito das causas especiais deve ent�o ser adicionado ao
efeito das causas gerais ou subtra�-lo delas.
Estas causas perturbadoras s�o algumas vezes circunst�ncias que operam sobre a
conduta humana atrav�s do mesmo princ�pio da natureza humana, no qual a economia
pol�tica � versada, notadamente, o desejo de riqueza, mas n�o s�o suficientemente
gerais para serem consideradas na ci�ncia abstrata. Todo economista pol�tico pode
produzir muitos exemplos de perturba��es desta esp�cie. Em outras inst�ncias, a
causa perturbadora � alguma outra lei da natureza humana. Neste �ltimo caso, nunca
pode cair no interior da prov�ncia da economia pol�tica; pertence a alguma outra
ci�ncia; e aqui o simples economista pol�tico, aquele que n�o estudou nenhuma outra
ci�ncia a n�o ser a economia pol�tica, se tentasse aplicar sua ci�ncia � pr�tica;
fracassaria.
(Uma das mais fortes raz�es para se tra�ar clara e amplamente a linha de separa��o
entre a ci�ncia e a arte � a seguinte: que o princ�pio de classifica��o na ci�ncia
segue mais convenientemente a classifica��o das causas, enquanto as artes devem
necessariamente ser classificadas de acordo com a classifica��o dos efeitos, cuja
produ��o � seu fim apropriado. Ora, um efeito, seja em f�sica ou em moral, depende
comumente de uma concorr�ncia de causas, e ocorre frequentemente que v�rias dessas
causas perten�am a ci�ncias diferentes. Assim, nas constru��es de m�quinas, sobre
os princ�pios da ci�ncia da mec�nica, � necess�rio ter em mente as propriedades
qu�micas do material, tais como sua propens�o � oxida��o; suas propriedades
el�tricas e magn�ticas, e assim por diante. Seguem-se disto que, embora o
fundamento necess�rio de toda arte seja a ci�ncia, isto �, o conhecimento das
propriedades ou leis dos objetos sobre os quais, e com os quais, a arte faz seu
trabalho, n�o � igualmente verdade que toda arte corresponde a uma ci�ncia
particular. Cada arte pressup�e n�o uma ci�ncia, mas ci�ncias em geral ou, pelo
menos, muitas ci�ncias distintas).
Pelo que diz respeito � outra esp�cie de causas perturbadoras, notadamente �quelas
que operam atrav�s da mesma lei da natureza humana a partir da qual se originam os
princ�pios gerais da ci�ncia, estas deveriam ser sempre conduzi das ao interior do
territ�rio da ci�ncia abstrata, se isso for proveitoso; e, quando fazemos os
arranjos necess�rios para ela na pr�tica, se estivermos fazendo algo mais do que
conjecturando, estamos seguindo o m�todo da ci�ncia abstrata em seus m�nimos
detalhes, inserindo entre suas hip�teses uma nova e ainda mais complexa combina��o
de circunst�ncias e acrescentando assim positivamente hac vice (em termos
secund�rios) um cap�tulo ou ap�ndice complementar ou pelo menos um teorema
complementar � ci�ncia abstrata.
Tendo agora mostrado que o m�todo a priori em economia pol�tica e em todos os
outros ramos da ci�ncia moral � a �nica certeza ou modo cient�fico de investiga��o,
e que o m�todo a posteriori ou o de experi�ncia espec�fica, como um meio de chegar
� verdade, � inaplic�vel a esses objetos de estudo, devemos ser capazes de mostrar
que o �ltimo m�todo �, n�o obstante, de grande valor nas ci�ncias morais,
notadamente n�o como um meio de descobrir a verdade, mas de verific�-la e de
reduzir: ao menor grau aquela incerteza anteriormente aludida que se origina na
complexidade de cada caso particular e na dificuldade (para n�o dizer
impossibilidade) de estarmos certos a priori de que consideramos todas as
circunst�ncias materiais.
Se pud�ssemos estar quase certos de que sab�amos todos os fatos do caso particular,
poder�amos derivar pouca vantagem adicional da experi�ncia espec�fica. Sendo dadas
as causas, podemos conhecer quais ser�o seus efeitos, sem uma demonstra��o real de
todas as combina��es poss�veis; j� que as causas s�o sentimentos humanos e as
circunst�ncias exteriores provam excit�-las, e, como estas na maior parte s�o ou
pelo menos poderiam ser familiares a n�s, podemos com maior seguran�a julgar seu
efeito combinado a partir daquela familiaridade do que a partir de qualquer
evid�ncia que se pode obter das complicadas e emaranhadas circunst�ncias de um
experimento real. Se o conhecimento de quais s�o as causas particulares, que operam
em qualquer inst�ncia dada, nos fosse revelado com autoridade infal�vel, ent�o, se
nossa ci�ncia abstrata fosse perfeita, nos tornar�amos profetas. Mas as causas n�o
s�o assim reveladas; elas devem ser colhidas por observa��o, e a observa��o em
circunst�ncias de complexidade tem a tend�ncia de ser imperfeita. Algumas das
causas podem estar fundadas al�m da experi�ncia; muitas tendem a escapar da
observa��o a menos que estejamos � sua procura; e � somente o h�bito da observa��o
duradoura e cuidadosa que nos pode dar uma opini�o antecipada de que causas
provavelmente devemos encontrar, tal que nos induza a procur�-las no local correto.
Mas tal � a natureza do entendimento humano - que o pr�prio fato de prestar aten��o
com intensidade a uma parte de uma coisa tende a desviar a aten��o das outras
partes. Consequentemente, estamos em grande perigo de referir-nos somente a uma
parte das causas que est�o realmente operando. E, se nos encontrarmos nesta
dificuldade, quanto mais precisas sejam nossas dedu��es e quanto mais certas nossas
conclus�es no abstrato (isto �, fazendo-se a abstra��o de todas as circunst�ncias
exceto aquelas que tomam parte na hip�tese), tanto menos estamos propensos a
suspeitar que estamos no erro; pois ningu�m pode ter examinado detidamente as
fontes do pensamento falacioso sem ser profundamente consciente de que a coer�ncia
e a n�tida concatena��o de nossos sistemas filos�ficos est� mais apta do que
estamos comumente conscientes para passar pela evid�ncia de sua verdade.
N�o podemos, portanto, nos esfor�ar muito cuidadosamente em verificar nossa teoria
por compara��o, nos casos particulares aos quais temos acesso, dos resultados que
ela nos teria levado a predizer com os mais fidedignos relatos que podemos obter
entre aqueles que temos realmente percebido. As discrep�ncias entre nossas
antecipa��es e o fato real s�o frequentemente a �nica circunst�ncia que teria
atra�do nossa aten��o para alguma importante causa perturbadora que negligenciamos.
Mais do que isso, frequentemente revelam-nos erros no pensamento ainda mais s�rios
do que a omiss�o do que pode com propriedade ser denominado uma causa perturbadora.
Revelam-nos com frequ�ncia que a pr�pria base de todo nosso argumento �
insuficiente, que os dados a partir dos quais raciocin�vamos compreendem somente
uma parte, e nem sempre a mais importante, das circunst�ncias pelas quais o
resultado � realmente determinado. Tais descuidos s�o cometidos por excelentes
pensadores, e at� mesmo por uma classe mais rara, a dos bons observadores. � uma
esp�cie de erro � qual est�o particularmente sujeitos aqueles cujas perspectivas
s�o as mais amplas e mais filos�ficas; pois exatamente naquela raz�o est�o suas
mentes mais acostumadas a frisar aquelas leis, qualidades e tend�ncias que s�o
comuns a amplas classes de casos e que pertencem a todos os lugares e todos os
tempos, enquanto acontece frequentemente que circunst�ncias quase peculiares ao
caso particular ou � �poca possuam uma participa��o muito maior na condu��o daquele
caso espec�fico.
Portanto, embora um fil�sofo esteja convencido de que nenhuma verdade geral pode
ser atingida nos assuntos das na��es pelo caminho a posteriori, isto n�o o obriga
nem um pouco, de acordo com a medida de suas oportunidades, a esquadrinhar e
investigar os detalhes de todo experimento espec�fico. Sem isto ele pode ser um
excelente professor de ci�ncia abstrata; pois pode ser de grande uso uma pessoa que
aponte corretamente que efeitos se seguir�o de certas combina��es de circunst�ncias
poss�veis, em qualquer s�rie da extensa regi�o de casos hipot�ticos em que aquelas
combina��es podem ser encontradas. Ele est� na mesma rela��o para o legislador em
que o simples ge�grafo est� para o navegador pr�tico, dizendo-lhe a latitude e
longitude de todas as esp�cies de lugares, mas n�o como encontrar onde ele pr�prio
est� navegando. Se, entretanto, n�o faz nada mais do que isto, deve ficar
satisfeito em n�o tomar nenhuma parte na pol�tica pr�tica; em n�o ter nenhuma
opini�o ou sustent�-la com extrema mod�stia, nas aplica��es que devam ser feitas de
suas doutrinas �s circunst�ncias existentes.
Ningu�m que tente estabelecer proposi��es para a dire��o da humanidade, por mais
perfeitas que sejam suas aquisi��es cient�ficas, pode renunciar a um conhecimento
pr�tico dos modos reais pelos quais os assuntos do mundo s�o conduzidos, e uma
extensa experi�ncia pessoal das ideias, sentimentos e tend�ncias intelectuais e
morais reais de seu pr�prio pa�s e de sua pr�pria �poca. O verdadeiro homem pr�tico
de Estado � aquele que confina esta experi�ncia com um profundo conhecimento da
filosofia pol�tica abstrata. Qualquer uma dessas aquisi��es sem a outra deixa-o
aleijado e impotente se ele � sens�vel � defici�ncia, torna-o obstinado e
presun�oso se, como � mais prov�vel, � inteiramente inconsciente dela.
(Na Westminster Review o autor concluiu este par�grafo assim: "O conhecimento do
que se chama hist�ria, t�o comumente considerado como a �nica fonte da experi�ncia
pol�tica, � �til somente em terceiro lugar. A hist�ria por si mesma, se a
conhec�ssemos dez vezes melhor do que a conhecemos, poderia, pelas raz�es j� dadas,
provar pouco ou nada; mas o estudo dela � um corretivo �s perspectivas estreitas e
exclusivas que prontamente s�o engrenadas pela observa��o numa escala mais
limitada. Aqueles que nunca olham para tr�s raramente olham muito longe: suas
no��es dos assuntos humanos e da pr�pria natureza humana est�o circunscritas �s
condi��es de seu pr�prio pa�s e de seu pr�prio tempo. Mas os usos da hist�ria e o
esp�rito com que ela deve ser estudada s�o os objetos aos quais ainda n�o se fez
justi�a e que envolvem considera��es muito diversas para poderem ser
pertinentemente introduzidas neste lugar").
Tais s�o, portanto, os empregos e usos respectivos dos m�todos a priori e a
posteriori - o m�todo da ci�ncia abstrata e o de experimento espec�fico - tanto na
economia pol�tica como em todos os outros ramos da filosofia social. A verdade
compele-nos a expressar nossa convic��o de que, seja entre aqueles que escreveram
acerca desses temas ou entre aqueles para cujo uso se escreveu, poucos podem ser
apontados que atribu�ram a cada um desses m�todos seu exato valor e limitaram
sistematicamente cada um destes m�todos a seus objetos apropriados e a suas
fun��es. Uma das peculiaridades dos tempos modernos, a separa��o entre teoria e
pr�tica - entre os estudos de gabinete e os neg�cios exteriores do mundo -, deu uma
tend�ncia errada �s ideias e sentimentos tanto do estudioso como do homem de
neg�cios. Cada um deprecia a parte dos materiais de pensamento com a qual n�o est�
familiarizado. Um despreza todas as perspectivas compreensivas, o outro negligencia
os detalhes. Um retira sua no��o do universo dos poucos objetos que seu curso de
vida ocasionou tornar-lhe familiar; o outro, tendo trazido a demonstra��o para seu
lado e esquecendo-se de que � unicamente uma demonstra��o a menos que - uma prova
sujeita em todas as �pocas a ser colocada de lado pela adi��o de um �nico fato novo
� hip�tese - nega, ao inv�s de examinar e esquadrinhar as alega��es que lhe s�o
impostas. Para estas ele tem a grande desculpa da inutilidade do testemunho em que
se originam os fatos, levantados para invalidar as conclus�es da teoria. Nestas
quest�es complexas, os homens veem com suas opini�es preconcebidas, n�o com seus
olhos; um interesse ou a estat�stica apaixonada de um homem s�o de pouca valia; e
um ano raramente passa sem exemplos de falsidades aterradoras que grande n�mero de
homens respeit�veis apoiar�o ao publicar ao mundo como fatos de seu conhecimento
pessoal. N�o � porque uma coisa � afirmada ser verdadeira, mas porque em sua
natureza ela pode ser verdadeira, que um investigador sincero e paciente sentir-se-
� atra�do em investig�-la. Utilizar� as asser��es dos oponentes n�o como a
evid�ncia, mas como indica��es que conduzem � evid�ncia; sugest�es do mais
apropriado curso de suas pr�prias investiga��es.
Mas, enquanto o fil�sofo e o homem pr�tico trocam meias verdades entre si, podemos
procurar muito antes de encontrar algu�m que, colocado numa alta emin�ncia de
pensamento, compreenda como um todo o que eles veem somente em partes separadas,
que possa fazer as antecipa��es do fil�sofo guiarem a observa��o do homem pr�tico,
e a experi�ncia espec�fica do homem pr�tico advertir o fil�sofo onde alguma coisa
deve ser adicionada � sua teoria.
O mais memor�vel exemplo nos tempos modernos de um homem que uniu o esp�rito da
filosofia com as buscas d� vida ativa e que se absteve de modo totalmente evidente
das parcialidades e preju�zos tanto do estudioso como do homem de estado pr�tico
foi Turgot, que levanta a admira��o n�o s� de sua �poca, mas da hist�ria, por sua
surpreendente combina��o das mais opostas e, julgando a partir da experi�ncia
comum, quase incompat�veis superioridades.
Embora seja imposs�vel fornecer qualquer teste atrav�s do qual um pensador
especulativo, tanto em economia pol�tica como em qualquer outro ramo da filosofia
social, possa saber que � competente para julgar a aplica��o de seus princ�pios �
condi��o existente de seu pr�prio pa�s ou de qualquer outro, podem sugerir-se
indica��es pela aus�ncia das quais ele pode bem e corretamente saber que n�o �
competente. Seu conhecimento deve pelo menos capacit�-lo a explicar e julgar o que
�; ou ele � um juiz insuficiente do que deve ser. Por exemplo, se um economista
pol�tico se encontra perplexo devido a quaisquer fen�menos comerciais recentes ou
atuais, se existe para ele qualquer mist�rio no estado passado ou presente da
ind�stria produtiva do pa�s, que seu conhecimento de princ�pio n�o lhe permite
decifrar, ele pode estar certo de que alguma coisa est� faltando para tornar seu
sistema de opini�es um guia digno de confian�a nas circunst�ncias existentes. Ou
alguns dos fatos que influenciam a situa��o do pa�s e o curso dos eventos n�o lhe
s�o conhecidos, ou, conhecendo-os, ele n�o sabe quais devem ser seus efeitos. No
�ltimo caso, seu sistema � imperfeito mesmo como um sistema abstrato; n�o lhe
permite tra�ar corretamente todas as consequ�ncias mesmo das premissas assumidas.
Embora ele seja bem-sucedido em levantar d�vidas acerca da realidade de alguns dos
fen�menos que se exige que ele explique, sua tarefa ainda n�o est� completa; mesmo
ent�o ele � chamado a mostrar como a cren�a, que ele sup�s infundada, se originou,
e qual � a natureza real da apar�ncia que deu uma colora��o de probabilidade �s
alega��es que o exame provou serem falsas.
Quando o pol�tico especulativo completou este trabalho - completou-o
conscientemente, n�o com o desejo de verificar que seu sistema � completo, mas de
torn�-lo completo -, pode supor-se qualificado a aplicar seus princ�pios como guias
da pr�tica; mas deve continuar ainda a exercitar a mesma disciplina sobre toda
combina��o nova de fatos assim que esta se origine; deve conceder grande n�mero de
atenuantes � influ�ncia perturbadora de causas imprevistas e deve observar
cuidadosamente o resultado de todo experimento de modo a que todo res�duo de fatos,
que seus princ�pios n�o o conduziam a esperar e n�o o capacitavam a explicar, possa
tornar-se o objeto de uma nova an�lise e fornecer a ocasi�o para uma amplia��o ou
corre��o de suas perspectivas gerais.
O m�todo do fil�sofo pr�tico � constitu�do, portanto de dois processos: um,
anal�tico; o outro, sint�tico. Ele deve analisar o estado existente de sociedade em
seus elementos, n�o afastando ou perdendo qualquer um deles de passagem. Ap�s se
ter referido � experi�ncia do homem individual para aprender a lei de cada um
desses elementos, isto �, para aprender quais s�o seus efeitos naturais e quanto
dos efeitos se segue de tanto da causa quando n�o � neutralizado por qualquer outra
causa, resta uma opera��o de s�ntese: colocar juntos todos esses efeitos e, a
partir do que eles s�o separadamente, colher qual seria o efeito de todas as causas
agindo de uma s� vez. Se estas v�rias opera��es pudessem ser corretamente
realizadas, o resultado seria a profecia; mas, como elas podem ser realizadas
unicamente com uma certa aproxima��o � exatid�o, a humanidade nunca as pode
produzir com absoluta certeza, mas apenas com um menor ou maior grau de
probabilidade, segundo esteja melhor ou pior informada acerca do que as causas s�o,
tenha aprendido da experi�ncia com maior ou menor exatid�o a lei � qual cada uma
daquelas causas, quando agem separadamente, se ajusta, e tenha resumido o efeito
agregado mais ou menos cuidadosamente.
Com todas as precau��es que foram indicadas, existir� ainda algum perigo de cair em
vis�es parciais, mas teremos pelo menos tomado as melhores defesas contra ele. Tudo
o mais que podemos fazer � esfor�ar-nos para ser cr�ticos imparciais de nossas
pr�prias teorias e para livrar-nos, at� onde sejamos capazes, daquela relut�ncia da
qual poucos investigadores est�o totalmente livres: admitir a realidade ou
relev�ncia de alguns fatos que eles previamente ou n�o admitiram, ou n�o deixaram
para esses fatos um lugar em aberto, em seus sistemas. Se, de fato, todo fen�meno
fosse geralmente o efeito de nada mais do que uma causa, um conhecimento da lei
daquela causa nos permitiria, a menos que existisse um erro l�gico em nosso
racioc�nio, com toda seguran�a predizer todas as circunst�ncias do fen�meno.
Poder�amos ent�o, se tiv�ssemos examinado cuidadosamente nossas premissas e nosso
racioc�nio e n�o tiv�ssemos encontrado nenhum defeito, arriscar-nos a descrer no
testemunho que poderia ser levantado para mostrar que as quest�es se produziram
diferentemente do que ter�amos previsto. Se as causas das conclus�es err�neas
fossem sempre patentes na superf�cie dos racioc�nios que conduzem a elas, o
entendimento humano seria um instrumento mais fidedigno do que �. Mas o exame mais
limitado do pr�prio processo auxiliar-nos-ia pouco na descoberta de que omitimos
parte das premissas que dev�amos ter considerado em nosso racioc�nio. Os efeitos
s�o comumente determinados por uma concorr�ncia de causas. Se negligenciarmos
qualquer uma das causas, podemos raciocinar legitimamente a partir de todas as
outras, e somente a �ltima ser� errada. Nossas premissas ser�o verdadeiras e nosso
racioc�nio correto, e ainda assim o resultado de nenhum valor no caso particular.
Existe, portanto, quase sempre lugar para uma d�vida modesta com rela��o a nossas
conclus�es pr�ticas. Contra as premissas falsas e o racioc�nio imperfeito uma boa
disciplina mental pode proteger-nos eficazmente; mas, contra o perigo de
negligenciar alguma coisa, nem for�a de entendimento nem cultura intelectual podem
ser mais do que uma prote��o muito imperfeita. Uma pessoa pode estar justificada em
se sentir segura de ter visto corretamente tudo o que contemplou cuidadosamente com
os olhos de sua mente; mas ningu�m pode estar certo de que n�o existe alguma coisa
que n�o tenha observado. N�o pode fazer nada al�m de se satisfazer em ter visto
tudo que � vis�vel a quaisquer outras pessoas que se tenham interessado pelo
objeto. Para este prop�sito ele deve esfor�ar-se para se colocar no ponto de vista
daquelas pessoas e empenhar-se seriamente em ver o objeto como elas o veem, e n�o
deve abandonar o esfor�o at� que tenha adicionado a apar�ncia que flutua diante
deles ao seu pr�prio estoque de realidades ou provado claramente que � uma fraude
�ptica.
Os princ�pios que ora enunciamos n�o s�o de modo algum alheios � apreens�o comum;
n�o est�o absolutamente escondidos, talvez, de ningu�m, mas s�o comumente vistos
atrav�s de uma n�voa. Poder�amos ter apresentado a �ltima parte deles numa
fraseologia em que teriam parecido as mais familiares verdades evidentes:
poder�amos ter prevenido os investigadores contra a generaliza��o muito extensa, e
lembrado a eles de que existem exce��es a todas as regras. Tal � a linguagem
corrente daqueles que desconfiam do pensamento compreensivo, sem ter nenhuma no��o
clara de por que e onde se deve desconfiar dele. Evitamos o uso destas express�es
propositadamente porque as supomos superficiais e imprecisas. O erro, quando existe
erro, n�o se origina da generaliza��o muito extensa, isto �, da inclus�o de um
campo muito extenso de casos particulares numa proposi��o simples.
Indubitavelmente, um homem frequentemente afirma de uma classe inteira o que �
verdade somente para parte dela; mas seu erro geralmente n�o consiste em fazer uma
asser��o muito extensa, mas em fazer o tipo errado de asser��o; previu um resultado
real quando deveria somente ter previsto uma tend�ncia �quele resultado - uma for�a
agindo com uma certa intensidade naquela dire��o. Com rela��o �s exce��es, em
qualquer ci�ncia toleravelmente avan�ada n�o existe propriamente uma coisa tal como
uma exce��o. O que se pensa ser uma exce��o a um princ�pio � sempre algum outro
princ�pio diferente que corta o primeiro, alguma outra for�a que se choca com a
primeira for�a e a desvia de sua dire��o. N�o existe uma lei e uma exce��o �quela
lei - a lei que age em noventa e nove casos, e a exce��o num. Existem duas leis,
cada uma agindo possivelmente em todos os cem casos e produzindo um efeito comum
por sua opera��o conjunta. Se a for�a que, sendo a menos not�vel das duas, �
chamada a for�a perturbadora prevalecesse suficientemente sobre a outra for�a em
algum caso para constituir aquele caso que se chama comumente uma exce��o, a mesma
for�a perturbadora provavelmente agiria como uma causa modificadora em muitos
outros casos que ningu�m chamaria exce��es.
Assim, se se enunciasse ser uma lei da natureza que todos os corpos pesados caem ao
solo, provavelmente dir-se-ia que a resist�ncia da atmosfera, que impede um bal�o
de cair, faz do bal�o uma exce��o �quela pretensa lei da natureza. Mas a lei real �
que todos os corpos pesados tendem a cair, e n�o existe nenhuma exce��o a isto, nem
mesmo o sol e a lua; pois mesmo eles, como todo astr�nomo sabe, tendem em dire��o �
terra com uma for�a exatamente igual �quela pela qual a terra tende em dire��o a
eles. Poder-se-ia dizer que a atmosfera, no caso particular do bal�o, devido a uma
m� compreens�o do que seja a lei de gravita��o, prevalece � lei, mas seu efeito
perturbador � quase t�o real em todos os outros casos, desde que, embora n�o
impe�a, ela retarda a queda de todos os corpos. A regra e a assim chamada exce��o
n�o dividem os casos entre si; cada qual � uma regra compreensiva que se estende a
todos os casos. Chamar um desses princ�pios concorrentes uma exce��o ao outro �
superficial e contr�rio aos princ�pios corretos de nomenclatura e arranjo. Um
efeito exatamente do mesmo tipo, e se originando na mesma causa, n�o deve ser
colocado em duas categorias diferentes, simplesmente porque existe ou n�o outra
causa que prevalece sobre ele.
� somente na arte, enquanto distinta da ci�ncia, que podemos com propriedade falar
de exce��es. A arte, cujo fim imediato � a pr�tica, n�o tem rela��o alguma com as
causas exceto enquanto meios de produzir efeitos. Por mais heterog�neas que sejam
as causas, a arte conduz os efeitos de todas elas a uma �nica estimativa; e,
dependendo de se a soma total � mais ou menos, dependendo de se ela cai acima ou
abaixo de uma certa linha, a Arte diz: fa�a-se isto ou abstenha-se de faz�-lo. A
exce��o n�o se precipita na regra por graus insens�veis, como as que s�o chamadas
exce��es na ci�ncia. Numa quest�o de pr�tica, acontece frequentemente que uma certa
coisa ou � apropriada para ser feita ou apropriada a ser totalmente afastada, n�o
existindo nenhum meio-termo. Se na maioria dos casos � apropriado faz�-la, isto
torna-se a regra. Quando ocorre subsequentemente um caso em que a coisa n�o deve
ser feita, uma folha inteiramente nova � virada: a regra � agora modificada e
afastada; uma nova s�rie de ideias � introduzida e entre elas e aquelas envolvidas
na regra existe uma ampla linha de demarca��o, t�o ampla e tranchant (decisiva)
como a diferen�a entre Sim e N�o. Muito provavelmente, entre o �ltimo caso que
entra na regra e o primeiro da exce��o existe somente a diferen�a de uma sombra,
mas essa sombra provavelmente faz com que todo o intervalo entre elas atue de um
modo e num modo totalmente diferente. Podemos, portanto, ao falar da arte, falar
inquestionavelmente da regra e da exce��o, significando pela regra os casos em que
existe uma preponder�ncia, embora insignificante, de incentivos para agir de um
modo particular; e pela exce��o, os casos em que a preponder�ncia est� do lado
contr�rio.
S-ar putea să vă placă și
- Livro Analise Do Comportamento Aplicada Teoria Aplicacoes e Prestacao de Servicos IEPSIS 2023Document166 paginiLivro Analise Do Comportamento Aplicada Teoria Aplicacoes e Prestacao de Servicos IEPSIS 2023tiagolivelo.campos100% (1)
- Américo Pereira - Da Posteridade Do Pensamento de Louis LavelleDocument50 paginiAmérico Pereira - Da Posteridade Do Pensamento de Louis LavelleJosé Shigueyoshi Kaku100% (1)
- Plano de Aula - ModeloDocument2 paginiPlano de Aula - ModeloGraciane Guimaraes100% (5)
- Resumo Do Livro o Que É CienciaDocument5 paginiResumo Do Livro o Que É CienciaEnyo Ehrich20% (5)
- Apostila de Inglês InstrumentalDocument43 paginiApostila de Inglês InstrumentalSamy Javier100% (1)
- Kant - Prefácio Da Segunda Edição (1787) Da CRPDocument16 paginiKant - Prefácio Da Segunda Edição (1787) Da CRPSelmi Luiz MatiasÎncă nu există evaluări
- Velhos e Novos Aspectos Da Epistemologia Das Ciencias SociaisDocument14 paginiVelhos e Novos Aspectos Da Epistemologia Das Ciencias SociaisGeise TargaÎncă nu există evaluări
- Caderno de Testes Matematica 2017 01 Folha Dirigida PDF 170626213337Document40 paginiCaderno de Testes Matematica 2017 01 Folha Dirigida PDF 170626213337Kaline LucenaÎncă nu există evaluări
- Resumos - EpistemologiaDocument10 paginiResumos - Epistemologiaraquel cunhaÎncă nu există evaluări
- APOSTILA 03 - A Experiência Filosófica e o ConhecimentoDocument12 paginiAPOSTILA 03 - A Experiência Filosófica e o ConhecimentoPré-Universitário Oficina do Saber UFFÎncă nu există evaluări
- Prova Historia Da PsicologiaDocument5 paginiProva Historia Da PsicologiaAnderson Segurança Do TrabalhoÎncă nu există evaluări
- Resumo RosenbergDocument63 paginiResumo RosenbergJuliano Domingues100% (2)
- Metafisica Da Filosofia PercurtivaDocument32 paginiMetafisica Da Filosofia PercurtivaNahamboÎncă nu există evaluări
- A Natureza Da Metafísica - E. J. Lowe PDFDocument16 paginiA Natureza Da Metafísica - E. J. Lowe PDFthepepperÎncă nu există evaluări
- O Que É CiênciaDocument4 paginiO Que É CiênciaIsabela13randradeÎncă nu există evaluări
- SILVA - Teoria Do ConhecimentoDocument21 paginiSILVA - Teoria Do ConhecimentosantacrocceÎncă nu există evaluări
- A Questão Do MétodoDocument3 paginiA Questão Do MétodoAdriana Henriques S. BorgesÎncă nu există evaluări
- O - Metodo - Como - Tema - Controversias - Filosoficas - Discussoes - Economicas - Pedro Cesar Dutra FonsecaDocument17 paginiO - Metodo - Como - Tema - Controversias - Filosoficas - Discussoes - Economicas - Pedro Cesar Dutra FonsecaDavidson82Încă nu există evaluări
- Guilhermo de Ockham - Seleção de ObrasDocument45 paginiGuilhermo de Ockham - Seleção de ObrasDiogopradoevanÎncă nu există evaluări
- Senso Comum e Conhecimento CientíficoDocument3 paginiSenso Comum e Conhecimento CientíficoAna Raquel SiqueiraÎncă nu există evaluări
- (Simon Blackburn) - Como É Possível A Filosofia AnalíticaDocument13 pagini(Simon Blackburn) - Como É Possível A Filosofia AnalíticaGabriel Viana SilveiraÎncă nu există evaluări
- Kant - Criticadarazaopura Trechos SeletosDocument93 paginiKant - Criticadarazaopura Trechos SeletosPedro Henrique Cristaldo SilvaÎncă nu există evaluări
- Ciencia - Natureza e ObjetivoDocument7 paginiCiencia - Natureza e ObjetivoCaio Flexa RodriguesÎncă nu există evaluări
- Kant PrefácioDocument22 paginiKant PrefácioRissel ValdezÎncă nu există evaluări
- Filosofia Das Ciências-TrabalhoDocument6 paginiFilosofia Das Ciências-Trabalhorafa chechuÎncă nu există evaluări
- DogmatismoDocument9 paginiDogmatismoHerminio Raibo100% (1)
- 1) EpistemologiaDocument12 pagini1) EpistemologiaUlisses Heckmaier CataldoÎncă nu există evaluări
- Sistemas FilosoficosDocument12 paginiSistemas FilosoficosNilmar SilvaÎncă nu există evaluări
- Senso Comum e Conhecimento CientíficoDocument6 paginiSenso Comum e Conhecimento CientíficoCorvinvsÎncă nu există evaluări
- A Possibilidade Do ConhecimentoDocument9 paginiA Possibilidade Do Conhecimentotomazxx50% (2)
- Hume. TNH Intro - Livro1Parte1 (Calouste)Document37 paginiHume. TNH Intro - Livro1Parte1 (Calouste)EvanePicoliÎncă nu există evaluări
- 04 Aristóteles Tópicos I.1 9Document14 pagini04 Aristóteles Tópicos I.1 9Bruno ThiagoÎncă nu există evaluări
- Ernest Nagel - Ciência, Natureza e ObjetivosDocument11 paginiErnest Nagel - Ciência, Natureza e ObjetivosArthur IgnacioÎncă nu există evaluări
- Tipos de ConhecimentoDocument10 paginiTipos de ConhecimentoVinicius Ramalho SalesÎncă nu există evaluări
- Da Ética Filosófica À Ética em Saúde - Franklin LeopoldoDocument15 paginiDa Ética Filosófica À Ética em Saúde - Franklin LeopoldodavidlopesdasilvaÎncă nu există evaluări
- Material Didático 02 - QM 2023-1Document10 paginiMaterial Didático 02 - QM 2023-1Rênnisson WillgnerÎncă nu există evaluări
- Questionário DiagnosticoDocument7 paginiQuestionário DiagnosticoHeber Nunes LopesÎncă nu există evaluări
- Oqef - E. TugendhatDocument46 paginiOqef - E. TugendhatGeyssonÎncă nu există evaluări
- Apostila 1Document11 paginiApostila 1Robledo LiraÎncă nu există evaluări
- Tópicos Introdutórios Sobre Filosofia Da CiênciaDocument4 paginiTópicos Introdutórios Sobre Filosofia Da CiênciabrunoÎncă nu există evaluări
- P. Feyerabend, Contra o Metodo PDFDocument19 paginiP. Feyerabend, Contra o Metodo PDFMatheusÎncă nu există evaluări
- Apostila de Metodologia Científica - Ivan - 03 de Agosto de 2022Document109 paginiApostila de Metodologia Científica - Ivan - 03 de Agosto de 2022IvanBalducciÎncă nu există evaluări
- Ciência e ÉticaDocument5 paginiCiência e ÉticaMa SilvaÎncă nu există evaluări
- Conhecimento FilosoficoDocument3 paginiConhecimento FilosoficoFlávio J. SouzaÎncă nu există evaluări
- Tipos de Conhecimentos - Naliny Dourado MendesDocument12 paginiTipos de Conhecimentos - Naliny Dourado MendesErickson Lopes FerreiraÎncă nu există evaluări
- 1 A Teoria É Um Mito e o Mito Foi Uma Teoria#Document59 pagini1 A Teoria É Um Mito e o Mito Foi Uma Teoria#artur felisbertoÎncă nu există evaluări
- CienciaDocument6 paginiCienciaMaria DinisÎncă nu există evaluări
- Estudo Dirigido 2o.ano FilosofiaDocument3 paginiEstudo Dirigido 2o.ano FilosofiaLucas LeitãoÎncă nu există evaluări
- Juventude SociologiaDocument51 paginiJuventude SociologiaTarcisio Augusto Alves SilvaÎncă nu există evaluări
- Resumo 2 - Filosofia 11Document10 paginiResumo 2 - Filosofia 11André Delgado100% (1)
- ConhecimentoDocument15 paginiConhecimentoIsmael César FançaneÎncă nu există evaluări
- Filosofia e Ciências Da NaturezaDocument7 paginiFilosofia e Ciências Da NaturezaDilma TavaresÎncă nu există evaluări
- Meinong - Sobre A Teoria Do Objeto - Pgs 93-106-PáginasDocument14 paginiMeinong - Sobre A Teoria Do Objeto - Pgs 93-106-Páginascorupa.alessandroÎncă nu există evaluări
- Morgenbesser - Filosofia Da Ciencia - Ernest Nagel - Pag 11 A 24Document9 paginiMorgenbesser - Filosofia Da Ciencia - Ernest Nagel - Pag 11 A 24Isaias Mota Alves FilhoÎncă nu există evaluări
- Escola Secundária de Tet1Document9 paginiEscola Secundária de Tet1Celicio Domingos DomingosÎncă nu există evaluări
- Linguagem e Verdade - Uma Análise Da Lógica de Frege - TextuaisDocument90 paginiLinguagem e Verdade - Uma Análise Da Lógica de Frege - TextuaisLuciano Carvalho0% (1)
- Apostila de Introdução À Ciência JurídicaDocument17 paginiApostila de Introdução À Ciência JurídicakellyÎncă nu există evaluări
- (Apost FiloCiencia 2018 1) 10. AnexosDocument28 pagini(Apost FiloCiencia 2018 1) 10. AnexosGustavo RodriguesÎncă nu există evaluări
- Teoria, Factos e LeisDocument9 paginiTeoria, Factos e LeisAdonio Mc100% (1)
- CONCEITOS E FATOS - PozoDocument6 paginiCONCEITOS E FATOS - PozoMiriam HermetoÎncă nu există evaluări
- Aula 52Document26 paginiAula 52lambertsuporteÎncă nu există evaluări
- 1-Filosofoa. Ciencia e PositivismoDocument18 pagini1-Filosofoa. Ciencia e Positivismoluis antonio do AmaralÎncă nu există evaluări
- FILOSOFIA E EDUCAÇÃO O SIGNIFICADO DA FILOSOFIA George F. KnellerDocument127 paginiFILOSOFIA E EDUCAÇÃO O SIGNIFICADO DA FILOSOFIA George F. KnellerOsmar BorgesÎncă nu există evaluări
- Ciência e ÉticaDocument5 paginiCiência e ÉticaJoana DáleteÎncă nu există evaluări
- Eadweard Muybridge e Sua Importância Na FotografiaDocument1 paginăEadweard Muybridge e Sua Importância Na FotografiaGuilherme Quadras RodriguesÎncă nu există evaluări
- JAEGGI, Rahel. O Que Há (Se de Fato Há Algo) de Errado Com o Capitalismo PDFDocument24 paginiJAEGGI, Rahel. O Que Há (Se de Fato Há Algo) de Errado Com o Capitalismo PDFSérgio YanaguiÎncă nu există evaluări
- CríticaDocument2 paginiCríticaGuilherme Quadras RodriguesÎncă nu există evaluări
- Novo (A) Documento Do Microsoft WordDocument1 paginăNovo (A) Documento Do Microsoft WordGuilherme Quadras RodriguesÎncă nu există evaluări
- DarlingDocument1 paginăDarlingGuilherme Quadras RodriguesÎncă nu există evaluări
- LISTA DE CONTRAÇÕES E COMBINAÇÕES NA LÍNGUA PORTUGUESA Passei DiretoDocument2 paginiLISTA DE CONTRAÇÕES E COMBINAÇÕES NA LÍNGUA PORTUGUESA Passei DiretoGuilherme Quadras RodriguesÎncă nu există evaluări
- ReviewDocument3 paginiReviewGuilherme Quadras RodriguesÎncă nu există evaluări
- HoppeDocument4 paginiHoppeGuilherme Quadras RodriguesÎncă nu există evaluări
- 91 DaysDocument1 pagină91 DaysGuilherme Quadras RodriguesÎncă nu există evaluări
- Grupo The Filosofia of BrazilDocument26 paginiGrupo The Filosofia of BrazilGuilherme Quadras RodriguesÎncă nu există evaluări
- Navalhas FilosóficasDocument22 paginiNavalhas FilosóficasGuilherme Quadras RodriguesÎncă nu există evaluări
- 2 - Movimento Da HistóriaDocument2 pagini2 - Movimento Da HistóriaGuilherme Quadras RodriguesÎncă nu există evaluări
- AnotherDocument1 paginăAnotherGuilherme Quadras RodriguesÎncă nu există evaluări
- Vê Ou VerDocument3 paginiVê Ou VerGuilherme Quadras RodriguesÎncă nu există evaluări
- 6 - 7 Passos - Fraqueza e NecessidadeDocument2 pagini6 - 7 Passos - Fraqueza e NecessidadeGuilherme Quadras RodriguesÎncă nu există evaluări
- 13 - Argumento MoralDocument17 pagini13 - Argumento MoralGuilherme Quadras RodriguesÎncă nu există evaluări
- Premade DarlingDocument1 paginăPremade DarlingGuilherme Quadras RodriguesÎncă nu există evaluări
- 8 - 7 Passos - OponenteDocument1 pagină8 - 7 Passos - OponenteGuilherme Quadras RodriguesÎncă nu există evaluări
- 9 - 7 Passos - Plano BatalhaDocument1 pagină9 - 7 Passos - Plano BatalhaGuilherme Quadras RodriguesÎncă nu există evaluări
- 9 - 7 Passos - Plano BatalhaDocument1 pagină9 - 7 Passos - Plano BatalhaGuilherme Quadras RodriguesÎncă nu există evaluări
- RoteiroDocument3 paginiRoteiroGuilherme Quadras RodriguesÎncă nu există evaluări
- 3 - Basico Na Criação de Uma HistóriaDocument1 pagină3 - Basico Na Criação de Uma HistóriaGuilherme Quadras RodriguesÎncă nu există evaluări
- 3 - Basico Na Criação de Uma HistóriaDocument1 pagină3 - Basico Na Criação de Uma HistóriaGuilherme Quadras RodriguesÎncă nu există evaluări
- RoteiroDocument1 paginăRoteiroGuilherme Quadras RodriguesÎncă nu există evaluări
- 7 - 7 Passos - ObjetivoDocument2 pagini7 - 7 Passos - ObjetivoGuilherme Quadras RodriguesÎncă nu există evaluări
- Psicologia Das CoresDocument7 paginiPsicologia Das CoresGuilherme Quadras RodriguesÎncă nu există evaluări
- PersonagemDocument2 paginiPersonagemGuilherme Quadras RodriguesÎncă nu există evaluări
- A Teoria Austríaca Dos Ciclos EconômicosDocument6 paginiA Teoria Austríaca Dos Ciclos EconômicosGuilherme Quadras RodriguesÎncă nu există evaluări
- Há Uma Terceira SubstânciaDocument1 paginăHá Uma Terceira SubstânciaGuilherme Quadras RodriguesÎncă nu există evaluări
- DeusDocument1 paginăDeusGuilherme Quadras RodriguesÎncă nu există evaluări
- Dificuldades para A Implantação de Práticas InterdisciplinaresDocument16 paginiDificuldades para A Implantação de Práticas InterdisciplinaresaecarvalhoÎncă nu există evaluări
- A Metafísica de Immanuel KantDocument8 paginiA Metafísica de Immanuel KantFabiano Conterato100% (1)
- Creche II e VespertinoDocument2 paginiCreche II e VespertinoCESM Santa MariaÎncă nu există evaluări
- Novo Amanhecer-Novos CaminhosDocument149 paginiNovo Amanhecer-Novos CaminhosEduardo B. AraujoÎncă nu există evaluări
- Antonieta de Barros - Infográfico PDFDocument1 paginăAntonieta de Barros - Infográfico PDFZelindaBarrosÎncă nu există evaluări
- 2023 07 10 ASSINADO Do3Document284 pagini2023 07 10 ASSINADO Do3Ruan PaivaÎncă nu există evaluări
- Plano de Ação para A Educação Digital 2021-2027Document24 paginiPlano de Ação para A Educação Digital 2021-2027Paulo MonteiroÎncă nu există evaluări
- Pratica de Ensino 2 - AD1 2022.2Document2 paginiPratica de Ensino 2 - AD1 2022.2Francisca SilvaÎncă nu există evaluări
- Ad1 Estagio 1 CederjDocument2 paginiAd1 Estagio 1 CederjRenan CostaÎncă nu există evaluări
- Artigo de Humberto Braga - História Do Teatro de Bonecos No BrasilDocument32 paginiArtigo de Humberto Braga - História Do Teatro de Bonecos No BrasilFabiana Lazzari de OliveiraÎncă nu există evaluări
- Geoliguistica DigitalDocument513 paginiGeoliguistica DigitalEuge Maria100% (1)
- Resenha Crítica Do Artigo - O SISTEMA DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL CARACTERÍSTICAS, TENDÊNCIAS E PERSPECTIVASDocument3 paginiResenha Crítica Do Artigo - O SISTEMA DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL CARACTERÍSTICAS, TENDÊNCIAS E PERSPECTIVASCarol Viana100% (1)
- Be48 14Document96 paginiBe48 14Carla DieleÎncă nu există evaluări
- GRAMSCI - Os Intelectuais e A Organização Da CulturaDocument5 paginiGRAMSCI - Os Intelectuais e A Organização Da CulturaNiki SukowÎncă nu există evaluări
- Tecnica de Expressao Oral e Escrita (A Acta)Document10 paginiTecnica de Expressao Oral e Escrita (A Acta)SergioMatsoloÎncă nu există evaluări
- Anexo II - Relato de AcidenteDocument5 paginiAnexo II - Relato de AcidenteJadson CunhaÎncă nu există evaluări
- Aula 1-Introdução - Aprendizagem de Máquina PDFDocument24 paginiAula 1-Introdução - Aprendizagem de Máquina PDFgustavo_maÎncă nu există evaluări
- Infantil VDocument2 paginiInfantil VGleibson AlmeidaÎncă nu există evaluări
- Histologia: Intituto de Ensino Superior de LondrinaDocument35 paginiHistologia: Intituto de Ensino Superior de LondrinaMarcelo FiuzaÎncă nu există evaluări
- ArtigoDocument1.572 paginiArtigoJoão Lucio de Souza Jr.Încă nu există evaluări
- O Papel Do ProfessorDocument7 paginiO Papel Do ProfessorSofia GonçalvesÎncă nu există evaluări
- Modelo Projeto Pesquisa Ufg Jatai 2016Document24 paginiModelo Projeto Pesquisa Ufg Jatai 2016Wagner BeloÎncă nu există evaluări
- Anais Simp Emus 2005Document290 paginiAnais Simp Emus 2005Juca LimaÎncă nu există evaluări
- CAMPOS Et Al. Planejamento e Gestão em Saúde. C. 1Document370 paginiCAMPOS Et Al. Planejamento e Gestão em Saúde. C. 1Viviane Salazar100% (1)