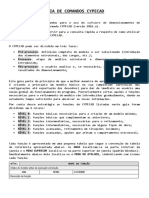Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Apresentações Da Filosofia, P. 27-35: André Comte-Sponville
Încărcat de
Juliana Pereira Salviano0 evaluări0% au considerat acest document util (0 voturi)
13 vizualizări24 paginiTitlu original
424924
Drepturi de autor
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formate disponibile
DOC, PDF, TXT sau citiți online pe Scribd
Partajați acest document
Partajați sau inserați document
Vi se pare util acest document?
Este necorespunzător acest conținut?
Raportați acest documentDrepturi de autor:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formate disponibile
Descărcați ca DOC, PDF, TXT sau citiți online pe Scribd
0 evaluări0% au considerat acest document util (0 voturi)
13 vizualizări24 paginiApresentações Da Filosofia, P. 27-35: André Comte-Sponville
Încărcat de
Juliana Pereira SalvianoDrepturi de autor:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formate disponibile
Descărcați ca DOC, PDF, TXT sau citiți online pe Scribd
Sunteți pe pagina 1din 24
A MORAL
por André COMTE-SPONVILLE -
Apresentações da Filosofia, p. 27-35
Vale mais ser Sócrates insatisfeito
que um porco satisfeito; vale mais
ser Sócrates insatisfeito que um
imbecil satisfeito. E se o imbecil ou
o porco têm uma opinião diferente,
é porque só conhecem um lado da
questão: o seu. A outra parte, para
fazer a comparação, conhece os
dois lados. (JOHN STUART MILL)
Estamos enganados acerca da
moral. Ela não existe basicamente
para punir, para reprimir, para
condenar. Para isso há tribunais,
polícias, prisões, e ninguém os
confunde com a moral. Sócrates
morreu na prisão, sendo todavia
mais livre que os seus juizes. É
talvez aqui que a filosofia começa. É
aqui que a moral começa, para cada
qual, e recomeça sempre: onde
nenhuma punição é possível, onde
nenhuma repressão é eficaz, onde
nenhuma condenação, pelo menos
exterior, é necessária. A moral
começa onde nós somos livres: ela
é a própria liberdade, quando esta
se julga e se dirige.
Querias roubar aquele disco ou
aquela peça de roupa numa loja...
Mas há um vigilante que te observa,
ou um sistema de vigilância
electrónica, ou tens simplesmente
medo de ser apanhado, de ser
punido, de ser condenado... Não é
honestidade; é calculismo. Não é
moral; é precaução. O medo da
autoridade é o contrário da virtude,
ou é apenas a virtude da prudência.
Imagina, pelo contrário, que tens
esse anel de que fala Platão, o
famoso anel de Giges que te torna
invisível quando queres... É um anel
mágico que um pastor encontrou por
acaso. Basta rodar o anel e voltar o
engaste para o lado da palma da
mão para a pessoa se tornar
totalmente invisível, e rodá-lo para o
outro lado para voltar a ficar visível...
Giges, que era um homem honesto,
não soube resistir às tentações a
que este anel o submetia:
aproveitou os seus poderes mágicos
para entrar no Palácio, seduzir a
rainha, assassinar o rei, tomar o
poder e exercê-lo em seu exclusivo
benefício... Quem conta a história
n'A República [uma das obras de
Platão] conclui que o bom e o mau,
ou supostos como tais, não se
distinguem senão pela prudência ou
pela hipocrisia, ou, dito de outra
maneira, pela importância desigual
que atribuem ao olhar dos outros ou
pela sua maior ou menor habilidade
em se esconder... Possuíssem um e
outro o anel de Giges e nada os
distinguiria: «tenderiam ambos para
o mesmo fim». Isto é sugerir que a
moral não é senão uma ilusão, um
engano, um medo disfarçado de
virtude. Bastaria podermos tornar-
nos invisíveis para que qualquer
interdição desaparecesse, e não
houvesse senão a procura, por parte
de cada um, do seu prazer ou do
seu interesse egoísta.
Será isto verdade? Claro que Platão
está convencido do contrário. Mas
ninguém é obrigado a ser
platônico... Para ti, a única resposta
válida está em ti mesmo. Imagina,
como experiência de pensamento,
que tinhas esse anel. Que farias?
Que não farias? Continuarias, por
exemplo, a respeitar a propriedade
dos outros, a sua intimidade, os
seus segredos, a sua liberdade, a
sua dignidade, a sua vida? Ninguém
pode responder por ti: esta questão
só a ti diz respeito, mas diz respeito
a tudo o que tu és. Tudo aquilo que
não fazes, mas que te permitirias se
fosses invisível, releva menos da
moral que da prudência ou da
hipocrisia. Em contrapartida, aquilo
que, mesmo invisível, continuarias a
obrigar-te ou a proibir-te, não por
interesse mas por dever, só isso é
estritamente moral. A tua alma tem
a sua pedra de toque. A tua moral
tem a sua pedra de toque, pela qual
te julgas a ti mesmo. A tua moral?
Aquilo que exiges de ti, não em
função do olhar dos outros ou desta
ou daquela ameaça exterior, mas
em nome de uma certa concepção
do bem e do mal, do dever e do
interdito, do admissível e do
inadmissível, enfim, da humanidade
e de ti. Concretamente: o conjunto
das regras às quais te submeterias
mesmo que fosses invisível e
invencível.
Será demasiado? Ou será pouco?
Cabe a ti decidir. Aceitarias, por
exemplo, se pudesses tornar-te
invisível, fazer condenar um
inocente, trair um amigo, martirizar
uma criança, violar, torturar,
assassinar? A resposta só depende
de ti; tu, moralmente, não dependes
senão da tua resposta. Não tens o
anel? Isso não te dispensa de
refletir, de julgar, de agir. Se há uma
diferença mais do que aparente
entre um malvado e um homem bom
é porque o olhar dos outros não é
tudo, porque a prudência não é
tudo. Tal é a aposta da moral e a
sua solidão derradeira: toda a moral
é em relação ao outro, mas de si
para si. Claro que agir moralmente é
tomar em consideração os
interesses do outro, mas «às ocultas
dos deuses e dos homens», como
diz Platão, ou, dito de outro modo,
sem recompensa nem castigo
possíveis e sem ter necessidade,
para isso, de outro olhar que não o
próprio. Uma aposta? Exprimo-me
mal, pois a resposta, mais uma vez,
só depende de ti. Não se trata de
uma aposta, mas de uma escolha.
Só tu sabes o que deves fazer, e
ninguém pode decidir por ti. Solidão
e grandeza da moral: só vales pelo
bem que fazes e pelo mal que te
proíbes, sem outro benefício que a
satisfação — ainda que mais
ninguém saiba disso —- de fazer
bem.
É o espírito de Espinosa: «Fazer
bem e ter alegria.» É apenas o
espírito. Como podemos ter alegria
sem nos estimarmos ao menos um
pouco? E como nos estimaremos
sem nos dirigirmos, sem nos
dominarmos, sem nos
ultrapassarmos? É a tua vez de
jogar, como se diz, mas não é um
jogo, e ainda menos um
espectáculo. É a tua própria vida: tu
és, aqui e agora, aquilo que fazes. É
inútil, do ponto de vista moral,
sonharmos ser outra pessoa.
Podemos esperar a riqueza, a
saúde, a beleza, a felicidade... É
absurdo esperar a virtude. Ser
malvado ou bom, cabe-te a ti
escolher, somente a ti: tu vales
exatamente o que queres.
O que é a moral? É o conjunto das
coisas a que um indivíduo se obriga
ou que proíbe a si mesmo, não para
aumentar a sua felicidade ou o seu
bem estar, o que não passaria de
egoísmo, mas para levar em conta
os interesses ou os direitos do outro,
para não ser um malvado, para
permanecer fiel a uma certa ideia da
humanidade e de si. A moral
responde à questão Que devo
fazer? — é o conjunto dos meus
deveres, ou seja, dos imperativos
que reconheço como legítimos —-
mesmo que, como qualquer pessoa,
ocasionalmente os viole. É a lei que
imponho a mim mesmo, ou que
deveria impor-me,
independentemente do olhar do
outro e de qualquer sanção ou
recompensa esperadas.
Que devo fazer? e não: Que devem
fazer os outros? Eis o que distingue
a moral do moralismo. «A moral,
dizia Alain, nunca é para o nosso
vizinho»: aquele que se ocupa dos
deveres do vizinho não é moral, mas
moralizador. Haverá espécie mais
desagradável? Discurso mais inútil?
A moral só é legítima na primeira
pessoa. Dizer a alguém: «Deves ser
generoso» não é fazer prova de
generosidade. Dizer-lhe: «Deves ser
corajoso» não é fazer prova de
coragem. A moral só vale para nós
mesmos; os deveres só valem para
nós mesmos. Para os outros bastam
a misericórdia e o direito.
De resto, quem pode conhecer as
intenções, as desculpas ou os
méritos dos outros? Moralmente,
ninguém pode ser julgado senão por
Deus, se este existir, ou por si, e isto
faz com que uma existência seja
suficiente. Foste egoísta? Foste
displicente? Aproveitaste-te da
fraqueza de outro, da sua
fragilidade, da sua ingenuidade?
Mentiste, roubaste, violaste? Tu
sabe-lo bem, e este saber de ti para
ti é o que se chama consciência, e é
o único juiz que importa, pelo menos
moralmente. Um processo? Uma
multa? Uma pena de prisão? Isso é
apenas a justiça dos homens:
apenas o direito e a polícia. Quantos
malvados não há em liberdade? E
quantas pessoas de bem na prisão?
Podes estar de bem com a
sociedade, e não há dúvida de que
isso é necessário. Mas não te
dispensa de estar de bem contigo
mesmo, com a tua consciência, e
esse é o único bem de verdade.
Haverá então tantas morais quantos
os indivíduos? Não. É este o
paradoxo da moral: só é válida na
primeira pessoa, mas é o
universalmente, ou seja, para todos
os seres humanos (pois qualquer
ser humano é um «eu»). Pelo
menos, é assim que a vivemos. Na
prática, sabemos bem que há
morais diferentes, que dependem da
educação que se recebeu, da
sociedade ou da época em que se
vive, dos meios que se frequenta, da
cultura em que nos reconhecemos...
Não há uma moral absoluta, ou
ninguém lhe tem acesso
absolutamente. Mas quando me
proíbo a crueldade, o racismo ou o
crime, sei também que não se trata
somente de uma questão de
preferência, a qual dependeria do
gosto de cada um. É antes de mais
uma condição de sobrevivência e de
dignidade para a sociedade, para
qualquer sociedade, ou seja, para a
humanidade ou para a civilização.
Se toda a gente mentisse, ninguém
acreditava em ninguém: nem se
poderia sequer mentir (pois a
mentira supõe a própria confiança
que viola) e qualquer comunicação
se tornaria absurda ou vã.
Se toda a gente roubasse, a vida em
sociedade tornar-se-ia impossível ou
miserável: deixaria de haver
propriedade, não haveria bem estar
para ninguém nem haveria nada
para roubar...
Se toda a gente matasse, seria a
humanidade ou a civilização que
correriam para a sua perda: haveria
apenas violência e medo, e
seríamos todos vítimas dos
assassinos que seríamos todos...
Trata-se apenas de hipóteses, mas
que nos levam ao coração da moral.
Queres saber se esta ou aquela
ação são boas ou condenáveis?
Pergunta a ti mesmo o que se
passaria se toda a gente se
comportasse como tu. Por exemplo,
uma criança deita a pastilha elástica
para o passeio: «imagina, dizem-lhe
os pais, que toda a gente fazia o
mesmo: que sujidade isso não
provocaria, que desagradável seria
para ti e para todos!» Imagina, a
fortiori, que toda a gente mentia, que
toda a gente matava, que toda a
gente roubava, violava, agredia,
torturava... Como poderias desejar
uma humanidade assim? Como
poderias querê-la para os teus
filhos? E em nome de quê te
poderias pôr à margem do que
queres? Tens pois de te proibir o
que condenarias nos outros, ou
então renunciar a julgares-te pelo
universal, isto é, pelo espírito ou
pela razão. É este o ponto decisivo:
trata-se de nos submetermos
pessoalmente a uma lei que nos
parece ser válida, ou deveria ser
válida, para todos.
Tal é o sentido da famosa
formulação kantiana do imperativo
categórico, na Fundamentação da
metafísica dos costumes «Age
apenas segundo uma máxima tal
que possas ao mesmo tempo querer
que seja uma lei universal.» Trata-
se de agir mais segundo a
humanidade que segundo o
«querido pequeno eu», e obedecer
mais à razão que às inclinações ou
aos interesses. Uma ação só é boa
se o princípio ao qual se submete (a
sua «máxima») pode, de direito, ser
válido para todos: agir moralmente é
agir de tal maneira que possas
desejar, sem contradição, que
qualquer indivíduo se submeta aos
mesmos princípios que tu. Isto
retoma o espírito dos Evangelhos,
ou o espírito da humanidade
(encontramos formulações
equivalentes noutras religiões), tal
como Rousseau enuncia a «máxima
sublime»: faz aos outros como
queres que te façam a ti. E retoma
também, mais modestamente, mais
lucidamente, o espírito de
compaixão, de que Rousseau, mais
uma vez, exprime a fórmula, «bem
menos perfeita, mas mais útil talvez
que a precedente: Faz o teu bem
com o menor mal que for possível
causar aos outros». Isto é viver, pelo
menos em parte, segundo o outro,
ou melhor, segundo si mas
enquanto se julga e pensa.
Completamente só, dizia Alain,
universalmente... É a moral em si
mesma.
Será necessário um fundamento
para legitimar esta moral? Não é
necessário nem forçosamente
possível. Uma criança está a afogar-
se. Tens necessidade de um
fundamento para a salvares? Um
tirano massacra, oprime, tortura...
Tens necessidade de um
fundamento para o combater? Um
fundamento seria uma verdade
incontestável que viria garantir o
valor dos nossos valores: isto
permitir-nos-ia demonstrar, incluindo
àquele que não os partilha, que nós
temos razão e ele está enganado.
Mas para isso seria necessário
começar por fundamentar a razão, e
isso não se pode fazer. Haverá
alguma demonstração que possa
prescindir dos princípios prévios,
que teríamos de começar por
demonstrar? E, no caso dos valores,
haverá um fundamento que não
pressuponha a própria moral que
pretende fundamentar? Como
demonstrar ao indivíduo que
pusesse o egoísmo à frente da
generosidade, a mentira à frente da
sinceridade, a violência ou a
crueldade à frente da doçura ou da
compaixão, que está errado, e que
efeito poderia tal demonstração ter
sobre ele? Que importa o
pensamento àquele que só pensa
em si? Que importa o universal
àquele que só vive para si? Por que
há de respeitar o princípio de não
contradição aquele que não hesita
em profanar a liberdade dos outros,
a dignidade dos outros, a vida dos
outros? E, para o combater, de que
nos serviria ter primeiramente os
meios para o refutar? O horror não
se refuta. O mal não se refuta.
Contra a violência, contra a
crueldade, contra a barbárie, temos
menos necessidade de um
fundamento que de coragem. E, em
face de nós mesmos, menos
necessidade de um fundamento que
de exigência e fidelidade. Trata-se
de não sermos indignos do que a
humanidade fez de si e de nós. Para
que precisamos de um fundamento
ou de uma garantia para tal? Como
seriam eles possíveis? A vontade
basta, e vale mais.
«A moral, escrevia Alain, consiste
em nos sabermos espírito e, a esse
título, absolutamente obrigados; pois
tal nobreza impõe uma obrigação.
Nada mais há na moral que o
sentimento da dignidade.» Trata-se
de respeitar a humanidade em si e
no outro. O que não acontece sem
resistência nem sem esforço. Nem
sem combate. Trata-se de recusares
em ti a parte que não pensa, ou que
não pensa senão em ti. Trata-se de
recusares, ou pelo menos
superares, a tua própria violência, o
teu próprio egoísmo, a tua própria
baixeza. De quereres ser homem,
ou mulher, e de seres digno disso.
«Se Deus não existe, diz uma
personagem de Dostoievski, tudo é
permitido.» Não é verdade, visto
que, crente ou descrente, não te
permites tudo: nem tudo seria digno
de ti!
O crente que só respeitasse a moral
na esperança do paraíso, ou por
medo do inferno, não seria virtuoso:
seria apenas uma questão de
egoísmo e prudência. Aquele que só
faz o bem para a sua própria
salvação, diz mais ou menos Kant,
não faz o bem e não será salvo. Isto
quer dizer que uma ação só é
moralmente boa na condição de a
fazermos, como também diz Kant,
sem nada esperar em troca. É aqui
que entramos, moralmente, na
modernidade, ou seja, no laicismo
(no bom sentido do termo: no
sentido em que um crente pode ser
tão laico como um ateu). É o espírito
das Luzes. É o espírito de Bayle,
Voltaire, Kant. Não é a religião que
fundamenta a moral; pelo contrário,
é a moral que fundamenta ou
justifica a religião. Não é porque
Deus existe que devo agir bem; é
por agir bem que posso ter
esperança — não para ser virtuoso,
mas para escapar ao desespero —
de crer em Deus. Não é porque
Deus me ordena qualquer coisa que
isso é bom; é por um mandamento
ser moralmente bom que posso
acreditar que vem de Deus. Deste
modo, a moral não impede a crença,
até conduz, segundo Kant, à
religião. Mas não depende desta
nem pode ser reduzida a ela.
Mesmo que Deus não exista,
mesmo que não haja nada depois
da morte, isso não te dispensa de
fazeres o teu dever, ou seja, de
agires humanamente.
«Não há nada tão belo e legítimo»,
escrevia Montaigne, «como o
homem fazer bem e de acordo com
o que é prescrito.» O único dever é
ser humano (no sentido em que a
humanidade não é somente uma
espécie animal, mas uma conquista
da civilização), a única virtude é ser
humano, e ninguém pode sê-lo em
teu lugar.
Isto não substitui a felicidade, e é
por isso que a moral não é tudo.
Não substitui o amor, e é por isso
que a moral não é o essencial. Mas
nenhuma felicidade a dispensa;
nenhum amor é suficiente: o que
quer dizer que a moral é sempre
necessária.
É ela que te permitirá, sendo
livremente tu mesmo (em vez de
ficares prisioneiro dos teus instintos
e dos teus medos!), viver livremente
com os outros.
A moral é a exigência universal, ou
pelo menos universalizável, que te
foi pessoalmente confiada.
É quando o homem, ou a mulher,
fazem bem que ajudam a
humanidade a fazer-se. E tal é
preciso: ela tem necessidade de ti
como tu tens necessidade dela!
S-ar putea să vă placă și
- Cena 1 - Maria e o AnjoDocument4 paginiCena 1 - Maria e o AnjoBruno Souza100% (1)
- OmeprazolDocument3 paginiOmeprazolAna Luísa100% (1)
- Paideia - Werner Jaeger PDFDocument1.457 paginiPaideia - Werner Jaeger PDFLucas100% (20)
- A Pura Verdade Sobre o NatalDocument11 paginiA Pura Verdade Sobre o NatalfacescribdÎncă nu există evaluări
- CYPECAD (2016.o) - Guia de ComandosDocument21 paginiCYPECAD (2016.o) - Guia de ComandosfelipebarbosateixeirÎncă nu există evaluări
- Apostila de Higiene Ocupacional PDFDocument82 paginiApostila de Higiene Ocupacional PDFRicardo Pires100% (1)
- APX1 Ed - Infantil2Document3 paginiAPX1 Ed - Infantil2Maria Eduarda Messias RodriguesÎncă nu există evaluări
- A Divisão Das Classes Dos Antidepressivos PDFDocument4 paginiA Divisão Das Classes Dos Antidepressivos PDFDaviFonsecaÎncă nu există evaluări
- K WDCyc V7 PR WWQ7 J DF Yqq Yn NDocument6 paginiK WDCyc V7 PR WWQ7 J DF Yqq Yn NJussara Gomes MarquesÎncă nu există evaluări
- Diagnóstico Dos Chakras Com Um PênduloDocument5 paginiDiagnóstico Dos Chakras Com Um PênduloRonisson GuimaraesÎncă nu există evaluări
- Debret GEOGRAFIA PARTE ESCRITADocument3 paginiDebret GEOGRAFIA PARTE ESCRITAGisele BelliniÎncă nu există evaluări
- Universidade Federal Da Bahia: Luiza BrandãoDocument3 paginiUniversidade Federal Da Bahia: Luiza BrandãoLuíza BrandãoÎncă nu există evaluări
- NF Câmbio CVT Usado Netcar GasparDocument1 paginăNF Câmbio CVT Usado Netcar GaspardiegoÎncă nu există evaluări
- Resenha - A Arte Como LinguagemDocument2 paginiResenha - A Arte Como LinguagemBernardo JunniorÎncă nu există evaluări
- Apostila Retentores PDFDocument24 paginiApostila Retentores PDFLeandrodeLemos100% (1)
- Aleitamento MaternoDocument3 paginiAleitamento Maternogabriela.marianoÎncă nu există evaluări
- Paginaà à o Enfermagem UniRIODocument20 paginiPaginaà à o Enfermagem UniRIOCarolina FranciscoÎncă nu există evaluări
- O Impacto Do Corredor de Desenvolvimento Do Lobito Na Economia Nacional E RegionalDocument25 paginiO Impacto Do Corredor de Desenvolvimento Do Lobito Na Economia Nacional E RegionalDinis UssengueÎncă nu există evaluări
- Tempos Verbais Atividade 2Document2 paginiTempos Verbais Atividade 2andryellebatistaÎncă nu există evaluări
- Exercícios - Passado Perfeito e ImperfeitoDocument2 paginiExercícios - Passado Perfeito e ImperfeitoJoyceÎncă nu există evaluări
- Aula 2 SlidDocument7 paginiAula 2 SlidDouglas Carvalho limaÎncă nu există evaluări
- Dispositivos de Comando e SinalizaçãoDocument43 paginiDispositivos de Comando e SinalizaçãoWalmir JuniorÎncă nu există evaluări
- Exercícios de GeografiaDocument21 paginiExercícios de GeografiaSandro Gomes0% (1)
- Aula 8 - Medição de TemperaturaDocument91 paginiAula 8 - Medição de TemperaturaangelmpÎncă nu există evaluări
- Solucionário 4.2 PDFDocument32 paginiSolucionário 4.2 PDFMatheus MonteiroÎncă nu există evaluări
- Extração de DnaDocument9 paginiExtração de Dnaleandrotavares07Încă nu există evaluări
- Estruturas de MadeiraDocument38 paginiEstruturas de Madeirajhonathann446Încă nu există evaluări
- Geologia - Resumo 1a ProvaDocument5 paginiGeologia - Resumo 1a ProvaAnonymous dXQRsCEPÎncă nu există evaluări
- Trabalho de Padrão de Qualidade AmbientalDocument168 paginiTrabalho de Padrão de Qualidade AmbientalWagner Sousa Santos100% (1)
- Livro Unico PDFDocument222 paginiLivro Unico PDFAnderson Santos50% (2)