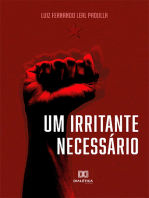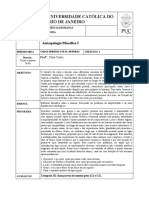Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Veritas Mar2011 n1-11
Încărcat de
Nythamar de Oliveira0 evaluări0% au considerat acest document util (0 voturi)
135 vizualizări152 paginiTitlu original
Veritas_Mar2011_n1-11
Drepturi de autor
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formate disponibile
PDF, TXT sau citiți online pe Scribd
Partajați acest document
Partajați sau inserați document
Vi se pare util acest document?
Este necorespunzător acest conținut?
Raportați acest documentDrepturi de autor:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formate disponibile
Descărcați ca PDF, TXT sau citiți online pe Scribd
0 evaluări0% au considerat acest document util (0 voturi)
135 vizualizări152 paginiVeritas Mar2011 n1-11
Încărcat de
Nythamar de OliveiraDrepturi de autor:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formate disponibile
Descărcați ca PDF, TXT sau citiți online pe Scribd
Sunteți pe pagina 1din 152
ISSN 0042-3955 (impresso)
ISSN 1984-6746 (online)
Veritas
Revista quadrimestral de Filosofia da PUCRS
TICA E FILOSOFIA POLTICA
Ethics and Political Philosophy
Nythamar de Oliveira
(Org.)
Veritas Porto Alegre v. 56 n. 1 jan./abr. 2011 p. 1-152
Veritas Porto Alegre v. 56 n. 1 jan./abr. 2011 p. 3-4
SUMRIO
Contents
Apresentao / Presentation .............................................................. 5
Nythamar de Oliveira
Artigos / Articles
A poltica deliberativa de Habermas / Habermass deliberative
politics ....................................................................................................... 8
Aylton Barbieri Duro
Algunas estructuras argumentativas a favor de derechos culturales /
Algumas estruturas argumentativas a favor dos direitos culturais . 30
Daniel Loewe
Democracia deliberativa: entre Rawls e Habermas / Deliberative
democracy: between Rawls and Habermas ...................................... 52
Luiz Paulo Rouanet
O juzo dos sditos na repblica hobbesiana / The subjects
discretion in the Hobbesian commonwealth .................................... 64
Marcelo Gross Villanova
Hegel e filosofia analtica / Hegel and analytic philosophy ............ 78
Robert B. Brandom
A ontologia da Phronesis: a leitura heideggeriana da tica de
Aristteles / The ontology of Phronesis: a Heideggerian reading
of Aristotles ethics .............................................................................. 95
Roberto Wu
Troca transcendental, justia e direitos humanos em Otfried Hffe /
Transcendental exchange, justice and human rights in Otfried
Hffe ...................................................................................................... 111
Robinson dos Santos
Hannah Arendt: o mal banal e o julgar / Hannah Arendt: Banal
evil and the judgment .......................................................................... 127
Snia Maria Schio
4 Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 3-4
Sumrio
Indivduo multidimensional e igualdade democrtica / Multi-
dimensional individual and democratic equality ............................. 136
Walter Valdevino Oliveira Silva
Normas para Publicao / Publishing Guidelines ......................... 150
Veritas Porto Alegre v. 56 n. 1 jan./abr. 2011 p. 5-7
APRESENTAO
Presentation
O presente volume da Revista de Filosofia Veritas rene artigos na
rea de tica e filosofia poltica, focando particularmente teorias da
democracia e problemas tico-normativos de teoria poltica tais como
foram elaborados por autores clssicos e modernos como Aristteles,
Hobbes, Kant e Hegel, assim como as recepes e reformulaes con-
temporneas de pensadores tais como Arendt, Rawls, Habermas e Hffe.
A coletnea de ensaios particularmente enriquecida pela incluso de
um artigo indito de Robert Brandom, da Universidade de Pittsburgh,
um dos mais importantes filsofos analticos da atualidade, traduzido
agora ao portugus e celebrando destarte a recepo brasileira da leitura
analtica de Hegel.
Em seu estudo sobre A Poltica Deliberativa de Habermas, Aylton
Duro busca responder s sociologias desencantadas modernas, como
a teoria da deciso racional e a teoria dos sistemas, na medida em que
recordam os inevitveis momentos de inrcia que dificultam a delibe-
rao racional, mostrando como Habermas concebe uma reconstruo
sociolgica da democracia deliberativa ao dividir a sociedade em um
centro, formado pelas instituies do estado de direito, as quais tomam
decises, e uma periferia, constituda pela esfera pblica onde surge a
opinio pblica a partir dos problemas oriundos da esfera privada e que,
em condies extraordinrias, pode reverter o fluxo do poder e impor o
poder comunicativo sobre as instncias do estado de direito.
O artigo de Daniel Loewe, Algunas estructuras argumentativas a
favor de derechos culturales, apresenta algumas estratgias recorrentes
para justificar os direitos culturais, tais como comunidade justificativa,
o valor da diversidade, as teorias do reconhecimento da diferena cul-
tural, o valor da autonomia, a justificao de igualdade) e analisadas
criticamente luz de seus prprios mritos, a partir da perspectiva do
liberalismo enquanto doutrina poltica. De acordo com o artigo, todas
essas justificativas so fadadas ao fracasso.
Luiz Paulo Rouanet mostra em seu ensaio Democracia Deliberativa:
Entre Rawls e Habermas que a democracia deliberativa consiste em
uma proposta de tomada de decises por meio de deliberao, em nossas
6 Veritas, v. 56, n. 1, jan./jun. 2011, p. 5-7
Apresentao
democracias atuais, como alternativa preferencial face a mecanismos de
votao. O artigo pretende avaliar criticamente alguns mecanismos de
democracia deliberativa, bem como levantar o estado da discusso a esse
respeito e, por fim, estudar sua viabilidade em alguns pases especficos,
entre eles o Brasil.
Em seu artigo O Juzo dos Sditos na Repblica Hobbesiana,
Marcelo Villanova examina a discrio da presena inerente ao princpio
de reciprocidade na formulao hobbesiana e como ela oblitera importan-
tes dimenses na sua teoria, tais como a necessidade intrnseca de que
os sditos esto instados a utilizar sua capacidade de produzir juzos. O
Autor apresenta diversas circunstncias que corroboram essa tese, o que
mostra que a atividade de julgar no teria sido confiscada pelo soberano,
mas, ao contrrio, mostra-se necessria para o seu sistema.
O artigo de Robert Brandom analisa importantes elementos na re-
cepo da filosofia de Hegel na atualidade. Com a finalidade de alcanar
tal meta discute-se como a filosofia analtica acolhe a filosofia de Hegel.
Para tanto, o Autor reconstri a recepo da filosofia analtica em face
de Hegel, notadamente a partir daqueles autores que foram centrais
neste movimento de recepo e distanciamento de sua filosofia, a saber,
Bertrand Russell, Frege e Wittgenstein. Outro ponto central desse texto
indito de Brandom a sua anlise do livro de Paul Redding, Analytic
Philosophy and the Return of Hegelian Thought, em cotejo com a recepo
de Hegel pela filosofia analtica. Ao final, mostra-se como possvel um
dilogo produtivo dessas correntes aparentemente contrapostas.
Roberto Wu discute, em A ontologia da phronesis, conceitos
da filosofia prtica de Aristteles e a sua apropriao por Heidegger
no perodo dos anos 1920. Para isso, o Autor explora a interpretao
heideggeriana do conceito de totalidade e sua relao com o particular,
a fim de caracterizar a situao concreta como o solo hermenutico das
relaes de compreenso, investigando a conexo interna dos conceitos
que se referem praxis em Aristteles e destacando a importncia da
phronesis na sua retomada ontolgica por Heidegger. O artigo encerra
indicando as estratgias interpretativas de alguns intrpretes recentes
da recepo heideggeriana de Aristteles.
Em Troca transcendental, justia e direitos humanos em Otfried
Hffe, Robinson dos Santos reexamina o problema da fundamentao
filosfica dos direitos humanos. O Autor indica que no pano de fundo
deste debate surgem questes tais como: como se pode fundamentar
ou justificar filosoficamente a exigncia de reconhecimento aos direitos
humanos? O Autor procura, assim, abordar de modo direto o ncleo ar-
gumentativo sobre o qual est estruturada da proposta de Hffe. Para
o filsofo de Tbingen, os direitos humanos tm uma profunda relao
Veritas, v. 56, n.1, jan./abr. 2011, p. 5-7 7
Apresentao
com a noo de justia. O conceito de justia, na sua concepo, deve
ser entendido fundamentalmente como troca (Gerechtigkeit als Tausch).
Embora o conceito parea demasiado simples, ele oferece uma srie de
dificuldades no que se refere sua fundamentao.
Snia Schio revisita as teses correlatas da grande pensadora Hannah
Arendt sobre o mal banal e o julgar. Segundo a Autora, quando Arendt
escreveu que o mal banal origina-se da incapacidade do indivduo para
pensar, suscitou a questo sobre a possibilidade de situar a origem do
mal na prpria falta de julgamento. Ou seja, o indivduo comete atos maus
porque no averigua os dados, no os avalia. Em tal hiptese, o mal
banal ocorre devido ausncia do juzo reflexionante (ou reflexivo)
e da mentalidade alargada kantianos, resolvendo muitas das lacunas
que o mal derivado do pensamento possui, como a que exige distinguir
o raciocnio do pensamento.
Walter Valdevino, em seu artigo Indivduo multidimensional e igual-
dade democrtica, parte da ideia do historiador Jerrold Siegel de um
self multidimensional, composto pelas dimenses corporal, relacional
e reflectiva, para analisar a articulao dos conceitos de igualdade e
liberdade na teoria do filsofo John Rawls, sugerindo uma leitura que
mostra como uma anterioridade fundacional do conceito de igualdade
e uma consequente desinflao do conceito de liberdade podem ajudar
a melhor compreenso da sria questo do pluralismo nas sociedades
democrticas e tambm do prprio papel do cidado nas democracias.
Todos os artigos inditos publicados nesse peridico corroboram o
elevado nvel de seriedade acadmica e aprofundamento terico que tem
caracterizado as discusses em torno de problemas tico-normativos de
teoria poltica em nosso Pas.
Nythamar de Oliveira
PPG em Filosofia, PUCRS
1
Veritas Porto Alegre v. 56 n. 1 jan./abr. 2011 p. 8-29
A PolticA DeliberAtivA
De HAbermAs
Habermass deliberative politics
Aylton barbieri Duro*
RESUMO Para responder s sociologias desencantadas modernas,
como a teoria da deciso racional e a teoria dos sistemas, as quais
recordam os inevitveis momentos de inrcia que dificultam a
deliberao racional, Habermas imagina uma reconstruo sociolgica
da democracia deliberativa que divide a sociedade em um centro,
formado pelas instituies do estado de direito, as quais tomam
decises, e uma periferia, constituda pela esfera pblica, em que
surge a opinio pblica a partir dos problemas oriundos da esfera
privada e que, em condies extraordinrias, pode reverter o fluxo do
poder e impor o poder comunicativo sobre as instncias do estado de
direito.
PALAVRAS-CHAVE Democracia. Habermas. Opinio pblica. Poder.
Poltica. Sociologia.
ABSTRACT In order to address modern disenchanted sociologies,
such as the theory of rational decision and the theory of systems
which recall the inevitable moments of inertia that hamper rational
deliberation, Habermas conceives of a sociological reconstruction of
deliberative democracy so as to divide society into a center, formed by
institutions of the rule of law which make decisions, and a periphery,
constituted by the public sphere out of which public opinion emerges,
based on the problems originated by the private sphere and that, in
extraordinary conditions, may reverse the flux of power and impose the
communicative power upon instances of the rule of law.
KEYWORDS Democracy. Habermas. Politics. Power. Public opinion.
Sociology.
* Professor Adjunto do PPG em Filosofia da UFSC. E-mail: <barbieri@cfh.ufsc.br>.
A.B. Duro A poltica deliberativa de Habermas
Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 8-29 9
A partir da reconstruo da tenso interna entre facticidade e validade
no estado de direito, Habermas demonstrou como a autolegislao dos
cidados, realizada por meio dos discursos prticos, assim como as
negociaes sob condies equitativas na esfera pblica podem orientar a
tomada de deciso das instituies do estado de direito, na medida em que
o poder comunicativo, que surge da liberdade comunicativa dos cidados
no plano da ao comunicativa, realizada no mundo da vida, neutraliza o
poder social dos grupos de presso e se converte no poder administrativo
empregado pelas instituies polticas, de tal modo que seja capaz de
impor as frgeis relaes de solidariedade social presente no mundo da
vida sobre os meios especializados na integrao funcional, o poder na
poltica e o dinheiro no mercado. Contudo, esta concepo procedimental
da poltica e do direito pressupe uma srie de idealizaes, que se
chocam com as investigaes empricas provenientes da sociologia,
a qual entende a poltica, inicialmente, a partir da perspectiva da luta
estratgica por posies de poder e determinada por uma constelao
previamente dada de interesses ou dos efeitos de regulamentao e
controle de carter sistmico
1
.
Consequentemente, Habermas se v obrigado a realizar uma traduo
sociolgica da poltica deliberativa, que consiste em passar da dimenso
normativa, na qual descreve a institucionalizao dos processos de
comunicao, empreendida pelos cidados nos discursos prticos
atravs das instncias do estado de direito, sociologia da democracia,
que ilustra como a teoria discursiva da democracia pode responder a
facticidade social, que surge como sequela da complexidade social.
Isto implica a apario de um novo mbito de tenso entre facticidade
e validade; em lugar da tenso interna, no nvel da norma jurdica, do
sistema de direitos e do estado de direito, a sociologia da democracia
opera com a tenso externa entre facticidade e validade, que se manifesta
por meio da tenso entre a autocompreenso normativa da democracia,
explicada em termos de teoria do discurso, e a realidade social dos
processos polticos, exposta atravs das cincias sociais
2
.
Antes de comear a traduo sociolgica da poltica deliberativa,
Habermas tem que demonstrar que a teoria discursiva da democracia
oferece uma imagem descentrada da sociedade moderna, uma vez que,
superada a filosofia da conscincia, j no mais possvel encontrar
um centro capaz de organizar e programar a sociedade como um todo.
Para expor como a teoria discursiva da democracia proporciona essa
imagem intersubjetiva da sociedade moderna, Habermas lana mo da
1
HABERMAS, J. Faktizitt und Geltung. p. 349.
2
Ibid., p. 350.
A.B. Duro A poltica deliberativa de Habermas
10 Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 8-29
comparao entre a poltica deliberativa e as duas teorias normativas
habituais da democracia, a teoria liberal e a teoria republicana, as
quais pressupem uma concepo poltica centrada no Estado. A teoria
liberal da democracia considera o Estado como guardio da sociedade
econmica, enquanto a teoria republicana entende o Estado como
institucionalizao da comunidade tica
3
.
O liberalismo concebe a democracia como um processo de formao
de compromissos entre interesses privados previamente definidos de
sujeitos, que agem orientados pelo prprio xito no mercado e que
precisam ser protegidos contra as intromisses dos demais e do prprio
Estado. Por outro lado, os republicanos concebem a democracia como
um processo de autoentendimento tico-poltico possvel graas a um
consenso de fundo, que se origina na cultura partilhada em comum e
que pode ser recuperado mediante a rememorao do ato de fundao
da repblica e dos ideais que guiaram os pais fundadores
4
. O liberalismo
e o republicanismo chegam a estas concepes divergentes acerca da
democracia porque partem de distintas interpretaes sobre os conceitos
de cidadania, direito, processo poltico, assim como acerca da relao
entre Estado e sociedade.
O liberalismo considera que os indivduos so portadores de
determinadas liberdades subjetivas de ao que antecedem e so
independentes do Estado; estas liberdades subjetivas definem o espao
permitido para a ao recproca dos sujeitos e garantem um domnio para
a liberdade de escolha, isento de coaes externas. Por conseguinte,
tambm a participao poltica dos cidados se interpreta segundo o
modelo da liberdade negativa, na medida em que indivduos, portadores
de interesses privados definidos e que agem orientados pelo xito,
organizam-se em partidos polticos que competem por posies de
poder em eleies peridicas, o que serve para manter o Estado sob
seu controle. O republicanismo, ao contrrio, imagina que a identidade
do eu no se constitui de forma atomstica no vazio, mas atravs do
reconhecimento recproco de indivduos que compartem uma forma
de vida em comum; o eu que busca reconhecimento tem que se nutrir
das relaes de solidariedade presentes na sociedade, bem como,
simultaneamente, aliment-las. Consequentemente, concebe-se o
exerccio da cidadania de acordo com o modelo da liberdade positiva,
pois implica um intercmbio entre a luta pelo reconhecimento e o civismo
que demanda uma participao poltica ativa dos cidados
5
.
3
HABERMAS, J. Faktizitt und Geltung. p. 359.
4
Id., Die Einbeziehung des Anderen. p. 277-8.
5
Ibid., p. 278-80.
A.B. Duro A poltica deliberativa de Habermas
Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 8-29 11
Com respeito ao conceito de direito, o liberalismo supe que a pessoa
portadora de determinados direitos subjetivos, fundados em um direito
superior revelado ou racional que protege as liberdades subjetivas
de ao. Estes direitos fundamentais da pessoa jurdica tm que ser
resguardados de uma possvel vontade irracional das maiorias por meio
de leis constitucionais blindadas. O republicanismo, por outro lado,
entende que todo direito surge da vontade poltica dos cidados, a qual
deve ser expressa em um ordenamento jurdico objetivo, que institui os
direitos subjetivos dos indivduos. Portanto, o procedimento democrtico
tem que garantir os direitos subjetivos liberdade individual, bem como,
ao mesmo tempo, a integridade da forma de vida compartilhada em
comum e baseada no respeito recproco
6
.
O liberalismo considera a poltica como o resultado da disputa
parlamentar entre partidos polticos, surgidos das eleies e capazes
de mobilizar uma opinio pblica composta de indivduos que possuem
de antemo uma constelao de interesses, a partir dos quais julgam
e decidem contra ou a favor dos programas eleitorais; quer dizer, a
tomada de deciso dos rgos encarregados do governo resulta legtima
quando pode ser aprovada a posteriori pela opinio pblica. O liberalismo
entende o princpio da representao parlamentar como um mandato
no imperativo, concedido pelos cidados para que se governe em
seu nome. O republicanismo, por sua parte, procura mitigar o papel da
representao, que o compreende como o ato de outorgar a uma comisso
a funo de tomar decises provenientes da assembleia constituda por
todos os cidados; em tal caso, os rgos polticos esto vinculados a um
mandato fortemente imperativo, que obriga os representantes a cumprir a
vontade expressa pelos cidados nas assembleias gerais. A formao da
opinio e da vontade nas assembleias permite a constituio da prpria
comunidade poltica e as eleies aparecem como uma renovao do
ritual de seu ato de fundao
7
.
Como consequncia, estas teorias se contrapem tambm sob a
interpretao referente relao entre Estado e sociedade. A concepo
liberal mais realista, porque supe a separao entre uma sociedade
formada por sujeitos que intercambiam privadamente mercadorias em
um sistema de livre competio, com respeito a um Estado que deve
garantir as condies jurdicas para o pleno desenvolvimento dos
interesses privados dos cidados. As relaes mercantis possibilitam
uma autorregulao social, que deve servir de exemplo para o conjunto
das relaes sociais em geral, as quais somente so perturbadas pelas
6
HABERMAS, J. Die Einbeziehung des Anderen. p. 280-2.
7
Ibid., p. 282-3.
A.B. Duro A poltica deliberativa de Habermas
12 Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 8-29
intervenes abusivas do Estado, ento, as crticas liberais se dirigem
contra um estado de direito que ultrapassa sua funo de proteger as
liberdades e os direitos individuais, o que pe em risco a separao entre
Estado e sociedade. A concepo republicana, por outro lado, parte
do modelo de participao cidad ativa, que constitui a comunidade
como uma organizao poltica, a qual possibilita a autocompreenso
de si mesma; por conseguinte, o Estado aparece como uma extenso ou
simples comisso do conjunto de cidados que realizam conscientemente
aes coletivas. As crticas republicanas se voltam para um modelo de
sociedade, no qual os cidados se preocupam exageradamente com a
esfera privada e se tornam desinteressados e desmotivados com relao
res publica
8
.
A poltica deliberativa considera que as teorias liberal e republicana
somente representam alternativas completas para a teoria de democracia,
porque ambas se mantm prisioneiras da filosofia da conscincia. O
liberalismo parte de um conceito de sujeito em pequeno formato, composto
pelos cidados enquanto sujeitos portadores de liberdades subjetivas de
ao, o que lhes faculta escolher racionalmente segundo uma constelao de
interesses previamente dados; enquanto o republicanismo introduz a ideia
do povo como um macro-sujeito social, capaz de chegar autoconscincia
de sua identidade atravs da organizao poltica da comunidade
9
.
Por conseguinte, nem o liberalismo nem o republicanismo logram
compreender o nexo interno entre razo e vontade, que surge nos
procedimentos discursivos; nos discursos racionais, a razo prtica surge
das regras do discurso e das formas de comunicao que provm da
prpria ao comunicativa. Como o liberalismo parte da noo de sujeitos
autointeressados, que desempenham o papel de variveis independentes
em processos de poder, os quais se realizam mediante atos de escolha
racional, a razo prtica se limita aos direitos humanos incorporados
constituio, os quais instauram o imprio da lei, na medida em que
disciplinam as regras annimas da livre competio. O republicanismo,
por outro lado, concebe o povo como um sujeito social global, capaz de
alcanar a autoconscincia de sua prpria identidade e se constituir como
um ator coletivo, por isso, coloca a razo prtica na eticidade concreta
de uma comunidade especfica
10
.
Por fim, o liberalismo e o republicanismo acabam por desenvolver uma
concepo de democracia centrada no Estado
11
, pois concebem a relao
8
HABERMAS, J. Die Einbeziehung des Anderen. p. 286-7.
9
Id., Faktizitt und Geltung. p. 362.
10
Ibid., p. 359-60.
11
Ibid., p. 359.
A.B. Duro A poltica deliberativa de Habermas
Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 8-29 13
entre Estado e sociedade como uma relao entre o todo e suas partes
12
.
Para a teoria liberal, representa-se o todo mediante um sistema de normas
constitucionais que regula, de forma inconsciente, o equilbrio de poder
e interesses de acordo com o modelo da livre competio no mercado,
enquanto, para a teoria republicana, o todo social se encarna no povo,
entendido como um macro-sujeito capaz de agir conscientemente
13
.
Como a poltica deliberativa prescinde dos pressupostos da filosofia
da conscincia, sintetiza elementos de ambas as teorias, contudo,
os reinterpreta discursivamente, por isso tem pretenses normativas
mais fortes do que a concepo liberal, porm mais fracas do que a
republicana
14
. Em concordncia com o republicanismo, a teoria discursiva
considera que a democracia se baseia na autodeterminao dos cidados;
por outro lado, aceita a tese liberal mais realista da separao entre
sociedade e Estado, assim como a ideia de estado de direito, porque, na
sociedade complexa, no razovel esperar que uma cidadania virtuosa
possa organizar politicamente a sociedade. Alm do mais, as frgeis
relaes de solidariedade do mundo da vida somente podem se impor,
sobre os sistemas funcionais, se o poder comunicativamente gerado pelos
cidados puder penetrar nas estruturas polticas do estado de direito,
que so especializadas em tomar deciso, e se transformar em poder
administrativo
15
.
Para a poltica deliberativa, a soberania popular no est centrada em
nenhum lugar privilegiado, mas dispersa pela ampla rede de comunicao
social presente na sociedade, a qual responsvel pela formao da
opinio e da vontade, porque se nutre da intersubjetividade da ao
comunicativa dos cidados, ou seja, tanto pela esfera pblica em que se
forma a opinio pblica, como pelas estruturas do estado de direito que
tomam deciso. Este modelo responde melhor concepo da sociedade
complexa, na qual o sistema poltico no pode ser concebido como o
centro de uma sociedade que se constitui por meio dele. O sistema poltico
somente um sistema entre outros, especializado em tomar decises,
que no pode determinar o funcionamento do conjunto dos sistemas da
sociedade complexa, regidos por lgicas prprias.
Porm, a partir da compreenso normativa da democracia exposta pela
poltica deliberativa, deve-se mostrar como possvel que a solidariedade
presente na intersubjetividade da ao comunicativa possa se afirmar na
sociedade complexa e se transformar no poder administrativo da poltica,
12
HABERMAS, J. Faktizitt und Geltung. p. 364.
13
Id., Die Einbeziehung des Anderen. p. 362.
14
Ibid., p. 287.
15
Ibid., p. 288.
A.B. Duro A poltica deliberativa de Habermas
14 Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 8-29
de modo a coordenar a ao social em competio com as regulamentaes
empreendidas a partir do meio dinheiro do mercado
16
.
Uma vez que a sociedade moderna est dividida em sistemas
funcionais, j no possvel aceitar uma concepo da democracia
centrada no Estado, como o fazem as teorias liberal e republicana. Por isso,
Habermas utilizou a comparao entre os trs modelos de democracia
(o liberal, o republicano e o discursivo) com a inteno de mostrar que
a poltica deliberativa oferece uma teoria normativa da democracia
compatvel com a imagem descentrada da sociedade complexa. Contudo,
isso representa uma condio necessria, mas no suficiente, porque
no prova que o modo de socializao discursivo da poltica deliberativa
possvel nas condies da sociedade complexa. Para demonstrar que
o procedimento democrtico, proposto pela poltica deliberativa, pode
dar uma resposta aos problemas que a complexidade social impe
auto-organizao da comunidade jurdica, indispensvel realizar uma
traduo sociolgica da concepo discursiva da democracia
17
.
A traduo sociolgica da poltica deliberativa compe-se de dois
passos: no primeiro, Habermas apresenta o modelo de mo dupla da
circulao oficial do poder poltico na sociedade complexa; enquanto
no segundo, explica a possibilidade do surgimento de uma opinio
pblica qualificada na esfera pblica, que gera e dramatiza problemas
procedentes da esfera privada capazes de sensibilizar as instituies do
estado de direito.
No obstante, antes de empreender a traduo sociolgica da poltica
deliberativa, Habermas pretende demonstrar a validade da sua concepo
sociolgica acerca da democracia, a partir da constatao das contradies,
a que chegam as teorias sociolgicas desencantadas mais influentes da
atualidade. Por isso, recorda primeiramente a facticidade social inerente
sociedade complexa, que dificulta os processos democrticos discursivos
contraluz do modelo de socializao comunicativa pura; em seguida,
oferece exemplos das duas teorias sociolgicas mais importantes sobre a
democracia: a teoria da deciso racional (com suas variantes) e a teoria
dos sistemas; e, por ltimo, mostra como Jon Elster e Helmut Willke,
partindo do interior das concepes realistas da teoria da deciso racional
e da teoria dos sistemas, respectivamente, conduzem a uma reabilitao
da poltica deliberativa.
Habermas introduz o modelo de uma socializao comunicativa pura
para esclarecer os momentos de inrcia que surgem nas relaes de
comunicao empreendidas pelos cidados. Estes momentos de inrcia
16
HABERMAS, J. Die Einbeziehung des Anderen. p. 288.
17
Id., Faktizitt und Geltung. p. 367.
A.B. Duro A poltica deliberativa de Habermas
Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 8-29 15
so percebidos, a partir da perspectiva dos implicados, como diferenas
entre norma e realidade, e resultam, segundo a teoria da deciso racional,
que mostra como o processo democrtico extenuado e esgotado de
dentro pela escassez de recursos funcionalmente necessrios para a
formao da opinio e a vontade (pois recorda os custos sociais para a
elaborao de problemas e a tomada de decises com meios discursivos),
enquanto a teoria dos sistemas revela como a poltica deliberativa se
choca para fora com sistemas funcionais regidos por lgicas prprias e
insensveis s decises, mesmo que deliberativas, do sistema poltico. Em
ambas as direes, os momentos de inrcia evocam a autonomizao dos
sistemas funcionais da sociedade complexa, que obliteram a realizao
dos processos comunicativos
18
.
Contudo, a socializao comunicativa pura no pode ser confundida
com uma descrio do funcionamento real da sociedade complexa,
nem tampouco como uma projeo que se realizar no futuro, pois
consiste simplesmente em um experimento mental, que representa
uma descrio idealizada da forma de socializao comunicativa dos
cidados
19
. De acordo com o modelo da socializao comunicativa
pura, a ao comunicativa no mundo da vida ocorre com base nas
relaes de entendimento possibilitadas pela intersubjetividade da
linguagem ordinria. Quando uma ao problematizada, a prpria
ao comunicativa dispe da reflexividade suficiente para dirimir as
dvidas, porm, quando o valor ou a norma, que orientam a ao,
so problematizados, ento, necessrio passar a um segundo nvel,
representado pelos discursos prticos, os quais reconstroem, no mbito
reflexivo, a intersubjetividade da ao comunicativa exercida atravs da
linguagem ordinria no mundo da vida: os discursos pragmticos definem
os programas coletivos de ao; os discursos ticos permitem alcanar o
autoentendimento sobre os valores da prpria comunidade; enquanto os
discursos morais julgam a validade de normas generalizveis de ao;
por fim, existem tambm as negociaes sob condies equitativas que
permitem chegar formao de compromissos.
Habermas observa que o modelo da socializao comunicativa pura
no leva em considerao a institucionalizao dos discursos prticos
por meio do direito e da poltica; no obstante, a introduo do direito
positivo pretende exatamente reduzir a complexidade social expressa nos
momentos de inrcia, que saem luz a partir das idealizaes do modelo
de socializao comunicativa pura. Isto foi esclarecido atravs de sua
pesquisa sobre a relao de complementaridade entre direito e moral, pois
18
HABERMAS, J. Faktizitt und Geltung. p. 390.
19
Ibid., p. 391-2.
A.B. Duro A poltica deliberativa de Habermas
16 Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 8-29
as normas jurdicas podem compensar as debilidades das normas da moral
racional em relao indeterminao cognitiva, insegurana motivacional
e limitada capacidade de organizao. Agora, Habermas afirma tambm
que o estado de direito pode ser entendido como outro passo mais na
direo da reduo da complexidade social, pois a institucionalizao
dos procedimentos da poltica deliberativa gera uma regulamentao
contrria manuteno da complexidade social, que alivia o custo
dos processos de autolegislao empreendidos pelos cidados na
esfera pblica, na medida em que no faz a democracia depender
da participao ativa de cidados virtuosos, mas dos procedimentos
discursivos, inclusive no plano das instituies deliberativas. Alm do
mais, apesar de que a esfera pblica particularmente sensvel presso
dos momentos de inrcia procedentes do poder social, na dialtica
entre a formao informal da opinio e a vontade na esfera pblica
com as instituies deliberativas, esta regulamentao opera j de
forma contrria manuteno da complexidade social, porque o prprio
estado de direito permite transformar o poder comunicativo em poder
administrativo e neutralizar o poder social que ocasiona esta facticidade
20
.
Contudo, Habermas adverte que os defensores da teoria da deciso
racional e da teoria de sistemas, que insistem nos momentos de inrcia
inerentes sociedade complexa, no se do por vencidos com a introduo
da regulamentao contrria manuteno da complexidade social por
meio do estado de direito, porque agora deslocam suas dvidas sobre o
processo de socializao discursiva para o modo de circulao do poder.
Habermas denomina circulao oficial do poder a que se origina
do poder comunicativo gerado pelos cidados na esfera pblica, que
neutraliza o poder social e se converte em poder administrativo atravs
das instncias governamentais de deliberao e tomada de deciso. As
investigaes sociolgicas sobre a democracia, que se desenvolveram
no perodo do ps-guerra, no obstante, se revelaram desencantadas e,
inclusive, cnicas, em relao ao processo poltico
21
; por isso, dirigem a sua
ateno, sobretudo, para o conceito de poder, que a partir da perspectiva
normativa aparece como poder ilegtimo, e propem a questo de at que
ponto a facticidade social dos inevitveis momentos de inrcia penetra
na circulao do poder, regulamentada por processos comunicativos, e
gera uma circulao no oficial do poder
22
.
J no segundo captulo de Facticidade e Validade, Habermas
observa que as teorias filosficas da justia se mostram utpicas se
20
HABERMAS, J. Faktizitt und Geltung. p. 397.
21
Ibid., p. 399.
22
Ibid., p. 398.
A.B. Duro A poltica deliberativa de Habermas
Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 8-29 17
so comparadas com o realismo das cincias sociais. A teoria da justia
como equidade de John Rawls, por exemplo, enfrenta inicialmente
a crtica dos comunitaristas que resgata a objeo hegeliana contra
o procedimentalismo da tica kantiana, acusada de no considerar
a eticidade em que surgem as concepes de justia. Como reao
s crticas comunitaristas, Dworkin substituiu o procedimentalismo
de Rawls por uma teoria substancialista da justia, denominada
igualitarismo liberal, que pressupe uma comunidade liberal formada
por cidados acostumados a sustentar concepes ticas liberais, que
no se empenham na luta pelo reconhecimento de sua prpria identidade,
mas na defesa dos valores polticos compartilhados em comum. Contudo,
a introduo de concepes ticas na teoria da justia no resolve o
problema, pois no proporciona uma interpretao sociolgica capaz
de dar conta do terreno mais duro, que so os sistemas funcionais da
sociedade complexa
23
.
O material mais duro da sociedade complexa se apresenta, atualmente,
por meio da teoria da deciso racional e da teoria dos sistemas. A teoria
da deciso racional considera o processo poltico como resultado da
escolha racional de sujeitos autointeressados, que disputam o poder
social em condies de escassez dos recursos funcionais necessrios
para a formao da opinio e da vontade, enquanto a teoria de sistemas
constata a existncia de sistemas funcionais com fortes tendncias
autonomizao, os quais se regem por lgicas prprias. Estes sistemas
funcionais constituem um entorno para o sistema poltico, o qual no
pode agir diretamente sobre eles, mas se autoprogramar de tal modo que
espere uma adaptao correspondente dos demais sistemas funcionais,
sem nenhuma garantia de xito.
As teorias sociolgicas chamam a ateno da poltica deliberativa
para o dficit existente entre o modelo normativo de democracia e a
realidade do processo poltico nas sociedades modernas, marcadas pela
luta entre interesses e as disfunes dos sistemas sociais. Habermas
qualifica este dficit entre norma e realidade de tenso externa entre
facticidade e validade, j que a validade resultante das operaes
discursivas da esfera pblica e das instituies governamentais do
estado democrtico de direito prejudicada pela facticidade social, que
surge por causa do conflito de interesses entre os cidados, por um lado,
e pela facticidade social dos sistemas funcionais, que executam suas
funes sociais indiferentemente s regulamentaes democrticas dos
cidados
24
.
23
HABERMAS, J. Faktizitt und Geltung. p. 87-8.
24
Ibid., p. 349.
A.B. Duro A poltica deliberativa de Habermas
18 Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 8-29
Ao adotar o governo como ponto de referncia para ilustrar a tenso
externa entre facticidade e validade, o input de facticidade social que
penetra no governo representado pelo poder social, que se constitui nas
instncias discursivas da esfera pblica e do poder legislativo, enquanto
o output provm da resistncia oferecida pelas grandes corporaes e
pelos sistemas funcionais autnomos, que se mantm indiferentes s
regulamentaes do poder administrativo procedente dos programas
polticos que devem ser implementados
25
.
Pelo lado do input, a teoria da deciso racional destaca a luta entre
os cidados, grupos de interesses e grandes corporaes por poder
social na esfera pblica, a qual acaba por ser reproduzida nas instncias
legislativas pelos partidos polticos. Esta disputa por posies de poder
ocorre nas condies de falta de recursos funcionalmente necessrios
para os processos de entendimento: os cidados tm que formar a
opinio e a vontade, assim como os grupos parlamentares tm que tomar
deciso, sem a informao adequada; o pblico se revela cada vez mais
desmobilizado em relao a um modelo de poltica, no qual existem
desigualdades com respeito capacidade dos cidados de participar da
esfera pblica e no qual os partidos disputam exclusivamente posies
no governo, bem como os meios de comunicao de massa operam de
forma seletiva sobre os temas que devem ser enfocados
26
. A teoria dos
sistemas, por outro lado, insiste na autonomia do prprio sistema poltico
que gera poder administrativo, bem como na produo autopoitica do
direito, o que resulta no fechamento da administrao presso da esfera
pblica e, consequentemente, na sua autoprogramao
27
.
Pelo lado do output, a teoria da deciso racional recorda que o sistema
administrativo tem um poder de ao muito limitado, pois os programas
coletivos de ao enfrentam a falta de recursos para intervir nas demais
instituies sociais; observa que o governo, por exemplo, no tem
informao suficiente para intervir no mercado e, portanto, deve deixar
que ele se autoregulamente pela livre competio de sujeitos econmicos
privados. Por conseguinte, o sistema poltico no dispe do poder ativo
para planificar programas coletivos de ao, mas somente a capacidade
reativa de evitar crises geradas pelo sistema econmico, em um mundo
cada vez mais globalizado
28
; enquanto a teoria dos sistemas observa
que, na sociedade complexa, no mais possvel considerar o sistema
poltico como o centro das relaes de poder, que se encontra disperso
pelos mltiplos sistemas funcionais autonomizados. Frente a esta forma
25
HABERMAS, J. Faktizitt und Geltung. p. 399.
26
Ibid., p. 401-4.
27
Ibid., p. 403-7.
28
Ibid., p. 401-4.
A.B. Duro A poltica deliberativa de Habermas
Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 8-29 19
de poliarquia inerente sociedade complexa, o governo constitui apenas
um sistema funcional que se relaciona com os demais como o seu entorno
e, por isso, no pode estruturar a sociedade como um todo segundo a sua
vontade, mas unicamente implementar programas de ao que podem
fracassar perante a resistncia dos demais sistemas funcionais
29
.
Antes de apresentar a traduo sociolgica, que explica a possibilidade
do modo de circulao oficial do poder nas condies da sociedade
complexa mediante seu modelo de mo dupla, Habermas prefere expor
como acabam por se anular a si mesmas as prprias teorias sociolgicas
desencantadas da democracia, a partir de crticas internas lanadas por
seus prprios representantes, o que conduz indiretamente reabilitao
da poltica deliberativa.
Jon Elster parte da teoria da deciso racional, porm a submete a
algumas revises crticas geradas pelas dificuldades que esta teoria
afronta ao ser aplicada no processo poltico. A primeira reviso, que
prope, consiste em questionar o princpio de que os cidados possuem,
previamente ao processo poltico, preferncias determinadas por seu
prprio interesse, uma vez que os valores e as atitudes podem ser
modificados durante este processo, na medida em que eles pesam as
informaes e as razes pertinentes. A segunda reviso pe em dvida
a exclusividade do comportamento estratgico dos cidados e introduz
a ao orientada por normas: Elster no considera realista explicar a
conduta humana unicamente a partir do clculo de utilidade motivado
pelo autointeresse, j que, na ao social, os cidados respeitam tambm
a moralidade e o sentido do dever. Contudo, Elster entende a ao
orientada por normas sob premissas empiristas, porque a distingue da
ao estratgica somente pela falta de orientao pelas consequncias
previsveis da ao, o que implica eliminar seu carter racional
30
.
Por outro lado, esta separao entre racionalidade e normatividade
no se sustenta em virtude do prprio objetivo de Elster, de explicar o
processo poltico como uma formao da vontade, na qual os cidados
podem mudar racionalmente suas preferncias dadas. Por isso, Elster v-
se obrigado a revisar sua reviso inicial e introduzir, junto s negociaes
que estabelecem compromissos entre agentes orientados pelo xito
(bargaining), as argumentaes como mecanismo de soluo de conflitos
entre participantes orientados pela busca do entendimento a partir de
normas e valores (arguing), como uma forma de ao simultaneamente
normativa e racional
31
.
29
HABERMAS, J. Faktizitt und Geltung. p. 403-7.
30
Ibid., p. 408-9.
31
Ibid., p. 410-1.
A.B. Duro A poltica deliberativa de Habermas
20 Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 8-29
A partir dos conceitos de negociao e argumentao, Elster
mostra como se desenvolveram os processos polticos nas assembleias
constituintes da Filadlfia (1776) e Paris (1789-91), nas quais a formao
parlamentar da opinio e da vontade surge por meio da cooperao entre
o exerccio recproco de influncia entre agentes orientados pelo xito
e a busca do entendimento fundamentado em questes de validade.
Elster observa que os processos polticos de deliberao no podem ser
inteiramente descritos atravs da ao estratgica, uma vez que se um
pequeno grupo de pessoas age cooperativamente, isso induz a que, ao
menos por interesse, todos os demais procedam como se tambm agissem
cooperativamente, sobretudo porque, nos contextos pblicos, a audincia
censura as manifestaes explcitas do autointeresse, o que obriga os
parlamentares a se comprometer com princpios e com a imparcialidade,
o que torna mais difcil se desdizer posteriormente
32
.
Se Habermas reconhece que a descrio dos processos polticos
reais, empreendida por Elster, desvia-se do procedimento ideal da
poltica deliberativa, ela demonstra, por outro lado, que a deliberao
institucionalizada no parlamento ocorre, tambm, sob pressupostos
comunicativos e no somente motivada pela disputa interessada por
posies de poder; isso permite a Habermas declarar que Elster confirma,
em termos da histria legal, sua interpretao deliberativa proposta para
o estado de direito
33
.
Com respeito teoria dos sistemas, Habermas segue uma estratgia
diferenciada em relao teoria da deciso racional. Comenta, em primeiro
lugar, a proposta de Willke de reabilitar a concepo hegeliana, que atribua
s corporaes a funo de mediar as relaes entre Estado e sociedade
civil, em termos de teoria sistmica. Pois, a partir dos pressupostos da
teoria dos sistemas, em que a sociedade complexa se divide em sistemas
funcionais que se tornam autnomos entre si, na medida em que se
reproduzem autopoieticamente e to somente constituem um entorno
um para o outro, difcil explicar a possibilidade da integrao, seja
social ou inclusive funcional. A concepo neocorporativista de Willke,
acerca da poltica e do direito, pretende encontrar uma alternativa para
a comunicao intersistmica que no mine a autonomia dos sistemas
funcionais regidos por lgicas prprias. Para isto, concebe um Estado
supervisor, que fomenta a formao de sistemas de negociao no
hierarquizados e permita a sintonia entre os sistemas funcionais, que
necessitam ajuda com respeito quelas operaes que foram perturbadas
ou que, por outro lado, precisam ser obrigados a levar em conta os custos
32
HABERMAS, J. Faktizitt und Geltung. p. 412-4.
33
Ibid., p. 413-4.
A.B. Duro A poltica deliberativa de Habermas
Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 8-29 21
externos que provocam em seu entorno. Isto demanda o surgimento de
um modelo de direito reflexivo corporativista, porque o sistema poltico
j no dispe da capacidade de programar a sociedade em conjunto, mas
to somente pode permitir que os prprios sistemas funcionais, a partir
de sua prpria linguagem, possam realizar uma ponderao interna que
motive o sistema a transformar sua ao no sentido de evitar perigos
para a totalidade da sociedade. Para isso, as corporaes tm que realizar
um dilogo intersistmico, que busque o consenso capaz de resolver os
conflitos e as disfunes sistmicos por meio de um intercmbio entre
especialistas, o que se parece a um congresso de gerentes procedentes
de diferentes ramos de negcios, os quais agem como consultores acerca
dos problemas que enfrentam as empresas dos outros ramos
34
.
Contudo, Habermas observa que a tentativa neocorporativista de
Willke de explicar a integrao social com os recursos da teoria sistmica,
conduz a uma srie de objees: em primeiro lugar, impossvel pr em
comunicao sistemas sociais que utilizam jogos de linguagem diferentes
e para os quais no existe uma linguagem comum, a exemplo da linguagem
ordinria do mundo da vida, a qual funciona como ltima metalinguagem.
Em segundo lugar, os especialistas, que participam nas comunicaes
neocorporativas com o objetivo de evitar os riscos provocados por sistemas
funcionais autnomos a seu entorno, no representam os cidados, o que,
alm de gerar um paternalismo sistmico, no oferece garantia de resolver
os problemas da excluso social. Por fim, o entrelaamento gerencial dos
discursos corporativos a um saber de especialistas pouco realista, pois
ignora que os problemas de coordenao funcional dos sistemas de ao
elaborados politicamente j se apresentam entrelaados com a dimenso
tica e moral da sociedade. Essas objees permitem a Habermas concluir
que a integrao na sociedade complexa no pode se realizar sem o
recurso do poder comunicativo dos cidados, pois os sistemas funcionais
fechados no podem encontrar uma linguagem comum, para a qual j
existe a linguagem ordinria no mundo da vida, que circula a partir da
esfera da opinio pblica at as instituies do estado de direito. Por essa
razo, a poltica e o direito no podem representar sistemas funcionais
fechados, pois as deliberaes, nas instituies especializadas em tomar
deciso, dependem do fornecimento de temas e de motivos procedentes
da formao informal da opinio e da vontade na esfera pblica
35
.
Depois de mostrar como as prprias concepes sociolgicas
contemporneas se vm obrigadas a recuperar a deliberao comunicativa
no processo poltico, como ocorre com a teoria da deciso racional ou,
34
HABERMAS, J. Faktizitt und Geltung. p. 415-20.
35
Ibid., p. 420-7.
A.B. Duro A poltica deliberativa de Habermas
22 Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 8-29
ento, fracassam perante a necessidade de explicar a integrao social na
sociedade complexa sem os pressupostos comunicativos, como acontece
com a teoria dos sistemas, Habermas inicia a traduo sociolgica da
poltica deliberativa.
Na primeira tentativa de apresentar uma traduo sociolgica da teoria
normativa da democracia, em Soberania popular como procedimento,
Habermas desenvolveu o modelo do assdio, segundo o qual uma esfera
pblica, conectada com uma esfera privada preservada da manipulao
burocrtica e vinculada a uma sociedade acostumada liberdade, a qual
capaz de elaborar e dramatizar problemas a ponto de constituir uma
opinio pblica informal, deve assediar a fortaleza representada pelas
estruturas do estado de direito, com a finalidade de transformar o poder
comunicativo em poder administrativo, no obstante, sem intenes de
assalto. Como a nica forma de linguagem que o sistema poltico entende
a lgica do meio poder, ento, o poder comunicativo da opinio pblica
informal deve ser exercido como um assdio, pois tem que influir sobre a
deliberao e a tomada de deciso do sistema poltico, que a interpretar em
termos instrumentais para a implementao de seus programas de ao
36
.
Posteriormente, em Facticidade e Validade, muda o modelo do assdio,
que considera excessivamente derrotista, pelo modelo da mo dupla.
Habermas antecipa o modelo de mo dupla a propsito de uma crtica
ao conceito de poltica deliberativa de Joshua Cohen, o qual no se
desprende adequadamente de uma imagem da sociedade organizada em
termos deliberativos e constituda politicamente, o que resulta em uma
caracterizao do procedimento discursivo, no qual se constata a falta de
uma descrio acerca da relao entre o aspecto formal das deliberaes
orientadas para a deciso e o processo informal de formao da opinio
na esfera pblica
37
. Contudo, somente expe satisfatoriamente o modelo
de mo dupla a partir da proposta de Bernhard Peters.
O modelo da mo dupla representa uma verso normativa da
traduo sociolgica da democracia, uma vez que mostra como
possvel institucionalizar o poder comunicativo gerado pelos cidados e
transform-lo em poder administrativo, apesar dos inevitveis momentos
de inrcia presentes na sociedade complexa. Peters explica a democracia
a partir de uma estrutura poltica da sociedade dividida em um centro e
uma periferia, uma ordem para a circulao oficial do poder que comea na
periferia e deve ultrapassar as eclusas interpostas pelo centro e, por fim,
dois modelos de elaborao de problemas (normal e extraordinrio)
38
.
36
HABERMAS, J. Faktizitt und Geltung. p. 626.
37
Ibid., p. 372-4.
38
Ibid., p. 429-30.
A.B. Duro A poltica deliberativa de Habermas
Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 8-29 23
O centro do sistema poltico est organizado de forma polirquica,
porm possui um ncleo composto pelas instituies do estado de
direito: o complexo parlamentar (rgos legislativos, partidos polticos,
eleies, etc.), os poderes judicirio e executivo, que tm competncia
formal para tomar deciso. A capacidade de ao das instituies do
ncleo depende de sua complexidade organizativa: portanto, maior no
governo e menor no complexo parlamentar, por causa de sua abertura
aos problemas gerados na sociedade. O centro possui, alm do mais,
uma periferia interna constituda pelas instituies pblicas que exercem
funes delegadas pelas instncias estatais, como as universidades, as
fundaes ou as cmaras de comrcio
39
.
Alm do centro, existe uma periferia externa integrada por dois
tipos de instituies: entidades de tipo privado, organizadas em forma
de sistemas de negociao para a coordenao funcional de mbitos
necessitados de regulamentao, que permanecem opacas para a esfera
pblica, e associaes dedicadas a transformar os problemas sociais, os
interesses e as necessidades em uma opinio pblica que possa exercer
influncia sobre a elaborao, interpretao e aplicao de leis, ademais
da implementao de polticas pblicas. As associaes, que elaboram
problemas, exercem influncia sobre o sistema poltico e controlam a
implementao de programas coletivos, constituem a infraestrutura
da sociedade civil sobre a qual se ergue uma esfera pblica, enquanto
espao para a opinio pblica dominado pelos meios de comunicao
de massa
40
.
A periferia pode ser classificada, tambm, de acordo com as
contribuies que oferece ou recebe do centro, em fornecedores e
consumidores. Enquanto os fornecedores, orientados pelo input,
proporcionam os elementos para a formao da opinio e da vontade
dos organismos especializados em tomar deciso, os consumidores,
guiados pelo output, utilizam os produtos do sistema poltico. A diferena
entre fornecedores e consumidores no absoluta, pois os fornecedores
ministram elementos ao sistema poltico, mobilizados, simultaneamente,
pelo que compram deste sistema; porm esta distino no pode ser
eliminada sem prejuzos para a democracia
41
.
Depois de descrever a estrutura do sistema poltico, Peters passa a
realizar uma traduo sociolgica do modo de circulao do poder que
respeita os princpios normativos da democracia. A circulao oficial
do poder comea com a elaborao e dramatizao de problemas na
39
HABERMAS, J. Faktizitt und Geltung. p. 430.
40
Ibid., p. 430-1.
41
Ibid., p. 430-1.
A.B. Duro A poltica deliberativa de Habermas
24 Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 8-29
esfera pblica, por meio de cidados acostumados s condies de uma
sociedade liberal e organizados em associaes capazes de influenciar
o sistema poltico. Para isto, o poder gerado comunicativamente deve
ultrapassar as barreiras ou eclusas introduzidas pelo sistema poltico;
estas eclusas represam os fluxos de comunicao e permitem filtrar as
manifestaes procedentes das associaes das pessoas, assim como os
interesses sociais no transparentes que constituem o poder social; de
fato, as represas do sistema poltico contribuem para a constituio da
opinio pblica, pois obrigam os grupos sociais a elaborar os problemas,
buscar o consenso e dot-lo da fora capaz de pressionar os rgos
especializados em tomar deciso. Neste caso, o poder comunicativo se
converte em poder administrativo e evita que o poder administrativo se
programe a si mesmo ou que seja determinado pelo poder social
42
.
Contudo, a descrio do modo de circulao oficial do poder
demasiadamente exigente para explicar o seu funcionamento habitual
nas sociedades modernas. Em primeiro lugar, porque na direo
oposta circulao oficial ocorre uma contracirculao do poder que
revela a facticidade social. Em segundo lugar, inclusive passando por
alto a contracirculao do poder social que trabalha no sentido da
autoprogramao da administrao, o modelo de circulao oficial do
poder exige uma ateno por parte dos cidados para a esfera pblica
dificilmente encontrada nas sociedades complexas. Por isso, Peters
desenvolveu dois modelos para a elaborao de problemas na esfera
pblica: o modo normal e o extraordinrio
43
.
Segundo o funcionamento normal do sistema poltico, o parlamento
discute e aprova leis, os partidos polticos apresentam ideias, plataformas
eleitorais e organizam as eleies, os tribunais ditam sentenas segundo
os trmites processuais, o governo desenvolve programas de ao com
base em dados tcnicos e polticos, bem como prov os meios para sua
consecuo, as burocracias preparam informes, seguem rotinas, cumprem
prazos, etc., as fundaes e outras empresas estatais cumprem a funo
a que esto destinados. O funcionamento normal do sistema poltico,
segundo seu modo rotineiro de operar, serve, em suma, para descarregar
os cidados da pretenso forte do modo de circulao oficial do poder
e contribui para reduzir a complexidade social. Contudo, na medida em
que o sistema poltico opera mecanicamente, diminui a sensibilidade com
respeito aos problemas que enfrenta a sociedade civil e aumentam os
riscos da autoprogramao do governo. Isto demonstra a importncia do
modo extraordinrio de elaborao de problemas proveniente da esfera
42
HABERMAS, J. Faktizitt und Geltung. p. 431-2.
43
Ibid., p. 432-3.
A.B. Duro A poltica deliberativa de Habermas
Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 8-29 25
pblica. Em tal circunstncia, os cidados e as associaes percebem
os problemas e os potenciam de forma que comovam as pessoas com
diferentes tipos de interesses, organizam a opinio pblica e sensibilizam
o sistema poltico
44
.
Tambm no centro do sistema poltico ocorre uma inverso com relao
ao modo ordinrio de operar. A maior densidade do governo para tomar
decises tem como consequncia seu papel mais ativo nas instncias do
estado de direito no modo normal de funcionamento do sistema poltico.
Contudo, no modo extraordinrio, a presso gerada pela opinio pblica
demanda que o parlamento e os tribunais assumam uma posio ativa em
relao ao governo, pois a soluo do problema depende das respostas
dos rgos especializados em fundamentao e aplicao de normas. Nos
casos de conflito, mobilizados pela opinio pblica, o parlamento e os
tribunais determinam empiricamente a direo dos fluxos de circulao
do poder, pois a legislao tem que aprovar discursivamente as normas
de ao, cuja constitucionalidade julgada pelos tribunais
45
.
Por outro lado, este modelo de mo dupla somente pode representar
uma traduo sociolgica e uma interpretao realista da poltica
deliberativa, no caso de que possa explicar como se constitui uma
autntica opinio pblica no mbito da esfera pblica que seja capaz
e encontre ocasies para investigar, identificar e problematizar os
problemas latentes da integrao social, de tal forma que sensibilize
as instituies do estado de direito especializadas em tomar deciso
e perturbe seu modo rotineiro de funcionamento
46
. Portanto, agora o
passo da traduo sociolgica da poltica deliberativa se desloca para a
formao da opinio pblica na esfera pblica.
A esfera pblica no constitui um sistema especializado na integrao
funcional do social, mas uma rede fluda de comunicaes incrustada
na ao comunicativa do mundo da vida. Por isso, est profundamente
ligada esfera privada de pessoas, que sustentam uma comunicao
em linguagem ordinria sobre os temas e assuntos que afetam a sua
vida cotidiana, inclusive sobre as disfunes dos sistemas e do prprio
estado de direito, j que tem como finalidade ampliar as comunicaes
da esfera privada, protegidas pela intimidade, e faz-las ressoar atravs
de instituies e meios de comunicao de massa, em um processo de
incluso crescente de pessoas, grupos e instituies que a desvincula
gradualmente dos contextos da esfera privada
47
.
44
HABERMAS, J. Faktizitt und Geltung. p. 432-3.
45
Ibid., p. 433.
46
Ibid., p. 434.
47
Ibid., p. 441-3.
A.B. Duro A poltica deliberativa de Habermas
26 Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 8-29
A qualidade da opinio pblica que surge na esfera pblica no
se mede, contudo, pela quantidade puramente estatstica aferida
pelas pesquisas de opinio, mas uma opinio pblica qualificada
deve se originar atravs da formao racional, realizada por meio de
procedimentos discursivos que permitam chegar mais ou menos a um
consenso
48
.
A opinio pblica no tem capacidade de tomar deciso, porm deve
exercer influncia sobre as instituies especializadas na deliberao.
Esta influncia deve ser utilizada pelos indivduos e organizaes que
surgem do prprio seio da esfera pblica e que formam a opinio e a
vontade. Contudo, a opinio pblica no est livre da intromisso de
grupos de interesses e da manipulao de instituies bem organizadas,
que nascem fora da esfera pblica e que tentam formar a opinio com
os meios da publicidade; mais, tais invases do poder social somente
podem obter xito enquanto se mantenham opacas prpria opinio
pblica, uma vez que esta as rechaa to logo transparea o uso do meio
dinheiro
49
.
A esfera pblica est ancorada na sociedade civil, que constitui,
por sua vez, uma parte do componente sociedade do mundo da
vida, dentro do qual se destacam sistemas, como a escola e a famlia,
especializados na preservao das relaes de solidariedade social.
Habermas observa que atualmente se est recuperando o conceito
de sociedade civil como uma forma de explicar a democracia radical,
depois da queda do socialismo real no Leste-Europeu. Para descrever o
conceito de sociedade civil, ele lana mo das reflexes sobre este tema
desenvolvidas, sobretudo, por Cohen e Arato. Neste sentido, a sociedade
civil no pode ser mais explicada nos termos hegelianos, como o sistema
de necessidades, no qual se intercambiam trabalho e mercadorias
submetidos s leis econmicas. Tambm no pode ser entendida segundo
os pressupostos marxistas de uma auto-organizao da sociedade civil,
que se apodera do aparato de Estado por meio da revoluo social,
com o propsito de elimin-lo e instaurar o autogoverno. A sociedade
civil constitui um conjunto no organizado e no institucionalizado de
organizaes capazes de formar a opinio e a vontade discursivamente
e representa a infraestrutura da esfera pblica, em cujo cume esto os
meios de comunicao de massa
50
.
Para a formao da opinio pblica na esfera pblica indispensvel
que a sociedade civil esteja constituda por organizaes dotadas de
48
HABERMAS, J. Faktizitt und Geltung. p. 438.
49
Ibid., p. 439-41.
50
Ibid., p. 443-4.
A.B. Duro A poltica deliberativa de Habermas
Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 8-29 27
liberdades fundamentais, as quais recrutam indivduos acostumados ao
exerccio da liberdade em sua esfera privada. Ento, entre as condies
para uma autntica esfera pblica, esto a autonomia da sociedade civil e
a integridade da esfera privada protegidas atravs de direitos subjetivos
fundamentais, pois, como mostra a experincia do socialismo burocrtico,
a vigilncia sobre a vida privada e a interveno sobre as relaes sociais
do mundo da vida conduz ao estrangulamento da comunicao pblica
espontnea
51
.
Porm a simples proteo dos direitos fundamentais no suficiente,
j que a sociedade civil deve se reproduzir a si mesma por meio de
organizaes que se aproveitam do espao da sociedade civil e,
simultaneamente, o desenvolvem. Surgem, ento, grupos que executam
uma ao poltica, ao mesmo tempo ofensiva e defensiva; ofensivamente,
estes grupos mobilizam a opinio pblica para exercer influncia sobre
as instncias que tomam deciso e, defensivamente, promovem a
manuteno e a ampliao da prpria sociedade civil.
Habermas concorda com Cohen e Arato, que se basearam, por sua
vez, em sua teoria discursiva, em que o entrelaamento entre a esfera
pblica, apoiada na sociedade civil, e as instncias especializadas
em tomar deciso no estado de direito representa uma boa traduo
sociolgica da poltica deliberativa, porm observa que ainda resta
investigar a facticidade social que se insere na prpria esfera pblica e
na sociedade civil
52
.
Os momentos de facticidade social presentes na esfera pblica podem
ser enquadrados em trs tipos. medida que o prprio espao da esfera
pblica se dilata por um processo de incluso sempre crescente de novos
grupos e organizaes, constitui-se e amplia-se proporcionalmente a
diferena entre participantes ativos e meros espectadores, o que implica
uma desmobilizao do pblico e a perda de rendimento no que se refere
formao da opinio pblica; por outro lado, a esfera pblica constitui um
meio aberto no somente participao de mltiplos grupos, preocupados
em formar discursivamente a opinio e a vontade, mas tambm a grupos
de interesses muito bem organizados e com grande poder financeiro para
formar a opinio atravs dos recursos de publicidade, com a finalidade
de influenciar o sistema poltico a partir do poder social; por ltimo, os
prprios meios de comunicao de massa selecionam a informao e
podem manipular a opinio pblica, uma vez que a imprensa, o rdio e
a televiso constituem um meio dotado de poder
53
.
51
HABERMAS, J. Faktizitt und Geltung. p. 445-6.
52
Ibid., p. 447-8.
53
Ibid., p. 453-6.
A.B. Duro A poltica deliberativa de Habermas
28 Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 8-29
Habermas argumenta, contudo, que estas travas formao
democrtica da opinio e da vontade so eficientes quando se considera
a esfera pblica em estado de repouso, porm podem ser superadas
em situaes nas quais surge uma conscincia de crise entre os membros
da sociedade, que se sentem ameaados por polticas pblicas. Em
tais casos extraordinrios, a sociedade civil se pe em movimento e
rompe a inrcia imposta pela facticidade social, levando formao
de uma opinio pblica mais ou menos racional que determina o fluxo
da comunicao e impe o poder comunicativo ao sistema poltico. Em
situaes crticas, determinados grupos da sociedade civil podem recorrer
inclusive desobedincia civil, que representa uma infrao da lei contra
as decises consideradas injustas e ilegtimas de um sistema poltico
insensvel ao clamor popular
54
.
Referncias
ARAUJO, L. Moral, Direito e Poltica Sobre a Teoria do Discurso de Habermas.
In: OLIVEIRA, Manfredo; AGUIAR, Odilio; SAHD, Luiz Felipe (Org.). Filosofia poltica
contempornea. Petrpolis: Vozes, 2003. v. 1, p. 214-235.
______. Liberalismo, Identidade e Reconhecimento em Habermas. Veritas, Porto
Alegre, 52 (2007), p. 120-136.
BAYNES, K. The normative grounds of social criticism. Kant, Rawls and Habermas.
Albany: SUNY, 1992.
______.Democracy and the Rechtsstaats: Habermass Faktizitt und Geltung.
In: WHITE, S. Cambridge companion to Habermas. Cambridge: Cambridge Univ.
Press, 1995. p. 201-32.
BOHMAN, J. Complexity, pluralism, and the constitutional state: On Habermass
Faktizitt und Geltung. In: Law and Society Review, [s.l.], 28(4), (1994), p. 897-930.
______. Public deliberation. Pluralism, Complexity, and Democracy. Cambridge,
Mass.: MIT, 1996.
CHEVIGNY, P. Law and politics in Habermas. In: SUNDFELD, C.; VIEIRA, O
(Org.). Direito global. So Paulo: Max Limonad, 1999, p. 107-23.
COHEN, J. L.; ARATO, A. Civil society and political theory. Cambridge, Mass.:
MIT, 1997.
CRONIN, C.P. Translators introduction. In: HABERMAS, J. Justification and
application. Remarks on Discourse Ethics. Trad. Ciaran P. Cronin. Cambridge,
Mass.; London: MIT, 1993, p. XI-XXXI.
DUTRA, D.V. Razo e consenso em Habermas. Florianpolis: Editora da UFSC, 2005.
GIMBERNAT, J. A. (Org.) La filosofa moral y poltica de Jrgen Habermas. Madrid:
Biblioteca Nueva, 1997.
HABERMAS, J. Legitimationsprobleme im Sptkapitalismus. Frankfurt am Main:
Suhrkamp Verlag, 1973.
54
HABERMAS, J. Faktizitt und Geltung. p. 461-4.
A.B. Duro A poltica deliberativa de Habermas
Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 8-29 29
HABERMAS, J. Eine Art Schadensabwicklung. Kleine politische Schriften VI.
Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1987.
______. Faktizitt und Geltung. Beitrage zur Diskurstheorie des Rechts und des
demokratischen Rechtsstaats. 4. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1994.
______. Strukturwandel der ffentlichkeit. 4. Aufl., Frankfurt am Main: Suhrkamp
Verlag, 1995.
______. Theorie des Kommunikativen Handelns. Frankfurt am Main: Suhrkamp
Verlag, 1995. 2v.
______. Zur Rekonstruktion des Historischen Materialismus. 6. Aufl., Frankfurt am
Main: Suhrkamp Verlag, 1995.
______. Die Einbeziehung des Anderen. Studien zur politischen Theorie. 2. Aufl.,
Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1997.
JIMNEZ REDONDO, M. Introduccin. In: HABERMAS, J. Facticidad y validez.
Trad. Jimenez Redondo. Madrid: Trotta, 1998. p. 9-55.
MAIA, A. C. Jrgen Habermas: filsofo do direito. So Paulo: Renovar, 2008.
MERTENS, T. Cosmopolitanism and citizenship: Kant against Habermas. In:
European Journal of Philosophy. Oxford, 4(3) (dez. 1996), p. 328-347.
MOREIRA, L, APEL, Karl-Otto, OLIVEIRA, Manfredo. Com Habermas, contra Habermas.
So Paulo: Landy, 2004.
NOBRE, M. Permanecemos contemporneos dos jovens hegelianos: Jrgen Habermas
e a situao de conscincia atual. In: Olhar Revista de Artes e Humanidades do
CECH/UFScar, So Carlos, 4 (2000), p. 93-102.
PINZANI, A.; DUTRA, D. V. Habermas em discusso. Florianpolis: Nefipo, 2005.
PINZANI, A. Diskurs und Menschenrechte. Hanburg: Dr. Kovac, 2000.
REHG, W. Translators introduction. In: HABERMAS, J. Between facts and norms.
Contributions to a discouse theory fo law and democracy. Trad. William Rehg.
Cambridge, Mass: MIT, 1996. p. IX-XXXVII.
ROUANET, L. P. Soberania e patriotismo constitucional. Revista jurdica, Campinas,
v. 21, n. 2, p. 77-83, 2005.
SALCEDO, M. F. Habermas e a desobedincia Civil. Belo Horizonte: Mandamentos,
2003.
SIEBENEICHLER, F.B. A justia como incluso do outro. Ethica: Cadernos
Acadmicos, Rio de Janeiro, v. 8, n. 2, 2001.
______. Sobre a filosofia do direito, de Habermas. Revista da Faculdade de Direito
Cndido Mendes, Rio de Janeiro, 8 (2003), p. 141-59.
VALLESPN, F. Introduccin In: HABERMAS, J.; RAWLS, J. Debate sobre el
liberalismo poltico. Trad. Vilar Roca. Introd. Fernando Vallespn. Barcelona: Paids,
1998, p. 9-37
VELASCO, J.C. Introduccin. In: HABERMAS, J. La inclusin del otro. Barcelona:
Paids, 1999, p. 11-22.
______. La teora discursiva del derecho. Sistema jurdico y democracia en Habermas.
Madrid: Centro de Estudios Polticos y Constitucionales, 2000.
2
Veritas Porto Alegre v. 56 n. 1 jan./abr. 2011 p. 30-51
AlgunAs estructurAs
ArgumentAtivAs A fAvor de
derechos culturAles*
AlgumAs estruturAs ArgumentAtivAs
A fAvor dos direitos culturAis
daniel loewe**
RESUMEN El artculo presenta algunas de las estrategias de
justificacin de derechos culturales ms recurrentes (justificacin
comunitaria; el valor de la diversidad; teoras del reconocimiento de la
diferencia cultural; el valor de la autonoma; justificacin igualitaria)
y los examina crticamente a la luz de sus propios mritos y desde
la perspectiva del liberalismo como doctrina poltica. De acuerdo al
artculo estas justificaciones son deficientes.
PALABRAS CLAVES Derechos culturales. Liberalismo. Comunitarismo.
Diversidad. Reconocimiento. Autonoma. Igualdad.
RESUMO O artigo apresenta algumas estratgias recorrentes para
justificar os direitos culturais (tais como comunidade justificativa,
o valor da diversidade, as teorias do reconhecimento da diferena
cultural, o valor da autonomia, a justificao de igualdade) e as examina
criticamente luz de seus prprios mritos, a partir da perspectiva do
liberalismo enquanto doutrina poltica. De acordo com o artigo, todas
essas justificativas so fadadas ao fracasso.
PALAVRAS-CHAVES Direitos culturais. Liberalismo. Comunitarismo.
Diversidade. Reconhecimento. Autonoma. Igualdade.
** Este artculo se inserta en el proyecto de cooperacin Globalizierung, Demokratie und
kulturelle Vielfalt entre la Forschungsstelle Politische Philosophie del Seminario de
Filosofa de la Universidad Tbingen y la Facultad de Filosofa de la Universidad Catlica
de Rio Grande do Sul (PUCRS). Este proyecto de cooperacin ha sido generosamente
financiado por la Fundacin Alexander von Humboldt.
** Profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibez en Santiago
de Chile. Es doctor en filosofa de la Universidad Eberhard Karl de Tbingen,
Alemania, y miembro del Research Centre for Political Philosophy y del International
Centre for Ethics in the Sciences and Humanities de la Universidad Tbingen.
E-mail: <daniel.loewe@uai.cl>.
D. Loewe Algunas estructuras argumentativas ...
Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 30-51 31
ABSTRACT The article presents some strategies to justify recurring
cultural rights (community justification, the value of diversity, theories
of recognition of cultural difference, the value of autonomy, equality
justification) and critically examined in light of their own merits and in
view of liberalism as a political doctrine. According to the article these
justifications are flawed.
KEYWORDS Cultural rights. Liberalism. Communitarism. Diversity.
Recognition. Autonomy. Equality.
Durante los ltimos veinte aos las discusiones en torno al estatus
legal de las minoras culturales y sus posibles derechos, ya sean
colectivos o individuales, han estado en el centro de una discusin
multifactica. Las rbricas usuales son conocidas: poltica de la
diferencia, poltica de la identidad, poltica del reconocimiento
o, en general multiculturalismo. Las discusiones son mltiples, y se
desarrollan intensa y extensamente en el contexto de la filosofa poltica,
del derecho internacional, del desarrollo constitucional y ciertamente
en la implementacin de polticas pblicas. Los debates de la filosfica
poltica se han centrado principalmente aunque no exclusivamente en
las dificultades inherentes a la justificacin de este tipo de derechos. Se
pueden justificar derechos en razn de la pertenencia tnica o cultural de
los sujetos? Y si este es el caso: dentro de que contexto terico? Estn
estos derechos en contradiccin o tensin con los derechos liberales
clsicos o son slo una extensin de estos ltimos?
En este texto examino de un modo conciso y esquemtico algunos
modelos argumentativos recurrentes en la literatura a favor de derechos
culturales y los contrasto con la doctrina liberal. Para esto procedo en
siete pasos. Ya que tanto el concepto de liberalismo como el de derechos
culturales son objeto de controversia, (1) primero delineo lo que entiendo
por stos. (2) Luego investigo crticamente las justificaciones de tipo
comunitario, (3) las que recurren al valor de la diversidad, (4) las que
se basan en la idea del reconocimiento, (5) las que recurren al valor
de la autonoma (6) y de la igualdad. (7) Por ltimo realizo algunas
consideraciones.
1 Liberalismo y derechos culturales
El concepto de liberalismo despierta mltiples asociaciones y tambin
equvocos. Mientras que para algunos (por ejemplo la izquierda europea)
el liberalismo se asocia con el dominio del mercado, es decir con formas
de neoliberalismo econmico, para otros (por ejemplo para la derecha
D. Loewe Algunas estructuras argumentativas ...
32 Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 30-51
conservadora de los Estados Unidos), el liberalismo demcrata representa
una amenaza de intromisin estatal desenfrenada tanto en la libertad
econmica de los individuos en nombre de la justicia social, como en
el orden social tradicional en nombre de una mal entendida libertad.
Por cierto, en la tradicin liberal encontramos elementos que permiten
sustentar parcialmente estas crticas. Pero independientemente de las
correctas e incorrectas asociaciones realizadas, es posible identificar
un ncleo en el pensamiento liberal.
Si algo caracteriza al pensamiento liberal en su conjunto es su
compromiso con la libertad individual. (La desconfianza en la concentracin
del poder es secundaria, y se retrotrae, analticamente, a este aspecto).
Por qu? Hay respuestas que rivalizan entre s. Sin embargo, una que
parece asentarse, de un modo u otro, en el ncleo del pensamiento liberal,
refiere al valor de la autonoma. El liberalismo no es slo el heredero
de la reforma (lo que dara pbulo a una doctrina comprometida con
la tolerancia y la diversidad, pero no necesariamente con la libertad
individual) sino que como hijo poltico de la ilustracin sostiene la
posicin privilegiada del individuo y su razn (y no de la tradicin, o la
religin, o las convenciones sociales, etc.) como corte final de apelacin.
El valor de la autonoma individual, que autores tan dismiles como Kant
y Mill sitan en el centro de sus doctrinas morales y polticas, sera el
motor de la preocupacin por la libertad individual. No es difcil percibir
como la importancia tradicional de los derechos civiles y las libertades
individuales se pueden retrotraer a la idea de la autonoma. Si somos
autores de nuestra vida en el sentido crtico de la autonoma, entonces
deberamos tener los recursos y libertades necesarios para vivir nuestras
vidas de acuerdo a nuestras creencias acerca de lo que es valioso sin ser
penalizados por prcticas (religiosas, sexuales, estilos de vida, etc.) poco
ortodoxas. Y ya que se requiere de ciertas condiciones para un examen
inteligente de la propia vida, la educacin, la libertad de expresin y de
prensa, as como la artstica, entre otras, adquieren un valor central que
debe ser protegido mediante derechos.
El concepto de derechos culturales no es menos complicado. Un
amplio abanico de exigencias que poco tienen que ver entre s se agrupa
bajo este ttulo. De igual modo, una serie de grupos reclaman para s la
legitimidad en el merecimiento de estos derechos (inmigrantes, grupos
religiosos, naciones, pueblos originarios, grupos tnicos y raciales,
etc.). Correspondientemente, las discusiones son mltiples. Pero
quizs todas tienen un mnimo comn denominador que se expresa en
forma de una interrogante: cmo se debera responder al pluralismo
cultural de las sociedades contemporneas? De ms est decir que esta
pregunta no es nueva. Pero en la actualidad ella ha adquirido una cierta
D. Loewe Algunas estructuras argumentativas ...
Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 30-51 33
urgencia y por cierto el carcter de moda. La respuesta multicultural
es que las diferencias culturales no slo son valiosas, sino que deben
encontrar reconocimiento, proteccin y fomento tanto a nivel social
como institucional. (Evidentemente, esta respuesta general se articula e
interpreta de modos diversos e incluso antagnicos.) Y el modo de lograrlo
es mediante derechos culturales. La demanda por derechos culturales
se puede entender como una demanda por derechos diferenciados en
razn de la pertenencia cultural. En este artculo refiero a un tipo de
multiculturalismo que se concentra en demandas de derechos: individuos
o grupos deberan disponer sobre determinados derechos especiales
cuya justificacin se deja retrotraer a caractersticas culturales y que,
correspondientemente, otros individuos que no son miembros de esos
grupos, pero que, sin embargo, son miembros de la comunidad jurdica y
poltica, no pueden reclamar legtimamente. Esto es lo que en el debate
multicultural se ha hecho conocido como ciudadana diferenciada
(Young 1990) o ciudadana multicultural (Kymlicka 1995).
Cmo se relaciona la doctrina liberal con las demandas por derechos
culturales? Como es comn, pero tambin productivo para este tipo de
debates, las posiciones interesantes son antagnicas. Por una parte,
algunos ven en los derechos culturales y las polticas pblicas que
los implementan una paso necesario para avanzar en el cumplimiento
de la promesa de una sociedad liberal democrtica para generar una
ciudadana verdaderamente inclusiva: los derechos liberales clsicos,
que junto a los derechos polticos y a los derechos sociales, por ejemplo
Marshall caracteriza como un proceso de inclusin social continuada
(Marshall 1992 (1950)), y que a un nivel filosfico alcanzan un alto grado
de aceptacin con la teora de la justicia articulada por John Rawls (1971),
tendran que ser complementados con derechos culturales. De acuerdo
a esta posicin, si tomamos en serio las premisas bsicas que animan a
las sociedades democrticas, no podemos negarnos a aceptar este tipo
de derechos. Por otra parte, las voces crticas apuntan a un hecho que no
puede quedar desatendido. Los derechos culturales, as como las polticas
correspondientes, se opondran en esencia y de un modo que no admite
reconciliacin alguna, al concepto de ciudadana que yace en el ncleo
de las sociedades y teoras liberales, y que se caracteriza, en su forma
ms canniga, mediante derechos iguales para todos.
Los motivos de preocupacin de ambas partes son dignos de
consideracin. Mientras que los primeros dirigen su atencin a la
desventaja, la injusticia y la situacin de desproteccin y falta de
reconocimiento, tanto en perspectiva histrica como sistmica, a las que
estn sujetas muchas minoras as como sus miembros, los segundos
dirigen su atencin tanto a las posibles consecuencias devastadoras
D. Loewe Algunas estructuras argumentativas ...
34 Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 30-51
de este tipo de derechos (las consecuencias de esta idea seran poco
deseables) como a su incongruencia terica (la idea misma seran
insostenible). No es curioso encontrar autodenominados liberales a
ambos lados de la controversia (aunque evidentemente no todos los
que se encuentran a algn lado de la controversia son o aspiran a ser
liberales).
A continuacin examinar el desencuentro de la doctrina liberal
con las demandas por derechos culturales en relacin a las estructuras
justificativas articuladas usualmente en el debate a favor de los derechos
culturales.
2 Culturas como universos morales
Una justificacin recurrente, no slo en la academia, sino que sobre
todo en los contextos sociales, remite a los entendimientos compartidos
de las culturas como constitutivos de la identidad individual y como
fuente de la moralidad comunal. Querer remitirse a normas o reglas
universales o, en todo caso, ajenas a la cultura particular para reglar la
interaccin social dentro de este grupo, o entre ste y otros grupos de la
sociedad, no sera slo un sinsentido sino que un tipo de imperialismo.
En definitiva, sera un tipo de opresin.
Problemtico con este entendimiento no es slo su evidente falsedad.
Este tipo de teoras se basan en una consideracin mondica de las
culturas. Apelar a los entendimientos compartidos en un grupo o
sociedad como base para definir la moral descansa en la fantasa
(comn en el mundo comunitario) de que dentro de las sociedades no
hay discrepancias morales importantes. Pero todas las sociedades son
campos de contencin.
Por encima de esto, la consideracin mondica de las culturas abre
la puerta a formas de relativismo moral inaceptables. Cultura es
aqu una categora autojustificada. Es decir, diversas prcticas seran
moralmente aceptables slo por el hecho de ser parte de una cultura. Pero
el Apartheid en Sudfrica, el sistema de castas en India o la esclavitud
en los estados del sur de los Estados Unidos antes de la guerra civil no
eran ni son moralmente aceptables porque son parte de nuestra cultura,
como los defensores de esas instituciones podran haber afirmado o
pueden afirmar. De la misma manera, la opresin de las mujeres en
Afganistn, la mutilacin genital femenina, la violencia en las familias, las
prcticas de linchamiento del Ku-Klux-Klan, las prcticas discriminatorias
ampliamente aceptadas, el sacrificio humano, los delitos sexuales y la
larga lista de casos multiculturales no son moralmente aceptables debido
a que ellos sean una parte de nuestra cultura.
D. Loewe Algunas estructuras argumentativas ...
Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 30-51 35
Cuando cultura llega a ser una categora autojustificada se abren las
puertas de par en par a formas de opresin. James Tully refiere al caso
de la Salish Indian band. Por nacimiento Thomas era un miembro de
esta tribu que tiene una reserva en el nordeste de Canad. l no creci
en la reserva, no viva en sta, conoca poco de la cultura de los Salish y
tampoco le interesaba especialmente. A pesar de esto fue secuestrado
por los miembros y se lo oblig a participar en un rito de iniciacin.
Thomas demand exitosamente a los victimarios por asalto, golpizas
y robo de libertad. La corte argument que la Danza Espritu y, ms
especficamente, el involuntario aspecto de sta, no era una caracterstica
central del modo de vida de los Salish (Tully, 1995, 172). Segn Tully, en
este caso los derechos fueron tomados en serio, porque las diferencias
culturales fueron tomadas en serio y el resultado es por consiguiente
imparcial (Tully, 1995, 172). Pero lo que est afirmando es que porque
la Danza Espritu y el carcter involuntario de sta no son centrales
para la cultura de los Salish, Thomas tiene derecho a ser protegido
contra asalto, golpizas y robo de libertad. Cul sera entonces su
opinin si sta u otra prctica cultural fuese un aspecto central de la
cultura?
Sebastian Poulter menciona en un artculo acerca de los derechos
legales y las reclamaciones culturales de algunos grupos de inmigrantes
en Gran Bretaa el rol de la mujeres como un ejemplo muy claro
del choque de culturas (Poulter, 1987). Aqu, hay matrimonios de
nios, matrimonios forzados, sistemas de divorcio que desaventajan
a las mujeres, poligamia y cliterictoma (Okin, 1999, 17). La mayora
de los casos se dejan retrotraer a acusaciones de mujeres y nias,
cuyos derechos individuales fueron violados de acuerdo a las prcticas
culturales de sus grupos. Si esas prcticas son centrales para las
culturas correspondientes Tully debera reconocer y afirmar las prcticas
culturales, esto es, matrimonios de nios, matrimonios forzados, la
mutilacin genital femenina, etc. Una interpretacin curiosa acerca de
lo que significa tomar derechos en serio.
Segn Walzer (1983), Sandel (1982), Miller (1995) y otros autores
comunitaristas, los entendimientos compartidos no son voluntaristas, sino
que es posible alcanzar su mejor interpretacin. Pero es difcil entender
que puede ser la mejor interpretacin. Las fuentes culturales, incluso
dentro de una cultura, son diversas, y sus interpretaciones lo son aun ms.
Y cualquier interpretacin inmanente de estos entendimientos precisa
aceptar algunas fuentes e interpretaciones y rechazar otras (o dar ms
valor a algunas que a otras, lo que es metodolgicamente equivalente).
As los autores comunitaristas se encuentran en una disyuntiva. Una
posibilidad es aceptar las interpretaciones autoritativamente vigentes
D. Loewe Algunas estructuras argumentativas ...
36 Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 30-51
de acuerdo a las elites de turno. Problemtico es que no todos han
tenido la misma oportunidad de participar en la determinacin de los
entendimientos de las prcticas sociales. Tradicionalmente mujeres y
nios tienen menos poder y por consiguiente cuentan menos al definir
estos entendimientos (Okin, 1999). Y as no es de extraar que gran
parte de los casos que animan los debates multiculturales refiera al
poder de hombres para controlar la vida de mujeres mediante el control
de la ley de familia, llegando incluso a formas de personal law. (Por el
contrario, un Musulmn que se negara a pagar los intereses de su tarjeta
de crdito aduciendo razones de tipo religioso no tendra gran acogida
con su demanda). De este modo se privilegia a los favorecidos del status
quo y se hace un flaco favor a las corrientes renovadoras dentro de cada
sociedad o grupo. La segunda posibilidad es cuestionar y cualificar los
entendimientos de acuerdo a criterios o principios que se consideren
como moralmente superiores o correctos. Pero entonces hay explicar,
remitindose exclusivamente a las fuentes de la cultura en cuestin, en
qu sentido los entendimientos as cualificados pueden ser moralmente
superiores.
Para desarrollar procesos de deliberacin moral es inevitable referir
a la universalidad y a la imparcialidad. stas son constitutivas de la
estructura del pensamiento moral. Es usual y correcto asociar la doctrina
liberal con la universalidad e imparcialidad. Hay buenas razones para ello.
Siguiendo la terminologa de Rawls, el liberalismo sostiene la prioridad
de lo justo por sobre lo bueno (Rawls, 1971; Ackerman, 1980). Esto quiere
decir que la justicia no es el resultado de entendimientos compartidos
acerca de la vida buena o del fin (telos) o propsito intrnseco de una
prctica o institucin particular que sean vinculantes dentro de una
comunidad cultural, histrica y/o poltica (como es el caso en las teoras
con horizonte comunitario mencionadas). Sino que la determinacin de lo
justo es resultado, entro otros, del uso de la razn prctica, como propone
Kant, de un contrato hipottico entre seres racionales en una situacin
de igualdad original (Rawls, 1971), de procesos deliberativos regulados
mediante condiciones neutralizadoras del poder de negociacin de las
partes (Habermas, 1987), o se desprende de derechos naturales (Locke,
1988; Nozick, 1974; Dworkin, 1978). En todos estos casos se trata de
garantizar la universalidad y la imparcialidad mediante la representacin
apropiada de los intereses de todos los afectados.
3 Preservacionistas culturales
Una justificacin extrema pero usual de derechos culturales recurre
al valor de la diversidad, ya sea como valor en s o como valor para la
D. Loewe Algunas estructuras argumentativas ...
Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 30-51 37
sociedad, y manifiesta la aspiracin de mantenerla para siempre. Como
lo expresa Taylor en su muy citado pasaje, se trata de la aspiracin to
maintain and cherish distinctness, not just now but forever (Taylor,
1994, 40). Este tipo de argumentos se basan en una analoga con los
argumentos a favor del valor de la diversidad biolgica y la consiguiente
oposicin a formas de monocultivo. Sin embargo, en el plano cultural
ellos no nos llevan lejos.
Descontando su fuerza retrica, la aspiracin to maintain and
cherish distinctness, not just now but forever (Taylor, 1994, 40) es muy
poco atractiva. En todo caso, no es una aspiracin liberal. Citando a
Martha Nussbaum: Cultures are not museum pieces, to be preserved
intact at all costs (Nussbaum, 1999, 37). Culturas no son construcciones
estticas. Como respuesta a circunstancias cambiantes ellas cambian, se
amalgaman e integran elementos de otras culturas, se ajustan a nuevas
realidades geogrficas, demogrficas, tecnolgicas, etc. Y en ocasiones
desaparecen. Con las palabras de Charles Westin:
It is generally accepted that cultures are not rigid monoliths given once
and for all, as National Romanticism of the nineteenth century would
have it, but receptive and responsive ways of constructing meaning,
continuously battered by requirements to change and develop, and
by counter-forces stressing ideals of purism, opposing newfangled
expressions and interpretations. (Westin, 1998)
La aspiracin de mantener la cultura para siempre cae dentro de lo
que John Passmore denomina el sndrome preservacionista (1995).
Preservacin es algo diferente a conservacin. Esta ltima es una forma
de astucia: una utilizacin moderada de algo en T1, de modo que en
T2 est todava disponible. Conservamos nuestros recursos en T1 para
que estn disponibles en T2. Ahorramos energa para que en el futuro
sigamos disponiendo de ella. Establecemos cuotas de pesca y caza para
que en el futuro se pueda seguir pescando y cazando. Los argumentos
contra el conservacionismo dicen que lo que ahorramos no ser utilizable
en el futuro. O que los costos de conservacin son demasiado altos.
O que el futuro est demasiado lejos y por tanto se puede descontar
su valor. Aqu surgen preguntas relativas a nuestra responsabilidad
frente a generaciones futuras. Por el contrario, preservar no refiere a
una utilizacin futura: Its object is to retain something, for perpetuity,
in a particular condition (Passmore, 1995, 2). Al preservar se renuncia
a las oportunidades de destruccin o modificacin o sustitucin de
alguna cosa. Los costos de oportunidad no juegan aqu ningn papel,
y por lo tanto no constituyen un argumento contra la preservacin.
D. Loewe Algunas estructuras argumentativas ...
38 Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 30-51
Lo que cuenta son los costos de mantencin y, en ocasiones, de
restauracin.
1
La preservacin no es un fenmeno nuevo. Sociedades siempre
han tratado de mantener y reproducir sus costumbres y tradiciones,
ejemplarmente mediante sistemas educativos. Lo nuevo parece ser la
amplitud de lo que se desea preservar. Citando a Stanley Fish: The
politics of difference is the equivalent of an endangered species act for
human beings, where the species to be protected are not owls and snail
darters, but Arabs, Jews, Homosexuals, Chicanos, Italian Americans,
and on and on and on (Fish, 1998, 73).
No es casualidad que el punto lgido de la poltica de la preservacin
coincide con la modernizacin. Cuando todo cambia velozmente, crece
la aspiracin por mantener. As en el siglo XIX se multiplic la creacin
de museos, bibliotecas, reservas naturales, etc. En este sentido la
aspiracin preservacionista es reaccionaria: a result of widespread
disillusionment with modernisation (Passmore, 1995, 6). Por otra parte,
el preservacionismo cultural puede ser considerado como una respuesta
contestataria a la opinin tradicional de que las naciones civilizadas
tendran una obligacin moral de llevar las ventajas de la civilizacin a
pueblos menos civilizados (como sostena John Stuart Mill en el caso de
India, pero no de los mormones (Mill, 2000)). Esta motivacin tambin la
encontramos en la defensa de Taylor:
[T]he issue of multiculturalism as it is often debated today, which has
a lot to do with the imposition of some cultures on others, and with the
assumed superiority that powers this imposition. Western liberal societies
are thought to be supremely guilty in this regard, partly because of their
colonial past, and partly because of their marginalization of segments of
their populations that stem from other cultures. (Taylor 1994, 63)
Esta obligacin tomo en ocasiones la forma de una misin civilizadora:
la invasin de sociedades menos civilizadas, como los aborgenes
1
Los intereses de preservacionistas y conservacionistas a menudo confluyen. Pero en
ocasiones tambin coliden. Su confluencia se retrotrae a intereses mutuos contingentes,
lo que evidentemente no asegura el mantenimiento de la confluencia. Por ejemplo,
tanto conservacionistas como preservacionistas quieren proteger a las ballenas del
exterminio. Pero la aspiracin conservacionista se basa en que de este modo en el
futuro tendremos ballenas que cazar. Un argumento posible contra esta aspiracin es
sostener que sera ms rentable continuar con la caza de ballenas hasta extinguirlas
y slo entonces, cuando su explotacin ya no sea rentable, cerrar las empresas
correspondientes. Por el contrario, preservacionistas quieren proteger a las ballenas
con independencia de los costos. Por lo tanto, el argumento descrito no es uno contra
su aspiracin.
D. Loewe Algunas estructuras argumentativas ...
Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 30-51 39
en Australia, o acciones directas contra minoras en pos de su
asimilacin, como en China durante la revolucin cultural. La respuesta
preservacionista toma la posicin contraria. Se aspira a mantener
las tradiciones indgenas y las prcticas tnicas de inmigrantes, y
para esto se recurre a herramientas jurdicas en forma de derechos
diferenciados de acuerdo a la pertenencia cultural. Esta estrategia no es
atractiva.
Primero: no es claro qu es lo que hay que preservar y qu es lo
que la preservacin implica. Es necesario responder a una serie de
preguntas: Qu elementos y qu interpretacin de la cultura deben ser
preservados? Encontrar respuestas que conciten consenso puede ser
una tarea imposible. Crtica es parte de cualquier cultura. Adems, hay
diferentes interpretaciones acerca de lo que implica preservar. Para los
preservacionistas conservadores es mantener las cosas como son. Para
los preservacionistas reaccionarios como eran originalmente: it sets out
to restore something to its pristine form and then to preserve it in that
form (Passmore, 1995, 2).
Segundo: el preservacionismo puede apuntar a diferentes objetos.
Entre otros hay un preservacionismo urbano, otro ecolgico y otro cultural.
Si bien en una sociedad liberal se pueden articular buenas razones a favor
del preservacionismo urbano y ecolgico, esas razones no se pueden
aplicar al preservacionismo cultural: cultura incluye prcticas humanas.
Y nosotros no podemos preservar prcticas con independencia del inters
de los participantes. Reconocer la autonoma de los individuos implica
otorgarles la capacidad de decidir por s mismos, independientemente
de si sus decisiones estn en lnea con el valor de la diversidad social.
Todos pueden decidir, en principio, ser como cualquier otro.
Qu sucede con aquellos que no estn de acuerdo con la eleccin
de los elementos culturales o de las interpretaciones culturales, o con el
preservacionismo en cuanto tal? Mantener la diversidad puede justificar,
en el mejor de los casos, acciones de tipo paternalistas indefendibles
desde una perspectiva liberal. Dicho de otro modo, el mantenimiento
de la diversidad cultural puede implicar limitaciones inaceptables a la
libertad individual. Por ejemplo, la survivance o la visage linguistique
de Quebec implica polticas que limitan la libertad de los individuos en
modos difcilmente compatibles con una poltica liberal impidiendo a los
padres elegir la lengua de enseanza de sus hijos, polticas lingsticas
relativa a sealizacin y letreros, uso del idioma en el lugar de trabajo, etc.
Ciertamente no hay nada moralmente incorrecto en aspirar a que nuestra
cultura se mantenga para siempre. El punto es que no todos los modos
que pueden llevar a realizar esta aspiracin son moralmente aceptables.
A modo de ilustracin: no hay nada moralmente incorrecto en aspirar a
D. Loewe Algunas estructuras argumentativas ...
40 Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 30-51
que nuestros genes se mantengan en el futuro, pero la violacin es un
modo moralmente inaceptable para llevarlo a cabo (Barry, 2001).
Tercero: aquellos que tienen la aspiracin mencionada debiesen
desconfiar de esta estrategia. El problema es que la proteccin y
promocin de la diversidad cultural no asegura que toda cultura sea
fomentada. Todava ms, en ciertas circunstancias la opresin de algunas
culturas (por ejemplo culturas o religiones atractivas que ganan muchos
adeptos) puede ser una estrategia efectiva para maximizar la pluralidad
cultural. Por la misma razn, esta estrategia no asegura que mi cultura
se mantenga en el tiempo. Si la meta es la pluralidad de culturas, no hay
garanta que el mantenimiento de la ma sea parte de esta meta.
Cuarto: llevada a sus lmites coherentes con la teora la realizacin
de la aspiracin to maintain and cherish distinctness, not just now
but forever (Taylor, 1994, 40) implica reducir y atrofiar a las culturas.
Jeremy Walron ha descrito este proceso con lucidez: To preserve a
culture is often to take a favored snapshot version of it, and insist that
this version must persist at all cost, in its defined purity, irrespective of
the surrounding social, economic, and political circumstances (Waldron
1995, 109-110):
To preserve or protect it, or some favored version of it, artificially, in the
face of that change, is precisely to cripple the mechanisms of adaptation
and compromise (from warfare to commerce to amalgamation) with
which all societies confront the outside world. It is to preserve part of the
culture, but not what many would regard as its most fascination feature:
its ability to generate a history (Waldron, 1995, 110)
La realizacin de la aspiracin preservacionista implica transformar
a las culturas en objetos de museo. Los preservacionistas culturales
son como el guardia de museo que Amos Oz identifica y critica en
algunas interpretaciones del judasmo: El guardia de museo mantiene
hacia la herencia de su padre una relacin de culto: en puntas de pie
y con devocin ordena los objetos de la exposicin, limpia las vitrinas,
explica cuidadosamente el significado de los objetos particulares de la
coleccin, gua visitantes asombrados, gana nuevos adeptos y al final
de sus das quiere legar las llaves del museo a sus hijos (Oz, 1984, 114).
Un entendimiento como el descrito atrofia y encoge la fuerza creadora de
todas las culturas: Primero se puede renovar segn los viejas plantillas,
entonces se encoge la libertad a una libertad de interpretacin, luego
slo est permitido interpretar las interpretaciones de la interpretacin,
y finalmente lo nico que queda es cuidar y limpiar los objetos de
exposicin y las vitrinas (Oz, 1984, 114).
D. Loewe Algunas estructuras argumentativas ...
Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 30-51 41
4 El reconocimiento cultural
Una justificacin con una cargada tradicin filosfica recurre a la idea
del reconocimiento. Segn Charles Taylor, el debido reconocimiento
no es slo una cortesa que nosotros le debemos a la gente. l es una
necesidad humana vital (Taylor, 1994, 26). El respeto que les debemos
a los individuos implicara reconocer, tambin mediante mecanismos
jurdicos, su cultura o pertenencia cultural. El equiparar el reconocimiento
con una necesidad humana vital ha llevado en la literatura multicultural
a que se entienda el reconocimiento como una necesidad bsica que,
como otras necesidades bsicas, debe ser garantizado mediante los
principios generales de una teora de justicia. De acuerdo a la idea del
reconocimiento cultural debido, el sistema poltico debe reconocer las
identidades culturales tal como se reconoce la identidad cultural de la
mayora.
Sin duda los otros significativos juegan un rol fundamental en la
formacin de nuestra identidad. Nosotros dependemos de ellos en su
formacin. La identidad no es efectiva cuando el individuo simplemente
se hace una imagen de s mismo. La identidad es efectiva cuando los
otros se hacen una imagen de uno, en la que uno mismo se reconoce. La
identidad es un proceso abierto de negociacin entre la auto-imagen y
la imagen que nuestros partners se hacen de nosotros en los diferentes
contextos de interaccin social. En esta lnea argumentativa afirma
Taylor: el no-reconocimiento o el falso reconocimiento pueden causar
dao, pueden ser una forma de opresin, encarcelndonos en un modo
de ser falso, distorsionado y reducido (Taylor, 1994 25).
Primero: al afirmar que la falta de reconocimiento nos oprime, se
extiende el concepto de opresin hasta un punto en que pierde su
significado (o pasa a significar demasiadas cosas). Sartori pregunta
en forma retrica: si el reconocimiento frustrado es opresin, qu es,
entonces, la opresin que nos roba de nuestra libertad, que nos arroja
en prisin sin debido proceso o que nos extermina en un campo de
concentracin... es esto una y la misma cosa? (Sartori, 2000). La respuesta
es naturalmente que no son una y la misma cosa. El reconocimiento
inapropiado o insuficiente por parte de los otros nos puede frustrar,
nos puede hacer infelices o nos puede deprimir. Pero no nos oprime. Al
menos no, en tanto el concepto siga teniendo un significado inteligible.
Opresin refiere a robo de libertad y no se puede poner al mismo
nivel que depresin.
Segundo: en sociedades abiertas los individuos desarrollan numerosas
imgenes de s mismos. Por ejemplo, en relacin a los roles familiares,
al mundo del trabajo, a las creencias religiosas o no religiosas, a las
D. Loewe Algunas estructuras argumentativas ...
42 Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 30-51
posiciones polticas, a la pertenencia tnica, al lenguaje, al gnero o
a la orientacin sexual. Por tanto no es evidente que los individuos
dependan de una de sus identidades sociales (la relativa al grupo cultural
que debe ser protegida mediante derechos culturales) de un modo tan
fundamental, que el reconocimiento de esta identidad sea condicin del
auto-respeto. Por cierto es una pregunta abierta si y cmo todas esas
imgenes calzan en una imagen conjunta. Y es una pregunta emprica,
cmo el auto-respeto depende del reconocimiento de todos o cada uno de
los aspectos de la identidad: diversos aspectos de la identidad son para
diferentes individuos en diferentes momentos de la vida diferentemente
importantes. El problema no es slo que el auto-respeto es un estatus
del espritu demasiado vago y subjetivo como para poder fundar una
poltica pblica. Siguiendo a Nancy Rosenblum, el problema es que
cmo el reconocimiento, el falso reconocimiento o el no-reconocimiento
de los otros influyen en nuestro auto-respeto, depende de cun gruesa
es nuestra piel (Rosenblum, 1998, 91). Por lo tanto esta relacin es
emprica y no analtica como propone la poltica del reconocimiento. As
como hay que determinar de modo emprico la relacin entre identidad
y pertenencia a un grupo, hay que determinar tambin de un modo
emprico la relacin entre el auto-respeto y el reconocimiento por parte
de otros.
Tercero: esta tesis apunta en una direccin muy diferente a la que
parece ser apropiada para nuestro mundo. En sociedades abiertas,
en las que los individuos tienen numerosas imgenes de s mismos,
la capacidad de empata con otras identidades es central para poder
desarrollar una identidad estable (Meyer, 2001). En el trato con numerosas
y diversas expectativas es importante tener la capacidad de distanciarse
de los roles propios y mantener una posicin tolerante en relacin a las
ambigedades. En la poltica del reconocimiento encontramos justamente
lo contrario. Como Gitlin afirma en relacin a esta poltica: Muchos [de
sus] exponentes son fundamentalistas en el lenguaje de la academia
esencialistas y la creencia en diferencias fundamentales de grupos
se transforma fcilmente en una creencia en superioridad (Gitlin,
1996, 164).
Cuarto: al asociar reconocimiento social de la identidad con auto-
respeto, estas teoras ponen una carga demasiado pesada (en ocasiones
opresiva) en los individuos. Si yo no puedo tener auto-respeto sin el
reconocimiento de los otros, como dice la relacin analtica, luchar por
el propio reconocimiento o por el reconocimiento del grupo al que se
pertenece, se torna un imperativo moral. As, todos aquellos que no
luchan por el reconocimiento de su identidad cultural tendran un tipo
de falla moral (otros lo denominan falsa conciencia). Con las palabras
D. Loewe Algunas estructuras argumentativas ...
Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 30-51 43
de Rosenblum: a todos aquellos que no se oponen al tratamiento injusto
les faltara un ncleo moral o psicolgico (Rosenblum, en Gutmann,
1998, 92). Pero las repuestas individuales a la falta de reconocimiento o al
falso reconocimiento adquieren diferentes formas y no hay ninguna razn
para pensar, a priori, que algunas de estas formas implican una forma
menor de auto-respeto. A modo de ejemplo: segn estudios sociolgicos
mujeres y hombres afro-americanos en Estados Unidos han desarrollado
diferentes estrategias para lidiar con la discriminacin: Cuando el
hombre negro piensa que alguien le ha faltado el respeto o lo ha tratado
de un modo injusto tiende a mostrar su enojo, quizs porque es el nico
modo mediante el cual puede mantener su auto-respeto. Las mujeres
tienden menos a pensar que su auto-respeto requiera que ellas desafen
a sus jefes... Ellas se cuentan entre s historias acerca de cun injusto es
el comportamiento de su jefe o porqu ellas merecan la promocin que
otra persona recibi (Jencks, 1992, 48-9; la cita proviene de Rosenblum,
1998, 93-4). Las dos estrategias son diferentes. Sin embargo, las dos
pueden expresar auto-respeto. Evitar confrontaciones y as poder cumplir
con, por ejemplo, obligaciones familiares, puede expresar auto-respeto
del mismo modo que la estrategia de confrontacin.
5 Autonoma y contextos culturales
Una estrategia de justificacin de derechos culturales muy popular
en la actualidad sostiene que el entendimiento correcto de valores
centrales del pensamiento liberal nos debera llevar no slo a aceptar
derechos culturales, sino que a considerarlos parte del ncleo de la
doctrina. En esta lnea argumentativa recurre Will Kymlicka al valor de la
autonoma (que como vimos est en el ncleo del pensamiento liberal). La
autonoma individual requiere de ciertas condiciones para ser efectiva.
Segn Kymlicka, una de estas condiciones es la pertenencia a una cultura
rica y segura que ofrezca tanto opciones como criterios de valoracin.
Si las culturas estn siendo afectadas por la accin de terceros, estn
siendo amenazados los contextos que hacen posible la autonoma, y por
tanto est siendo amenazada la autonoma individual. De este modo,
la proteccin de la autonoma individual implicara la proteccin de las
culturas mediante derechos culturales.
Kymlicka recurre a la teora liberal igualitaria de Rawls y afirma que
su correcto y consecuente entendimiento implicara la inclusin de la
pertenencia cultural en la lista de bienes primarios. Kymlicka rechaza
las interpretaciones comunitaristas: si bien decidimos autnomamente
(y no somos slo expresin de valores comunitarios), decidimos en
relacin a las opciones disponibles en un contexto de eleccin definido
D. Loewe Algunas estructuras argumentativas ...
44 Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 30-51
en forma cultural: el rango de opciones est determinado por nuestra
herencia cultural (Kymlicka, 1989, 165). Segn Kymlicka, el lenguaje y la
historia de nuestra cultura permiten que lleguemos a ser concientes de
las opciones disponibles y de su significado (Kymlicka, 1989, 165). As la
pertenencia a una estructura cultural rica y segura sera una condicin
necesaria para poder formar, revisar y perseguir una concepcin del bien
lo que segn Rawls corresponde a un inters superior. Por lo tanto los
participantes en la posicin original consideraran la pertenencia cultural
como un bien primario que debe ser garantizado mediante principios de
justicia porque posibilita el desarrollo de nuestra concepcin del bien y
de nuestros planes de vida.
Problemtico en este tipo de argumentaciones es que no es en
forma alguna evidente que un contexto cultural singular acotado sea
necesario para actuar autnomamente. Si bien requerimos de elementos
culturales para decidir, estos pueden provenir de fuentes diversas (el
cosmopolitismo est a la vuelta de la esquina). Expresado de otro modo:
de la tesis de que cada opcin tiene un significado cultural no se sigue
que deba haber un contexto cultural definido mediante lenguaje e
historia que le de un sentido a todas las opciones disponibles. Esto es lo
que Waldron ha criticado como la falacia de composicin en el argumento
de Kymlicka (Waldron, 1995, 106). Opciones valiosas pueden provenir
de fuentes culturales diversas: los materiales estn simplemente
disponibles desde todos los rincones del mundo, en cuanto fragmentos,
imgenes y trozos de relatos con mayor o menor significado (Waldron,
1995, 108). Su significado consiste, parcialmente, en las incontables
interpretaciones que se han realizado de stas opciones en contextos
superpuestos. Por tanto, la construccin del mundo social realizada por
Kymlicka como un espacio claramente dividido entre culturas singulares
no parece ser apropiada. Lo nico que el argumento de Kymlicka puede
establecer es que requerimos de materiales culturales para tomar
nuestras decisiones y formar, revisar y perseguir una concepcin
del bien. Pero este argumento no puede establecer que tenga que
haber una estructura cultural (definida por lenguaje e historia) que
abarque todas las opciones disponibles y les otorgue un valor. Y la
posibilidad alternativa de definir esta estructura cultural en relacin
a todo aquello que est disponible, vaca este concepto de cualquier
sentido. Pero si nuestro conjunto de opciones y criterios valorativos
no estn determinados por nuestra herencia cultural, entonces la
posibilidad de actuar autnomamente no depende de la pertenencia a un
contexto cultural rico y seguro. Por lo tanto, y contra la tesis de Kymlicka,
para asegurar la autonoma de los individuos no requerimos de derechos
culturales.
D. Loewe Algunas estructuras argumentativas ...
Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 30-51 45
6 Igualdad y cultura
Una estrategia argumentativa que en ocasiones se asocia con la
recin sealada, recurre a otro valor liberal fundamental: la igualdad,
y sostiene que tomar este valor en serio conlleva la aceptacin de
derechos culturales. De acuerdo a esta argumentacin, las reglas y
normas en cualquier sociedad no son neutrales. Por el contrario, ellas
desaventajan a ciertas culturas o individuos en razn de su pertenencia
cultural y aventajan a otros (normalmente pertenecientes a las culturas
mayoritarias). De este modo, garantizar la igualdad implicara otorgar
derechos especiales. Con stos los miembros de culturas desaventajadas
por las normas no-neutrales de la sociedad tendran acceso a la igualdad
de oportunidades. O expresado con los trminos de Parekh, se requiere de
un entendimiento culturalmente sensitivo de la igualdad (Parekh, 2000).
Esta argumentacin es atractiva, pero adolece de dificultades serias.
En primer lugar, la neutralidad liberal no es neutralidad de resultados,
como esta argumentacin presupone. A menos que los liberales sean
cretinos inmejorables es absurdo criticar a la doctrina liberal porque no
podra ofrecer un punto igualmente equidistante de todos los dems. El
liberalismo, y ciertamente tambin el liberalismo poltico, propone una
concepcin normativa. El sentido de la neutralidad refiere a los modos de
justificacin: no podemos favorecer o desfavorecer a ciertos individuos
o formas de vida porque estos individuos o formas de vida son ms o
menos valiosas (Ackerman, 1980). Rawls refiere, de un modo algo
distinto, a neutrality of aim (Rawls, 1993).
En segundo lugar, afirmar que el impacto desigual de normas
generales en diferentes formas de vida es por s mismo injusto, desconoce
que cualquier norma general aventaja a algunos ms que a otros, pero
no por esto es injusta. Incluso ms, el impacto desigual es lo que en
determinadas circunstancias puede tornarla justa: el impuesto al tabaco
desaventaja ms a los fumadores que a los no fumadores de hecho,
estos ltimos se ven favorecidos. Lmites de velocidad desaventajan
a todos aquellos que gustan de la velocidad, pero no a todos aquellos
que de cualquier modo conduciran de un modo prudente. Resumiendo:
el impacto desigual de una regla no implica que sea injusta. Por cierto,
puede ser un indicio de injusticia. Pero en este caso hay que mostrar con
un examen cuidadoso en qu consiste la injusticia (Barry, 2001).
En tercer lugar, la interpretacin sensitiva de la igualdad debe recurrir
a la tesis de que las preferencias con una base cultural o religiosa tienen
un estatus especial. Pero no parecen haber razones concluyentes para
considerar las preferencias con un origen cultural como diferentes de las
sin este origen de un modo moralmente relevante que justifique derechos
D. Loewe Algunas estructuras argumentativas ...
46 Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 30-51
culturales para satisfacer a las primeras pero no a las segundas. Es acaso
el vegetarianismo de un budista moralmente ms relevante que el mo
que se basa en razones morales? Es acaso la objecin de conciencia
que recurre a motivos religiosos ms respetable que la de aquel que se
opone secularmente a una guerra particular por considerarla injusta?
Consideremos algunos argumentos articulados para justificar esta
supuesta prioridad:
Un argumento corriente a favor de la prioridad de las preferencias culturales
y religiosas es que su frustracin implicara costos particularmente altos.
Este argumento tiene sentido sobre todo en el caso de preferencias
religiosas que suelen asociarse con costos infinitos. Para un Amish est
en juego la salvacin del alma si es que conduce un carro brillante y veloz.
Pero el argumento no es conclusivo. Aquel que contra su conciencia moral
secular debe participar en una guerra injusta en la que puede morir y
sobre todo, matar, debe llevar con una gran carga, sin duda superior a
la de un judo o un musulmn que no come carne porque el sacrificio
ritual de animales (sechita o Halah) no est permitido en una jurisdiccin
particular. Si este argumento puede probar algo, es que hay diferencias
cuantitativas en los costos que surgen debido a la frustracin en la
satisfaccin de preferencias. Pero este argumento no puede explicar que
haya una diferencia cualitativa entre las preferencias con origen cultural
o religioso y las sin este origen, que permita favorecer a las primeras
pero no a las segundas.
Otra argumentacin para distinguir las preferencias con un origen
religioso de otras sin este origen, es afirmar que las primeras, a diferencia
de las segundas, no son escogidas. Por lo tanto no se debe ser considerado
moralmente responsable por los costos que su satisfaccin implica. Sin
embargo, este argumento tampoco puede justificar esta diferenciacin.
Primero: no es claro en qu sentido escogemos nuestras preferencias:
He escogido mi preferencia por helado de chocolate por sobre helado de
vainilla? Preferencias tienen una persistencia psicolgica independiente
de mis acciones. Lo que hago, es escoger un determinado curso de accin
(lo que los economistas llaman preferencias reveladas): comer kosher,
o asistir a misa los domingos como es la obligacin de un catlico, etc.
Pero en esta eleccin por un curso de accin no hay diferencia alguna
con las elecciones que realizan individuos en base a razones seculares:
asistir a los partidos de baloncesto los martes en la maana, etc. Si esto
es as, no se entiende porque debiese ser privilegiada la realizacin de
un curso de accin cultural o religioso por sobre uno que no lo es.
Hasta un determinado punto s se puede establecer una diferencia: la
no satisfaccin de preferencias culturales y sobre todo religiosas mediante
D. Loewe Algunas estructuras argumentativas ...
Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 30-51 47
la no realizacin de las prcticas correspondientes puede violar la libertad
de conciencia. Ciertamente, el valor de la libertad de conciencia es central
no slo desde una perspectiva liberal. La conciencia de cada cual refiere
a temas ltimos acerca de la existencia humana y nuestro lugar en el
cosmos, y de este modo otorga valor a nuestra vida hacindonos seres
humanos ntegros. Dentro de los aspectos ms importantes de una vida
humana est el ser capaz de buscar un entendimiento del significado
ltimo de la vida.
2
Por el contrario, bajo condiciones normales no asistir al
juego de baloncesto los martes en la maana no parece violar la libertad
de conciencia de nadie. Por lo tanto, y en relacin a los costos implicados,
se podra justificar sancionar un marco de libertad ms amplio en el primer
caso mediante el reconocimiento de derechos culturales (por ejemplo
excepciones de reglas generales relativas a los horarios de un maestro
de tiempo completo (Ahmad v Inner London Education Authority [1978]))
pero no en el segundo aunque ciertamente el amante de baloncesto
preferira disponer de una excepcin que lo libere de las reglas relativas
a los horarios de trabajo para poder practicar su deporte los martes
en la maana. Pero aunque esto sea as y hay buenas razones para
sostenerlo , de esto no se deducen razones para privilegiar la libertad
de conciencia religiosa o cultural por sobre la libertad de conciencia
secular. La proteccin de la conciencia no se agota con la proteccin de
la libertad religiosa o cultural. En nuestras sociedades plurales muchos
individuos tienen una conciencia moral secular. Si se protege mediante
excepciones la libertad de conciencia de los primeros, tambin se debe
proteger la de los segundos.
Segundo: de muchos individuos que han sido socializados en ciertos
enclaves de estilos de vida no podemos decir que hayan escogido sus
preferencias, al menos no de un modo que se distinga de los miembros
de grupos culturales y religiosos. Si esto es as, entonces no se puede
justificar una consideracin cualitativamente diferente de estos dos tipos
de pertenencia. Pero en general, los defensores de derechos culturales
no estn a favor de derechos culturales en razn de la perteneca a un
enclave de estilo de vida: vida aristocrtica y buclica, new age, etc., sino
que consideran que, a diferencia de los miembros de grupos culturales y
religiosos, los individuos que pertenecen a estos enclaves deben cargar
con los costos de sus propias preferencias.
Tercero: si lo que genera una diferencia cualitativa entre los dos
tipos de preferencia es que las con una base cultural o religiosa no son
escogidas, esta teora no puede dar cuenta de las preferencias culturales
2
Martha Nussbaum argumenta insistentemente a favor de esta tesis en su interpretacin
del enfoque en las capacidades (2000; 2006; 2007; 2008).
D. Loewe Algunas estructuras argumentativas ...
48 Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 30-51
o religiosas de todos aquellos que s han escogido (en el sentido limitado
que se le puede dar a este acto de libertad) su pertenencia cultural y
religiosa, como advenedizos y conversos. As, por ejemplo, slo aquellos
que han nacido o han sido socializados como musulmanes tendran
una demanda legtima a una excepcin para faltar los viernes en la tarde
a su obligacin de maestro de escuela de tiempo completo para poder
asistir a la mezquita, pero no un converso al islam; y slo los indgenas
americanos nacidos y socializados como tal tendran una demanda
legtima a consumir peyote (un alucingeno de mezcalina), pero no
advenedizos. Esto es ciertamente arbitrario.
Cuarto: hay pertenecas culturales que no son no-escogidas, y que
sin embargo desde la ptica de los defensores de derechos culturales
s generaran demandas legtimas a derechos culturales. Por ejemplo,
la demanda de los Rastafaris para consumir marihuana en sus sesiones
reflexivas. Si lo que les otorga un estatus especial a las preferencias con
un origen cultural es que no fueron escogidas, entonces Rastafaris y
otros grupos de adscripcin voluntaria no tendran demandas legtimas
a derechos culturales.
En cuarto lugar, un entendimiento culturalmente sensitivo de la
igualdad de oportunidades, como el que Parekh (2000) propone, se basa
en un malentendido acerca de lo que es la igualdad de oportunidades:
una discapacidad fsica o la falta de poder econmico pueden limitar
el conjunto de nuestras oportunidades disponibles. Es por esto que
en un contexto liberal igualitario se puede argumentar a favor de una
compensacin (utilizando el lenguaje de Dworkin) de usuarios de sillas
de rueda, etc. o incluso a favor de derechos sociales que garanticen
libertades sustantivas, como propone Amartya Sen (1999), o el igual valor
de la libertad, como propone Rawls. Esto sera necesario para igualar lo
ms posible el conjunto de oportunidades disponibles. Pero una creencia
cultural no limita nuestro conjunto de oportunidades, sino que actualiza
algunas y no otras pero las oportunidades siguen siendo las mismas
para todos (Barry, 2001). Al no notarlo, no slo articulamos una mala
teora, sino que una que es ofensiva para todas las partes involucradas:
no realizar esta diferenciacin implica afirmar que la situacin de una
mujer que no puede tener relaciones sexuales a causa de una mutilacin
genital femenina es la misma que la de una mujer que no las tiene en
razn de creencias religiosas.
7 Consideracionesfnales
Derechos culturales son una realidad tanto en el contexto del derecho
internacional como en las jurisdicciones nacionales y ciertamente en la
D. Loewe Algunas estructuras argumentativas ...
Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 30-51 49
implementacin de polticas pblicas. La facticidad se impone. En este
texto he discutido algunas de las justificaciones de derechos culturales
y las he contrastado con el pensamiento liberal. Ninguna estrategia de
justificacin es pura. Normalmente son varios los modelos que trabajan
en conjunto para generar un argumento. Las justificaciones enunciadas
tampoco cubren la gama completa. Sin embargo, la referencia a stas nos
sirve para notar que estamos en medio de un campo de tensin.
Ciertamente tambin se articulan argumentos de tipo pragmtico a
favor de derechos culturales. Mantener la estabilidad, la cooperacin y en
definitiva la paz social puede implicar, en determinadas circunstancias,
aceptar derechos culturales. Aqu prima la necesidad, y la tarea es hacer
de sta un arte. Contra este tipo de argumentos no hay contraargumentos
de principio. Cualquier contraargumento tiene que demostrar el carcter
falso de la supuesta necesidad o mostrar porque el remedio propuesto
es peor que la enfermedad. Y si este contraargumento no es posible,
entonces aceptar derechos culturales puede ser un imperativo poltico.
Pero esto no implica ni que la doctrina liberal sea incorrecta, ni que los
derechos culturales se desprendan de un buen entendimiento de la
doctrina liberal. De acuerdo al anlisis realizado, derechos culturales son
un tipo de privilegio. Pero la doctrina liberal sospecha de los privilegios, y
por lo tanto sostiene que todo privilegio debe ser justificado. Sin embargo,
los argumentos examinados a favor de derechos culturales no logran
justificar los privilegios generados.
Referencias
Ackerman (1980): Social Justice in the Liberal State (Yale University Press: New
Haven, London).
Barry, B. (2001): Culture and Equality. An Egalitarian Critique of Multiculturalism
(Polity Press).
Dworkin, R. (1978): Taking Rights Seriously (Harvard University Press).
Fish, S. (1998): Boutique Multiculturalism, en Melzer/Weinberger/Zinman (editores):
Multiculturalism and American Democracy (University Press of Kansas).
Gitlin, Todd: The Twilight Of Common Dreams: Why America Is Wracked By Culture
Wars (Henry Holt & Company 1996).
Habermas, J. (1981): Theorie des kommunikativen Handelns (Suhrkamp, Frankfurt/M.).
Jencks, Ch. (1992): Rethinking Social Policy: Race, Poverty, and the Underclass
(Harvard University Press).
Kymlicka, Will (1989): Liberalism, Community and Culture (Oxford University Press).
Kymlicka, Will (1995): Multicultural Citizenship (Oxford University Press)
Kymlicka, Will (ed.) (1995): The Rights of Minority Cultures (Oxford University
Press).
D. Loewe Algunas estructuras argumentativas ...
50 Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 30-51
Locke, J. (1988): Two Treatises of Government, editado por Peter Laslett (Cambridge
University Press).
Marshall, T.H. (1992 (1950)): Citizenship and Social Class (Pluto Press, London).
Meyer, Th. (2001): Identity Mania. The Politicization Of Cultural Difference (London
2001).
Mill, J.S. (2000): On Liberty (Cambridge University Press).
Miller, D. (1995): On Nationality (Oxford University Press).
Nozick, R. (1974): Anarchy, State and Utopia (Oxford, University Press).
Nussbaum, M. (1999): Sex and Social Justice (New York: Oxford University Press
1999).
Nussbaum, M. (2000): Women and Human Development (Cambridge University Press).
Nussbaum, M (2006): Frontiers of Justice: Disability, Nationality, Species Membership,
(Harvard University Press, Cambridge, Mass.).
Nussbaum, M. (2007): The Clash Within. Democracy, Religious Violence, and Indias
Future (Harvard University Press, Cambridge, Mass.).
Nussbaum, M. (2008): Liberty of Conscience. In Defense of Americans Tradition of
Religious Equality (Basic Books, New York).
Okin, Susan Moller (1999): Is Multiculturalism Bad for Women?, en: Cohen/ Howard/
Nussbaum (eds.): Is Multiculturalism Bad for Women? Susan Moller Okin With
Respondents (Princeton University Press).
Oz, A. (1984): Im Lande Israel (Suhrkamp, Frankfurt am Main).
Parekh, B. (2000): Rethinking Multiculturalism. Cultural Diversity and Political theory
(MacMillan Press).
Passmore, J. (1995): The Preservationist Syndrome, (The Journal of Political
Philosophy, Vol.3, No1, 1-22).
Poulter, Sebastian (1987): Ethnic Minority Customs, English Law, and Human
Rights, en: International and Comparative Law Quarterly 36, 3 (1987): 589-61.
Rawls, J. (1971): A Theory of Justice (Harvard University Press).
Rawls, J. (1993): Political Liberalism (Columbia University Press).
Rosenblum, en Gutmann (ed.) 1998.
Rosenblum, N. (1998): Compelled Association: Public Standing, Self-Respect, and
the Dynamic of Exclusion, en: Gutmann (ed.): Freedom of Association (Princeton
University Press).
Sandel, M. (1982): Liberalism and the Limits of Justice (Cambridge University
Press).
Sartori, G. (2000): Pluralismo, Multiculturalismo e Estranei (Rizzoli, 2000).
Sen, Amartya (1999): Development as Freedom (New York: Anchor Books).
Sen, Amartya (2006): Identity and Violence. The Illusion of Destiny (W. W. Norton,
New York, London).
Taylor, Ch. (1994): The Politics of Recognition, en Amy Gutmann (ed.): Multiculturalism
(Princeton University Press).
D. Loewe Algunas estructuras argumentativas ...
Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 30-51 51
Tully, James: Strange Multiplicity. Constitutionalism in an Age of Diversity (Cambridge
University Press 1995).
Waldron, J. (1995): Minority Cultures and the Cosmopolitan Alternative, en:
Kymlicka (ed.): The Rights of Minority Cultures (Oxford University Press, 1995).
Walzer, Michael (1983): Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Justice (Basic
Books).
Westin, Ch. (1998): Temporal and Spatial Aspects of Multiculturality, en Baubck/
Rundell (eds.): Blurred Boundaries: Migration, Ethnicity, Citizenship (Aldershot:
Ashgate).
Young, I.M. (1990): Justice and the Politics of Difference (Princeton University
Press).
3
Veritas Porto Alegre v. 56 n. 1 jan./abr. 2011 p. 52-63
Democracia Deliberativa:
entre rawls e Habermas
Deliberative Democracy:
between rawls anD Habermas
luiz Paulo rouanet*
RESUMO Democracia deliberativa consiste em uma proposta de
tomada de decises, em sociedades democrticas, por meio de
deliberao, como alternativa preferencial em face de mecanismos
de votao. Esta comunicao pretende avaliar criticamente alguns
mecanismos de democracia deliberativa, bem como levantar o estado
da discusso a esse respeito e, por fim, estudar sua viabilidade em
alguns pases especficos, entre eles o Brasil.
PALAVRAS-CHAVE Democracia. Deliberao. Teoria democrtica.
ABSTRACT Deliberative democracy consists in a proposal of decision
taking, in democratic societies, by means of deliberation, as preferential
alternative to ballot systems. This paper intends, in the first place, to
make a critical assessment of some of the mechanisms of deliberative
democracy; it intends as well to show the state of the discussion
thereof and, finally, to study its viability in some countries, especially
in Brazil.
KEYWORDS Democracy. Deliberation. Democratic Theory.
Introduo
Estou interessado aqui apenas na democracia constitucional
bem-ordenada [...], entendida tambm como democracia
deliberativa (J. Rawls, A ideia de razo pblica revisitada).
1
* Professor da PUC-Campinas. E-mail: <lrouanet@terra.com.br>.
1
Cito a partir da traduo de Denilson Luis Werle e Rurion S. Melo, in: Denilson L. WERLE
e Rrion S. MELO (org.), Democracia deliberativa. So Paulo: Singular/Esfera Pblica,
2007, p. 145-192, p. 152. Para o original, John RAWLS, The Law of Peoples, including
L.P. Rouanet Democracia deliberativa: entre Rawls e Habermas
Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 52-63 53
Assim como acontece com o prprio conceito de democracia, a
concepo de democracia deliberativa abrange diversos autores e
correntes. Tomarei como seus principais representantes John Rawls e
Jrgen Habermas, embora diversos autores tenham tratado do tema
e incorporado em seu vocabulrio as concepes do que se entende
normalmente como democracia deliberativa
2
. Dada a amplitude do tema,
portanto, limitar-me-ei a analisar a concepo de democracia deliberativa
em Rawls e Habermas, fazendo, aqui e ali, referncia a outros autores.
Para o restante, remeto para a bibliografia indicada.
Para fins da diviso do texto, analisarei em primeiro lugar (I) a
concepo de democracia constitucional bem-ordenada, segundo o
que se pode depreender da obra de John Rawls. Em segundo lugar,
(II) examinarei, brevemente, algumas das consideraes feitas por
Habermas a respeito da democracia deliberativa, ou da poltica
deliberativa; em terceiro lugar, (III) retomarei aspectos da teoria da justia
como equidade, de John Rawls. Por ltimo, em concluso, discutirei a
viabilidade, e a desejabilidade, de sua aplicao no Brasil e no mundo.
I
Democracia bem-ordenada ou democracia constitucional bem-
ordenada
3
. Antes de mais nada, convm examinar o que Rawls entende,
em 1971, por racionalidade deliberativa. Convm lembrar que Rawls,
em TJ, baseia-se ainda na teoria da escolha racional, a qual ele coloca
em questo em 1985, em Justia como equidade: uma concepo
poltica, no metafsica
4
, e em uma concepo forte de racionalidade,
The idea of public reason revisited, Cambridge, Mass.; London, UK: Harvard University
Press, 1999; republicado em John RAWLS, Collected papers, ed. Samuel Freeman,
Cambridge, Mass.; London, UK: Harvard University Press, 1999. Cf. Luiz P. ROUANET,
A ideia de razo pblica em Rawls, in Alberto O. CUPANI; Csar A. MORTARI (org.),
Linguagem e Filosofia Anais do II Simpsio Internacional Principia. Florianpolis: NEL/
UFSC: 2002, p. 283-296.
2
Ver, entre outros, Jon ELSTER (ed.), Deliberative democracy. Cambridge, UK: Cambridge
University Press, 1998; Amy GUTMANN; Dennis THOMPSON. Why deliberative
democracy. Princeton, NJ/Oxford, UK: Princeton University Press, 2004.
3
Consulte-se o ndex de J. RAWLS, A Theory of Justice [daqui por diante TJ]. Cambridge,
Mass.: Harvard University Press, 1971, para o termo well-ordered society. No aparece
o termo deliberative democracy, embora aparea deliberative rationality. Em J.
RAWLS, Political liberalism [daqui por diante PL], New York: Columbia University Press,
1996, o termo deliberative democracy aparece uma nica vez, p. 430. No aparece
o termo well-ordered constitutional democracy em nenhum dos dois.
4
CP, p. 388-414, em especial p. 401, nota 20: The Reasonable [...] is prior to the Rational,
and this gives the priority of right. Thus, it was an error in TJ (and a very misleading
one) to describe a theory of justice as part of the theory of rational choice [...].
L.P. Rouanet Democracia deliberativa: entre Rawls e Habermas
54 Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 52-63
isto , ainda no havia introduzido a distino entre racionalidade e
razoabilidade. Levando isto em conta, a concepo apresentada parte
de um agente, isto , de um indivduo racional, que busca a maximizao
de seus interesses como forma de realizao de seus planos de vida. De
certa forma, acaba caindo em uma forma de utilitarismo. A concepo
que vai defender depois, e que fica mais clara em Liberalismo poltico e
em outros textos, abre mais espao para a subjetividade e, por esta via,
para a deciso coletiva, para o equilbrio reflexivo, mesmo que seja,
ainda, a partir do indivduo e no, como em Habermas, por meio de uma
prtica intersubjetiva.
Feitas essas ressalvas, Rawls parte de uma ideia de Sidgwick, que
procura caracterizar o bem futuro da pessoa a partir do que ela deseja
no presente. Isto implica que ela tenha conhecimento, hoje, de tudo
o que envolve sua situao futura, que ela domine as variveis que
podero afetar o seu bem-estar projetivamente. Nas palavras de Rawls,
o plano racional para uma pessoa aquele (entre aqueles compatveis
com os princpios que contam e outros princpios da escolha racional
uma vez estabelecidos) que ele escolheria com racionalidade deli-
berativa
5
.
A deliberao racional extremamente circunscrita. Pode-se chegar
concluso de que a reflexo sobre determinada questo, por exemplo, no
vale a pena, ou no vale o esforo empregado, numa verso modificada
da navalha de Okham: A regra formal que devemos deliberar at o
ponto em que os provveis benefcios de melhorar nosso plano valem o
tempo e o esforo de reflexo empregados
6
. O processo de deciso no
um fim em si, como, muitas vezes, parece ser o caso em outras teorias:
O bem como racionalidade [goodness as rationality] no atribui qualquer
valor especial ao processo de deciso
7
.
Outro aspecto que vale a pena comentar, no que concerne concepo
de racionalidade deliberativa em Rawls, que se trabalha com a ideia
de que desejamos melhorar nossas condies de vida (ou de nossos
descendentes, acrescento eu). Esta ideia est correlacionada ao princpio
aristotlico, tratado na seo seguinte, 65, e que no abordarei aqui, mas
que pressupe a meta de complexificao de nossas atividades; em outros
termos, que o ser humano deseja aumentar a complexidade das tarefas
que exerce
8
. A ideia de Sidgwick, adaptada por Rawls, transforma-se no
5
TJ, 64, p. 417. As tradues so minhas, salvo indicao em contrrio.
6
TJ, p. 418.
7
Ibidem.
8
Para uma definio, veja-se p. 426: (...) other things equal, human beings enjoy the
exercise of their realized capacities (their innate or trained abilities), ad this enjoyment
increases the more the capacity is realized, or the greater its complexity.
L.P. Rouanet Democracia deliberativa: entre Rawls e Habermas
Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 52-63 55
seguinte: nosso bem determinado pelo plano de vida que adotaramos
com racionalidade deliberativa plena se o futuro fosse adequadamente
previsto e adequadamente realizado na imaginao
9
.
com base nessa teoria da escolha que se define o objetivo da teoria
do bem como racionalidade, a saber, fornecer um critrio de referncia
para o plano racional que seria escolhido com racionalidade deliberativa
plena
10
.
O que alteraria esta viso, na obra posterior de Rawls, a introduo
da razoabilidade, que implica a ideia de que o plano no s tem que
promover os seus prprios interesses como tem que poder ser defendido,
de maneira argumentativa, em pblico, o que introduz exatamente a ideia
de equilbrio reflexivo, acima referida. Isto remete para a importante
ideia de razo pblica. No por acaso, Habermas, em 1995, refere-se
possvel conciliao entre suas teorias respectivas por meio da ideia de
razo pblica
11
.
A fim de aproximar-me do tema desta seo, a democracia
constitucional bem-ordenada, recorrerei a outro livro de Rawls, escrito
mais de 20 anos depois, e que contm sua viso modificada da teoria da
justia como equidade, no mais como viso geral, mas na perspectiva
do liberalismo: Liberalismo poltico. Especificamente, no 6 dessa obra,
Rawls aborda o tema da sociedade bem-ordenada. Partamos de sua
caracterizao:
Dizer que uma sociedade bem-ordenada significa trs coisas: primeira
(e implicada pela ideia de uma concepo publicamente reconhecida de
justia), uma sociedade na qual cada um aceita, e sabe que todos os
outros aceitam, exatamente os mesmos princpios de justia; e segunda
(implicada pela ideia da regulao efetiva de tal concepo), sua estrutura
bsica ou seja, suas principais instituies polticas e sociais e como
elas se ajustam como um sistema nico de cooperao publicamente
tida, ou tem-se boas razes para acreditar nisso, como satisfazendo a
esses princpios. E terceira, seus cidados possuem um senso de justia
normalmente eficaz e desse modo eles geralmente acatam as instituies
bsicas da sociedade, que eles encaram como justas.
12
9
TJ, p. 421.
10
TJ, p. 423.
11
Ver HABERMAS, J. Reconciliation through the public use of reason: remarks on John
Rawlss political liberalism, The Journal of Philosophy, v. XCII, n. 3, maro 1995; cf.,
no mesmo nmero, de J. RAWLS, Reply to Habermas. Cf, Luiz P. ROUANET, O debate
Habermas-Rawls de 1995: uma apresentao, Reflexo, ano XXV, n.
.
78, 2000, p. 111-117.
12
PL, 6, p. 35.
L.P. Rouanet Democracia deliberativa: entre Rawls e Habermas
56 Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 52-63
H vrias ideias implicadas nesse pargrafo, e que sero oportunamente
desenvolvidas por Rawls: a ideia de estabilidade, o fato do pluralismo
razovel, a noo de estrutura bsica, para citar apenas algumas. Voltarei
a tratar disso na seo III deste texto.
Destaca-se, antes de mais nada, que a identificao entre democracia
deliberativa e democracia constitucional bem-ordenada aponta para
o carter ideal dessa concepo, o que pode levantar o mesmo tipo
de crticas que se fez Teoria da ao comunicativa de Habermas em
suas primeiras verses. No entanto, enquanto balo de ensaio, essa
teoria digo, de Rawls mostra, par dfault, aquilo de que se carece
nas sociedades imperfeitamente ordenadas, para utilizar a expresso
de Rawls.
O que parece implicar essa identificao, alm disso, que a
deliberao faz parte do processo da democracia constitucional bem-
ordenada, ou seja, que ela est presente em todas as suas etapas e se
estende poca atual. De fato, ela est presente nas quatro etapas,
desde (1) a posio original e a escolha, pelos agentes, dos princpios
que nortearo a sociedade do futuro para que ela seja considerada justa;
em seguida, (2) a etapa da elaborao da constituio, de acordo com
os princpios princpio da liberdade igual para todos e princpio da
diferena encontrados na primeira etapa; depois, (3) vem a etapa da
legislatura, na qual as leis especficas so votadas, de acordo com o que
foi decidido nas etapas 1 e 2; finalmente, (4) passa-se aplicao das
leis aos casos particulares por parte de juzes e administradores, bem
como obedincia s leis por parte dos cidados.
13
importante destacar que o vu de ignorncia progressivamente
retirado, at sua ausncia completa na etapa 4. Isto necessrio para uma
concepo que assume a justia procedimental imperfeita. Uma vez que
a teoria da justia como equidade parte da prioridade do justo sobre o
bem, ela no pode aderir a uma justia procedimental perfeita, mesmo su-
pondo que ela seja possvel, o que no parece ser o caso segundo
Rawls.
O objetivo dessa exposio sucinta da sequncia de quatro estgios
na TJE (Teoria da Justia como Equidade) era demonstrar a presena,
em todas as etapas, da deliberao, inicialmente com abstrao total das
condies e chances respectivas dos participantes, at o conhecimento
completo de todos os interesses envolvidos por parte dos agentes, ou
pelo menos aqueles envolvidos na deliberao.
13
Cf. TJ, 31, p. 195-201 do original de 1971.
L.P. Rouanet Democracia deliberativa: entre Rawls e Habermas
Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 52-63 57
II
Adotarei como texto central, para os fins desta anlise da poltica
deliberativa, o captulo VII de Faktizitt und Geltung
14
, intitulado Poltica
deliberativa Um conceito procedimental de democracia. Para comear,
preciso admitir: Habermas acabou inflacionando o pensamento poltico,
tornando-o demasiado complexo para poder ser acompanhado por pessoas
comuns. Desenvolveu um jargo autorreferencial, ou sobrecarregado
de referncias a outros autores, o que torna difcil, seno impossvel,
apreender o que ele quer dizer ao certo. O que se segue uma tentativa
de extrair elementos para a discusso do tema da poltica deliberativa,
mas no significa que Habermas seja o nico, ou mesmo o autor central
a tratar do tema.
Feita essa ressalva, na medida em que a Teoria da ao comunicativa,
que por sua vez se baseia na tica discursiva, tem por princpio basilar
a argumentao racional, ela passa a constituir a prpria teoria da
poltica deliberativa. Porm, segundo Habermas, o processo da poltica
deliberativa constitui o mago do processo democrtico
15
. Para que
isso no se transforme num trusmo, portanto, preciso rapidamente
esclarecer que h perspectivas diferentes, em que variam o grau de
participao popular nos processos deliberativos. Haveria, segundo
Habermas, uma concepo mais restrita, liberal, e uma mais ampla,
republicana. A teoria do discurso, segundo ele, assimila elementos de
ambos os lados, integrando-os no conceito de um procedimento ideal
para a deliberao e a tomada de deciso
16
.
O problema pode ser a questo de definir qual seria esse espao no
qual ocorreria o processo comunicativo mediante um procedimento
ideal. Esse processo pressupe um nvel superior de discusso:
A teoria do discurso conta com a intersubjetividade de processos de
entendimento, situada num nvel superior, os quais se realizam atravs
de procedimentos democrticos ou na rede comunicacional de esferas
pblicas polticas
17
. Qual esse nvel superior? a Universidade,
um tribunal, a Cmara? Habermas no define. Como j mostrei em
outro lugar, sua concepo de esfera pblica bastante abrangente,
diferentemente de Rawls, para quem essa esfera definida pelos
14
Jrgen HABERMAS, Faktzitt und Geltung: Beitrge zur Diskurstheorie des Rechts
und des demokratischen Rechtsstaats. 4 ed. Frankfurt/M: Surhrkamp, 1994; Direito e
democracia: entre facticidade e norma. v. II, trad. Flvio Sibeneichler. Rio de Janeiro:
Tempo Brasileiro, 1997.
15
Direito e democracia, op. cit., v. II, p. 18.
16
Idem, ibidem, p. 19.
17
Idem, ibidem, p. 21-22.
L.P. Rouanet Democracia deliberativa: entre Rawls e Habermas
58 Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 52-63
governantes, juzes, parlamentares e o povo quando chamado a votar ou
a participar de um referendo ou plebiscito
18
.
a partir da que a teoria de Habermas comea a se complicar des-
necessariamente. A cada nova distino introduzida, mais complexa
fica a teoria e, tambm, mais distante da realidade. um paradoxo
do qual a filosofia no consegue sair. A opo adotada por Habermas,
contudo, vai na direo oposta da simplificao. Isto expressa-
mente assumido por ele: Na sua prpria viso, a poltica deliberativa
continua fazendo parte de uma sociedade complexa, a qual se subtrai,
enquanto totalidade, da interpretao normativa da teoria do direito
19
.
Em outros termos, Habermas sabe dos limites de sua abordagem: sua
discusso meramente terica, sem perspectivas prticas. Reconhe-
cendo o hiato entre teoria e prtica, renuncia, de certa forma, a esta
ltima; a opo de Rawls exatamente a inversa
20
. Em ltima ins-
tncia, sua defesa do processo deliberativo constitui uma espcie de
ato de f:
[...] numa sociedade secularizada, que aprendeu a enfrentar cons-
cientemente a sua complexidade, a soluo comunicativa desses conflitos
forma a nica fonte possvel para uma solidariedade entre estranhos
entre estranhos que renunciam violncia e que, ao regularem
cooperativamente sua convivncia, tambm se reconhecem mutuamente
o direito de permanecer estranhos entre si.
21
H em outros termos, uma opo pelo dilogo, superando as convices
morais pessoais, ou comunitrias, numa sociedade na qual o justo tem
prioridade sobre o bem, nesse ponto, como em Rawls: Neutralidade
significa [...] que o justo, fundamentado na lgica da argumentao, tem
o primado sobre o bom, ou seja, que as questes relativas vida boa
cedem o lugar s questes de justia
22
.
Por ltimo, Habermas passa em revista algumas ideias de Robert
Dahl, em Democracy and its critics. Destaco que, para Dahl, h cinco
condies para considerar legtimo um processo democrtico:
18
Cf. Luiz P. Rouanet, A ideia de razo pblica em Rawls, in Alberto O. CUPANI; Csar A.
MORTARI (org.), Linguagem e Filosofia Anais do II Simpsio Internacional Principia.
Florianpolis: NEL/UFSC: 2002, p. 283-296.
19
J. Habermas, Direito e democracia, v. II, op. cit., p. 25.
20
Cf. J. Rawls, Justice as Fairness: Political not Metaphysical, in J. Rawls, Collected
papers, ed. Samuel Freeman, Cambridge, Mass./London, Eng.: Harvard University Press,
1999.
21
J. Habermas, Direito e democracia, v. II, op. cit., p. 33.
22
Idem, ibidem, p. 35.
L.P. Rouanet Democracia deliberativa: entre Rawls e Habermas
Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 52-63 59
a) incluso de todas as pessoas envolvidas;
b) chances reais de participao no processo poltico, repartidas
equitativamente;
c) igual direito a voto nas decises;
d) o mesmo direito para a escolha dos temas e para o controle da
agenda;
e) uma situao na qual todos os participantes, tendo mo informaes
suficientes e bons argumentos, possam formar uma compreenso
articulada acerca das matrias a serem regulamentadas e dos
interesses controversos.
23
Habermas comenta que at hoje, nenhuma ordem poltica conseguiu
preencher suficientemente esses cinco critrios apresentados, mas
ressalta que a complexidade social, que impede essa realizao plena,
no se ope, em princpio, a uma implementao aproximativa do
processo
24
.
Para terminar esta anlise do texto de Habermas, preciso dizer que
Habermas tem conscincia de que a teoria fica aqum da realidade, que
ela no d conta da complexidade do mundo social. Segundo ele:
Ns entenderamos mal o carter discursivo da formao pblica da
opinio e da vontade, caso acreditssemos poder hipostasiar o contedo
ideal de pressupostos gerais da argumentao, transformando-o num
modelo de socializao comunicativa.
25
III
Conforme anunciado, retomo a discusso da proposta de Rawls,
examinando os seguintes pontos: 1) a definio dos bens primrios, que
envolvem a escolha das preferncias; 2) a questo da estabilidade; 3) o
fato do pluralismo razovel; 4) a noo de razoabilidade.
No que concerne ao primeiro ponto, embora a noo de bens primrios
parea dar prioridade s questes materiais, na teoria de Rawls existe
uma prioridade do justo sobre o bem, e do primeiro princpio (liberdade
igual para todos) sobre o segundo (princpio da diferena). No se pode
esquecer que se trata de uma teoria liberal, embora seja um liberalismo
poltico, e no econmico.
No artigo Social unity and primary goods
26
, Rawls apresenta a
seguinte lista de bens primrios:
23
Dahl, R. apud J. Habermas, Direito e democracia, v. II, op. cit., p. 42-43.
24
Habermas, idem, ibidem.
25
Idem, ibidem p. 49-50.
26
John Rawls, Collected Papers, p. 362-3.
L.P. Rouanet Democracia deliberativa: entre Rawls e Habermas
60 Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 52-63
a) Primeiro, as liberdades bsicas tais como dadas por uma lista, por
exemplo: liberdade de pensamento e liberdade de conscincia;
liberdade de associao. E a liberdade definida pela liberdade
e integridade da pessoa, bem como pelo domnio (rule) da lei; e
finalmente as liberdades polticas;
b) Segundo, liberdade de movimento e escolha de ocupao contra um
fundo de oportunidades diversas;
c) Terceiro, poderes e prerrogativas de cargos e posies de
responsabilidade, particularmente aquelas nas principais instituies
polticas e econmicas;
d) Quarto, renda e riqueza; e
e) Finalmente, as bases sociais do autorrespeito.
No por acaso, portanto, que entre os primeiros bens figurem as
liberdades bsicas. A devem se incluir, por exemplo, a liberdade de culto,
desde que compatvel com a convivncia numa sociedade democrtica
constitucional (ou sociedade hierrquica decente, conforme a formulao
de O direito dos povos).
No que se refere ao segundo ponto, questo da estabilidade, trata-
se de um pressuposto das sociedades democrticas bem-ordenadas,
conforme vimos acima. Espera-se que um cidado nasa e morra em
determinado Estado, e compartilhe as mesmas crenas fundamentais em
relao confiabilidade das instituies no que se refere a atender aos
requisitos de justia social e de satisfao das principais expectativas
individuais e coletivas. Como vimos tambm, consiste num balo de
ensaio: em que medida isso ocorre, ou pode ser esperado em sociedades
imperfeitamente ordenadas, outra questo.
Quanto ao terceiro ponto, o fato do pluralismo razovel, a ideia de
que, daqui por diante, devemos conviver com a ideia de que nossas
sociedades so inevitavelmente sujeitas diversidade cultural, tnica,
poltica, religiosa, e que devemos buscar a melhor forma de conviver
com tal diversidade. Argumenta-se que, por motivos razoveis, a
teoria da justia como equidade, dado seu carter aberto, tem boas
chances de ser aceita por todas as partes por meio do consenso por
sobreposio, que passa por cima das especificidades prprias de
doutrinas abrangentes.
Finalmente, em relao prpria ideia de razoabilidade, ela vem
substituir uma noo excessivamente forte de racionalidade
27
, a qual, em
TJ, era tomada como pressuposto, e que posta em questo em obras
posteriores de Rawls, especialmente em PL. A ideia de razoabilidade
aponta para a impossibilidade, ou mesmo indesejabilidade, em poltica,
27
Cf. VATTIMO, G. Il pensamiento dbil. 4. ed. Trad. espanhola. Ed. Catedra, 1988. [No
localizei o original italiano.]
L.P. Rouanet Democracia deliberativa: entre Rawls e Habermas
Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 52-63 61
de se chegar a posies ltimas. O que importa o aspecto pragmtico
da poltica, no a questo de sua verdade ltima do ponto de vista
epistemolgico. Numa discusso com vrios participantes, no importa
tanto ser o dono da verdade, mas chegar a uma verdade provisria,
que possa ser aceita por todos os participantes. Evidentemente, isto
no fora os participantes a aderirem a uma deciso que contraria
fundamentalmente suas opinies e/ou interesses. Esta, em essncia,
a grande dificuldade da tomada de decises em uma democracia. Da o
requisito, em uma sociedade justa, que a desigualdade remanescente
possa ser aceita pelos que se encontram embaixo da escala social. No
podendo se eliminar a desigualdade de uma vez por todas, fundamental
que ela possa ser aceita ou seja aceitvel. Ela pode ser aceita em
sociedades, como as escandinavas, em que a diferena entre o maior
salrio e o menor no ultrapassa dez vezes. mais difcil de aceitar em
uma sociedade como a nossa, com disparidades muito maiores.
possvel efetuar uma comparao, aqui, com o jogo do xadrez. O
jogador procura escolher o melhor lance, mas o faz dentro de condies
limitadas de tempo, o que exerce uma presso psicolgica sobre ele. Alm
disso, em algumas posies complexas, muito difcil, e talvez impossvel
para uma mente humana, calcular exatamente qual o melhor lance
para uma determinada jogada. Por fim, h ainda a influncia de fatores
psicolgicos como o temperamento do jogador e de seu oponente, e o
impacto que ter a escolha de um determinado lance sobre o adversrio,
do ponto de vista psicolgico. No processo de deliberao racional, pode-
se argumentar, algo de semelhante se passa. Existem fatores limitadores
como o tempo de deliberao, a necessidade de tomada de uma deciso
em tempo hbil para sua execuo, os fatores tcnicos envolvidos, a
vontade dos participantes, o estabelecimento das prioridades etc. Nesse
sentido, a incipiente teoria do oramento participativo independente
das crticas que se possa fazer sua instrumentalizao poltica e ao
carter limitado, em termos oramentrios, das decises tomadas nas
assembleias do OP , ainda fornece um interessante estudo de caso para
os estudiosos da democracia deliberativa em todas as suas verses.
Concluso
Ao efetuar um balano da discusso sobre a democracia deliberativa, da
qual apresentei um resumo acima, a partir de determinadas perspectivas,
a democracia deliberativa ainda aparece como um modelo, um fio condutor
a reger a transformao de nossas sociedades rumo a sociedades mais
justas. Entre prs e contras, os primeiros levam a melhor, ainda, pois a
democracia deliberativa surge como a melhor maneira de se lidar com o
L.P. Rouanet Democracia deliberativa: entre Rawls e Habermas
62 Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 52-63
fenmeno da incerteza em poltica, da instabilidade e da ambiguidade
dos processos eleitorais, ampliando a participao democrtica a esferas
outras que no exclusivamente as do voto.
Especificamente no caso do Brasil, o pas tem obtido melhoras em
seus indicadores sociais, embora isto ainda o deixe muito longe de
poder ser considerado como uma sociedade justa. De 2000, quando a
porcentagem da populao que vivia abaixo da linha da misria girava
em torno de 33% da populao, o que evidentemente uma taxa muito
alta, hoje, segundo as pesquisas mais recentes, giraria em torno de 8 a
9%. Assim, houve uma reduo significativa. Em termos absolutos, dada
a populao do pas, representa ainda um nmero muito alto de pessoas
vivendo em situao de misria. No entanto, os principais indicadores
sociais e econmicos parecem apontar para uma reduo progressiva
desse percentual. Outro problema, que afeta o mundo, o da escassez
de alimentos.
Acredito, porm, que a teoria da democracia deliberativa, espe-
cialmente em suas verses rawlsianas e habermasianas combinadas,
fornece o melhor modelo para se abordar a questo e ajudar o Brasil a
se tornar uma democracia constitucional bem-ordenada, ou pelo menos
a se aproximar disso.
Bosque dos Jequitibs, 7 de novembro de 2010.
Referncias
DEWEY, John. The public and its problems. Athens: Swallow Press, 1927.
ELSTER, Jon (Ed.). Deliberative democracy. Cambridge, UK: Cambridge University
Press, 1998.
HABERMAS, J. Reconciliation through the public use of reason: remarks on John
Rawlss political liberalism, In: The Journal of Philosophy, v. XCII, n. 3, mar. 1995.
______. Faktzitt und Geltung: Beitrge zur Diskurstheorie des Rechts und des
demokratischen Rechtsstaats. 4. ed. Frankfurt/M: Surhrkamp, 1994.
______. Direito e democracia: entre facticidade e norma. Trad. Flvio Sibeneichler. Rio
de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. 2 v. v. II.
GUTMANN, Amy; THOMPSON, Dennis. Why deliberative democracy. Princeton, NJ/
Oxford, UK: Princeton University Press, 2004.
KNIGHT, Jack; JOHNSON, James. Agregao e deliberao: sobre a possibilidade de
legitimidade democrtica. In: Denlson L. WERLE; Rrion S. MELO (org.). Democracia
deliberativa. So Paulo: Singular/Esfera Pblica, 2007, p. 253-276.
ROUANET, Luiz P. O debate Habermas-Rawls de 1995: uma apresentao,
In: Reflexo, ano XXV, 78 (2000), p. 111-117.
L.P. Rouanet Democracia deliberativa: entre Rawls e Habermas
Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 52-63 63
______. A ideia de razo pblica em Rawls, In: CUPANI, Alberto O.; MORTARI,
Csar A. (org.). Linguagem e filosofia Anais do II Simpsio Internacional Principia.
Florianpolis: NEL/UFSC, 2002, p. 283-296.
______. Bens primrios e direito. In: NAPOLI, Ricardo B. di; ROSSATO, Noeli; FABRI,
Marcelo (org.). tica e justia. Santa Maria: Palloti/CNPq, 2003, p. 127-136.
______. A complementaridade entre Rawls e Habermas na etapa da deliberao.
In: PINZANI, A.; DUTRA, D. V. (orgs.). Habermas em discusso. Anais do Colquio
Habermas, Florianpolis: NEFIPO-UFSC, 2005, p. 169-183.
RAWLS, John. A Theory of Justice. Cambridge, Mass.: Harvard University Press,
1971.
______. Repy to Habermas. The Journal of Philosophy, XCII (3) (mar. 1995).
______. Political liberalism. New York: Columbia University Press, 1996.
______. Collected papers. Ed. Samuel Freeman. Cambridge, Mass.; London, UK:
Harvard University Press, 1999a.
______. The Law of Peoples, including The idea of public reason revisited. Cambridge,
Mass.; London, UK: Harvard University Press, 1999b.
RIKER, William. Liberalism agaist populism. So Francisco: Freeman, 1982.
VATTIMO, G. Il pensamiento dbil. 4. ed. Trad. espanhola. Ed. Catedra, 1988.
WERLE, Denilson L.; MELO, Rrion S. (org. e trad.). Democracia deliberativa. So
Paulo: Singular/Esfera Pblica, 2007.
4
Veritas Porto Alegre v. 56 n. 1 jan./abr. 2011 p. 64-77
O JUZO DOS SDITOS NA
REPBLICA HOBBESIANA
The subjecTs discreTion in The
hobbesian commonwealTh
Marcelo Gross Villanova*
RESUMO A discrio da presena do princpio de reciprocidade na
formulao hobbesiana oblitera importantes dimenses na sua teoria.
Entre estas, a necessidade intrnseca de que os sditos estejam
instados a utilizar a sua capacidade de produzir juzos. Apresentam-se
diversas circunstncias que corroboram essa tese, o que mostra que a
atividade de julgar no foi confiscada pelo soberano. Ao contrrio, ela
mesmo necessria para o seu sistema.
PALAVRAS-CHAVES Sdito. Soberano. Hobbes. Autonomia do juzo.
ABSTRACT The discretion of the reciprocity principle in the Hobbesian
formulation obliterates important dimensions of his theory. Among
these, the intrinsic necessity that subjects are encouraged to use
their ability to make judgments. The article presents a variety of
circumstances that corroborate this position, showing that the activity
of judging was not confiscated by the sovereign. Rather, it is even
necessary for his system.
KEYWORDS Subject. Sovereign. Hobbes. Autonomy of discretion.
As leis estipulam o que os olhos devem e no devem
ver, o que os ouvidos devem e no devem ouvir, o que
a lngua deve e no deve dizer, o que as mos devem
e no devem fazer, e at onde os ps devem e no
devem ir, e o que o esprito deve e no deve desejar.
(Antifonte)
* Doutor em Filosofia pela USP, pesquisador ps-doutorando no Programa de Ps-
Graduao em Filosofia da PUCRS (PNPD CAPES/MCT/CNPq/FINEP), onde atua como
professor colaborador. E-mail: <mgrossvillanova@yahoo.com.br>.
M.G. Villanova O juzo dos sditos na repblica hobbesiana
Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 64-77 65
Pois o objetivo das leis (que so apenas regras autorizadas)
no coibir o povo de todas aes voluntrias, mas sim
dirigi-lo e mant-lo num movimento tal que no se fira com
seus prprios desejos impetuosos, com sua precipitao, ou
indiscrio, do mesmo modo que as sebes no so colocadas
para deter os viajantes mas sim para conserv-los no caminho.
(thomAs hobbes)
Apresentao
Parece no haver dvidas de que as leis civis, como expresso da
vontade da soberania na comunidade poltica, sejam o parmetro comum
que regula o comportamento dos indivduos. Ainda assim, mesmo com
a definio sobre a que regras esto submetidos os agentes, na sua
interao societria, nem tudo est resolvido. necessrio o juzo dos
agentes para a aplicao dessas regras: para a avaliao das diferentes
circunstncias em que as leis civis silenciam; quando esto no exterior;
na aceitao ou no do novo soberano vitorioso na guerra; quando a
falta de proteo anula a obedincia; na diferenciao entre ato hostil e
a aplicao de uma pena etc. Como na aprendizagem de uma lngua, no
basta saber a que regras gramaticais a lngua submete-se para produzir
oraes gramaticalmente corretas, posto que necessrio o juzo para
a sua aplicao em cada fenmeno lingustico para que se tenha o seu
domnio.Essa uma das razes porque a instaurao da comunidade
poltica hobbesiana no inclui uma lobotomia poltica dos agentes.
A atividade de julgar dos sditos no foi confiscada pelo soberano. Ao
contrrio, necessrio, para o sistema hobbesiano, que a capacidade
de julgamento dos sditos esteja operante e ativa. A manifestao
discreta da importncia vital desse elemento no seu arcabouo terico
aparece com todas as letras na lei natural da ebriedade, quando afirma
que os sditos devem esforar-se por conservar a faculdade de bem
raciocinar ou no destruir ou enfraquecer a faculdade de raciocinar.
1
1
Essa lei a nica aqui arrolada que no est em negrito no orginal, sendo, ainda
assim, arrolada a partir do seguinte trecho do De Cive (1993, p. 78): Alm do mais,
visto que as leis de natureza nada mais so do que mximas do bom senso, de tal
sorte que, se algum no se esforar por conservar a faculdade de bem raciocinar,
no poder observar as leis de natureza, evidente que estar violando consciente e
voluntariamente a lei de natureza aquele que, conscientemente, pratica atos capazes
de destruir ou enfraquecer a faculdade racional. No importa saber se o homem no
faz o que do seu dever, ou se conscientemente faz certas coisas que tornam para si
impossvel cumprir o dever. O problema que destroem ou enfraquecem a faculdade
de raciocinar os homens que fazem a razo afastar-se do seu estado natural, como
acontece obviamente com bbados e crpulas. O defeito relativo a esta vigsima lei
de natureza , pois, a ebriedade.
M.G. Villanova O juzo dos sditos na repblica hobbesiana
66 Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 64-77
A circunstncia da ebriedade tem uma importncia secundria ou
derivada do valor primordial de conservar a faculdade de bem ra-
ciocinar por parte dos sditos, exatamente porque funciona como
exemplo.
A manuteno da capacidade de produo de juzos por parte
dos agentes na comunidade poltica pode ser entendida como uma
circunstancial concesso ou apenas como um detalhe no sistema
poltico hobbesiano. A prpria nomeao dessa lei, como sendo a lei
da ebriedade, oblitera a parte mais importante formulada na lei e toma
o lugar do que realmente o essencial da sua formulao. Seria, pois,
contraditrio imaginar que Hobbes a formula para, logo a seguir, desejar
transformar os partcipes de uma comunidade em autmatos, incapazes
de formular juzos por conta prpria.
A seguir, apresentaremos exemplos de situaes previstas na teoria
poltica hobbesiana em que o exerccio da capacidade de avaliao
2
dos agentes privados requerido. A explicitao desses casos
especialmente relevante porque segue na contramo da impresso
tcita de que a instaurao da sociedade civil signifique a subtrao
dessa capacidade.
O estado de conquista
Quando dois estados entram em guerra, a no ser que ocorra um
armistcio, um lado perde e outro ganha. Ao vencedor cabe o domnio
sobre o novo territrio e o povo ali instalado. No caso do estado de
conquista, trata-se da aceitao quanto da resistncia individual ou
coletiva do novo soberano. J na definio do Estado por conquista
explicitamente expresso sobre Where the Souveraign Power is acquired
by Force:
E este adquirido pela fora quando os homens individualmente, ou
em grande nmero e por pluralidade de votos, por medo da morte ou
do cativeiro, autorizam todas as aes daquele homem ou assemblia
que tem em seu poder suas vidas e sua liberdade. (Leviat, XX,
p. 122).
Dessa passagem, pode-se depreender que cabe aos homens,
individual ou coletivamente, aceitar ou no, voluntariamente, um pacto
de submisso com o conquistador, isso equivale a afirmar que Hobbes
2
Nas palavras de Ostrensky (2002, p. 100): do ponto de vista poltico, a afirmao da
liberdade de conscincia no apenas recomendvel, como ainda necessria.
M.G. Villanova O juzo dos sditos na repblica hobbesiana
Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 64-77 67
reconhece a possibilidade de que tal pacto seja com indivduos singly
or many together by plurality of voyces. Na situao de guerra em que
o antigo soberano vencido, o compromisso de obedincia ao soberano
caduca e ganha-se, assim, novamente a liberdade natural de ao.
3
Aqui, o cidado pode exercer a resistncia passiva e ativa contra o novo
soberano, individual ou coletivamente, porque no h contrato que o
limite, uma vez que onde no h Estado nada pode ser injusto.
4
No caso
do Estado por aquisio, Mayer-Tasch (1965) entende que, no caso de o
indivduo (Einzelne) optar por submeter-se ou no ao novo soberano,
ele no poder ser coagido a isso, mesmo que seja a vontade da maioria:
A deciso da maioria de um grande nmero de sditos compromete
somente o crculo dos correligionrios, porm no automaticamente todos
os cidados de um Estado em declnio.
5
Hobbes percorre um sutil, seno
tortuoso, caminho para sustentar a sua posio sobre a constituio
e a dissoluo do Estado. Enquanto por instituio, vale o voto da
maioria e todos ficam, assim, automaticamente includos, como nos
posto no comeo do Captulo XVIII do Leviat, o soberano no pode ser
despojado por consenso, pois no provm da natureza o fato de que
o consenso da maioria seja considerado consenso de todos (De Cive
(6, 20), p. 112). Mayer-Tasch parece ressaltar, no Estado por conquista,
que o contexto outro, pois o at ento Estado estrangeiro (fremder
Staat) j est constitudo, independentemente do que venham a decidir
os derrotados.
H alguns pontos, aqui, a serem ressaltados que parecem diferenciar-
se quanto ao Estado por instituio. Primeiro: o Estado institudo
inclui todos, sem exceo, tanto os que votaram contra, quanto os que
votaram a favor. Segundo: nele, os pactos so de cada um com cada um
dos outros. Terceiro: no h pacto entre o soberano e o cidado. Assim,
Hobbes no parece reconhecer as diferenas elencadas quando assinala
o seguinte:
3
HOBBES (1979, p. 135): Entende-se que a obrigao dos sditos para com o soberano
dura enquanto, e apenas enquanto, dura tambm o poder mediante o qual ele capaz
de proteg-los.
4
Ibidem, XV, p. 86. este tambm o caso quando o soberano renuncia sem indicar o
sucessor ou morre sem declarar quem dever ser o herdeiro: Se um monarca renunciar
soberania, tanto para si mesmo como para seus herdeiros, os sditos voltam absoluta
liberdade de natureza [...]. Assim, se ele no tiver herdeiro no h mais soberania nem
sujeio (Leviat, XXI, p. 136).
5
Mayer-Tasch (1965, p. 84): Der Mehrheitsentscheid einer unterwerfungswilligen
Vielzahl von Brgern verpflichtet nur den Kreis der Gleichgesinnten, nicht aber auch
automatisch alle Brger des untergegangenen Staates.
M.G. Villanova O juzo dos sditos na repblica hobbesiana
68 Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 64-77
Esta espcie de domnio ou soberania difere da soberania por instituio
apenas num aspecto: os homens que escolhem seu soberano fazem-no
por medo uns dos outros, e no a quem escolhem, e neste caso [soberania
por conquista] submetem-se quele de quem tem medo.
6
Aqui, mais uma vez, transparece o pacto de submisso entre o
vencedor e o vencido, atravs do qual se opera a transferncia de direitos
do indivduo. Mas como isso se d? Hobbes mesmo esclarece e elucida:
O domnio adquirido por conquista ou vitria militar [...] adquirido pelo
vencedor quando o vencido [...] promete [...] que, enquanto sua vida e a
liberdade do seu corpo permitirem, o vencedor ter direito a seu uso, a
seu bel-prazer.
7
Os sditos no exterior
Quando os sditos esto fora do seu estado e no conhecem as leis
que regem o lugar, eles utilizam o princpio de reciprocidade como baliza
para a sua ao. Mas por que deveria um sdito pertencente a um Estado
obedecer s leis civis de outro Estado, apenas por encontrar-se em seu
territrio? Como Hobbes (1979, p. 136) aponta: quem quer que penetre
nos domnios de outrem passa a estar sujeito s leis a vigorantes, a
no ser que tenha um privilgio, por acordo entre os soberanos, ou por
licena especial. A incorporao de um indivduo a um Estado torna-o
obrigado a obedecer no somente s leis do Estado ao qual pertence,
mas, virtualmente, a todos os Estados existentes, porque so as leis
civis aquelas a que os homens so obrigados a respeitar, no por serem
membros deste ou daquele Estado em particular, mas por serem membros
de um Estado (HOBBES, 1979, p. 61). H, aqui, duas consequncias
que podem causar certa estranheza. Primeiro, que a depender de onde
se localiza, o sdito deveria seguir regras que podem ter contedos
contraditrios, pois parece razovel pensar que o que permitido num
Estado seja proibido em outro. A segunda estranha consequncia a
de que mesmo derivados das supostas mesmas leis naturais, resumidas
pelo princpio da reciprocidade, estados diferentes podem conter leis com
6
Leviat, XX, p. 122 [os grifos so nossos]: And this kind of dominion, or Soveraignety,
differeth from Soveraignety by institution only in this, that men who choose their
Soveraigne do it for fear of one another, and not of him whom they institute: but in this
case, they subject themselves to him they are afraid of.
7
Ibidem, XX, p. 124: Dominion acquired by conquest, or victory in war [] is then
acquired to the victor when the vanquished, covenanteth [] that so long as his life
and the liberty of his body is allowed him, the victor shall have the use thereof at his
pleasure.
M.G. Villanova O juzo dos sditos na repblica hobbesiana
Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 64-77 69
contedo contraditrio entre estes conjuntos.
8
Uma consequncia e outra
reforam a necessidade do uso da ponderao dos sditos, a depender
de onde se localiza e a mudar o registro da sua forma de reciprocar, tanto
em relao s aes, quanto em relao ao pensamento.
A frmula proteo-obedincia
A conhecida frmula proteo-obedincia [...] sem outro objetivo
seno colocar diante dos olhos dos homens a mtua relao entre
proteo e obedincia (HOBBES, 1979, p. 410) requer a avaliao do
compromisso da obedincia sob a condio de proteo; e no sendo
mtuo, isto , no havendo reciprocidade, avaliar a partir de qual
ponto da falta de proteo segue-se a perda da obrigao de obedecer.
A intuio de Hill (2003, p. 105) parece bem apropriada ao pontuar que
Hobbes [...] quanto ao absoluto dever de obedecer ao Leviat sob todas
as circunstncias, juntamente como o reconhecimento de que se e
quando o soberano falhasse na proteo de seus sditos, eles deveriam
deixar de obedecer-lhe.
Talvez o mais difcil seja saber exatamente a extenso do que Hobbes
reconhece como o ponto exato a partir do qual o sdito deixa de estar
obrigado a obedecer a seu soberano quando h a impossibilidade do
soberano proteg-lo. Um exemplo prosaico disso pode ser o caso em que
um sdito mortalmente atacado e no dispe de proteo policial para
proteg-lo. No Captulo VI do De Cive, expresso que as leis naturais
probem o furto, o homicdio e o adultrio, mas a lei civil que determina
quando e o que deve ser entendido como homicdio, adultrio e furto.
bem plausvel imaginar que, em uma comunidade poltica que
expressamente probe cometer o homicdio, um sdito que mata algum
esteja incorrendo numa desobedincia lei civil que probe o ato e,
portanto, ao soberano. No caso de um homicdio ocorrido com o intuito
da defesa da prpria vida, pode ser a posteriori avaliado por um tribunal
soberano como legtimo, isto , o aparente crime ou a desobedincia
lei soberana ser considerado nem crime, nem desobedincia por parte
de quem se defendeu, mas um ato instado por uma tentativa de crime ou
desobedincia de quem o atacou primeiro. Um sdito incapaz de fazer
8
Vou usar a palavra conjunto ao invs de sistema de leis, porque a ideia de sistema
referente s leis de um pas uma formulao que surge apenas no sculo XIX. Dessa
formulao, deriva a ideia de lacuna, que a ausncia de um regramento no sistema.
A diferena para ideia de silncio da lei, tal como aparece em Hobbes, refere-se
omisso dos casos previstos atravs das quais determinadas leis regulamentam.
M.G. Villanova O juzo dos sditos na repblica hobbesiana
70 Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 64-77
uma avaliao como essa anteriormente avaliao do prprio tribunal
soberano no estar vivo para saber qual avaliao o mesmo tribunal
faria se ele tivesse reagido ao de quem lhe atacou.
A impossibilidade em estabelecer esse limite pode estar apontando
algo importante: simplesmente no h uma rgua que possa definir
o limite a partir do qual os sditos podem razoavelmente, a partir da
reta razo, no estar mais obrigados a lhe obedecer. No mximo, h
alguns casos pontuais, como no fracasso do soberano na guerra ou na
morte de um soberano sem herdeiros e sem indicao do seu sucessor.
A caixa de Pandora aberta a partir da traduo das Escrituras para
linguagens correntes fornece o contexto a partir do qual a liberdade de
pensamento passa a ser cada vez mais exerccio prosaico, ainda que
resulte em tenses e divises que j se acumulavam (HILL, 2003, p. 38).
No indiferente a isso, Hobbes v, nesse fenmeno, um aliado sua teoria
poltica, na medida em que confia na capacidade de julgamento dos seus
contemporneos, j que se dirige a eles nos seus escritos.
A circunstncia mais exemplar dessa dificuldade ocorre na guerra
entre soberanos. A 15 lei natural do Leviat,
9
cujo contedo no h
nada similar entre as tbuas das leis no De Cive e Elementos, afirma
que Todo homem impelido pela natureza, na medida em que isso lhe
possvel, a proteger na guerra a autoridade pela qual protegido em
tempo de paz. Ora, a quem caberia fazer a avaliao dessa medida do
possvel, seno o prprio sdito? Tivesse sido o sdito transformado em
um autmato, seria incapaz de produzir um juzo por conta prpria para
circunstncias como essa, em que o sdito instado a decidir em que
medida no valer mais a pena colocar a sua vida em risco para proteger
o seu soberano. Anteriormente, a essa questo, mas pertinente a ela,
Hobbes no justifica bem porque o sdito deva ir guerra, colocando,
portanto, a sua vida em risco, se a comunidade poltica justamente
criada para assegurar a integridade da sua vida e, por essa razo, adere
ao contrato. O filsofo ingls restringe-se a tachar os desertores de uma
guerra como possuidores de uma coragem feminina, no caso de quem
assim se comporta.
A confsso
Durante muito tempo, a confisso foi vista como a prova mais cabal
da autoria de um ato criminoso ou da inteno de um ato. Prova cabal to
forte que aceita como legtima mesmo aquela obtida sob tortura. Quem
9
Vale lembrar que essa lei pertence a uma parte final do Leviat, chamada Reviso e
Concluso, acrescida posteriormente primeira edio do Leviat em 1651.
M.G. Villanova O juzo dos sditos na repblica hobbesiana
Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 64-77 71
confessaria em palavras fatos que lhe prejudiquem? Hobbes (1979,
p. 84) argumenta que o prprio pacto de algum acusar a si mesmo no
vlido se no houver garantia de perdo. Do mesmo modo que invlido
comprometer-se por um pacto a no se defender da fora pela fora, j
que ningum pode transferir ou renunciar a seu direito de evitar a morte,
os ferimentos ou o crcere. Na sua expresso: igualmente invlido.
Hobbes reconhece que mesmo o criminoso mais terrvel deve ser liberado
de incriminar-se por sua voluntria iniciativa.
Do mesmo modo que pertence avaliao do indivduo quando o
caso de defender-se pela fora, a proporo e o modo mais adequado de
lanar mo dessa autodefesa, pertence avaliao do indivduo qual a
convenincia, a circunstncia e a medida das declaraes que podem
vir a incrimin-lo. Exemplo: essa mesma parte do Leviat, ainda que
afirme que as confisses arrancadas pela tortura no devam ser aceitas
como testemunhos fiis, aceita a tortura como forma de lanar hipteses,
esclarecimento ou orientao para posterior investigao. A confisso
dada pelo torturado, por esse meio, ser feita pelo direito de preservar a
vida. Assim sendo, por esse direito de preservar a vida, vale no apenas
revelar verdades, mas tambm admitir falsidades. Um sdito destitudo
da sua capacidade de julgamento seria incapaz de reconhecer quando
o momento de falar e de calar. Somente a avaliao por parte do sdito
envolvido com alguma circunstncia pertinente capaz de avaliar quando
uma confisso suscetvel de prejudic-lo ou no. Mesmo interrogado
diretamente pelo soberano ou por sua autoridade em relao a um crime
que realmente cometeu, o sdito-criminoso no obrigado a confess-lo,
a no ser que receba garantia de perdo.
10
O silncio das leis
Na ausncia de leis civis, tem-se o silncio das leis, cada sdito v-se
instado a utilizar as leis naturais, vale dizer, o princpio da reciprocidade.
Hobbes (1993, p. 175) admite a impossibilidade prtica de regular pela
lei todos os movimentos e as aes dos cidados e lana mo de uma
alegoria que ilustra esse sentido: se a gua de um rio for represada
por todos os lados, estagna-se e fica poluda; assim, as leis so como
margens de um rio servem para encaminhar e no para deter o curso
de um rio. Dessa alegoria, pode-se perceber que h uma referncia
explcita aos limites do ordenamento jurdico: assim como as margens do
rio, o ordenamento jurdico deixa de lado um alm-rio. Esse limite pode
significar que a margem de um rio no a sua falta, mas simplesmente a
10
Cf. Hobbes (1979, p. 133).
M.G. Villanova O juzo dos sditos na repblica hobbesiana
72 Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 64-77
separao entre o que rio e o que no . Trata-se do que Bobbio (1994,
p. 29) chama de esfera do juridicamente irrelevante. Outra alternativa
a de que esse limite significa uma imperfeio inerente a qualquer
conjunto de leis, como anota Jasinowski (1967, p. 129).
Por vezes, Bobbio (1991, p. 116) parece ver a noo de silncio e a
noo de lacuna como intercambiveis; contudo, a noo de lacuna
jurdica se cristaliza-se apenas no sculo XIX, ligada concepo do
direito positivo como sistema. No sculo XVII, Hobbes no s v as
noes de direito e lei como to incompatveis como liberdade
e obrigao, como tambm a sua noo de sistema (system) no
aparece associada s leis, sejam civis, sejam naturais, seno a associaes
entre os cidados: Por sistema entendo qualquer nmero de homens
unidos por um interesse ou um negcio (HOBBES, 1979, p. 137). Ainda
assim, ressalvadas essas diferenas, a noo de silncio da lei o
conceito primitivo de lacuna. O mais importante, aqui, que a limitao
da regulao positiva solucionada pela recorrncia lei natural: as
leis naturais so obrigatrias em todos os casos onde as leis positivas
silenciarem (BOBBIO, 1991, p. 116; HOBBES, 1979, p. 173). Por causa
tambm dessa admisso das leis naturais no interior da regulao civil,
Hobbes considerado o precursor do jusnaturalismo moderno. A posio
de Hobbes no consiste, como no jusnaturalismo medieval, que se possa
produzir o critrio do justo e do injusto alheio ao discernimento da
comunidade civil. Conforme Hobbes (1993, p. 156) consigna: arrogando-
me o discernimento do justo e do injusto, que cabe somente Cidade.
Um momento flagrante dessa afirmao aparece no caso da aplicao
da seguinte regra: aquele que for expulso de sua casa fora deva ser a
ela restitudo pela fora (HOBBES, 1979, p. 169). Se algum deixa a sua
casa vazia e, ao voltar, seja impedido de entrar pela fora, a regra dada no
enquadraria exatamente este caso, mas pode ser suprida com a lei de na-
tureza. Hobbes afirma que seria de acordo com a lei natural entender que
este caso estaria abrangido pela regra dada qua inteno da lei (HOBBES,
1979, p. 169), ainda que no estritamente com a letra da lei. O campo de
associao de significao do frum interno est enquadrado pelas balizas
da regra civil: num caso criminal no se limitam [as leis civis] a determi-
nar se o crime foi ou no praticado; mas tambm se tratou de assassinato,
homicdio, felonia, assalto e coisas semelhantes, que so determinaes
da lei [civil] (HOBBES, 1979, p. 169). Se, mesmo aqui, na colmatao do
silncio da lei civil pela lei natural, paradoxalmente, a lei natural parece
ter sido, de alguma forma, incorporada (KAVKA, 1983, p. 131) pela lei
civil, essa incorporao no plena algo do fundamento da lei natural
permanece anterior lei civil: a fundamentao contratual do Estado.
E ser isso que permite entrever a distino entre Estado e governo.
M.G. Villanova O juzo dos sditos na repblica hobbesiana
Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 64-77 73
Aplicao das leis civis
Foi discutido na seo O silncio das leis que, nas situaes no
previstas pelas leis civis, os sditos esto instados a julgar por conta
prpria como agir. Hobbes utiliza a proximidade da regra da invaso de
uma casa mediante violncia para aplicar ao caso em que no h violncia,
ainda que haja invaso da propriedade. Chama esse exemplo de silncio
da lei, caso no previsto pela lei. Uma pequena variao em relao
prescrio legal j suficiente para ser assim enquadrado. Esse exemplo
dado por Hobbes, no Leviat, leva a pensar que o mais comum seja o
caso em que a lei civil no prev. To prosaico como essas pequenas
variaes deve ser o caso em que no h qualquer proximidade possvel
com qualquer lei estabelecida pelo soberano. Os casos em que a lei civil
prev seriam as situaes em que no haja qualquer variao. Contudo,
faz sentido afirmar que se segue da uma aplicao automtica? Se uma
lei uma regra geral para todos os casos da mesma situao, poderamos
considerar que h uma impessoalidade na sua formulao. Uma boa lei
civil no deve ser muito curta, para no ser ambgua em demasia, nem
longa demais, para no resultar uma lei confusa. Justamente por no
apontar que fulano ou beltrano deva fazer desse ou daquelemodo, a
aplicao da lei requer uma identificao tanto dos autores, quanto das
aes em determinados casos. A aplicao das regras civis demanda a
avaliao de qual o caso, ou seja, a que lei formulada aplica-se. Toda
lei requer uma interpretao.
11
Mesmo que os sditos reconheam o
soberano como autoridade a ser respeitada e queiram seguir as leis
proclamadas como sua, necessita da sua capacidade de julgamento para
interpret-la e obedecer-lhe.
Uma lei incompreendida corre o srio risco de no ser obedecida,
pois no se consegue obedecer quilo que no se entende, ainda que
seja da vontade do sdito segui-la. Se o sdito no tivesse qualquer
noo do que permitiria distinguir as situaes, compreender as regras
pblicas de conduta e interpret-las, ele s saberia que cometeu um
crime, ou no, aps ser terminado um processo de julgamento, isto ,
aps a interpretao definitiva dada pela autoridade, cuja funo pblica
produzir julgamentos.Expressando em termos metafricos, o falante
de uma lngua pode querer seguir as regras gramaticais de uma lngua;
um falante que domina as regras gramticas da sua lngua materna
capaz de fazer uso adequado dessa lngua; as regras gramaticais de
uma lngua no so suficientes para dar conta de todos os fenmenos
lingusticos. Contudo, mesmo nas situaes previstas pelas regras
11
Leviat, Captulo XXVI.
M.G. Villanova O juzo dos sditos na repblica hobbesiana
74 Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 64-77
gramaticais, requerida ao seu usurio a identificao de quando o
caso. A identificao do caso exige o uso da capacidade de avaliao
por parte do seu usurio.
Aes e intenes
Hobbes faz meno, em vrias passagens de sua obra, diferenciao
entre ao e inteno (De Cive, p. 70-71; Leviat, XV, p. 89). H uma
clara distino quando se atribui as palavras justo e injusto s
pessoas ou s aes delas. Quando aplicado s aes, justo significa
conforme o direito, injusto, contra o direito. De algum que age
conforme o direito postula-se que inocente e, quando no conforme,
culpado. Algum cujas aes sejam justas no se transforma, per se, em
um homem justo, pois o homem justo aquele que se compraz em agir
com justia ou de acordo com o direito. Ser injusto desprezar o valor da
justia, ou ainda, agir de acordo com uma vantagem momentnea. Desse
modo, um homem injusto pode praticar aes justas, assim como um
homem justo pode praticar aes injustas. H trs motivos pelos quais
um homem justo pode praticar um ato injusto: ser tomado por paixes
momentneas (fraqueza); cometer um erro de avaliao sobre alguma
coisa; ou um erro de avaliao sobre alguma pessoa. O que constitui o
ser justo a vontade de praticar aes justas conforme a justia. J o que
constitui o ser injusto a vontade meramente determinada pelo medo
s sanes da lei; pelo benefcio de um bem aparente.
Pela m inclinao do esprito, a ao justa ou injusta no faz do seu
agente um ser justo ou injusto. O que diferencia um homem justo de um
homem injusto o desejo ou a inteno de agir conforme o direito ou no.
Se as suas aes so motivadas pelo medo ou por um bem momentneo,
trata-se de um ser injusto. Se as suas aes so motivadas por agir
conforme a justia e por respeitar as suas promessas trata-se, portanto,
de um ser justo.
A ao humana mediada pela representao de um bem a que se
almeja. A representao de um bem aparente futuro expressamente
intencional e justamente a razo [como funo representacional]
que constitui a intencionalidade do movimento humano (FILHO, 1989,
p. 67). A obrigao de seguir a lei natural no frum interno, isto ,
no mbito das intenes das aes, e, de outro, a obrigao de seguir
a lei civil no frum externo, no mbito das aes, podem, por vezes,
sugerir que a avaliao das intenes e das aes est submetida a dois
diversos conjuntos de leis. No incio do Leviat, Hobbes apresenta sob
que clave deve ser entendida sua obra, convidando todos os homens
ao trabalho de aprender a lerem-se uns aos outros (L-te a ti mesmo),
M.G. Villanova O juzo dos sditos na repblica hobbesiana
Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 64-77 75
o que inclui a investigao, se no encontram o mesmo em si prprios,
das afirmaes que fazem sobre os outros.
A educao para a sociabilidade
Hobbes pretende influenciar a viso dos soberanos e dos sditos
sobre si mesmos e a avaliao que fazem sobre a compreenso e a
conduta social e poltica na sociedade civil. A eficincia da comunidade
poltica no se impe por meio da fora, mas da crena. A pretenso
de Hobbes de que suas obras fossem utilizadas nos diversos nveis da
educao expressam, para alm do aspecto eminentemente pretensioso
da avaliao que faz sobre suas lies, uma crena que j, no Leviat, era
manifesta e que Ostrensky (2002, p. 101) assim verbaliza:
Nenhuma lei possui laos to fortes como a da prpria conscincia. A
obedincia, a sujeio a uma ordem, deve ser voluntria, no constrangida
por uma autoridade visvel, pois a opresso externa resulta, o mais das
vezes, em revolta e sedio. Assim, poderamos afirmar que Hobbes
extrai duas importantes lies da experincia curta, porm intensa, do
Exrcito de Novo Tipo. Primeira, de que a liberdade de pensamento no
necessariamente um mal; tampouco em si mesma subversiva, antes
o contrrio. De certo modo, indiferente que os homens mantenham
crenas diversas, contanto que em seus atos s faam confirmar a
obedincia e a adeso irrestrita a uma vontade nica.
Seria intil fazer leis sobre coisas para as quais no se possa ter
alcance, como determinar qual o pensamento ou o juzo dos agentes.
H uma impossibilidade legal de qualquer coero em respeito cons-
cincia ou convico. Assim como no se podem revogar leis fsicas,
como a lei da gravidade, as leis soberanas no tm poder para de-
terminar o pensamento ou o juzo dos sditos pertencentes a uma
sociedade:
certo que, se ele for meu soberano, pode obrigar-me obedincia,
impedindo-me de declarar, por atos ou palavras, que no o acredito, mas
no pode obrigar-me a pensar de maneira diferente daquela de que a
minha razo me convence. (HOBBES, 1979, p. 222).
A posio de Hobbes de que o poder governamental est confinado
limitao legal de atos externos (outward acts) uma necessria
consequncia da sua viso de que crenas religiosas, ideolgicas ou
mesmo outras crenas, que pertenam esfera privada, no podem ser
objeto da fora legal coercitiva.
M.G. Villanova O juzo dos sditos na repblica hobbesiana
76 Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 64-77
Observaes fnais
A interpretao tcita de que os sditos na comunidade poltica
hobbesiana tiveram subtrada a sua capacidade de julgamento no se
sustenta. Quando Hobbes dirige-se contra a razo privada dos indivduos,
referia-se apenas e to somente ao pensar no recproco dosgentes. H
vrias referncias, na obra de Hobbes, de que ele dirige-se tanto aos
soberanos quanto aos sditos. Dirige-se a esses interlocutores com uma
funo precpua: a educao para a sociabilidade. Essa a razo dele
pretender que a sua obra fosse lida e adotada pelas universidades. Quanto
maior o nmero dos seus leitores, tanto melhor. Por isso, reescrevia-as
ou traduzia para o ingls.
Foram salientadas vrias situaes em que os sditos so instados
a julgar, seja quando no h a baliza pblica das leis civis, seja para
aplicar essa baliza pblica nas diferentes situaes que se apresentam.
Ser o sdito de um Estado significa estar sob a gide de qualquer Estado
existente, a depender onde o sdito localiza-se momentaneamente. O
esforo de pensar e agir reciprocamente vigora em todas as situaes,
a depender do jogo em que se faz parte ou do tabuleiro onde a pea
encontra-se. A vacuidade ou a inefabilidade do princpio da reciprocidade
aponta para a tenso dessa sociabilidade, em que as controvrsias so
inevitveis. As aes e as palavras esto para a inteno como as leis
civis esto para a reciprocidade: as primeiras assumem a concretizao
da outra. No h como saber quais as intenes sem a sua expresso
material, o que no significa que essa materialidade no possa estar com
o sinal trocado. A primeira lei de natureza, sobre a busca da paz, tambm
est calcada em uma avaliao ou umjuzo sobre o caso situacional, j
que iniciativas de paz dependem da medida em que tenha esperana em
consegui-la. Como todas as leis de Hobbes so derivadas da primeira,
no difcil deduzir que a aplicabilidade de qualquer lei natural esteja,
do mesmo modo, dependente dessa avaliao.
Referncias
BOBBIO, N. Thomas Hobbes. Rio de Janeiro: Campus, 1991.
BOBBIO, N. Teoria do ordenamento jurdico. Braslia: UnB, 1994.
FILHO, B. B. Condies de autoridade e autorizao. Filosofia Poltica, Porto Alegre:
L&PM, 6 (1991).
HILL, C. A Bblia inglesa e as revolues do sculo XVII. Rio de Janeiro: Civilizao
Brasileira, 2003 [1993].
HOBBES, T. Leviat ou matria, forma e poder de um Estado eclesistico e civil. So
Paulo: Abril Cultural, 1979.
M.G. Villanova O juzo dos sditos na repblica hobbesiana
Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 64-77 77
HOBBES, T. De Cive: elementos filosficos a respeito do cidado. Petrpolis: Vozes,
1993.
HOBBES, T. Leviathan. Cambridge: Cambridge University, 1994.
JASINOWSKI, B. El problema del derecho natural en su sentido filosfico. Santiago,
Chile: Ed. Jurdica de Chile, 1967.
MAYER-TASCH, P. C. Thomas Hobbes und das Widerstandsrecht. Tbingen: Mohr,
1965.
KAVKA, G. Right reason and natural law in Hobbess ethics. The Monist, 66 (1983).
OSTRENSKY, E. Hobbes e a tolerncia religiosa no Exrcito de Novo Tipo. Cadernos
de tica e Filosofia Poltica, So Paulo: Humanitas, 5 (2002).
5
Veritas Porto Alegre v. 56 n. 1 jan./abr. 2011 p. 78-94
Hegel e FilosoFia analtica
Hegel and analytic pHilosopHy
Robert B. Brandom*
RESUMO Este artigo analisa importantes elementos na recepo
da filosofia de Hegel na atualidade. Com a finalidade de alcanar tal
meta discute-se como a filosofia analtica acolhe a filosofia de Hegel.
Para tanto se reconstri a recepo da filosofia analtica em face de
Hegel, notadamente a partir daqueles autores que foram centrais
neste movimento de recepo e distanciamento de sua filosofia, a
saber, Bertrand Russell, Frege e Wittgenstein. Outro ponto central do
presente texto a anlise do livro de Paul Redding, Analytic Philosophy
and the Return of Hegelian Thought, em cotejo com a recepo de
Hegel, desenvolvida aqui pela filosofia analtica. Ao final, mostra-se
como possvel um dilogo produtivo destas correntes aparentemente
contrapostas.
PALAVRAS-CHAVE Crtica. Filosofia analtica. Hegel. Recepo.
ABSTRACT This paper analyzes important elements in the reception
of Hegels philosophy in the present. In order to reach this goal we
discuss how analytic philosophy receives Hegels philosophy. For
that purpose, we reconstruct the reception of analytic philosophy in
the face of Hegel, especially from those authors who were central in
this movement of reception and distance of his philosophy, namely,
Bertrand Russell, Frege and Wittgenstein. Another central point of
this paper is to review the book of Paul Redding, Analytic Philosophy
and the Return of Hegelian Thought, in comparison with the reception
of Hegel, developed here by analytic philosophy. Finally, we show
how a dialogue can be productive of these apparently opposing
currents.
KEYWORDS Critique. Analytic philosophy. Hegel. Reception.
* Distinguished Professor, University of Pittsburgh, Pennsylvania, EUA. BRANDOM,
Robert B. Hegel and Analytic Philosophy. Traduo: Italo Lins Lemos (UNICAP),
Agemir Bavaresco (PUCRS), Danilo Vaz-Curado R. M. Costa (UFRGS) e Ktia Etcheverry
(PUCRS). Texto indito cedido pelo Professor Brandom revista Veritas. E-mail:
<rbrandom@pitt.edu>.
R.B. Brandom Hegel e Filosofa Analtica
Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 78-94 79
O ponderado e provocante livro de Paul Redding, Analytic Philosophy
and the Return of Hegelian Thought, um paradigma do tipo de filosofia
que Hegel descreveu como seu tempo, capturado no pensamento.
Esse livro , ao mesmo tempo, impressionante e til de se estudar, bem
como filosoficamente perspicaz e sugestivo. A estratgia de Redding
abrir passagem a partir de duas direes. Por um lado, ele tem coisas
interessantes a dizer sobre quais elementos da tradio analtica fazem
amadurecer uma reviravolta hegeliana. Por outro lado, ele apresenta
algumas caractersticas das concepes de Hegel que so particularmente
passveis de apropriao por essa tradio. Penso que com este livro
provavelmente se aprende mais sobre Hegel do que sobre filosofia
analtica. Entretanto, isto no impede que Redding se coloque em uma
posio capaz de tirar algumas concluses mais gerais.
Redding est correto quanto ao mito de origem que Bertrand Russell
concebeu, o qual localiza o manancial do movimento analtico em um
recuo honesto do que os Idealistas Britnicos fizeram de Hegel. Da
maneira como Russell apresenta o assunto, Hegel apenas chama ateno
explicitamente para o que j estava durante todo o tempo implcito no
tradicional termo-lgico de sujeito-predicado: um holismo ontolgico
completo. Redding cita Russell a partir do Our Knowledge of the External
World, de 1914:
Agora a lgica tradicional sustenta que toda proposio atribui um
predicado a um sujeito, e que a partir disso facilmente se segue que
apenas pode existir um sujeito, o Absoluto, pois se existissem dois, a
proposio de que existem dois no atribuiria um predicado a nenhum
deles.
1
Parece um pouco demais se contrapor ao termo-lgico tradicional
por no ser atomstico o suficiente. nas relaes, acima de tudo, que
ela teve maior dificuldade em se expressar. Em todo caso, uma vez que
os lgicos tradicionais estavam acostumados a tratar, por exemplo, o ser
gmeo como uma propriedade, eles no teriam relutado diante de no ser
solitrio. Para ser justo, enquanto Russell estava plenamente no modo
de propaganda a favor de sua nova lgica, ele foi inteiramente capaz de
culpar a lgica do sujeito-predicado pela opresso s mulheres, a fome
na China, e a Primeira Guerra Mundial. Seja como for, Russell alinhou
a escolha entre a lgica antiga, que ele v Hegel (ou ao menos seus
seguidores, especialmente Bradley) como tendo trazido para sua prpria
concluso lgico-metafsica, e o novo quantificador lgico, com a escolha
entre o monismo ontolgico e o pluralismo: como ele memoravelmente
1
London: Allen and Unwin, p. 48. Daqui para frente apenas APRHT.
R.B. Brandom Hegel e Filosofa Analtica
80 Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 78-94
coloca a questo, entre ver o universo como uma tigela de gelatina e
como um balde de tiro
2
.
Visto desse modo, o princpio essencial e fundante da filosofia analtica
de fato o atomismo semntico, lgico e metafsico. Assim como Redding,
penso que Hegel foi, de fato, um holista semntico, lgico e metafsico.
Se isso correto, ento, na direo apontada por Russell, trazendo Hegel
de volta discusso analtica, seria necessrio o descarte de seu corao
pulsante: a lgica de primeira ordem de predicados e quantificadores.
Mas eu no penso que Hegel foi conduzido ao holismo, porque a lgica
que Kant e ele herdaram foi de termos-lgicos. Tal fato, caso teve algum
efeito, foi o de dificultar para Hegel a tarefa de encontrar modos coerentes
de expressar seu holismo. E a insistncia atomista de Russell em comear
com objetos, construindo primeiramente proposies e depois relaes
inferenciais entre proposies, segue aquela mesmssima ordem de
explanao lgica e semntica que foi consagrada na progresso da
lgica tradicional, partindo da doutrina bsica de conceitos (singular e
geral) para uma doutrina dos juzos (classificados conforme os tipos de
classificao ou predicao envolvidos), para uma doutrina de silogismos
(classificados conforme os tipos de classificaes envolvidos nos juzos
que os compem). A este respeito, Russell quem foi reacionrio.
Mas, a tradio analtica inicial no falou apenas com essa voz
russelliana. Redding nos lembra que o primeiro passo na estrada holstica
para Hegel foi tomado j por Kant, rompendo com a ordem tradicional
da explanao semntica e lgica ao insistir na supremacia do juzo.
Ele compreendeu as representaes particulares e gerais, intuies e
conceitos, apenas em termos do papel funcional que eles desempenham
no juzo (eu penso que seja assim porque os juzos so as unidades
mnimas da responsabilidade, de modo que a primazia do juzo deveria
ser entendida como uma consequncia imediata da reviravolta normativa,
que Kant introduziu na filosofia da mente e na semntica mas essa
uma histria para outra ocasio).
3
Frege assumiu essa ideia kantiana,
na forma de seu princpio do contexto: apenas no contexto de uma
sentena os nomes tm uma referncia. Wittgenstein, o primeiro e o
tardio, v as sentenas desempenhando um papel distintivo, primeiro
2
[Alguns tm sugerido que esse texto foi alterado neste ponto, e que o original se referia
no s diferenas ontolgicas, mas sim s profundas diferenas polticas, e talvez
fundamentalmente afetivas, entre as sensibilidades de Bradley (autor de My Station
and Its Duties) e Russell (autor de Why I am Not a Christian), o primeiro vendo o mundo
Victoriano presunoso e plcido como uma tigela jovial e o outro como um balde de
excrementos.]
3
Literalmente. Eu digo isso em minhas conferncias de Woodbridge: Animating Ideas of
Idealism: A Semantic Sonata in Kant and Hegel, a ser publicado em breve pela Havard
University Press como a primeira parte do Reason in Philosophy: Animating Ideas.
R.B. Brandom Hegel e Filosofa Analtica
Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 78-94 81
como a unidade mnima de sentido, e depois como a unidade lingustica
mnima que pode ser usada para fazer um movimento em um jogo de
linguagem. Em outras figuras importantes, tais como Carnap e C. I.
Lewis, a corrente de pensamento emprico-atomista, que motivou Russell,
coexistiu e se misturou com fortes influncias neokantianas, at mesmo
onde essas influncias no assumiram a forma de um tratamento do
contedo proposicional como sendo primordial na ordem da explanao
semntica. Redding credita a esta vertente de Kant-Frege-Wittgenstein
na filosofia analtica a abertura de um espao dentro do qual uma
reaproximao eventual com Hegel pode ter lugar.
Eu penso que ele est certo sobre isso. Porm, tambm penso que
continuar a narrativa para alm do incio da histria do movimento
analtico, no qual se concentra Redding, ajuda a preencher essa narrativa.
A promoo kantiana do juzo ao lugar de honra lgico-semntico apenas
um primeiro passo no afastamento do atomismo da ordem tradicional de
explanao em direo ao holismo hegeliano pleno. Hegel no apenas
introduziu, no meio da ordem tradicional, o juzo no lugar do conceito,
como tambm a virou de cabea para baixo, no apenas compreendendo
objetos e conceitos em termos de juzos, mas compreendendo juzos em
termos de sua funo na inferncia. E, do mesmo modo como alguns
filsofos que desempenharam papis centrais na tradio analtica
seguiram Kant, outros avanaram na estrada do holismo da qual Hegel
foi o pioneiro. De fato, todas essas vertentes de pensamento j estavam
representadas na tradio pragmtica clssica americana: no apenas
na linha empirista-atomista (pense no monismo radical de James), mas
tambm na linha kantiana (Peirce) e at mesmo na hegeliana (Dewey, e
tambm Peirce). Quine, herdeiro tanto da tradio pragmtica clssica
americana (via seu professor, C. I. Lewis, ele prprio aluno de James e
do hegeliano Josiah Royce), quanto da tradio lgico-analtica, em Two
Dogmas of Empiricism, considerou a unidade mnima de sentido como
sendo, no a proposio, mas o que ele chamou de teoria do todo: tudo
em que algum acredita, e todas as conexes inferenciais que vinculam
as crenas entre si e a outras crenas possveis. Davidson aprofundou
e desenvolveu este pensamento, e explorou suas consequncias para
um nmero de tpicos de interesse central para a tradio analtica.
Para aqueles que alcanaram a idade filosfica durante este perodo, a
influncia desta linha de pensamento poderia parecer to penetrante
que algum como Jerry Fodor poderia, com alguma justificao, ver a
sua reafirmao do atomismo semntico como um nadar contra a mar
dos tempos dominante.
Em relao a isso interessante recordar as consideraes que
impeliram Quine a endossar esse movimento holstico. Seu slogan
R.B. Brandom Hegel e Filosofa Analtica
82 Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 78-94
era: Significado no que a essncia se torna, quando destacada
da coisa, e anexada palavra. Esta mxima expressa a traduo das
questes ontolgicas em uma chave semntica que foi a grande marca da
reviravolta lingustica. Quine rejeitou as essncias porque ele rejeitou como
fundamentalmente ininteligvel tudo o que expresso pelo vocabulrio
da modalidade altica (Em outra bela frase, ele descartou a lgica modal
como sendo, na melhor das hipteses, o engendramento de uma iluso
do entendimento). Ele fez isso por duas razes. Primeiramente, pelo
empirismo residual que permaneceu mesmo depois dele ter rejeitado
os Dois Dogmas do Empirismo. Nos limites da modalidade, ele pensou
que a condio humeana a condio humana. Em segundo lugar, pelo
fato de que a nova lgica, nos estgios de desenvolvimento ps-fregeano,
pr-kripkeano e russelliano que Quine aperfeioou, no tinha os recursos
expressivos para lidar semanticamente com a modalidade. Por essas
razes, Quine teve que rejeitar a distino entre as relaes internas e
externas: aquelas que so essenciais para a identidade de uma coisa e
aquelas que so meramente acidentais a ela (No exemplo bradleyano:
a relao entre o degrau e o corrimo de uma escada interna a ela,
enquanto sua relao com a parede, de apoiar-se nela, externa). Uma
vez que um dos dogmas empiristas que Quine rejeitou foi o seu atomismo
semntico, ele no poderia seguir Russell (e o Tractatus) ao responder
rejeio de Russell da distino, tratando, de fato, todas as relaes como
externas. O resultado foi seu recuo para um holismo semntico completo,
no qual todas as relaes inferenciais so tratadas como constitutivas do
sentido de sentenas e (do mesmo modo) dos termos e predicados que
elas contm como sendo todas, com efeito, relaes internas. Tentando
evadir-se do que Whitehead chamou de falcia do contraste perdido,
e permanecendo fiel lgica de Russell, Quine construiu essas relaes
inferenciais extensionalmente, no como sendo modalmente robustas, no
sentido de sustentar contrafactuais, mas ainda assim o holismo semntico
foi deixado indefinido.
Este desenvolvimento demonstrou uma dinmica que penso estar
ativa em nossa prpria poca, e contra a qual Russell e Moore j haviam
alertado. Pois o combate de f que eles criaram em favor do novo
movimento analtico no definiu seu credo apenas pela rejeio de Hegel,
eles entenderam a tolice idealista por eles combatida como j tendo sido
estabelecida por Kant. Suspeitavam que no se pudesse abrir os preciosos
portes do decoro analtico de modo amplo o suficiente para deixar Kant
adentrar, e ento fech-los rapidamente o suficiente para deixar Hegel
de fora. Tanto o exemplo de Quine quanto alguns dos desenvolvimentos
contemporneos que Redding ensaia, sugerem que eles poderiam ter
tido razo. Em conexo a isso, penso ser instrutivo recordar apenas quo
R.B. Brandom Hegel e Filosofa Analtica
Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 78-94 83
recentemente Kant reentrou no cnone analtico. As restries que Russell
e Moore amplamente estabeleceram se mantiveram firmes at que foram
enfraquecendo ao final dos anos 60 pelos trabalhos de Strawson e Bennett
sobre o uso da filosofia teortica de Kant, e o trabalho kantiano de Rawls
em filosofia prtica (especialmente em sua Teoria da Justia, de 1970).
Desde ento, tivemos vrias geraes de acadmicos com trabalhos
analticos de primeira linha sobre Kant. E agora, assim como o dia sucede
noite, vemos os primeiros sinais do que Redding chamou de o retorno
do pensamento hegeliano nos crculos analticos. Minha suposio
a de que Hegel seja um leitor de Kant por demais interessado para ser
arrancado do crculo de leitura, uma vez que o prprio Kant tenha sido
colocado no centro do palco (abrigando o empirismo dentro das asas).
Wilfrid Sellars disse uma vez esperar que o efeito de seu trabalho fosse
o de comear a mover a filosofia analtica da sua fase humeana para
uma fase kantiana. E Rorty caracterizou meu trabalho, assim como o de
John McDowell, como sendo potencialmente de auxlio em principiar
o movimento da filosofia analtica de sua fase kantiana incipiente para
sua inevitvel fase hegeliana. Esse o desenvolvimento caracterizado
e auxiliado por Redding (Os Marxistas sempre alegaram que se deve
empurrar o que est caindo). Wittgenstein um caso interessante dessa
transio a ser apontada. Pois se pensarmos na altivez do lugar dado ao
contedo proposicional pela primeira, e na teoria social de caracterstica
normativa da intencionalidade da ltima, podemos ver o Wittgenstein
do Tractatus como um neokantiano, sem o empirismo residual de Kant,
e o Wittgenstein das Investigaes como um neo-hegeliano, sem o
racionalismo revivido de Hegel.
H outro tema kantiano antiempirista e fundamentalmente antiato-
mstico que est ocorrendo na filosofia analtica recente, e que Redding
no discute. Este tema, penso eu, tambm ir eventualmente apoiar uma
renovada apreciao das ideias hegelianas. Trata-se do papel central
que deve ser entendido como sendo desempenhado pela modalidade
na semntica, lgica e metafsica. Um dos motores de propulso do
distanciamento de Kant do empirismo a sua compreenso de que a
estrutura da descrio emprica os compromissos, prticas, habilidades,
e procedimentos que formam a base prtica necessria dentro do nico
horizonte no qual possvel engajar-se na atividade cognitiva teortica
de descrever como as coisas empiricamente so envolve essencialmente
elementos exprimveis em palavras que no so descries, que
no executam a funo de descrever como as coisas so ao nvel do
fundamento. Estes incluem o que tornado explcito como as afirmaes
de leis, utilizando conceitos modais alticos para relacionar os conceitos
aplicados nas descries. Como Sellars coloca a questo:
R.B. Brandom Hegel e Filosofa Analtica
84 Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 78-94
s porque as expresses em termos das quais ns descrevemos
objetos, at mesmo expresses to bsicas como so as palavras, para
as caractersticas perceptveis dos objetos molares, situam estes objetos
num espao de implicaes, que elas descrevem inteiramente, ao invs
de meramente rotular.
4
E as implicaes que articulam aquele e esse espao de razes so
modalmente robustas, prova de contrafactuais. Foi a apreciao desse
ponto kantiano que levou o neokantiano americano C. I. Lewis a aplicar
os mtodos da nova lgica para desenvolver lgicas modais (de fato, ele
assim o fez essencial e contemporaneamente ao Principia Mathematica).
Sellars chega concluso, o que Quine no faz, de que as teorias do
todo, que Quine vira como sendo a unidade de sentido mnima, eram
teorias que incluam leis. Ele resumiu esta lio sob a epgrafe de um
de seus ensaios menos legveis conceitos enquanto envolvendo leis, e
inconcebveis sem elas.
5
Um holismo que enfatiza o carter semantognico das relaes modais
alticas de necessidade e precluso conduz-nos muito mais prximo a
Hegel do que mesmo Quine havia conseguido. No centro das inovaes
de Hegel, est uma concepo no-psicolgica do conceitual, segundo
a qual ser um realista modal sobre o mundo objetivo (o mundo como
ele independentemente de sua relao com quaisquer atividades ou
processos do pensamento) , por conseguinte, ser um realista conceitual
sobre ele. Neste modo de pensar sobre o conceitual, assumir que h
realmente leis da natureza, de que objetivamente necessrio que o
cobre puro derreta a 1084 C, de que impossvel que uma massa esteja
sob acelerao sem estar sujeita a alguma fora, ver o mundo objetivo
enquanto forma conceitual e, portanto, apreensvel como tal. Pois Hegel
entende o conceitual como o que quer que se mantenha em relaes com
o que ele chamou de determinao negativa e mediao pelas quais
ele quer significar a incompatibilidade material e a consequncia material.
Para que exista algum modo determinado do mundo ser, basta que ele
seja articulado em estados de coisas objetos possuindo propriedades
e estabelecendo padres nas relaes , que se incluem e excluem
mutuamente em formas modais robustas. Apreender essas estruturas
conceituais no pensamento colocar as prticas de ampliar e criticar em
conformidade aos compromissos com essas relaes objetivas: incluindo
4
p. 306-307 ( 107) In: Wilfrid Sellars: Counterfactuals, Dispositions, and Causal
Modalities In: Minnesota Studies in the Philosophy of Science, Volume II: Concepts,
Theories, and the Mind-Body Problem, ed. Herbert Feigl, Michael Scriven, and Grover
Maxwell (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1958), p. 225-308.
5
SELLARS, W. (1948) Concepts as Involving Laws, and Inconceivable Without Them.
In: Philosophy of Science, 15: p. 287-315.
R.B. Brandom Hegel e Filosofa Analtica
Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 78-94 85
as consequncias inferenciais dos compromissos que se reconhece, e
rejeitando os compromissos que so incompatveis com elas.
O mesmo tipo de considerao nos convence de que no teremos
xito na construo de uma compreenso dos fatos e dos estados de
coisas (enunciveis, alegveis e julgveis), a partir de um entendimento
dos objetos (e as propriedades e as relaes pensadas como um tipo de
coisa), mas que devemos, ao invs, procurar compreender os objetos e as
propriedades, e as relaes em termos da contribuio que eles fazem aos
fatos e estados de coisas, deve ser desdobrada de modo a convencer-nos
de que os fatos e estados de coisas no podem ser inteligveis, exceto luz
das modalmente robustas, prova de contrafactuais (legiformes), relaes
de consequncia material e incompatibilidade que se estabelecem entre
objetos e propriedades e que articulam seus contedos proposicionais.
Dar esse passo embarcar em um caminho que leva de Kant a Hegel.
Trata-se, pois, de passar da ordem semntica e da explicao ontolgica,
que requer juzos, o entendimento, como primordial, para abarcar a
metaconcepo, que requer inferncia, a razo, enquanto primordial. Na
adaptao de Hegel da terminologia de Kant, passar da estrutura do
Verstand [entendimento] para aquela da Vernunft [razo]
6
.
A revoluo modal, que teve lugar na filosofia analtica nos ltimos
cinquenta anos, equivale a um repdio decisivo de hostilidade
modalidade que resultou de uma consonncia infortunada sobre esse
ponto, da parte de ambas as inspiraes intelectuais do empirismo lgico.
Considero que esta revoluo tenha passado, at agora, por trs fases:
o desenvolvimento seminal de Kripke sobre a semntica dos mundos
possveis para o conjunto das lgicas modais de C. I. Lewis, o emprego
desse aparato para fornecer uma semntica intensional para uma srie
de expresses no-lgicas, e as sequelas do tratamento de Kripke aos
nomes prprios, em Naming and Necessity. O ltimo destes, aprofundado
e ampliado a fim de ser aplicado a outros tipos de expresses, tais como
os termos de tipos naturais, indexicais, e demonstrativos, tem sido
associado ao rompimento entre modalidades fsico-causais e conceituais
e modalidades metafsicas, e a busca da semntica em termos dessa
ltima e no da primeira. Ou seja, esse rompimento traz consigo a rejeio
da associao entre modalidade e articulao conceitual, que tanto
Quine quanto Sellars tomaram como certa (o primeiro como uma razo
para dispensar ambas, o ltimo como uma razo para inclu-las). Mas
essa rejeio crucialmente predicada em uma concepo psicolgica
do conceitual: que entende conceitos, em primeira instncia, em termos
do nosso domnio sobre eles, ao invs de, como Kant havia ensinado, em
6
Cf. APRHT, p. 137.
R.B. Brandom Hegel e Filosofa Analtica
86 Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 78-94
termos de sua vinculao normativa sobre ns. Resta-nos ainda realizar
uma reconciliao e sntese entre a abordagem de modalidade feita por
Kripke-Kaplan-Stalnaker-Lewis (David) e a abordagem feita por Kant-
Hegel-Sellars mas talvez algum dia a realizemos.
7
Um dos objetivos de Redding neste livro ressaltar a importncia
no apenas de Kant, mas a influncia de Aristteles sobre Hegel. Em
conexo a isso, ele pode ratificar a abordagem de McDowell. o que ele
faz em dois belos captulos sobre Aristteles, Hegel e McDowell acerca
da phronesis e da dinmica da razo avaliativa. No direi nada em
detalhes sobre essa discusso, mantendo meu foco aqui (e no somente
aqui) mais em questes da semntica teortica, lgica e metafsica do que
naquelas decorrentes da filosofia prtica. A principal manifestao de sua
preocupao em seguir Hegel, mantendo Aristteles em perspectiva, o
fato de que, ao longo de seu livro, h uma discusso sobre a significao
dos trabalhos de Hegel dentro da tradio basicamente aristotlica
de termos lgicos, e no sobre o contexto moderno do que ele chama
(um pouco enganosamente) de lgica proposicional. Nas minhas
observaes, at agora, tenho me concentrado na perspectiva sobre
Hegel e a filosofia analtica que resulta quando os consideramos do
ponto de vista de uma tenso entre o holismo de Hegel e o atomismo e
nominalismo de Russell (Nominalismo no que o atomismo se transforma
quando separado do mundo e ligado palavra). Mas, Redding pensa que
algumas das lies que extraio da minha leitura de Hegel so distorcidas,
por estarem situadas na estrutura das categorias lgicas do sculo XX
e no das categorias dos termos-lgicos tradicionais que Hegel adapta
aos seus distintos e expressivos propsitos.
Redding est seguramente correto em nos lembrar de sermos
vigilantes quanto a pressupostos hermenuticos implcitos, que podem
se originar do esquecimento da moldura lgica bastante diferente com
a qual Hegel estava trabalhando no primeiro tero do sculo XIX. Ele
tambm est seguramente correto, como j foi salientado, que esta
diferena era bastante importante para os termos com os quais Russell
(especialmente) desenhou a brilhante linha de fronteira (a qual ele nos
exortou a defender) entre o pensamento hegeliano (mesmo, e talvez
especialmente, em sua frmula bradleyana do final do sculo XIX) e
o nascente movimento analtico na filosofia. Pois, o termo filosofia
7
Eu assumo alguns passos iniciais em direo ao modo de se fazer isso nos trs ltimos
captulos do Between Saying and Doing [Entre dizer e fazer]. Embora o ponto no seja
desenvolvido ali, como Jaroslay Peregrin mostrou, a incompatibilidade semntica que
introduzida ali pode em grande parte ser traduzida para a semntica de mundos
possveis pela troca de conjuntos de sentenas minimamente incoerentes por conjuntos
de sentenas maximamente coerentes.
R.B. Brandom Hegel e Filosofa Analtica
Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 78-94 87
analtica tem, entre seus diversos sentidos, um sentido estreito, no
qual seu comprometimento caracterstico principal o de resolver
como a nova lgica, que desencadeou o movimento no alvorecer do
sculo XX, torna acessvel novas abordagens de conceitos, questes e
definies centrais ao interesse da filosofia tradicional. Este projeto e
sua ideia mestra unem Frege, Russell, Carnap, junto com o Wittgenstein
do Tractatus, Ramsey, Ayer e C. I. Lewis, da primeira metade do sculo,
e figuras como Quine, Sellars, Davidson, Hempel, Putnam, Dummett,
Geach e David Lewis da segunda metade do sculo. Essa caracterizao
estreita no iria, penso eu, incluir Moore, nem o ltimo Wittgenstein.
Peirce seria includo, mas James ou Dewey no. Este critrio restritivo
de demarcao poderia validar a praxe ao excluir Heidegger, Husserl
e Merleau-Ponty, sem mencionar Rorty. Mas, iria divergir dessa praxe
ao excluir tambm figuras como Rawls, Nagel, Searle, Stroud e Fodor
embora no Strawson, Kaplan, Burge, Stalnaker e Friedman. Inscrevi-
me nesta expedio (explicitamente em Between Saying and Doing, e
implicitamente em Making it Explicit), mas McDowell (em Mind and
World) nem mesmo foi um companheiro de viagens. Este , portanto, um
critrio muito estreito.
Mas, estar Redding correto em ver a diferena entre o termo lgico
de Hegel e a nossa lgica como geradora de uma tenso substancial no
corao de um projeto de integrao das ideias de Hegel conversao
analtica? Penso que no. Um test case principal, ao qual ele dedica o
penltimo captulo do livro, diz respeito negao e contradio. O
conceito-mestre da lgica, semntica e metafsica de Hegel a negao
determinada
8
. Trata-se de um conceito modal. Temos de compreend-lo
(como nos dito no captulo Percepo da Fenomenologia) em termos da
diferena entre dois tipos de diferena: simples ou diferena indiferente
[gleichgltige] e diferena exclusiva [ausschlieende]. Quadrado e
vermelho so propriedades diferentes no primeiro sentido, enquanto
que quadrado e circular so diferentes no segundo, modalmente
8
Mediao tambm um conceito-chave, mas claramente subordinada negao
determinada. Mediao uma questo de manter relaes inferenciais. De fato, o
prprio termo deriva do papel de termo-mdio em um silogismo de permitir passar das
premissas maior e menor para a concluso em um silogismo. Tambm claro, eu penso,
que as relaes inferenciais que Hegel tem em mente so pensadas como inferncias
modalmente robustas do tipo que poderia ser expresso por condicionais contrafactuais.
Embora Hegel em lugar algum faa essa meno, eu penso que a conexo assegurada
pelo fato de que tais inferncias podem ser definidas em termos de incompatibilidades
materiais (negaes determinadas). Pois p implica q (Pa implica Qa) em um sentido
modalmente forte quando tudo o que incompatvel com q incompatvel com p.
Portanto, Pedro um asno implica que Pedro um mamfero, porque tudo o que
incompatvel com ser um mamfero incompatvel com ser um asno (mas no vice versa).
R.B. Brandom Hegel e Filosofa Analtica
88 Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 78-94
mais vigoroso, sentido: eles so incompatveis. impossvel (uma
questo modal altica) para uma e a mesma figura plana exibir ambos.
Podemos dizer que circular uma (e no a) negao determinada
de quadrado. Negao determinada deve ser distinguida no apenas
da mera (compatvel) diferena, mas tambm do que Hegel chama de
negao formal ou abstrata: no-quadrado. Como observa Redding,
negaes determinadas so os contrrios aristotlicos, enquanto as
negaes formais so os contraditrios aristotlicos.
Sobre este ponto diz Redding que:
O significado de Hegel mascarado se abordarmos suas alegaes
lgicas exclusivamente a partir de uma abordagem da lgica de base
proposicional, e ignorarmos o papel irredutvel que Hegel atribui aos
aspectos do termo lgico aristotlico.
9
O ponto-chave parece ser que:
O termo negao produz o contrrio do termo negado, enquanto negar,
ao invs de afirmar um predicado de um sujeito, produz uma sentena
que contraditria afirmao.
10
Isso verdade, mas disso no se segue que o termo lgico tenha
alguma vantagem inerente ao expressar negaes determinadas, ao invs
de formais. Afinal, podemos usar a negao formal clssica para formar os
contraditrios dos predicados, tambm como fizemos com o no-quadrado
acima. O movimento importante vai da inconsistncia formal para a
incompatibilidade material. No que refere inferncia, este o movimento
que Sellars chama de inferncias materiais: aquelas subscritas por um
contedo dos conceitos no-lgicos que elas essencialmente envolvem.
Estas so inferncias tais como: est chovendo, ento as ruas vo ficar
molhadas, ou Pittsburgh fica a oeste da Filadlfia, ento a Filadlfia
fica a leste de Pittsburgh. Incompatibilidades e consequncias materiais
podem ser consideradas tanto para predicados (propriedades) como para
sentenas (estados de coisas). A diferena do enfoque categorial lgico
ortogonal distino entre incompatibilidade material e inconsistncia
formal. Ento, eu no vejo como a centralidade do conceito de negao
determinada para o empreendimento de Hegel possa nos dar alguma
razo para pensar que o significado de Hegel estaria mascarado, se ns
no o acompanharmos na colocao de suas exigncias numa estrutura
de um termo lgico.
Para ser justo, Redding parece conceder algo assim:
9
APRHT, p. 204.
10
APRHT, p. 207.
R.B. Brandom Hegel e Filosofa Analtica
Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 78-94 89
Enquanto a leitura inferencialista que Brandom faz de Hegel tende
a trabalhar partindo do interior de uma abordagem uniformemente
fregeana da lgica, nada de substancial parece haver em sua posio
que no permita assimilar as consideraes, a que se tm recorrido aqui,
ao mbito do projeto inferencialista.
11
Mas temos, ento, a parte em que ele se retrata. A passagem continua:
No entanto, pareceria que a partir de uma posio estritamente hegeliana,
a metaposio naturalstica de Brandom poderia ser considerada como
trabalhando ao nvel do Entendimento ao invs de ao nvel da Razo.
No considero que tenhamos licena para tal caracterizao. Penso
que por detrs disso esto duas alegaes. Em primeiro lugar, as abor-
dagens fregeanas da lgica so kantianas ao conceder o lugar de honra
categorial lgico-semntico ao nvel do juzo. Essa uma caracterstica
do entendimento (em ambos os usos de Kant e Hegel). Em segundo lugar,
a estrutura hegeliano metaconceitual da razo articulada pela incom-
patibilidade material e pelas relaes de consequncia. Mas a lgica
fregeana diz respeito inconsistncia e consequncia formais. Aceito
parcialmente essas alegaes. Mas do fato de eu usar o aparato fregea-
no no se segue a concluso de que eu no esteja capturando o que
distintivo na estrutura da Vernunft de Hegel. Quanto ao primeiro ponto,
comeo com a inferncia do mesmo modo, eu defenderia, que faz Frege,
ao menos em seu seminal Begriffsschrift, de 1979. Pois, ali, ele introduz
seu tpico, o contedo conceitual [begrifflicher Inhalt], com a observao:
... h duas maneiras pelas quais o contedo de dois juzos pode diferir;
pode ou no ser o caso de que todas as inferncias que podem ser
extradas do primeiro juzo quando combinado com certos outros juzos,
que podem sempre ser tambm extrados a partir do segundo quando
combinados com os mesmos outros juzos. As duas proposies os
gregos derrotaram os persas em Plataea e os persas foram derrotados
pelos gregos em Plataea diferem na primeira maneira; mesmo se uma
ligeira diferena de sentido discernvel, a concordncia no sentido
preponderante. Chamo essa parte do contedo, que a mesma em
ambos, de contedo conceitual. Apenas esta tem significao para nossa
linguagem simblica [Begriffsschrift]... Na minha linguagem formalizada
[BGS]... apenas essa parte dos juzos que afeta as inferncias possveis
levada em considerao. Tudo o que for preciso para uma inferncia
correta [richtig usualmente traduzido enganosamente por vlido]
completamente expresso; o que no necessrio... no o .
12
11
APRHT, p. 218.
12
FREGE, Begriffsschrift, seo 3.
R.B. Brandom Hegel e Filosofa Analtica
90 Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 78-94
O contedo conceitual determinado pelo papel inferencial. Alm
disso, desde que a questo de introduzir um vocabulrio lgico especfico
consiste, para Frege, em codificar propriedades antecedentes de inferncia
que articulam o contedo conceitual de expresses no-lgicas, est
claro que as inferncias que ele tem em mente, como articuladoras
desses contedos, so inferncias materiais. De qualquer forma, esse
o entendimento de Frege, baseado no qual estou disposto a usar parte
de seu aparato metaconceitual para explicar Hegel. Isso no me coloca,
ou a Frege, do lado errado (antihegeliano) da diviso fundamental entre
Verstand/Vernunft.
Ademais, h uma importante dimenso ao longo da qual me parece que
a lgica de Frege oferece uma vantagem decisiva sobre o termo-lgico que
Hegel foi obrigado a tomar como seu ponto de partida, precisamente no
que diz respeito ordem holstica descendente de explanao semntica,
que caracterstica da Vernunft. Pois a anlise da funo-e-argumento de
Frege exatamente a ferramenta decomposicional, que se precisa para
implementar uma estratgia explanatria que vai da inferncia, atravs
do juzo, aos termos e conceitos, revertendo a estratgia tradicional do
termo-lgico. Esse o mtodo de notar invarincia sob substituio,
j desenvolvido por Bolzano. Na verso que elaborei no Captulo seis
do Making it Explicit, duas sentenas s expressam o contedo se a
substituio de um pelo outro, enquanto premissa ou concluso de
inferncias, nunca torna uma inferncia materialmente boa em uma
materialmente ruim. Dois predicados so, ento, tratados (por exemplo)
como expressando o mesmo conceito [apenas] no caso de a substituio
de um pelo outro, nunca mudar o contedo das sentenas que os contm.
O resultado uma estrutura categorial intermediria entre geleia ou tiro,
mas muito mais intrincadamente estruturada do que ambos geleia ou tiro.
Se estivermos interessados em avanar e considerar todos os aspectos
das consequncias de uma mudana a partir de um empirismo atomstico-
nominalista, primeiro, para a Verstand baseada em juzos e, depois, para
a Vernunft baseada em inferncias, a lgica de Frege nos d ferramentas
muito mais expressivas para faz-lo do que a tradicional lgica. E ela
certamente capaz de expressar tanto a negao do predicado como a
negao sentencial. De fato, uma vez mais, ela precisamente o que se
requer para clarificar as diferenas e as relaes entre elas.
13
Uma pedra-de-toque crucial para a avaliao de qualquer definio
da noo hegeliana de negao determinada estabelecer que sentido
13
Danielle Macbeth, pioneira em Freges Logic [Harvard University Press, 2005], argumenta
persuasivamente que uma de suas expressivas vantagens principais a sua capacidade
de expressar as relaes modais entre conceitos, que devem ser entendidas como
reflexes constrangedoras da verso de Russell-Carnap-Tarski-Quine da nova lgica.
R.B. Brandom Hegel e Filosofa Analtica
Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 78-94 91
se pode dar sua amizade por contradies. Redding gasta boa parte de
seu captulo com este tpico, pacientemente apontando muitas razes
para no se entender Hegel como abraando uma posio do tipo que
tem sido trabalhada em detalhes no dialetismo contemporneo. Este
um til, mas desestimulante, empreendimento, ao qual suponho que
Redding, enquanto australiano, sentiu-se obrigado a percorrer. Eu teria
ficado feliz, no entanto, com uma discusso que penetrasse intimamente
no corao da questo. Eu a encapsularia em quatro alegaes:
1. A lei formal da no-contradio, que probe o comprometimento
simultneo a p e sua negao, p, correta dentro de certos
limites, mas falha em capturar mais do que uma sombra abstrata
do fenmeno importante.
2. A contradio material estar diante de compromissos
materialmente incompatveis, compromissos que so negaes
determinadas um do outro inevitvel.
3. Tais contradies mostram que algo est errado: que algum
cometeu um erro (ou uma falha prtica).
4. No entanto, as contradies materiais e os erros que elas indicam
so o caminho da (e no a) verdade.
A negao formal uma abstrao a partir de determinada negao,
que o que realmente importa.
14
O sentido no qual a incompatibilidade
material (um sentido de contradio) fundamental para o mundo
objetivo o de que ser uma propriedade ou estado de coisas determinado
contrastar com (no sentido de excluir modalmente) outras propriedades
que um objeto pode ter, ou com estados de coisas que podem ocorrer
isto , encontrar-se em relaes de negao determinada com outros
itens da mesma categoria ontolgica. Omnis determinatio est negatio.
A incompatibilidade material fundamental para nossas atividades
cognitivas e prticas no sentido em que no h, e no pode em princpio
haver, um conjunto dos conceitos determinados, tal que a aplicao
correta deles seguindo as normas para seu uso leve a compromissos
que so incompatveis conforme essas normas conceituais materiais.
Por que no? Penso que Hegel tem uma ideia radicalmente nova do
que consiste a inesgotabilidade conceitual do imediatismo sensorial que
consonante com a sua nova configurao holstica da Vernunft, antes do
que com o Verstand ou com o atomismo. A tradio (includo Kant) havia
entendido o sentido no qual o que nos fornecido de modo imediato por
nossos sentidos ultrapassa o que podemos capturar conceitualmente,
14
Se P uma propriedade, P pode ser pensado como a mnima propriedade materialmente
incompatvel de P: cuja posse implicada por toda propriedade materialmente
incompatvel com P. Portanto, no-quadrado implicado por circular, triangular,
hexagonal, e assim por diante.
R.B. Brandom Hegel e Filosofa Analtica
92 Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 78-94
como uma questo de sua inesgotabilidade pelos juzos. No importa
quantos juzos perceptivos verdadeiros ns podemos fazer, restaro
sempre outras verdades ainda no expressas. Capturar completamente,
nos juzos conceitualmente articulados, o que percebemos sensorialmente
uma tarefa infinita (no sentido de Fichte), portanto, em princpio,
incompleta. Este um apelo ao que Hegel chamou de mau infinito. A
boa infinitude caracterstica da Vernunft diferente, e vai mais a fundo.
A tradio nunca duvidou da inteligibilidade da noo de determinados
conceitos, que foram totalmente adequados para expressar juzos que eram
simplesmente verdadeiros. Hegel duvidou. A inesgotabilidade conceitual
do imediato sensorial mostra-se precisamente na impossibilidade de
capturar estavelmente como so as coisas, usando qualquer conjunto de
conceitos determinados. Se aplicarmos corretamente qualquer conjunto
o tempo suficiente, eles iro eventualmente mostrar sua inadequao ao
levar-nos a abraar os compromissos que so incompatveis materialmente,
de acordo com as luzes das normas implcitas nesses prprios conceitos.
No corao da concepo de Hegel est um falibilismo no s epistmico,
mas tambm profundamente semntico. Na medida em que nossos
conceitos empricos e prticos determinados esto envolvidos, ns
nascemos em pecado, e estamos condenados a morrer em pecado (Penso
que esse aspecto do pensamento de Hegel no tem sido muito ressaltado,
devido a uma falha em manter dois conjuntos de livros: um sobre as suas
concepes sobre conceitos empricos e prticos determinados, e outro
sobre os metaconceitos lgicos, especulativos e filosficos, cujo distintivo
trabalho expressivo tornar explcito o que acontece quando aplicamos
os conceitos ao nvel do fundamento. Hegel realmente pensa que pode
haver uma bateria estvel e adequada deste ltimo).
15
Desse modo, contradizer-nos endossando compromissos mate-
rialmente incompatveis inevitvel. Mas ainda uma espcie de
pecado; existe algo errado em encontrar-nos em tal estado. Pois somos
normativamente obrigados, quando ns nos achamos com compromissos
materialmente incompatveis, a remediar a situao: [devemos] pr
em ordem nossos compromissos, incluindo aqueles inferenciais que
articulam os contedos dos nossos conceitos, de modo a eliminar a
contradio. Devemos fazer distines, refinar nossos conceitos, abrir
mo de alguns juzos, de modo a remover ou reparar a contradio. por
isso que as mesmas relaes de negao determinada, que articulam os
contedos determinados dos nossos conceitos, tambm so o motor da
mudana dos nossos compromissos conceitualmente articulados tanto
15
Explorei essas ideias com mais detalhe em Sketch of a Program for a Critical Reading
of Hegel [Internationales Jahrbuch des Deutschen Idealismus, v. 3, 2005, p. 131-161].
R.B. Brandom Hegel e Filosofa Analtica
Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 78-94 93
ao nvel dos juzos como ao nvel das inferncias, portanto, ao nvel dos
prprios conceitos. A negao determinada (e determinante) o que
faz a Vernunft dinmica. a fonte de mudana conceitual. Na medida
em que a lei meramente formal da no-contradio expressa, embora
inadequadamente, a obrigao normativa abrangente de reparar as
incompatibilidades materiais quando elas so encontradas, isto est
correto dentro de suas limitaes.
Mas, do fato de que estamos fadados a descobrir a inadequao e a
incorreo de cada conjunto de conceitos determinados, no devemos
concluir que estejamos no caminho da desesperana. Pelo contrrio, a
experincia do erro o caminho para o esclarecimento. assim que ns
melhoramos nosso entendimento, construmos conceitos-e-compromissos
melhores, conseguimos rastrear melhor o que real e objetivamente se
segue do que e exclui o que, nas inferncias e incompatibilidades, ns
subjetivamente endossamos. Este o processo-verdade, o caminho da
verdade (o movimento da vida da verdade).
16
Mas, ns no devemos
desistir da ideia de verdade enquanto uma destinao, como um estado
ou propriedade que algum time-slice dos nossos compromissos pode ter.
A verdade no uma moeda forjada que pode ser dada e embolsada
banalmente.
17
A verdade o seu automovimento.
18
Essa concepo
esttica e estvel pertence ao ponto de vista do Verstand, no da
Vernunft. Em uma memorvel caracterizao (reconhecidamente algo
menor do que uma definio), Hegel diz:
A verdade um imenso festim bquico, no qual no h uma s alma
sbria; e ainda assim, porque cada membro desfalece to logo se levanta,
o festim repouso ao mesmo tempo simples e transparente. Perante o
tribunal deste movimento, as formas simples do Esprito no persistem
mais do que o fazem pensamentos determinados.
19
Que todos os compromissos so suscetveis de serem postos em coliso
uns com os outros, e assim serem rejeitados, significa que neste processo,
a verdade inclui o negativo.
20
Esta no uma teoria coerentista da
verdade embora exista uma teoria coerentista do significado no segundo
plano. Pois as teorias coerentistas clssicas da verdade, como suas
rivais, as teorias da correspondncia, compartilham um compromisso
com a verdade como um estado ou propriedade alcanveis (verdade
16
Phenomenology, Prefcio, 47.
17
Phenomenology, Prefcio, 39.
18
Idem, 48.
19
Idem, 47.
20
Idem, 48.
R.B. Brandom Hegel e Filosofa Analtica
94 Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 78-94
como proposies rgidas e mortas).
21
algo muito mais radical e
interessante. O que importa o processo, no o produto.
O livro fascinante de Redding um importante passo progressivo
em tal processo de verdade. Ao identificar, refinar e conciliar vrias
incompatibilidades materiais entre elas (tanto reais quanto meramente
aventadas), ele inaugura uma nova fase na conversao em andamento
entre a filosofia analtica e as ideias hegelianas uma conversao que
ns podemos agora claramente ver como no encerrada de vez pelo giro
maniquesta que Russell deu a ela h um sculo atrs.
21
Idem, 45.
6
Veritas Porto Alegre v. 56 n. 1 jan./abr. 2011 p. 95-110
A ontologiA dA phronesis:
A leiturA heideggeriAnA dA
ticA de Aristteles
The onTology of Phronesis:
a heideggerian reading of arisToTles eThics
roberto Wu*
(Ao meu pai, in memoriam.)
RESUMO O artigo discute conceitos da filosofia prtica de Aristteles
e sua apropriao por Heidegger no perodo dos anos 1920. Para
isso, o autor explora a interpretao heideggeriana do conceito de
totalidade e sua relao com o particular, a fim de caracterizar a situao
concreta como o solo hermenutico das relaes de compreenso.
Investiga-se a conexo interna dos conceitos que se referem praxis
em Aristteles, destacando-se a importncia da phronesis na sua
retomada ontolgica por Heidegger. O artigo encerra indicando as
estratgias interpretativas de alguns intrpretes recentes da recepo
heideggeriana de Aristteles.
PALAVRAS-CHAVE Hermenutica. Phronesis. Praxis. Holon.
ABSTRACT The paper discusses concepts of practical philosophy of
Aristotle and its appropriation for Heidegger in the 1920s. To achieve
that task, the author deals with Heideggers interpretation of the
concept of whole and its relation with the notion of part, intending
to characterize the concrete situation as the hermeneutic ground for
relations of understanding. Also, it will be developed the research for
the inner connection of the concepts which refer to praxis in Aristotle,
stressing the importance of phronesis in its ontological retrieval for
Heidegger. The article ends indicating the interpretative strategies of
some recent interpreters of the Heideggerian reception of Aristotle.
KEYWORDS Hermeneutics. Phronesis. Praxis. Holon.
* Doutor em Filosofia pela Puc-Rio. Professor permanente do Programa de Ps-Graduao
em Filosofia da UFSC na rea de ontologia. E-mail: <beto_wu@yahoo.com.br>.
R. Wu A ontologia da Phronesis
96 Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 95-110
Este artigo pretende apresentar e discutir alguns conceitos da filosofia
prtica de Aristteles a partir da sua retomada por Martin Heidegger
nos anos 1920. Entretanto, no se trata exatamente nem de Aristteles
e nem Heidegger, e sim do fenmeno da praxis, que pode ser esclarecido
e aprofundado em seus mais diversos aspectos a partir do confronto,
da aproximao e da estranheza, que se do na violncia hermenutica
heideggeriana em relao aos textos de Aristteles. O objetivo no ,
portanto, julgar a fidelidade da interpretao heideggeriana letra de
Aristteles, nem de utilizar seus cursos e textos como comentrios para
uma exegese da tica a Nicmaco ou da Poltica, e muito menos de uma
mera equivalncia e correspondncia dos conceitos aristotlicos com os
da ontologia fundamental, como se os propsitos de Aristteles com a sua
filosofia prtica e os de Heidegger fossem absolutamente os mesmos.
No perodo em que Heidegger lecionou sobre a filosofia prtica
de Aristteles, ele teve como alunos Hans-Georg Gadamer, Max
Horkheimer, Herbert Marcuse, Hans Jonas e Hannah Arendt, dentre
outros. Apenas recentemente, a importncia de Aristteles para o pen-
samento de Heidegger tem adquirido contornos mais ntidos. Alguns
autores como Franco Volpi e Jacques Taminiaux, alm de vrios relatos
de Hans-Georg Gadamer j chamavam ateno para a relao entre
a compreenso e a praxis, antes mesmo da publicao dos textos
especificamente aristotlicos de Heidegger. Apenas em 1989 que o
informe-Natorp (Natorp-Bericht) de 1921/22 publicado em Dilthey-
Jahrbuch fr Philosophie und Geisteswissenschaften, volume 6. O Natorp-
Bericht possui, na verdade, o ttulo de Interpretaes fenomenolgicas
de Aristteles: indicao da situao hermenutica (Heidegger, 1992), e
foi composto como manuscrito em que Heidegger se submetia para as
vagas de professor nas Universidades de Gttingen e Marburg, sendo
aceito nesta ltima. A cpia do manuscrito de Marburg, que havia ficado
com Gadamer, se perde na Segunda Grande Guerra, mas a cpia de
Gttingen foi redescoberta entre os papeis de Josef Knig, que havia sido
estudante de Georg Misch, de quem recebeu a cpia. O informe-Natorp
traz um conjunto temtico em que se articulam os conceitos prticos de
Aristteles com o projeto de uma hermenutica da factidade: a kinesis da
vida fctica, a phronesis e sua relao com o kairos e a situao concreta,
a urgncia da praxis frente ao mundo terico. Esses temas e suas infinitas
ramificaes permanecem nos cursos Conceitos fundamentais da filosofia
aristotlica, de 1924, mas publicado apenas em 2002, e Sofista: Plato,
de 1924/25, publicado pela primeira vez em 1992.
A anlise que se segue toma como ponto de partida o conceito de
hermenutica. Este termo adquire significao particular no perodo dos
principais textos aqui utilizados e na temtica em comum: a interpretao
R. Wu A ontologia da Phronesis
Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 95-110 97
fenomenolgica de Aristteles como solo para uma hermenutica
da facticidade, isto , uma interpretao explicitadora da vida nos
seus diversos modos de ser a partir dela mesma. Em Heidegger, a
hermenutica deixa de ser um conjunto de preceitos metodolgicos para
ser concebido no movimento dos modos de ser do Dasein, ou seja, passa-
se da preocupao com os mtodos de interpretao para a manifestao
da kinesis da existncia humana ela mesma autocompreenso. Ao
passo que, para Schleiermacher, a hermenutica deveria eliminar as
dificuldades daquilo que ele denominou como universalidade do mal-
entendido, por meio de uma tcnica adequada, para Heidegger, essa
universalidade do mal-entendido caracteriza a compreenso mediana
do Dasein no seu ser j sempre situado no mundo. Na hermenutica da
facticidade proposta por Heidegger, a universalidade do mal-entendido
j no estava mais relacionada com uma dificuldade metodolgica em
torno da questo da interpretao, que poderia ser solvida mediante
procedimentos especficos, mas remetia diretamente cotidianidade do
Dasein, no podendo, nesse sentido, ser eliminada mediante esforos
metdicos. A compreenso no mais o resultado final do mtodo bem
sucedido, mas um existencial que proporciona abertura de possibilidades
de ser; visto dessa maneira, diremos que a existncia essencialmente
hermenutica.
Um dos pilares da hermenutica tradicional, tornado famoso por
Schleiermacher, a imbricao entre a parte e o todo. A interpretao
se move constantemente da parte para o todo e vice-versa, de modo a
depurar a cada vez o sentido do interpretado. Heidegger, ao ampliar o
espectro das interpretaes para a existncia, enfatiza que o Dasein, que
compreenso de ser, constantemente compreende a si num movimento
incessante entre a parte e o todo. Como se sabe, Ser e tempo demonstra
que essa totalidade se faz acessvel mediante a compreenso que emerge
de um modo especfico de ser, o ser-para-a-morte. A compreenso de
sua finitude o que abre ao Dasein a possibilidade do seu modo de ser
autntico, o que significa dizer de outro modo que, em vista do seu ser-
para-a-morte, o Dasein se relaciona com a sua existncia como um todo.
Para uma explicitao mais correta da importncia da noo de totalidade
na ontologia fundamental desenvolveremos a anlise que Heidegger
oferece sobre o conceito de holon no curso Sofista: Plato.
Heidegger distingue trs sentidos de holon na sua interpretao
do livro V da Metafsica de Aristteles (1023b26-1024a10). O primeiro
enunciado do seguinte modo: um holon algo no qual nada est ausente,
no qual nenhuma parte, nenhuma pea relevante, est faltando (Met.,
1023b26ss). Na interpretao de Heidegger, o holon a completude da
presena de ser naquilo tudo que pertence a seu ser, de modo que o autor
R. Wu A ontologia da Phronesis
98 Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 95-110
associa imediatamente essa definio ao termo teleion, aquilo em que
nenhuma pea est faltando (Heidegger, 2003, p. 54).
O segundo significado de holon explicado por Heidegger a partir
da noo de compreensibilidade as coisas compreendidas formam algo
nico. Para este segundo significado, Heidegger afirma que no h um
termo alemo correspondente que lhe exprima corretamente; mesmo o
termo Ganze seria limitado nesse propsito. Em vista disso, ele o exprime
de dois modos: a) ou no sentido de que tudo o que compreendido
um, ou b) no sentido de que o um composto ou formado do que
compreendido. Em relao ao primeiro caso, Heidegger afirma que,
nesse sentido, todo ente animado (homem, cavalo, deus) um holon,
uma totalidade determinada pela linguagem, na medida em que um
holon que se mostra e se faz acessvel no legein, isto , katolon. Este
termo assinala o singular enquanto um holon, mediante o logos, condio
que lhe garante uma preeminncia. O segundo caso remete ideia de
composio ou de conexo contnua (synekes); no se trata, por exemplo,
de cada um dos pontos, mas da linha como uma totalidade de pontos,
isto , nenhum dos elementos singulares ele mesmo um holon, mas
apenas o conjunto deles.
O terceiro significado de holon concebido como totalidade (pan).
Esse holon pode ocorrer: a) no sentido de mera soma, cuja ordem (thesis)
das partes arbitrria a soma dos pontos distinta da linha como
um todo, sendo que, da perspectiva da somatria, nenhum ponto tem
prioridade sobre outro; b) como uma totalidade em que a ordem dos
pontos no arbitrria, devendo ser denominado propriamente como um
todo (Ganze); c) sendo pan e holon ao mesmo tempo, como no caso da
vestimenta, em que a alterao da morphe no implica numa alterao
da physis; d) como soma especificamente numrica, aritmos, que pode
ser pan, mas no um todo; e e) como panta - todas as coisas, porm no
enquanto um todo.
A partir dessa anlise, Heidegger retm a segunda significao, o
holon compreensivo, para deter-se na oposio entre katolon e kath
hekaston. O katolon um holon determinado, cuja acessabilidade provm
do logos, o que equivale a um holon legomenon. Nesse sentido, Heidegger
afirma no Sofista que para apreender o katolon algum precisa falar,
interpretar algo como algo e por isso ultrapassa a mera representao
da aparncia visual na aisthesis. Enquanto o kath hekaston um ente
que se apresenta primeiramente na aisthesis, o katolon algo que se
mostra primariamente e apenas no legein. Sobre isso, Heidegger afirma
que o Dasein pode ser desvelador de acordo com duas possibilidades
extremas (Heidegger, 2003, p. 57), como kath hekaston, em que o ente
se mostra como tal sem se tornar um tema explcito, ou katolon, em que
R. Wu A ontologia da Phronesis
Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 95-110 99
o ente se mostra medida que se torna um tema explcito. A distino
entre essas duas possibilidades de acesso ao ente relacionada logo em
seguida com os termos pros hemas gnorimoteron e aplos gnorimoteron, o
primeiro definido no mbito daquilo que est relacionado a ns, o kath
hekaston, os entes que so mais bem conhecidos, mais familiares, que
so descobertos no nosso comportamento imediato e que se mostram
na aisthesis. O segundo, o aplos gnorimoteron, aquilo que no possui
relao imediata conosco, acessvel unicamente por meio do logos ou do
nous, isto , o katolon.
Em Tpicos (a141b6ss), Aristteles explica que o anterior mais
inteligvel que o posterior, como, por exemplo, o ponto em relao linha.
O procedimento cientfico explicado pelo Estagirita como a explicao
do posterior pelo anterior. No entanto, ele diz, tambm possvel formular
inversamente essa relao, explicando o anterior pelo posterior, dizendo
que o ponto o limite de uma linha (Top., a141b20ss). Nesse sentido,
percebe-se que so possveis dois movimentos na filosofia aristotlica:
a) aquele que vai do katolon ao kath hekaston, do todo parte, que o
movimento propriamente cientfico; e b) aquele que vai do kath hekaston
ao katolon, partindo do mais familiar em relao a ns na aisthesis para o
menos familiar. Heidegger chama a ateno para o fato de que o plano da
aisthesis geralmente concebido pela tradio como um conhecimento
inferior, como para Plato que salta [o mbito da aisthesis] para uma
realidade que simplesmente fabricada pela teoria (Heidegger, 2003,
p. 59); mesmo Aristteles avaliado por Heidegger como quem alcana
um relativo sucesso na sua abordagem do que imediatamente familiar,
apesar de sua tendncia radicalidade (Heidegger, 2003, p. 59),
pois ainda estaria preso a uma concepo ontolgica que lhe impedia
o acesso originariedade do ser do mundo. Para Heidegger, deve-se
partir dessa familiaridade da aisthesis, daquilo que se mostra para oi
polloi, isto , para os homens como eles so no incio e na maior parte
das vezes (Heidegger, 2003, p. 58). Nesse movimento da aisthesis,
no h necessidade de nenhum arranjo especial da reflexo para ver
as coisas em sua totalidade (Ganzheit) (Heidegger, 2003, p. 58). Isso
significa tambm, entretanto, que na percepo imediata da aisthesis,
seus archai permanecem velados, s sendo desvelados enquanto katolon.
Heidegger procura mostrar que as possibilidades extremas que o Dasein
tem de desvelar, como ele havia denominado katolon e kath hekaston,
esto intimamente entrelaadas. Assim, Heidegger afirma que katolon
tem um duplo significado: o primeiro diz respeito ao carter de holon
legomenon, o holon que se mostra apenas no legein de modo que qualquer
kath hekaston se mostra como um todo; enquanto que o segundo est
relacionado com a incluso no katolon dos momentos estruturais que
R. Wu A ontologia da Phronesis
100 Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 95-110
no esto dados primeiramente na aisthesis (Heidegger, 2003, p. 61). Por
outro lado, kath hekaston significa tanto o que se mostra na aisthesis,
quanto os momentos que se mostram por si mesmo e que residem no
katolon. De todo modo, o procedimento cientfico, tal como mencionado
acima, pode ser agora compreendido como o movimento do katolon
inarticulado para o articulado kath hekaston, movimento que pretende
apreender as archai.
Heidegger interrompe a anlise da relao entre katolon e kath
hekaston no Sofista: Plato antes de dedicar-se explicitao do sentido
da phronesis. No entanto, podemos reconstruir e indicar aqui, alguns
elementos que possivelmente iro esclarecer a relao entre esses
termos. A discusso sobre a phronesis se d no campo da praxis, e a
no se pode falar de katolon e kath hekaston exatamente nos mesmos
sentidos como quando referidos episteme ou sophia, afinal a praxis
diz respeito sempre a uma situao concreta
1
que no pode ser concebido
a partir do mero universal, como no pode ser entendido como um mero
particular destacado da sua relao com a totalidade. significativo
que Aristteles afirme na tica a Nicmaco que julga-se que cunho
caracterstico de um homem dotado de phronesis o poder deliberar bem
sobre o que bom e conveniente para ele, no sob um aspecto particular,
como por exemplo sobre as espcies de coisas que contribuem para
a sade e o vigor, mas sobre aquelas que contribuem para a vida boa
em geral (eu zen holos) (1140a25ss). No se trata, portanto, da mera
particularidade no momento da ao e sim uma apreenso da situao
concreta que sempre se ultrapassa essa mesma particularidade. Caso
se traduza a vida boa em geral por a vida boa como um todo, tem se
uma perspectiva mais prxima daquela oferecida a partir da interpretao
heideggeriana. No se trata de nenhuma universalidade vazia, mas um
todo (holon) que acompanha a prpria parte. A ao no apenas parte
e nem todo, mas uma relao entre os dois na bios.
Ainda na tica a Nicmaco (1141b14ss), Aristteles afirma: tampouco
a phronesis se ocupa apenas com universais (katolon). Deve tambm
reconhecer os particulares (kath hekasta), pois ela prtica (praktike),
e a ao (praxis) versa sobre os particulares (kath hekasta). Primeiro,
fundamental perceber que Aristteles utiliza os termos tampouco
(oud) e apenas (monon) em relao ao katolon, o que d a entender que
a phronesis tambm, embora no exclusivamente, se refere ao katolon.
Em segundo lugar, trata-se tambm (kai) de apreender a parte, os
particulares (kath hekasta). A ao diz respeito particularidade da
situao concreta, mas sempre de um modo que o todo esteja presente
1
Heidegger utiliza o termo Lage em Sofista: Plato (2003, p. 100).
R. Wu A ontologia da Phronesis
Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 95-110 101
nela. Esse todo no a universalidade formal e vazia, pois no se trata de
conhecer o bem, e sim pratic-lo na situao concreta. Caso se retome a
definio de katolon como holon compreensivo, oferecida anteriormente
por Heidegger, pode-se derivar, portanto, que esses termos passam a
referir-se articulao de sentido na praxis. Sobre isso, necessrio
afirmar que o conceito de phronesis est diretamente relacionado ao
desenvolvimento do que Heidegger iria conceber por compreenso
(Verstehen), e mais especificamente a uma possibilidade especfica do
Dasein que a transparncia de si mesmo na conscincia (Gewissen)
2
. O
papel fundamental que o existencial da compreenso desempenharia em
Ser e tempo deriva, segundo nossa leitura, da interpretao do conceito
de phronesis. O indivduo que compreende, o phronimos, aquele que
delibera (bouleutikos), especificamente aquele que pode deliberar bem
ou, de outro modo, aquele que delibera sobre o bem. A deliberao sobre o
bem pressupe uma apreenso do todo em relao s suas possibilidades
fcticas, isto , uma totalidade no sentido de katolon, compreendida em
virtude de um fim.
Heidegger apresenta uma primeira diviso da aletheuein em a)
epistemonikon, que se subdivide em episteme e sophia; e b) logistikon, que
se subdivide em techne e phronesis. O epistemonikon diz respeito quilo
que invarivel, enquanto o logistikon, quilo que poderia ser de outro
modo. A phronesis est situada no campo do logistikon, visto que remete
ao mundo da ao humana, o que no de forma alguma invarivel.
Alm disso, o que digno de nota que a phronesis implica que esta
deliberao sobre o varivel implica sempre uma relao com aquele
que delibera, o que demonstra o carter hermenutico da phronesis, de
acordo com princpio hermenutico de que toda compreenso uma
auto-compreenso. No Sofista, Heidegger afirma que a aletheuein do
phronimos contm conseqentemente uma direo referencial para o
aleteuon mesmo (Heidegger, 2003, p. 34), isto , o Worum-willen que
traduz o hou heneka (em vista do qu ou em virtude de) aristotlico
remete sempre em ltima instncia ao prprio Dasein.
Apesar de ambas tratarem das coisas variveis, as aes possuem
outra natureza do que as coisas produzidas pela techne. O objeto da
deliberao no um produto, mas a bios em si mesma. Heidegger cita
Aristteles, tica a Nicmaco: no caso da poiesis, o telos algo outro;
mas isso no acontece com a praxis: a eupraxia em si mesmo o telos
(Aristteles, 1140b6ss; Heidegger, 2003, p.34). Sobre 1140b5 da tica a
2
Christopher P. Long afirma que alguns estudiosos defendem que phronesis o precursor
da Verstehen, outros da Entschlossenheit, ou Umsicht, e ainda outros da Gewissen
(2002, p. 55). Deixamos a discusso sobre os mritos de cada uma dessas interpretaes
para outro momento.
R. Wu A ontologia da Phronesis
102 Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 95-110
Nicmaco, Heidegger afirma que o telos uma tal disposio do Dasein
humano, que contm na sua disposio sua prpria transparncia
(Heidegger, 2003, p. 35), transpondo antropoi para Dasein humano e
hexis alethes, cuja tradues usuais seriam disposio verdadeira ou
capacidade verdadeira, para a disposio que possibilita a transparncia,
isto , a compreenso de si.
Nesse sentido, a expresso hou heneka utilizada por Heidegger
para designar o Dasein como ente projetivo. Esse hou heneka , de
acordo Heidegger, a arche da deliberao da phronesis. Em seguida, a
argumentao de Heidegger passa a ser sobre o modo de encobrimento
e desvelamento, correlativos a hedone e a lype (prazer e dor). O prprio
Aristteles afirma em 1140b15ss da tica a Nicmaco que o homem que
foi pervertido pelo prazer ou pela dor (...) no percebe mais que a bem
de tal coisa ou devido a tal coisa que deve escolher e fazer aquilo que
escolhe, porque o vcio anula a causa originaria da ao. Anular a causa
originria da ao, isto , o em vista do qu, velar para si mesmo a
possibilidade originria que s pode ser recuperada, para Heidegger,
mediante o logos.
Ao diferenciar phronesis de techne, Heidegger argumenta sobre este
que a possibilidade de fracasso constitutiva de sua atividade. Assim,
o indivduo que aprimora a sua techne, o faz por meio de tentativas e
experincias, sendo que o fracasso o motivo pelo qual ele recomea
novamente, avanando para alm do mero procedimento estabelecido.
A techne, como saber prtico, constitui-se da adequao e do hbito
disciplinado para transformar o ente em produto. A phronesis, ao
contrrio, no pode ser concebida em termos de tentativa e erro segundo
Heidegger, na ao moral eu no posso experimentar comigo mesmo.
A deliberao da phronesis determinada pelo ou-ou (Heidegger, 2003,
p. 38). Essa forma de compreender a phronesis est de acordo com tese
aristotlica de que o telos da phronesis o em vista do qu que remete
ao prprio Dasein, e que compreender o mbito da ao deliberar
corretamente sobre o adequado ocasio, o que s possvel na mesotes,
isto , no meio-termo. Assim Heidegger afirma que no existe o mais, e
nem o de menos, ou a indiferena, mas apenas a seriedade da deciso
definida (Heidegger, 2003, p. 38). Aparece a a conhecida crtica aos
mbitos da impessoalidade e da decadncia, que afastam a deciso
apropriadora do Dasein.
Na interpretao de Heidegger, a phronesis no pode ter uma arete
visto que ela mesma uma arete. Enquanto que na techne o indivduo
pode alcanar uma determinada excelncia a respeito daquilo que ele
produz e, nesse sentido, pode-se dizer que o indivduo tem a arete a esse
respeito, na phronesis o ergon da ao o prprio agente. Isso significa
R. Wu A ontologia da Phronesis
Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 95-110 103
que, ao contrrio do mbito da techne, no se trata de adquirir uma
determinada excelncia que possa produzir um determinado produto,
como se ele estivesse incompleto sem essa excelncia, pois, no mbito
da praxis, o Dasein ele mesmo arete enquanto phronimos.
Ao diferenciar a phronesis da episteme, Heidegger aponta para o
critrio do esquecimento. O que se aprende pela episteme pode ser
esquecido, pois remete ao que invarivel. Mas a phronesis em
cada caso novo (Heidegger, 2003, p. 39), e, portanto, no tem o objeto
invarivel. Uma falha de phronesis no uma falha de esquecimento.
Aqui Heidegger relaciona explicitamente a phronesis com a noo de
conscincia:
[...] no estamos indo longe demais em nossa interpretao ao dizer que
Aristteles chegou aqui ao fenmeno da conscincia. Phronesis no nada
mais que conscincia em movimento, tornando uma ao transparente.
Conscincia no pode ser esquecida. Mas bem possvel que o que
desvelado pela conscincia possa ser distorcido e tornado ineficaz por
hedone e lype, por meio das paixes. Conscincia sempre anuncia a si
mesmo. Justamente porque phronesis no possui a possibilidade da
lethe, no um modo de aletheuen que possa ser chamado conhecimento
terico. (2003, p. 39)
Na tica a Nicmaco, (1141b21ss), Aristteles afirma que a phronesis
diz respeito ao, e que ela deve ter ambos, aletheuein e praxis, ou
antes, mais a segunda. Na phronesis, a praxis arche e telos, enquanto
princpio que orienta a deliberao em vista de um telos. Como vimos, o
ergon desse telos no algo distinto, como na techne, mas est imbricado
no seu prprio movimento.
O pargrafo 20 do Sofista, intitulado concepo mais radical da
phronesis, possua nos seus manuscritos o ttulo tomar a phronesis em
si mesma mais radicalmente. No por acaso, o tem b desse pargrafo
inicia com a seguinte proposio: phronesis requer chronos (Heidegger,
2003, p. 96). O modo pelo qual a phronesis pode ser tomada num sentido
mais radical pela sua interpretao temporal. O indivduo que age em
vista de um fim, pode faz-lo mediante uma compreenso adequada, isto
, mediante phronesis. Na explicitao de como phronesis implica em
tempo, Heidegger ocupa-se inicialmente com a distino entre os saberes
da phronesis e da episteme, utilizando para interpretar esse ltimo, o caso
da matemtica. Na tica a Nicmaco, (1142a12ss), Aristteles explica
que os jovens podem tornar-se matemticos e gemetras, mas no se
acredita que exista um jovem dotado de sabedoria prtica. Isso porque,
para esta ltima, necessrio que ele adquira experincia, algo que surge
unicamente a partir do tempo. No se trata, entretanto, de um saber que
R. Wu A ontologia da Phronesis
104 Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 95-110
simplesmente se acumula no tempo, mas de uma dinmica circular em
que a existncia confronta-se consigo mesma na compreenso.
A phronesis caracterizada como uma hexis praktike, que desvela
uma totalidade relevante com respeito ao. A apropriao desveladora
do prakton a bouleuestai, que Heidegger traduz por auto-debate
circunspectivo e que est diretamente relacionado ao logizesthai,
discusso. O que se desvela no so entes, por assim dizer, j que a
phronesis no tem propriamente um tema; antes, o que se desvelada
a praxis, isto , o Dasein humano na medida em que est relacionado
a ela. A praxis no tem um tema, mas um para qu da ao. O zoe
praktike move-se a cada caso num entorno, num mundo caracterizado
por circunstncias determinadas que caracterizam a situao em que a
cada vez o Dasein se encontra. Heidegger sintetiza as caractersticas da
ao em cinco pontos (2003, p. 100-101), seguindo a tica a Nicmaco
(1142b23ss):
a) o para qu da ao;
b) a disponibilidade em vista da ao;
c) os objetos devem ser usados num modo determinado;
d) toda ao executada num tempo determinado (hote);
e) toda ao determinada pelo ser com os outros.
Esses cinco pontos explicitam o carter situacional da ao. Na
medida em que a ao envolve diversos elementos que a cada vez
podem ser outros, a ao no pode ser concebida a partir da ideia que
orientaria a sua atividade, como na techne, mas em cada caso algo
outro. A phronesis a capacidade compreensiva que apreende de forma
prtica, isto , na ao, os seus diversos elementos constituintes, ou seja,
as circunstncias, os dados, os momentos e as pessoas envolvidas. A
phronesis permite a transparncia da ao, desde o seu arche at o seu telos.
A arche de uma ao o seu em vista do qu, o hou heneka, aquilo
sobre o qual se deve deliberar. Mas toda deliberao uma antecipao,
e o que antecipado a ao mesma. Heidegger mostra que isso de
algum modo semelhante com o que acontece na techne l o technites
antecipa o eidos de uma casa, por exemplo. A diferena que o telos
no o prprio arquiteto, mas a casa, enquanto que na praxis o telos
a prpria ao. Para Heidegger, toda essa conexo desde a arche at
o telos no nada mais que o ser total da ao mesma (2003, p. 102).
O desvelamento dessa conexo entre arche e telos como totalidade da
ao a tarefa da phronesis.
O conceito de euboulia interpretado por Heidegger como phronesis
genuna. O prefixo grego eu significa do modo correto, o que leva
Heidegger a relacion-lo com orthotes, e sendo que temos em ambos a
R. Wu A ontologia da Phronesis
Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 95-110 105
noo de correo que mantm a direo prelineada pela arche e pelo
telos, ele conclui que a elaborao correta da ao concreta orthotes
boules. nesse contexto que Heidegger apresenta o conceito de orthos
logos que imediatamente rejeitado como reta razo. Para Heidegger,
logos utilizado aqui como discusso, no como razo, e ele afirma pura
e simplesmente que logos homologos te orexei (1139a29ss), isto ,
concordncia com o desejo
3
.
A literatura sobre a apropriao heideggeriana de Aristteles
Dentre os vrios textos que tratam da relao entre Heidegger e
a tica aristotlica, sem dvida se destaca o artigo de Franco Volpi,
Dasein as praxis.
4
Esse texto aponta para uma srie de equivalncias,
algumas explcitas no texto do prprio Heidegger, outras nem tanto, sobre
conceitos da ontologia fundamental e da tica de Aristteles.
A primeira dessas correlaes diz respeito aos conceitos de theoria e
poiesis que Volpi associa Vorhandenheit e Zuhandenheit. J o conceito
de praxis no relacionado a um comportamento especfico possvel,
como theoria ou poiesis, mas a atitude fundamental que subjaz e
anterior a todos os comportamentos do Dasein. Certamente os termos
no so meramente traduzidos para a linguagem heideggeriana, mas
opera-se uma transformao conceitual a partir dos objetivos prprios
de sua filosofia. Juntamente com essas correlaes, Heidegger efetiva
uma mudana de hierarquia em relao aos modos de ser: a proposta da
tradio sobre a primazia da theoria sobre os outros modos deslocada e
subvertida sob outras relaes. Para Heidegger, o modo da Vorhandenheit-
theoria j uma modificao de um modo mais originrio de encontro do
ente na sua manualidade (Zuhandenheit-poiesis), e estes modos, por sua
vez, so dependentes ontologicamente do Dasein enquanto praxis. Volpi
no avana muito sobre esse assunto, mas a praxis deve ser pensada,
sobretudo, no mbito da compreenso de ser, atitude que subjaz a cada
possibilidade de comportamento do Dasein.
3
Volpi interpreta dessa forma: a deliberao (bouleusis) a realizao da praxis que ocorre
na conjuno entre orexis e nous. Cito Volpi: se a orexis reta e o logos verdadeiro,
produz-se uma boa deliberao, a euboulia, e o xito da praxis, a eupraxia (1994, p. 360).
4
Alm dos textos aqui mencionados, preciso destacar pelo menos outros trs que se
tornaram fundamentais a respeito da recepo heideggeriana da tica aristotlica, mas
que no possvel abordar neste momento: BERNASCONI, R. Heideggers destruction
of phronesis. The Southern Journal of Philosophy. Volume 28, Issue S1, p. 127147, Spring
1990; o artigo de Jacques Taminiaux, intitulado Poiesis and praxis in fundamental
ontology. Research in Phenomenology, 17 (1987), p. 137-169, assim como o captulo
A reapropriao da tica a Nicmaco, de seu livro Leituras da ontologia fundamental.
Lisboa: Instituto Piaget, 1995.
R. Wu A ontologia da Phronesis
106 Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 95-110
Como se sabe, compreenso significa poder-ser, abertura de
possibilidades de ser, de modo que h uma primazia no existente
humano, do carter porvindouro caracterstico do projeto. Volpi aponta
com correo que Heidegger percebe que tambm em Aristteles h
um primado do futuro, quando interpreta os conceitos de deliberao
(bouleusis) e de deciso (proairesis), por oposio metafsica que
privilegia a presena. Isso evidente no seguinte trecho da tica a
Nicmaco: deve-se observar que nenhuma coisa passada objeto
de escolha; por exemplo, ningum escolhe ter saqueado Tria, porque
ningum delibera a respeito do passado, mas s a respeito do que est
para acontecer e pode ser de outra forma, enquanto o que passado
no pode deixar de haver ocorrido [...] (1139b7-11). A compreenso
que possui o modus operandi da phronesis deliberao sobre as
possibilidades de ser que lhe so constitudas facticamente.
Nesse sentido, a tese hermenutica de que toda compreenso uma
auto-compreenso, expressa por Heidegger a partir da circularidade,
remete ao carter fctico de que a compreenso no mera inteleco
de um objeto exterior, mas projeo de sentido em que o meu prprio
ser, enquanto Dasein, est em jogo. O carter de Jemeinigkeit, o fato
de que o ser que est em jogo sempre meu em cada compreenso,
derivada da relao que Aristteles estabelece ao afirmar que a phronesis
um autoi eidenai ou ta autoi agata kai sympheronta, isto , aquilo que
bom e conveniente para si, o que no implica em uma arbitrariedade
subjetiva, mas sempre o bem no mbito de uma comunidade em termos
heideggerianos, no ser-com-os-outros.
Na leitura de Volpi, a ontologia fundamental de Heidegger est
fundamentada na proposio aristotlica de que a vida humana no pode
ser compreendida seno como praxis, visto que o modo de ser da poiesis
lhe insuficiente. A praxis uma kinesis, um movimento prprio da vida
humana que no se dirige mera autoconservao, mas busca a sua
realizao e completude como bios, na deliberao e deciso sobre como
viver, cuja finalidade a boa vida (eu zoon). A identificao heideggeriana
da phronesis com a conscincia (Gewissen) implica automaticamente
a relao entre o tempo oportuno, kairos, com o instante da deciso,
Augenblick.
Se no artigo de Volpi percebe-se a busca do estabelecimento de
correspondncias entre os termos heideggerianos com os aristotlicos,
sejam eles apontados pelo prprio Heidegger, sejam eles interpretados
por Volpi, no artigo de Francisco J. Gonzalez, Beneath Good and Evil?
Heideggers Purification of Aristotles Ethics, h uma interpretao que
pretende apontar a incompatibilidade da anlise heideggeriana com a
tica aristotlica a partir de determinados conceitos-chave relativos ao
R. Wu A ontologia da Phronesis
Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 95-110 107
curso Grundbegriffe der aristotelischen Philosophie. Gonzalez tem por
objetivo analisar as linhas principais desse curso e verificar as lacunas na
apropriao heideggeriana. Em determinado momento na sua concluso,
ele afirma que: no seria produtivo insistir que ns temos na leitura
de Heidegger da tica de Aristteles provavelmente a mais completa
distoro e equvoco interpretativo de um texto grego na histria da
filologia (Gonzalez, 2006, p. 149). Apesar de em seguida reconhecer
que a interpretao heideggeriana da vida como ser-no-mundo, ou a
interpretao ontolgica da vida prtica, so como um flash luminoso
que ilumina no apenas a filosofia aristotlica, mas a filosofia grega em
geral, encontramos no seu artigo uma srie de argumentos mostrando
as dificuldades da apropriao heideggeriana da tica aristotlica. Essas
dificuldades referem-se a vrios tpicos: a inadequao dos termos
agathon, telos, hexis, arete, hedone, proairesis, dentre outros. Expomos
a seguir alguns desses tpicos.
A primeira dificuldade est relacionada ao conceito de hexis
(disposio) que ocupa importncia vital na apropriao heideggeriana
dos conceitos aristotlicos. Heidegger afirma que hexis a determinao
da autenticidade do Dasein [...] (Gonzales, 2006, p.139; Heidegger, 2002,
p. 176), o que contrasta com uma das definies de hexis no cap. 20 da
Metafsica delta, aquela mais especfica do ponto de vista moral, onde
se l que hexis uma disposio de acordo com a qual o que disposto
pode ser bom ou mal [...] (1022b4ss). Para Gonzales, no h algo como
bom ou mal na anlise de Heidegger, visto que hexis descrito na
modalidade da autenticidade (Gonzales, 2006, p.139). O que o autor
procura assinalar que, por exemplo, virtude e vcio so hexis, o que as
distingue a mesotes (meio-termo). Porm, pela definio heideggerina, a
hexis est sempre relacionada autenticidade do Dasein, o que impediria
a sua modalizao. Esse um exemplo tpico da incompatibilidade
entre a tica aristotlica pelo menos primeira vista -, a partir das
interpretaes clssicas, e a apropriao heideggeriana, em que o
conceito aparece deslocado, perdendo a amplitude de sua funo original.
Como se percebe, enquanto Volpi se esfora em mostrar o ajustamento
na ontologia fundamental dos conceitos da tica aristotlica, Gonzales
aponta justamente as inconsistncias entre os dois projetos filosficos.
Outra dificuldade a aparente incompatibilidade entre hbito e
noo de instante. Como se sabe, a instante da deciso no resultado
de um processo, mas a irrupo da autntica possibilidade de ser do
Dasein no seu querer ter conscincia. A virtude , portanto, caracterizada
como adequao ao momento (Gonzales, 2006, p. 141-142). Porm,
Aristteles reitera diversas vezes a habituao e a formao do carter
no desenvolvimento da virtude (Gonzales, 2006, p. 142), ou seja, a
R. Wu A ontologia da Phronesis
108 Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 95-110
ideia de processo contnuo e gradual no desenvolvimento do ethos. Para
explicar essa suposta incompatibilidade, Heidegger utiliza o conceito
de repetio (Gonzales, 2006, p. 142). certo que no encontramos algo
como o conceito temporal de repetio em Aristteles, mas preciso
assinalar que a relao entre kairos e ethos, bem como as dificuldades
decorrentes, so prprias do texto aristotlico. Por outro lado, preciso
enfatizar que no h incompatibilidade fundamental entre a ideia de
uma habituao e formao do carter que ocorra ao longo do tempo
com a oportunidade da ao correta. Dito de outro modo, o processo de
formao do carter no em si nenhuma determinao do carter do
agente, mas uma tendncia de ao. A confirmao dessa tendncia
pode ou no ocorrer no kairos.
Por fim, o conceito de agathon, o bem, interpretado por Heidegger
como um modo de ser, isto , o genuno carter do ser do homem
(Heidegger, 2002, p. 65; Gonzalez, 2006, p. 129). A purificao ontolgica
da tica aristotlica, para tomar emprestada a expresso de Gonzalez,
desloca o conceito de bem para uma acepo operativa desvinculada dos
seus sentidos tico-polticos. Nesse mesmo sentido, Volpi afirma que
a ontologizao da praxis produz ainda uma outra transfigurao:
produz, por assim dizer, a dissoluo de seu peso especfico enquanto
ao e a perda de certas caractersticas que segundo Aristteles lhe
pertencem, ante todo o enraizamento de uma koinonia. Em Heidegger
a ontologizao provoca o enclausuramento da praxis numa espcie de
solipsismo-herico que deforma sua concepo prtico-poltica (1994,
p. 363).
A purificao do agathon torna problemtico o sistema de referncias
sobre o mundo prtico na filosofia aristotlica, visto que o bem o
elemento central em torno do qual a koinonia se unifica. A transfigurao
do sentido tico do conceito de bem lana uma srie de dificuldades em
relao aos conceitos prticos, em particular os conceitos concernentes
ao mundo poltico como a diferena entre o justo e o injusto (Aristteles,
2005, Pol., 1253a 9ss). Por outro lado, Heidegger simplesmente no avana
na explicitao dos conceitos polticos, como quando, no final da seo
a do pargrafo 20 do Sofista, escreve que tanto quanto o anthropos
o zoon politikon, praxis deve ser compreendida como um modo de
ser com outros; e tanto quanto isto o telos, phronesis o carter da
politike (Heidegger, 2003, p. 96). Qual seja o carter de ser com os outros
e porque a phronesis o carter da politike, permanece em suspenso e
tarefa de interpretao, visto que a seo praticamente termina nessas
linhas sem desenvolvimento. Formulaes semelhantes aparecem nos
Conceitos fundamentais de Aristteles. Chamamos ateno apenas que
R. Wu A ontologia da Phronesis
Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 95-110 109
a tese heideggeriana de que phronesis o carter da politike deve ser
interpretada a partir da formulao de Aristteles da Poltica (1254a7-8): a
vida ao (praxis), no produo (techne). Essa relao entre phronesis,
politike e ser-com-os-outros deve ser explorada oportunamente em outro
momento, salientando apenas que ela o cerne das interpretaes sobre
Heidegger em torno de uma tica ps-metafsica.
Outro ponto diz respeito ao conceito de agathon e primeira linha
da tica a Nicmaco: Toda techne e todo procedimento (methodos),
assim como (homoios de) praxis and proairesis parece tender (ephiesthai)
a algum bem (1094a1-2). Esse trecho estabelece a correlao entre
techne e methodos, por um lado, e praxis e proairesis de outro. O bem a
que techne tende o resultado de uma ocupao que, em conjunto com
o conceito de telos, forma a ideia de algo produzido, finalizado. Gonzales
defende que Heidegger pensa a praxis como techne, borrando a distino
entre elas ao analisar a traduo de techne como Auskenntnis im einem
Besorgen, o saber fazer na ocupao com algo (know-how in taking care of
something) (Gonzales, 2006, p. 130), praxis como Besorgen, ocupao com
algo, e proairesis como das Sichvornehmen von etwas als zuerledigendes,
als zu besorgen, zu Ende zu bringen, o lidar com algo a ser finalizado,
cuidar de, trazer a um fim (the taking-in-hand of something to be settled,
taken care of, brought to an end). O que Gonzales chama ateno o
fato de que todos eles so pensados sob o ponto de vista da Besorgen,
da ocupao, de modo que ele afirma que aqui, como ainda veremos,
atravs do resto do curso, techne torna-se a nica e guia de perspectiva
na exposio de Heidegger do agathon (Gonzales, 2006, p. 130). Desse
modo, o por outro lado (homoios de) teria sido suprimido indicando,
na leitura de Gonzales, a assimilao ou a subordinao da praxis e da
proairesis techne. Isso parece no levar em considerao a afirmao
heideggeriana no 14, p. 146 dos Conceitos Fundamentais de Aristteles,
que diz que a proairesis sempre sobre as possibilidades, o que, no
caso do Dasein, remete sempre a si mesmo enquanto possibilidade. A
leitura de Gonzales s possvel isolando esse trecho dos Conceitos
fundamentais de Aristteles do restante da obra, alm de desconsiderar as
Interpretaes fenomenolgicas de Aristteles e o Sofista, visto que nestes
ltimos, Heidegger trabalha ainda mais detidamente as diferenas entre
as virtudes dianoticas, e, dentre elas, a distino entre praxis e poiesis.
De modo bem sinttico, h uma diferena no modo de compreender o telos
do ponto de vista da poiesis, da forma como o telos aparece na praxis. Uma
maneira de ressaltar a diferena entre a praxis e a poiesis afirmando que
nas atividades produtivas o fim exterior atividade, e que, portanto,
o meio concebido unicamente como instrumento para a produo do
objeto desejado; j nas aes, o fim intrnseco ao prprio ato e no algo
R. Wu A ontologia da Phronesis
110 Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 95-110
exterior, de modo que a interpretao do meio como sendo instrumento
insuficiente. A ao, assim como o saber tcnico-produtivo, diz respeito
ao mundo prtico, mas enquanto neste o fim especificado, na praxis,
o saber se refere sempre a possibilidades que s se especificam no
momento mesmo da ao concreta. Nesse sentido, a proairesis, a correta
deliberao sobre possibilidades que so antecipadas e apreendidas pela
phronesis, nada tem a ver com o mbito da poiesis-techne.
Referncias
ARISTTELES. tica a Nicmaco. Trad. de Leandro Vallandro e Gerd Borheim. So
Paulo: Abril Cultural, 1973. (Col. Os Pensadores).
______. Metaphysics. Trans. de W. D. Ross. In: BARNES, Jonathan (ed). Complete
Works (Aristotle). Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1991.
______. Poltica. Traduo de Carlos Garca Gual e Aurlio Prez Jimnez. Madrid:
Alianza Editorial, 2005.
______. Tpicos. Trad. de Leandro Vallandro e Gerd Borheim. So Paulo: Abril Cultural,
1973. (Col. Os Pensadores).
BERNASCONI, R. Heideggers destruction of phronesis. The Southern Journal of
Philosophy, 28, Issue S1 (Spring 1990), p. 127-147.
HEIDEGGER, M. Grundbegriffe der Aristotelischen Philosophie. Frankfurt am Main:
Vittorio Klostermann, 2002.
______. Phenomenological interpretations with respect to Aristotle: indication of the
hermeneutical situation. Man and World, Netherlands: Kluwer Academic Publishers,
25 (1992), p. 355-393.
______. Platos Sophist. Bloomington & Indianopolis: Indiana Univ. Press, 2003.
GONZALES, Francisco J. Beyond or Beneath Good and Evil? Heideggers Purification
of Aristotles Ethics. In: HYLAND, D. A; MANOUSSAKIS, J. P. Heidegger and the
Greeks: interpretative essays. Bloomington & Indianopolis: Indiana Univ. Press,
2006.
LONG, C. P. The ontological reappropriation of phronesis. Continental Philosophy
Review, Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 35 (2002), p. 35-60.
TAMINIAUX, J. Leituras da ontologia fundamental. Lisboa: Instituto Piaget, 1995.
______. Poiesis and praxis in fundamental ontology. Research in Phenomenology, 17
(1987), p. 137-169.
VOLPI, F. La existencia como praxis. Las races aristotlicas de la terminologa de Ser
y tiempo. In: VATTIMO, G. (Ed.). Hermenutica y racionalidad. Colombia: Editorial
Norma, 1994.
7
Veritas Porto Alegre v. 56 n. 1 jan./abr. 2011 p. 111-126
Troca TranscendenTal,
jusTia e direiTos humanos
em oTfried hffe*
TranscendenTal exchange, jusTice and
human righTs in OTfried hffe
robinson dos santos**
RESUMO Um dos grandes problemas postos pelo tema dos direitos
humanos filosofia , entre outros, o de sua fundamentao filosfica. No
pano de fundo deste debate, surgem questes especficas: como se pode
fundamentar/justificar filosoficamente a exigncia de reconhecimento
aos direitos humanos? Neste estudo, procuro abordar, de modo direto,
o ncleo argumentativo sobre o qual est estruturada da proposta de
Hffe. Para ele, os direitos humanos tm uma profunda relao com a
noo de justia. O conceito de justia, na sua concepo, deve ser
entendido fundamentalmente como troca (Gerechtigkeit als Tausch).
Embora o conceito parea demasiado simples, ele oferece uma srie
de dificuldades no que se refere sua fundamentao.
PALAVRAS-CHAVE Justia, direitos humanos, interesses transcendentais,
contratualismo, Otfried Hffe.
ABSTRACT One of the major problems posed by the human rights
issue to philosophy is its philosophical foundation. The background of
this discussion raises questions such as: how can one philosophically
explain / justify the demand for human rights recognition? This paper
focuses on the argumentative basis on which Hffe structures his
proposal. For him human rights are closely connected to the concept
of justice. This concept must be understood primarily as an exchange
(Gerechtigkeit als Tausch). Although the concept seems simple, it offers
many difficulties regarding its foundation.
KEYWORDS Justice, human rights, transcendental interests, con-
tractualism, Otfried Hffe.
** Uma verso preliminar deste texto est publicada em: CARBONARI, P. C. (org.) Sentido
Filosfico dos Direitos Humanos: Leituras do Pensamento Contemporneo. (volume 2)
Passo Fundo: IFIBE, 2009.
** Doutor em Filosofia pela Universidade de Kassel, Alemanha. Professor Adjunto no
Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas, RS, Brasil.
R. Santos Troca transcendental, justia e direitos humanos em Otfried Hffe
112 Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 111-126
1 Posio do problema
Es gengt nicht, die Welt zu verndern. Das tun wir ohnehin.
Und weitgehend geschieht das sogar ohne unser Zutun.
Wir haben auch die Vernderung auch zu interpretieren.
Und zwar, um diese zu verndern. Damit sich die Welt
nicht weiter ohne uns verndere. Und nicht schlielich
in eine Welt ohne uns
(Gnther Anders)
1
A Declarao Universal dos Direitos Humanos completou, em
2008, sessenta anos de existncia. Ela inquestionavelmente um dos
documentos mais importantes do sculo XX
2
. No h a menor dvida
de que o tema dos direitos humanos est entre os principais assuntos
debatidos no mbito da filosofia contempornea, especialmente em
reas como a tica, a filosofia poltica, a filosofia do direito e a filosofia
da educao. Trata-se de um tema de interesse universal e, portanto,
transcende as fronteiras disciplinares e culturais, na medida em que
repercute internacionalmente
3
. Apesar de os direitos humanos terem
alcanado um significado e relevncia mundiais, de modo especial na
poltica e no direito internacional, o debate filosfico contemporneo
mostra claramente o quanto no se consegue chegar a uma compreenso
unvoca sobre a questotema ( cf. LOHMANN, 1998, p. 62).
Um dos grandes problemas postos pelo tema dos direitos humanos
filosofia , entre outros, o de sua fundamentao filosfica
4
. Quaisquer
1
No suficiente transformar o mundo. Isso ns fazemos de qualquer modo. E, alm do
mais, isso acontece at mesmo sem a nossa ao. Ns temos tambm que interpretar
esta transformao. E, na verdade, para modific-la, afim de que o mundo no continue
a mudar sem ns e no se tranforme, afinal, em um mundo sem ns.
2
Conforme GOSEPATH e LOHMANN, 1998, p. 7. Para uma leitura contempornea sobre
a problemtica da fundamentao filosfica dos direitos humanos, vale conferir a
coletnea organizada pelos referidos autores.
3
Indicador desta realidade o volume de estudos realizados, sobretudo, a partir
dos anos 90 e que ganham fora ainda maior na entrada do sculo XXI no s
no Brasil ou na Amrica Latina, mas na Amrica do Norte e na Europa, de modo
especial.
4
A aparente simplicidade da questo esconde, como sabemos, dificuldades sutis e
complexas que no se deixam resolver, nem por meio da reduo ou simplificao
da discusso a um problema de opo terica, nem tampouco atravs do apelo
autoridade deste ou daquele intrprete. Justamente pelo fato de no haver
uma compreenso unvoca tambm sobre a Moral e a tica, suas caractersticas
e o seu respectivo papel com relao ao Direito que as divergncias sobre o que
sejam os direitos humanos implicam uma abordagem ampla e, portanto, de carter
filosfico.
R. Santos Troca transcendental, justia e direitos humanos em Otfried Hffe
Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 111-126 113
que sejam as pretenses de uma abordagem filosfica h que se levar
em considerao as dificuldades originadas no fato de que os direitos
humanos so, antes de mais nada, direitos de Estados concretos e,
ao mesmo tempo, objeto de convenes internacionais (GOSEPATH e
LOHMANN, 1998, p. 10). A pretenso universal dos direitos humanos
confronta, de longe, cada tematizao filosfica com a multiplici-
dade de problemas das diferenas culturais e exige o trabalho con-
junto das respectivas reas cientficas de diferentes culturas (Idem,
ibidem, p. 10).
No pano de fundo deste debate, surgem questes, entre as quais:
como se pode fundamentar/justificar filosoficamente a exigncia de
reconhecimento aos direitos humanos? Se os direitos humanos devem valer
para todos os humanos, eles no podem ser tributrios ou dependentes de
nenhum contexto cultural, histrico ou sociopoltico e, ao mesmo tempo,
serem aceitos e possuir validade em todos eles. De que modo poder-se-
demonstrar a sua validade universal e necessria, isto , de que maneira
possvel sustentar que eles implicam uma obrigao de cada ser humano
para cada (outro) ser humano e que, assim, devero ser aceitos por todos
independentemente das contingncias que os influenciam?
5
Como se
pode perceber, a problemtica da fundamentao envolve, desde o ponto
de partida, a questo da universalidade.
Otfried Hffe, filsofo e professor catedrtico da Universidade de
Tbingen, encontra-se entre os autores que se dedicam a esta problemtica
na atualidade
6
. Neste trabalho, que uma primeira aproximao com a
questo posta, procuro abordar, de modo direto, o ncleo argumentativo
sobre o qual est estruturada a proposta de Hffe: para ele, os direitos
humanos tm uma profunda relao com aquilo que denominamos
de justia. Conforme Hffe, o conceito de justia deve ser entendido
5
Para uma abordagem desta problemtica, com nfase nos problemas advindos do
contexto cultural, vale conferir a coletnea organizada por GLLER, 1999.
6
Em suas pesquisas, o autor aborda, com expressiva produtividade, desde temas
situados no mbito da filosofia prtica, de modo especial, nas reas de tica, filosofia
poltica e filosofia do direito, a partir da tradio, atravs de pensadores clssicos como
Aristteles, Hobbes e Kant, at a interlocuo com pensadores contemporneos como
Rawls, Kelsen, Nozick e Habermas. A lista de seus trabalhos, que no apresentarei,
aqui, de modo completo, ampla e j conta com um nmero razovel de tradues
do alemo para outros idiomas. Eu gostaria de destacar, neste espao, especial-
mente aqueles trabalhos que esto traduzidos para o portugus e acessveis, portanto,
para o pblico que no l em alemo. Estes so os livros introdutrios a Aristteles
e Kant, bem como, Justia Poltica: Fundamentao de uma filosofia crtica do direito
e do Estado (Politische Gerechtigkeit: Grundlegung einer kritischen Philosophie von
Recht und Staat, 1987), A Democracia no Mundo de Hoje, (Demokratie im Zeitalter
der Globalisierung, 1999) e O que Justia? (Gerechtigkeit: eine philosophische
Einfhrung, 2001).
R. Santos Troca transcendental, justia e direitos humanos em Otfried Hffe
114 Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 111-126
fundamentalmente como troca
7
(Gerechtigkeit als Tausch). Embora o
conceito parea demasiado simples, ele oferece uma srie de dificuldades
no que se refere sua fundamentao.
O conceito de troca, bastante empregado, sobretudo, na rea da
economia, pode ser interpretado a partir de diversas e diferentes
perspectivas. Pois bem, aqui, surge, de imediato, a pergunta: o que ele
quer afirmar com o conceito de justia como troca? Qual a relao deste
conceito com a fundamentao dos direitos humanos? Como procurarei
demonstrar, para Hffe, no se trata de qualquer tipo de troca, mas de
uma troca transcendental (transzendentaler Tausch). O que ele quer
asseverar, especificamente, com isso e a relevncia deste argumento para
o debate sobre a fundamentao dos direitos humanos o que pretendo
abordar em seguida.
2 A dimenso fundamentalmente antropolgica da questo
Humanidade ou, pelo menos deveria ser, o que nos torna essen-
cialmente iguais como espcie e, ao mesmo tempo, a qualidade peculiar
que nos diferencia dos demais seres. O nosso comportamento e o modo
pelo qual estruturamos a nossa vida no esto dados de antemo pela
natureza. Precisamos viver em sociedade, condio pela qual somos
inevitavelmente levados a um processo complexo em que o entendimento
e o reconhecimento mtuo so condies de possibilidade da prpria
sociedade e, por consequncia, do Estado. Entretanto, entendimento
e reconhecimento no excluem por si s os conflitos (cf. HFFE, 1981,
p. 100). O conceito de direitos humanos aponta para princpios universais
e, portanto, trata-se de algo que diz respeito humanidade ou, como
afirma o autor, trata-se de princpios da humanidade, pois somente
aqueles direitos so dignos de ser chamados de direitos humanos, que
valem para todo o ser humano: independente de gnero e cor da pele,
da origem, da raa, da lngua, da opo poltica ou religiosa e tambm
da posio social e econmica
8
.
7
Embora o conceito de Gerechtigkeit als Tausch possa tambm ser traduzido como justia
como comutao, como prefere Tito Lvio Cruz Romo, o tradutor de Demokratie im
Zeitalter der Globalisierung, o conceito de justia como troca legtimo e amplamente
aceito entre os tradutores e intrpretes. Neste sentido, minha traduo/interpretao
concorda com a perspectiva de Ernildo Stein, em Justia Poltica, de Peter Naumann,
em O que Justia? e de Thomas Kesselring (vide referncia).
8
Idem, ibid., p. 102. Embora concorde com o contedo da afirmao citada, eu gostaria
de fazer, aqui, uma observao. No que se refere ao uso do termo raa, o autor incorre
em um equvoco para o qual importante um esclarecimento. O renomado pesquisador
francs Jacques Ruffi, mdico, bilogo e estudioso da gentica das populaes, afirma,
em seu livro De la Biologie la Culture (1976, p. 323-324), que: Dado o progresso
R. Santos Troca transcendental, justia e direitos humanos em Otfried Hffe
Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 111-126 115
Quando nos referimos ao conjunto da humanidade so suprassumidas
as diferenas particulares, as contingncias histricas e locais, isto , de
tempo e de espao. Os direitos humanos tm que valer independentemente
destas contingncias, pois, do contrrio, eles mesmos tornam-se relativos.
Desse modo, eles esto alm da histria e da geografia. Embora possam
ter uma significao histrica e uma aplicao em determinado espao
ou contexto, isto , no aqui e agora, eles permanecem acima das
particularidades e das especificidades dos diversos contextos, valendo
ao mesmo tempo igualmente para todos eles. Ora, isso evidencia a
sua pretenso de validade universal e isto significa validade inter/
transcultural e transepocal.
Na base do discurso sobre os direitos humanos, pode ser constatada
uma noo antropolgica fundante. Eles so pensados de um modo
paradoxal, isto , embora devam abstrair as diferenas, no podem ser
pensados puramente desde uma imagem abstrata e devem, por outro
lado, considerar o ser humano na sua concretude, sem absolutizar as
peculiaridades e particularidades deste ser, ou seja, sem se tornarem
concretos demais. S se entender de modo adequado o que so estes
direitos, quando estiver compreendido o que e porque so humanos.
Se tomarmos a noo aristotlica do ser humano como animal poltico
ou social por natureza, teremos um olhar certamente diferente daquele
de Hobbes, que v, no ser humano, muito mais a inclinao ao conflito
(homem lobo do prprio homem) como caracterstica fundamental. No
faltam exemplos histricos para que seja confirmada a tese de Hobbes,
a qual defende que o ser humano homem uma ameaa para si mesmo.
Por outro lado, tambm no preciso muito esforo para reconhecer a
tese de Aristteles ao afirmar que a sociabilidade humana uma marca
essencial do gnero. Se, de um lado, possvel, por meio da sociabilidade,
a conquista de um estado de justia e equilbrio para a sociedade, atravs
da influncia de uns sobre outros, no menos verdadeiro que o gnero
humano pode, a qualquer momento, autoaniquilar-se pretensamente em
nome da liberdade. Ambas, pois, so possibilidades muito presentes no
ser humano, uma vez que o seu comportamento no completamente
pr-determinado pelos instintos, nem tampouco nica e exclusivamente o
da gentica humana, hoje em dia nenhum bilogo admite a existncia de raas na
espcie humana; alguns utilizam este termo, mas a maioria o despoja de seu sentido
zoolgico. [...] O conceito de raa biolgica j no pode ser aplicado espcie humana.
No ser humano, a raa mais um mito social do que um fenmeno biolgico (Grifos
do autor). Ora a persistncia do conceito, na atualidade, deve-se, segundo Ruffi,
ao conservadorismo tpico das cincias, caracterstica presente tambm na prpria
Biologia. Que este termo seja ainda utilizado por filsofos no de todo estranho,
embora equivocado.
R. Santos Troca transcendental, justia e direitos humanos em Otfried Hffe
116 Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 111-126
pela razo. Sem desmerecer os esforos e at mesmo a coerncia interna
de ambas concepes, no contexto amplo do sistema filosfico daqueles
autores, pode-se considerar uma terceira possibilidade que situar-se-ia
entre ambas, isto , que as conserva (em parte), mas, simultaneamente,
tambm as supera. Para Hffe, Kant formulou um conceito antropolgico
mais fidedigno. justamente na antropologia kantiana que o autor busca
uma alternativa para posicionar-se quanto a esta questo.
No entender de Kant, o homem tem uma tendncia sociabilidade,
mas tambm possui uma inclinao ao conflito. Se, por um lado, ele
percebe que precisa e capaz de cooperao, dar e receber apoio, em
suma, viver em sociedade, por outro, ele mostra-se no s desconfiado
e hostil ao coletivo, assim como egosta e acredita-se autossuficiente.
Na verdade, poder-se-ia argumentar que esta inclinao ao isolamento
fundamental para o processo de individuao do sujeito. Do mesmo
modo, bastante plausvel defender que tanto o processo de individuao
quanto de constituio da prpria identidade s pode ser pensado
na relao do sujeito no seio da sociedade (cf. HFFE, 2005). Ora,
justamente esta ambivalncia e tenso no comportamento humano o
que Kant concebe como sociabilidade insocivel que Hffe recupera
para a sua fundamentao
9
.
A tese da sociabilidade insocivel permite uma compreenso do ser
humano que evita tanto o otimismo de Aristteles quanto o pessimismo
de Hobbes e as dificuldades postas pelas respectivas proposies.
Expresso de outro modo, trata-se de dois modelos antropolgicos
fundamentais: o modelo do conflito e o modelo da cooperao. Ora, o
modelo da cooperao no nos oferece uma representao suficiente para
fundamentar a exigncia de uma ordem social baseada na coero, nem
tampouco oferece uma imagem adequada e condizente com a condio
humana. Por outro lado, justamente a partir do modelo do conflito
que sero propostas as principais formulaes do pensamento poltico
moderno acerca da necessidade do Estado e do direito, no intuito de
controlar o potencial ameaador do ser humano e viabilizar a vida em
sociedade. Da que se seguem as doutrinas contratualistas. O contrato
social no um fato histrico, nem se encontra inscrito em algum lugar.
9
Esta tese kantiana est explcita na quarta proposio do opsculo Idia de uma histria
universal com um propsito cosmopolita: O meio de que a natureza se serve para levar
a cabo o desenvolvimento de todas as suas disposies o antagonismo das mesmas
na sociedade, na medida em que este se torna ultimamente causa de uma ordem legal
dessas mesmas disposies. Entendo aqui por antagonismo a sociabilidade insocivel
dos homens, isto , a sua tendncia para entrarem em sociedade, tendncia que, no
entanto, est unida a uma resistncia universal que ameaa dissolver constantemente
a sociedade (KANT, 1995, p. 25).
R. Santos Troca transcendental, justia e direitos humanos em Otfried Hffe
Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 111-126 117
Ele uma metfora, um experimento intelectual que serve para pensar
a legitimao do Estado.
Para Hffe, todavia, o ser humano no pode ser entendido
exclusivamente pela perspectiva do conflito, mas, sobretudo, como um
ser capaz tambm de cooperar (cf. HFFE, 1981, p. 104) e isso deve-se ao
fato de ele no poder cogitar a sua autorrealizao e o desenvolvimento
fora da sociedade, isto , fora do (mesmo) espao em que os seus
semelhantes se encontram
10
.
Desse modo, ainda que a ateno s diferenas constitua um momento
necessrio (concretude e particularidade), os direitos humanos comeam
por basear-se fundamentalmente na noo de dignidade humana e na
igual liberdade de todos os seres humanos (generalidade). Por um lado o
princpio da liberdade igual obriga cada membro da comunidade jurdica
a reconhecer as condies universais de coexistncia da liberdade; por
outro, impe a cada coletividade o dever de garantir esse reconhecimento
(HFFE, 2003, p. 83).
O problema que se pode levantar quanto a este ponto, mencionado
por Hffe, o fato de que os direitos humanos, de acordo com a tradio,
so uma herana da civilizao ocidental, de modo particular, da cultura
europeia. Aqui, tem-se um exemplo bsico para o que foi afirmado
anteriormente, acerca de uma noo antropolgica fundante. Ora, sendo
herana da civilizao ocidental, tem-se uma elaborao que contempla
um conjunto particular de caractersticas, necessidades e potencialidades
humanas: aquelas do ser humano ocidental. Como pretender, portanto,
que seja justamente esta noo de direitos humanos aquela que deve
prevalecer? Expresso de outra forma, o que legitima uma noo construda
em determinado ponto da histria e provinda de uma cultura e uma
geografia determinadas a exigir o reconhecimento e validade universal?
Segundo Hffe, esta uma das questes fundamentais do discurso
10
Nas suas palavras: Os limites da liberdade humana no advm primeiramente de fora,
de destinos pulsionais, de necessidades concorrentes, de uma natureza resistente ou
escassa em bens. Eles se fundamentam muito mais no fato de vrios seres capazes de
ao ou de liberdade partilharem o mesmo espao de vida. Para uma vida em conjunto,
o modelo de cooperao menciona boas razes. O modelo de conflitos completa-as com
a descoberta de que se convive tambm onde no se coopera, mas onde se partilha
o mesmo espao de vida e se restringe reciprocamente a liberdade de ao. A justia
exige agora que as inevitveis restries liberdade no sejam efetuadas ao estilo da
natureza, de acordo com os respectivos potenciais de poder e ameaa. Disso poderiam
resultar extremados privilgios e discriminaes. Para que, ao contrrio, cada pessoa
seja elementarmente tratada de modo igual, cada uma desiste do alegado direito a tudo
e recebe em contrapartida liberdades correspondentes. O contrato poltico originrio
cifra-se, por isso, em uma transmisso recproca de direitos e deveres que, com vistas
justia, se d de acordo com os mesmos princpios, quer dizer, de acordo com princpios
universais. (HFFE, 2003, p. 77).
R. Santos Troca transcendental, justia e direitos humanos em Otfried Hffe
118 Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 111-126
intercultural do direito, pois entendido como instituio do direito, eles
(os direitos humanos) so reconhecidos e at mesmo evidentes, porm,
no que toca sua base fundamental de legitimao, h muito tempo que
no o so (cf. HFFE, 1998, p. 29). Com efeito, ele observa que: Quando
se relaciona os direitos humanos ao desenvolvimento do direito moderno
de modo estreito, ou seja , uma cultura e poca determinada, pe-se em
jogo, naturalmente contre coeur, o que o conceito exige: uma validade
simplesmente universal (HFFE, 1998, p. 29).
O problema que emerge, aqui, que, para definir o que so direitos
humanos, precisa-se especificar antes o que o ser humano, como j
assinalado anteriormente. Ao procurar responder pergunta o que o
ser humano?, recorre-se a uma determinada imagem ou representao
do mesmo e a ela relaciona-se a definio do que so os seus direitos.
O problema que se assume invariavelmente uma ideia de ser humano
que tem sempre caractersticas peculiares e particulares, o que lhe
confere uma validade limitada e particular, no universal. E, neste
sentido, no se pode negar que estamos diante de um problema quando
tentamos defender a tese de que a justia est acima das particularidades
culturais, das peculiaridades epocais e que, portanto, ela universal.
neste contexto que o autor v a necessidade de uma relativizao
da influncia ocidental moderna que paira sobre tal conceito, seguida da
elaborao de um discurso intercultural para a legitimao dos direitos
humanos. Para isso, a parcela de contribuio da antropologia decisiva.
O discurso intercultural poderia ser compreendido a partir de duas
dimenses: a) como universalismo intercultural, isto , pela garantia da
igualdade de todo o ser humano perante a lei, independentemente de
ser ele do ocidente ou do oriente, independentemente de sua condio
e situao e; b) como universalismo supratemporal, isto , na medida em
que a validade dos direitos humanos independe do momento histrico em
questo. Atravs destas duas dimenses, os direitos humanos passam a
ser vistos de modo essencialmente diferente do modo como historicamente
o foram. Eles no seriam mais portadores da herana cultural moderna
e europeia, mas passariam a pertencer humanidade como um todo.
3 Direitos humanos e direitos fundamentais
Uma diferenciao importante, para o autor em questo, aquela que
diz respeito a direitos humanos e direitos fundamentais. Hffe entende
que direitos humanos so aqueles direitos que se originam do ser humano
em sua condio de ser humano, ao passo que os direitos fundamentais
so aqueles direitos elementares de cada cidado no interior de um
estado. Ele afirma, quanto aos direitos humanos, que so, antes,
R. Santos Troca transcendental, justia e direitos humanos em Otfried Hffe
Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 111-126 119
direitos que cada pessoa merece de modo inalienvel, s pela condio
de ser humano, e que nesse sentido no-biolgico de moral jurdica so
denominados direitos inatos, naturais, inalienveis e inviolveis (HFFE,
2003, p. 83).
Nesta perspectiva, os direitos humanos antecedem os direitos
fundamentais, o que lhes confere um carter pr-estatal, enquanto os
direitos fundamentais seriam uma consequncia do surgimento do
Estado. preciso, contudo, lembrar que no se trata de uma anterioridade
histrica, mas lgica (cf. MOREIRA, 2002, p. 37). Assim entendida, tal
anterioridade implica a compreenso dos direitos humanos no como
algo decorrente ou fundamentado a partir de aes voluntrias ou favores
sociais ou polticos. Pelo contrrio, trata-se de direitos que os membros
da comunidade jurdica devem uns aos outros e que, subsidiariamente,
a ordem jurdica e estatal deve a todas as pessoas (HFFE, 2003, p. 83).
Enquanto as necessidades ou as pretenses comuns sero atendidas
por meio das garantias fundamentais, pelo direito positivo, os direitos
humanos sero, para elas, o pressuposto. Eles tm, dessa forma, um
significado eminentemente moral.
No entanto, como poderamos conceber um fundamento que
possibilite a validade universal destes direitos? Quais so as condies
de possibilidade para esta fundamentao? Hffe argumenta que aquele
que quer legitimar direitos, tem que proceder justificao dos respecti-
vos deveres, isto , a partir do conceito de direitos humanos j esto
implicados deveres humanos correlatos (cf. HFFE, 1998,). Aqui, ele
exemplifica por meio do exemplo do no exerccio da violncia que est
em poder dos homens e, pelo qual, pode ser preservada a integridade
do corpo e da vida. Ora, o autor afirma que
justamente porque a ameaa de conflito pertence a conditio humana
que no se pode seguir por muito tempo Aristteles e entender as
instituies sociais somente a partir do desenvolvimento natural dos
impulsos sociais j dados (Idem, ibidem, p. 36).
Se a natureza, de um lado, viabiliza certas capacidades ou disposies
para a sociabilidade no ser humano, ela no o faz j, por meio disso, um
animal social. Tornar-se social uma das grandes tarefas e consiste
na principal realizao humana. uma misso que s pode ser obra
prpria do ser humano. E, aqui, dado o primeiro passo neste sentido: a
sociedade somente possvel por meio da renncia violncia recproca
(negativamente) e do reconhecimento recproco (positivamente). Antes
que pensemos nas possibilidades de autorrealizao, contudo, preciso
que cuidemos das condies mais elementares para que a vida humana
R. Santos Troca transcendental, justia e direitos humanos em Otfried Hffe
120 Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 111-126
seja simplesmente possvel. neste contexto que o autor menciona a
questo dos interesses inatos. H um interesse inato em que a vida no
seja interrompida e que ela siga o seu curso. irrecusvel que a vida
e quer realizar-se. Ora, justamente por representarem pretenses,
os direitos humanos no podem ser compreendidos como uma troca
de favores ou de presentes que pode ser feita entre os sujeitos ou, at
mesmo, entendidos como algo feito a partir da simpatia, da compaixo,
do pedido. Direitos humanos se legitimam a partir de uma reciprocidade,
pars pro toto: a partir de uma troca (HFFE, 1998, p. 37). nesta
reciprocidade que se entrecruzam um momento transcendental e um
momento social e, por meio disso, temos o cerne da argumentao
de Hffe: por conta da necessria relao de reciprocidade e das
diferentes pretenses que possam ser postas em discusso, preciso
um argumento que leve em conta a equao tica+antropologia. Aqui,
no entanto, deve-se esclarecer o que ele entende por interesses transcen-
dentais.
4 Interesses transcendentais
O termo transcendental, neste caso, assumido desde a perspectiva
kantiana. O conhecimento transcendental ocupa-se, segundo Kant, no
com os objetos, mas com o modo pelo qual ns os conhecemos. Com efeito,
afirma Kant, na passagem B 25 da Kritik der reinen Vernunft: Chamo
transcendental a todo conhecimento que em geral se ocupa menos dos
objetos, que do nosso modo de os conhecer, na medida em que este
deve ser possvel a priori. Um sistema de conceitos deste gnero deveria
denominar-se filosofia transcendental. (KANT, 1998, v. II, p. 63). Ele
refere-se, portanto, s condies de possibilidade de conhecimento dos
objetos. porque se trata de condies de possibilidade de ser humano
ou condies de possibilidade relacionadas capacidade de ao humana
que ser necessrio uma revoluo copernicana na Antropologia. No se
trata de definir o ser humano a partir do que lhe propicia autorrealizao,
sentido de vida ou felicidade. Em franca despedida do pensamento
teleolgico, Hffe concebe o vir-a-ser humano na perspectiva de um
conceito normativo e exigente, que significa a procura das condies de
realizao plena do humano.
porque se trata de condies de possibilidade relacionadas ao ser
humano, respectivamente capacidade de ao - que se pode empregar
a relevante expresso desde Kant e falar de elementos transcendentais
da Antropologia ou de (relativos) interesses transcendentais (HFFE,
1998, p. 34).
R. Santos Troca transcendental, justia e direitos humanos em Otfried Hffe
Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 111-126 121
Em outras palavras, os interesses transcendentais conteriam tudo
aquilo que j se quer quando se quer alguma coisa, independentemente
de seu contedo e se desejado ou evitado. Em ambos os casos, sempre
se expressa um querer, que seria a condio de todo e qualquer querer.
Transcendentais so, portanto, os interesses que os sujeitos agentes tm
e que lhes proporcionam condies gerais para que eles ajam do modo
como eles queiram agir.
Os interesses que Hffe menciona como transcendentais so, pois: o
interesse pelo corpo e pela vida, sem os quais no h chances de a vida
humana acontecer. Uma vida sem corpo pode at ser possvel, mas no
desta forma de vida que o autor trata e, portanto, a vida sem corpo
no pode ser vida. O corpo sem vida igualmente no , ou deixa de ser.
Ambos os interesses so a base de todos os demais, so condies de
possibilidade da capacidade de ao humana e para um querer orientado
na ao
11
.
O interesse natural de todo o ser humano, no corpo e na vida,
condio de possibilidade universal para a liberdade. Por isso mesmo,
que ele pode ser concebido como um interesse a priori, ou transcendental,
conforme Hffe. E at mesmo aquele que no est particularmente
preso vida, assim complementa o autor, possui consciente ou
inconscientemente este interesse, porque de outro modo no pode
aspirar nem desejar, nem satisfazer um desejo. (Idem, ibidem, p. 391).
Dito de modo abreviado, a vida condio para a ao. Mas estes
requisitos no so suficientes, uma vez que intencionalidade, capacidade
de linguagem e de pensamento incluem-se nestes interesses, bem
como as relaes sociais, sem as quais o ser humano pode tornar-se
verdadeiramente ser humano.
Os interesses transcendentais, alm de pressupostos ou condies de
possibilidades de realizao de todo e qualquer outro tipo de interesse
(refiro-me aos mais diversos tipos de interesses subjetivos), so ca-
racterizados por uma sociabilidade que lhes inerente: eles somente
so realizveis na e a partir da relao de reciprocidade. Aqui, porm,
poder-se-ia perguntar: como o autor define o conceito de reciprocidade?
O que exatamente os interesses transcendentais tm uma sociabilidade
inerente? Para entendermos a sua efetivao preciso que se retome ao
11
Independentemente da questo sobre se devemos entender o corpo como organismo ou
antes como sistema importante isto: ele o todo das foras em parte conscientes, em
parte inconscientes que mantm em vida e em movimento um ser que age livremente,
portanto o todo das sensaes, pulses e necessidades, das inclinaes e repulses,
das paixes e consideraes, bem como das possibilidades de movimento, no qual
se desenrola o querer e atravs do qual se realiza, agindo no mundo. (HFFE, 1989,
p. 390-391).
R. Santos Troca transcendental, justia e direitos humanos em Otfried Hffe
122 Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 111-126
ponto de partida de qualquer teoria poltica. Trata-se de recolocar, aqui,
o que viabiliza ou, at mesmo, exige a relao entre os seres humanos.
O ponto de partida a liberdade.
Como o ser humano no surge do acaso, mas sempre dentro de
um contexto e de um determinado grupo, ele um ser essencialmente
relacional e que coexiste com outros seres semelhantes. Ora, justamente
por no existir isolado ou, pelo fato de co-existir, co-habitar, con-viver que
a sua liberdade no ilimitada. De alguma maneira, a liberdade ilimitada
de todos poria fim prpria liberdade de todos. Seres livres que habitam
o mesmo mundo limitam-se inevitavelmente em sua liberdade, fato no
qual as limitaes tm carter coercitivo, oriundo de fora do sujeito
individual (Idem, ibidem, p 382). Ao que Hffe denomina de estado
primrio de natureza, corresponde imagem sugerida por Hobbes, de
uma guerra latente de todos contra todos
12
.
Tal liberdade de ao consiste precisamente na reivindicao do
pretenso direito a tudo, conforme exposto anteriormente. justamente
neste fato que reside a principal ameaa ao ser humano e que manifesta
atravs do prprio ser humano. Ele tanto vulnervel, ameaado, quanto
ofensivo e ameaador. Condio para evitar que a liberdade total ou
ilimitada suprima a prpria liberdade ser, desse modo, a negao desta
em benefcio da coexistncia de liberdades limitadas ou parciais. Faz-se
necessria, pois, a renncia recproca deste estado primrio de natureza,
isto , todos devem renunciar a ele para que a existncia, a integridade
e a autorrealizao sejam prerrogativa de todos. No se trata, portanto,
de uma regulao espontnea, mas de uma regulao racional
13
.
A renncia recproca das liberdades condio necessria para evitar
a autoaniquilao do ser humano pelo prprio ser humano. Entretanto, ela
no , por si s, condio suficiente para garantir uma sociedade justa.
Em outras palavras, a partir desta cooperao negativa no so ainda
propiciados os elementos para uma cooperao positiva. por isso que
Hffe defende que a forma primria da legitimao poltica da justia a
justia comutativa e no a justia distributiva (cf. HFFE, 2001, p. 344).
12
No estado primrio de natureza cada qual se reserva sua total liberdade de ao, por
exemplo, a liberdade de matar seu semelhante, roub-lo dos frutos de seu trabalho, ferir
sua honra e reduzir sua liberdade de religio. Com a que se esconde na liberdade de todos,
cada qual est automaticamente exposto liberdade de ao de seus semelhantes,
portanto, sua liberdade de matar, de roubar, de ofender. (HFFE, 2001, p. 342).
13
Com a renncia recproca liberdade, realiza-se, no estado secundrio de natureza, uma
troca, mais exatamente: uma troca negativa, que o recproco dar e receber no consiste
em desempenho positivo, mas em renncias. [...] A limitao de liberdade , portanto,
permutada por uma garantia de liberdade, a renncia liberdade compensada
com uma pretenso de liberdade.[...] A renncia a condio de possibilidade para a
integridade (HFFE, 2001, p. 343).
R. Santos Troca transcendental, justia e direitos humanos em Otfried Hffe
Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 111-126 123
Assim sendo, a partir da legitimao poltica do Estado e da sociedade
civil sero estabelecidas as condies mnimas para que a cooperao
positiva seja instaurada.
Consideraes fnais
A partir dos aspectos anteriormente destacados da concepo de
Hffe, gostaria de apontar, aqui sem com isso pretender concluir a
discusso , para alguns problemas que ainda precisam ser enfrentados
no que se refere fundamentao filosfica dos direitos humanos. Para
isso, tomo como referncias algumas objees levantadas s teses de
Hffe, sobretudo por Thomas Kesselring (2001) e Jens Hinkmann (1999).
O primeiro aspecto que destaco que o conceito de justia como
troca bastante problemtico. A troca transcendental, como foi exposto
anteriormente, consiste fundamentalmente numa renncia recproca ao
uso da suposta liberdade de fazer tudo e, atravs disso, estaria dado o
primeiro passo para postular-se a cooperao. Uma questo para a qual
Kesselring chama ateno, em franca oposio tanto ao comunitarismo
14
,
quanto ao liberalismo, o fato de que Hffe parte do pressuposto de que
h uma situao de igualdade no momento da troca. Ora, este o ponto
que justamente precisa ser demonstrado e validado. Kesselring argumenta
que numa troca de mercado, por exemplo, nem sempre necessrio que
haja igualdade de valor para que a troca seja legtima. Para Hffe, a
regra de ouro que valeria como referncia para a troca: Em perspectiva
moral os direitos humanos se baseiam na regra de ouro, e essa regra
um critrio para a troca (HFFE, 1998, p. 37). E, a regra de ouro, afirma
Kesselring, no serve justamente no contexto da troca (KESSELRING,
2001, p. 31). O autor prossegue, fazendo a seguinte comparao:
Se formos num mercado onde podemos negociar o preo, ento o
negociamos em nosso prprio favor, no a favor do vendedor, como
deveramos, se segussemos a regra de ouro. O vendedor, por seu lado,
segura o preo dele e evita concesses que lhe sejam desfavorveis. Mais
at: se os atores, no mercado, comeassem a comprar e vender seguindo
a regra de ouro, o mercado enquanto tal se destruiria ou auto-implodiria.
(Idem ibid., p. 31).
14
Na perspectiva de Kesselring, tanto o liberalismo quanto o comunitarismo no oferecem
uma fundamentao filosfica suficiente para os direitos humanos, pois o primeiro, ao
conferir a primazia ao indivduo, no daria conta de uma proposta universal, enquanto
que o segundo, ao priorizar um coletivo de indivduos ou um determinado grupo, tambm
no atenderia a demanda da universalidade. Embora o autor limite-se a afirmar, no
final de seu texto, que a sua proposta situada a meio caminho entre o liberalismo e
comunitarismo, ele no expe os desdobramentos da mesma.
R. Santos Troca transcendental, justia e direitos humanos em Otfried Hffe
124 Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 111-126
preciso, no entanto, assinalar que a troca de que Hffe trata no de
natureza mercantil. De certo modo, Kesselring quer chamar ateno para
a inadequao do conceito de troca para o contexto da fundamentao
dos direitos humanos.
Outro problema para o qual a tese da troca transcendental remete o
de que a cooperao negativa (renncia recproca parcial das liberdades)
precisa ser ainda melhor explicitada. A legitimidade da troca consiste
exatamente no fato de ser voluntria. Pode-se, por exemplo, trocar certa
quantidade de dinheiro por uma viagem ou por um determinado bem,
mas no temos qualquer obrigao de faz-lo. Na viso de Kesselring a
troca efetuada no Estado Natural, que possibilitaria os direitos humanos,
tem que ser legtima e, para isso, voluntria. Logo, ele questiona: como
podemos explicar o motivo dessa troca? Ser que ela de fato voluntria?
(Idem, ibid., p. 31). Com esse questionamento, ele quer sugerir que numa
situao desigual no Estado Natural, isto , na condio de que alguns so
mais fortes e outros mais fracos, ficaria difcil crer que os mais poderosos
teriam interesse em renunciar parcialmente sua condio de poder e
liberdade. O que os levaria a tal? Como podemos acreditar que esta troca
harmoniosa e faz-se livre de conflitos? Alm disso, no est claro que
liberdades teriam que ser renunciadas para estabelecer a troca em
sentido negativo.
Entre as objees que Hinkmann postula, eu destaco a questo de
que o conceito de interesse como ponto de partida para a fundamentao
filosfica dos direitos humanos deve pressupor alm de uma antropologia
transcendental, aspectos mnimos de um antropologia emprica. Os
humanos so seres que so, no mnimo, capazes de sensibilidade
(empfindungsfhiges Wesen), isto , seres que contam com a faculdade de
desejar, sentir prazer ou dor. Conforme Hinkmann uma entidade que no
tem esta capacidade de sensibilidade, que no consegue desejar, sentir
dor ou prazer tambm no ter capacidade de ter interesses (HINKMANN,
1999, p. 94). Ora, se assim correto afirmar, ento precisamos incluir entre
os seres que tm aquela qualidade, isto , seres capazes de sensibilidade,
no apenas os humanos, mas tambm os animais e outros seres vivos e
isso tornaria o conceito de direitos humanos diludo ou diluvel, na medida
em que, por este caminho, os interesses teriam que ser considerados
no apenas em relao aos humanos e, consequentemente, trataramos
no mais de direitos somente humanos. Cabe perguntar, neste sentido,
se somente seres dotados da capacidade de pensar, falar e cooperar
estariam includos no processo?
O segundo aspecto das consideraes de Hinkmann diz respeito
ideia de cooperao. A simples renncia recproca liberdade total
no proporciona, por si s, a troca de interesses, pois uma troca
R. Santos Troca transcendental, justia e direitos humanos em Otfried Hffe
Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 111-126 125
essencialmente positiva, isto , deve ser entendida como uma troca de
bens, visto que a liberdade no pode ser definida apenas pela negao
de um estado natural. Neste sentido, a argumentao de Hffe , na
opinio do autor, insuficiente e a compreenso da liberdade em sentido
positivo fica comprometida.
Alm destas consideraes, pode-se indagar se e em que medida
legtimo postular uma troca de interesses como base de fundamentao
de uma tica: que garantias podem assegurar que no se trata do
seguimento de conselhos de prudncia ou mandamentos (regras) da
habilidade/inteligncia? Neste caso, tratar-se-ia de uma estrategizao
da tica?
Gostaria de finalizar este trabalho, sinalizando para o fato de que a
fundamentao filosfica dos direitos humanos ainda est em processo.
As controvrsias, neste campo, ainda persistem e acompanham o debate
sobre tica e filosofia poltica. , portanto, um assunto ainda inconcluso,
que permite muitas possibilidades de interpretao e caminhos diversos
quanto fundamentao. A proposta de Hffe, neste aspecto, tem os
seus mritos enquanto serve de referncia para se pensar um caminho
possvel de fundamentao, mas como toda proposta passvel de
correo e complementao.
Referncias
ANDERS, Gnther. Die Antiquiertheit des Menschen II. ber die Zerstrung des
Lebens im Zeitalter des dritten industrellen Revolution. 3. Aufl. Munique: C.H. Beck,
2002.
GOSEPATH, Stefan; LOHMANN, Georg (orgs.). Philosophie der Menschenrechte.
Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1998.
GLLER, Thomas (org.). Philosophie der Menschenrechte. Methodologie, Geschichte,
Kultureller Kontext. Gttingen: Cuvillier Verlag, 1999.
HINKMANN, Jens. Der Tausch von Interessen ein universalistischer Begrndung-
sversuch. In: GLLER, Thomas (org.). Philosophie der Menschenrechte. Methodologie,
Geschichte, Kultureller Kontext. Gttingen: Cuvillier Verlag, 1999, p. 88-100.
HFFE, Otfried. A democracia no mundo de hoje. Trad. Tito Lvio Cruz Romo. So
Paulo: Martins Fontes, 2005.
______. Justia Poltica. Fundamentao de uma filosofia crtica do direito e do Estado.
Trad. Ernildo Stein. So Paulo: Martins Fontes, 2001.
______. O que Justia? Trad. Peter Naumann. Porto Alegre: Edipucrs, 2003.
______. Politische Gerechtigkeit. Grundlegung einer kritischen Philosophie von Recht
und Staat. Edio revista e ampliada. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1989.
______. Sittlich-politische Diskurse. Philosophische Grundlagen Politische Ethik,
Biomedizinische Ethik. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1981.
R. Santos Troca transcendental, justia e direitos humanos em Otfried Hffe
126 Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 111-126
HFFE, Otfried. Transzendentaler Tausch. Eine Legitimationsfigur fr Menschenrechte?
In: GOSEPATH, Stefan; LOHMANN, Georg. Philosophie der Menschenrechte. Frankfurt
am Main: Suhrkamp, 1998.
______. Wirtschaftsbrger, Staatsbrger, Weltbrger. Politische Ethik im Zeitalter der
Globalisierung. Munique: C.H. Beck, 2004.
KANT, Immanuel. Werke in sechs Bnden. Hrsg. von Wilhelm Weischedel. Darmstadt,
1998.
______. Idia de uma histria universal com um propsito cosmopolita. In: KANT,
Immanuel. A paz perptua e outros opsculos. Trad. de Artur Moro. Lisboa: Edies
70, 1995.
KESSELRING, Thomas. A troca transcendental anlise de um conceito central na
teoria de Otfried Hffe. In: Veritas, Porto Alegre: PUCRS, 46 (1) (2001), p. 29-33.
KERSTING, Wolfgang (org.). Gerechtigkeit als Tausch? Auseinandersetzungen mit
der politischen Philosophie Otfried Hffes.
______. Universalismo e Direitos Humanos. Porto Alegre: Edipucrs, 2003.
MOREIRA, Luiz. Direitos Humanos: a proposta transcendental de Otfried Hffe.
In: Sntese Revista de Filosofia, Belo Horizonte, 29 (93) (2002), p. 35-47.
RUFFI, Jacques. De la Biologa a la Cultura. Trad. Elena Rots. Barcelona: Muchnik
Editores, 1982.
8
Veritas Porto Alegre v. 56 n. 1 jan./abr. 2011 p. 127-135
HannaH arendt:
o mal banal e o julgar
*
HannaH arendt: banal evil and tHe judgment
Snia maria Schio*
Resumo Hannah Arendt escreveu que o mal banal origina-se da
incapacidade do indivduo para pensar. Porm, pode-se perguntar se
o mal no pode se originar da falta de julgamento. ou seja, o indivduo
comete atos maus porque no averigua os dados, no os avalia.
em tal hiptese, o mal banal ocorre devido ausncia do juzo
reflexionante (ou reflexivo) e da mentalidade alargada kantianos,
resolvendo muitas das lacunas que o mal derivado do pensamento
possui, como a que exige distinguir o raciocnio do pensamento.
PAlAvRAs-cHAve: Kant. Arendt. mal. Pensamento. Julgamento.
AbstRAct Hannah Arendt wrote that the banal evil stems from the
inability of the individual to think. However, we may wonder whether
evil can not originate from the lack of judgment, when the individual
commits evil acts because he neither verify the data nor evaluate
them. In that case, the banal evil is due to the absence of reflective
judgment (or reflective) and of the enlarged mentality theorized
by Kant. the judgment may solve many of the gaps that lead to evil
when it is derived from the thought, as, for instance, the necessity to
distinguish the reasoning from the thought.
KeywoRds Kant. Arendt. evil. thought. Judgment.
A questo da banalidade do mal tornou Arendt (1906-1975), a partir
da dcada de 60 do sc. XX, no apenas uma pensadora conhecida, mas
tambm contestada. e isso no ocorreu porque ela deixou de chamar
de mal radical, seguindo Kant, aos atos praticados no totalitarismo
Nazista, passando a denomin-los de mal banal. ela foi questionada
** A primeira verso desse trabalho foi exposta no XIv encontro Nacional da ANPoF,
ocorrido em guas de lindia, sP, de 04 a 08 de outubro de 2010.
** docente da uFPel. e-mail: <soniaschio@hotmail.com>.
S.M. Schio Hannah Arendt: o mal banal e o julgar
128 Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 127-136
por apontar para a participao dos conselhos Judaicos no genocdio,
isto , por esses terem fornecido aos funcionrios nazistas as listas com
os nomes e os demais dados dos judeus, que acabaram sendo levados
para os campos de concentrao e de extermnio. Apesar disso, a questo
sobre o mal, que ela levantou, passou a gerar novas reflexes, em especial
porque ela definiu esse mal como poltico. Nesse sentido, a atitude do
burocrata nazista no era radical no sentido kantiano, pois, segundo
ela (1993, p. 134),
o mal no se enraza numa regio mais profunda do ser, no tem estatuto
ontolgico, pois no revela uma motivao diablica a vontade de
querer o mal pelo mal; o que aqui [no caso caso eichmann] se revela
a superficialidade impenetrvel de um homem [eichmann
1
], para o
qual o pensamento e o juzo so atividades perfeitamente estranhas,
revelando-se assim a possibilidade de uma figurao do humano aqum
do bem e do mal, porque aqum da sociabilidade, da comunicao e da
intersubjetividade.
Pode-se perceber, pela afirmao de Arendt, que ela buscou
compreender o que levara o funcionrio eichmann a agir de maneira
que os seus atos levavam pessoas humanas para os campos, onde ou
eram privadas dos atributos de humanidade e de cidadania, ou eram
prontamente exterminadas, fazendo-o tornar-se um criminoso. em
outros termos, o ru eichmann nada tinha de defeitos morais, inclinaes
ideolgicas, rancores raciais ou problemas de inteligncia, por isso
Arendt entendeu que ele possua uma simples ausncia de pensamento
(cf. Arendt, 1991, p. 6), o que permitia que suas aes fossem ms, pois
apesar dele afirmar que apenas cumprira ordens, ele no possua
qualquer patologia mental, sequer qualquer distrbio de carter. ela
conclui, ento, que suas aes demonstravam um novo tipo de mal, que
ela denominou de mal banal. Arendt escreveu (apud schio, 2006, p. 70):
eu quero dizer que o mal no radical, indo at as razes (radix), que
no tem profundidade, e que por esta mesma razo to terrivelmente
difcil pensarmos sobre ele, visto que a razo, por definio, quer alcanar
as razes. o mal um fenmeno superficial, e em vez de radical,
meramente extremo. Ns resistimos ao mal em no sendo levados pela
superfcie das coisas, em parando e comeando a pensar, ou seja, em
alcanando uma outra dimenso que no o horizonte de cada dia. em
outras palavras, quanto mais superficial algum for, mais provvel ser
que ele ceda ao mal. uma indicao de tal superficialidade o uso de
clichs, e eichmann, ... era um exemplo perfeito.
1
Adolf Karl eichmann foi o funcionrio nazista encarregado do transporte dos prisioneiros
para os campos de concentrao e de extermnio. ele foi julgado em Jerusalm e, aps,
foi enforcado.
S.M. Schio Hannah Arendt: o mal banal e o julgar
Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 127-136 129
o mal banal no tem razes, pois ele sem profundidade, mas
atinge e prejudica as pessoas, que so inocentes, desprotegidas, e sem
qualquer motivo. Alm disso, Arendt percebeu que tais prticas do mal
no carecem de situaes, pocas ou causas, pois so passveis de ocorrer
em qualquer tempo e lugar, e pode ser cometido por qualquer pessoa,
sem que ela decida, pretenda ou tenha ms intenes.
como se pode perceber nas afirmaes arendtianas, ela no apenas
explicou o que ocorreu, pois tambm buscou as origens, que vo alm
das causas, pois busca atingir as razes, distantes e profundas, do
que ocorrera: a ausncia de pensar, ou irreflexo; a falta de pensar e de
julgar. Porm, essas atividades espirituais, como ela as chamou, no so
sinnimas e intercambiveis. o pensamento possui estatuto, atividades
e funes diferentes do julgamento. cabe, ento, averiguar se Arendt
entende que o mal causado pela ausncia do conjunto pensar/julgar,
ou se ela se refere ao pensar em um sentido mais amplo do que aquele
teorizado na obra A vida do esprito, tomo I, o Pensar.
o pensamento uma atividade do esprito que atualiza os dados
oriundos do mundo externo. ele ocorre quando o ser se retira do mundo
das aparncias, do espao externo e passa a atuar internamente, junto
memria e imaginao. ele no objetiva deixar algo de concreto no
mundo, mas porta a capacidade de tratar os objetos dessensorializados
aptos para serem pensados. Isto , o pensar prepara os assuntos do
mundo, seja interno seja externo, para a busca do significado deles. o
pensamento obedece ao princpio de no contradio, por isso livre
para organizar e desorganizar os dados, buscar outras possibilidades
em busca do que eles querem dizer, daquele ensinamento positivo
ou negativo que os fatos, os acontecimentos, por exemplo, portam, e que
podem auxiliar na atuao do julgar. eichmann, nesse sentido, abdicou
de pensar. ele apenas raciocinava, isto , utilizava seu intelecto para
organizar os dados, para conhecer, jamais para o pensar. Pode-se afirmar,
ento, que ele apenas utilizou o juzo determinante
2
no sentido kantiano,
no refletindo.
A reflexo, por seu turno entendida, por Arendt, em seu sentido
kantiano de busca de um geral, para a subsuno de um particular,
quando esse no existe. ou seja, normalmente o que ocorre um juzo
determinante: inclui-se um particular a um geral conhecido anteriormente.
A forma de agir normal do ser humano ocorre por meio do juzo
determinante, o qual no traz problemas ou conflitos na maioria das
2
o juzo determinante aquele que atua dedutivamente: havendo um particular, um
problema, dvida ou necessidade, por exemplo, ele subsumido a um geral, regra,
norma, lei ou hbito, o qual indica o modo normal, comum de agir, em sua concluso.
S.M. Schio Hannah Arendt: o mal banal e o julgar
130 Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 127-136
vezes, ou melhor, em situaes com uma certa normalidade. Porm,
em alguma circunstncia cotidiana, ou em momentos como os vividos
no Nazismo, em que a tradio
3
j no possua fora para fornecer o
geral, a premissa maior para a deduo, tornou-se necessrio, e at
vital, utilizar o juzo reflexionante, ou reflexivo
4
. H, tambm, o uso mais
conhecido da reflexo, qual seja, o de questionar
5
. eichmann no utilizou
a reflexo em nenhum dos dois sentidos. ele no se questionou sobre o
que fazia, ou por que agia daquela maneira e no de outra, e, por isso, no
conseguiu perceber que o conjunto de regras, valores, hbitos, e outros,
da tradio, haviam sido alterados, pervertidos pelo sistema vigente. ele
apenas se adaptou ao novo conjunto (premissa maior), e o aplicou a todas
as situaes. um exemplo disso o uso de clichs, de frases feitas, os
quais no demandam qualquer pensamento ou questionamento, apenas
um automatismo que prescinde de qualquer esforo racional.
o julgamento, em Arendt, aquele que prepara os dados pensados
para serem decididos, para receber o impulso da vontade e adentrarem no
mundo externo por meio da ao. o julgar, ento, no existe sem o pensar.
Para que haja contedos para o julgar, o pensamento precisa ter atuado
previamente. Porm, o pensar tem a tendncia a generalizar os elementos
pensados. o julgar atua ligando, comparando, os subsdios do pensar com
a situao particular em questo. nesse sentido que Arendt entende
que o julgar conjuga o particular e o geral
6
, o mundo interno novamente
com o externo; assim, tambm, o julgar se torna uma capacidade poltica,
porque ele seleciona, organiza os (novos) dados para a escolha e para o
impulso da vontade de torn-los ao no mundo externo.
A capacidade do esprito humano que Arendt denomina de julgar,
para atuar, necessita da presena dos outros, seja de forma real, seja de
3
A tradio entendida por Arendt como o conjunto de conhecimentos, de valores, de
regras, de hbitos, de leis, assim como a cultura, a religio, a filosofia. ou seja, o legado
do passado imprescindvel ao presente, por ser a herana que uma gerao deixa s
seguintes para que elas possam conhecer o passado, interagir com ele no presente,
buscando iluminao para gui-las no momento de agir, ensinando-as a amar e a
preservar o mundo para as geraes futuras.
4
Por exemplo, na Crtica da faculdade do juzo (1993, p. 23), Introduo, Iv. Nas pginas
seguintes (24-25), Kant, ao tratar deste juzo, chamado reflexivo ou reflexionante,
expe que este, por partir de particulares, deve elevar-se e buscar o universal, pois o
princpio do juzo no pode ser emprico, porm, superior a este. o princpio possvel
pela conformidade a fins da natureza em sua multiplicidade, sendo o fim o fundamento
da efetividade do objeto, do particular em questo. desta forma, o princpio possui sua
origem no prprio juzo reflexivo.
5
Nos termos de valle (1999, p. 55), se o pensamento crtico puder libertar a capacidade
de julgar e [ele] assim nos proteger contra as derivas totalitrias.
6
Por exemplo, como explica valle (1999, p. 37): o pensamento, que raciocina sempre
em geral, prepara para julgar em particular (...). A conquista do pensamento a
incapacidade do conformismo e a capacidade de juzo pessoal.
S.M. Schio Hannah Arendt: o mal banal e o julgar
Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 127-136 131
forma representativa. dito de outra forma, para julgar, h a necessidade
da intersubjetividade e da comunicabilidade: os outros seres humanos,
considerados iguais e aptos para a vida em comum, isto , em condio
poltica, so levados em conta. sua presena importante, seja de fato,
por meio de sua fala, expondo suas opinies, de sua presena; seja por
sua representao. essa representatividade um artifcio mental que
permite pensar no lugar dos que no se fazem presentes, o que ocorre
por intermdio da imaginao.
A imaginao porta a potencialidade de tornar o ausente presente.
os outros seres humanos podem ser presentificados imaginativamente:
mesmo sem a sua presena emprica, o esprito humano pode imaginar
suas opinies, seus argumentos a favor ou contra, e ampliar a prpria
maneira de pensar. Ao considerar as possveis opinies dos outros, o
esprito humano no fica fechado em si mesmo, mas se abre alteridade.
essa maneira de pensar alargada
7
, na terminologia kantiana, uma
espcie de publicidade, oriunda de uma comunicabilidade possvel entre
os seres humanos.
o juzo, de posse de elementos aperfeioados pela mentalidade
alargada, associados queles oriundos da possibilidade de comunicar os
pareceres aos outros buscando sua anuncia, passa a possuir dados mais
amplos e, assim, com uma gama maior de possibilidades, pode escolher,
apreciar, enfim, exercer a sua funo de maneira original, mostrando sua
espontaneidade com a possibilidade de fazer surgir algo novo no mundo
humano, reiterando a capacidade humana de gerar a novidade, por sua
capacidade humana de iniciar.
desponta, assim, a importncia das atividades do esprito humano
funcionarem de forma conjunta, iniciando com a atividade do pensar, no
restringindo a atuao da razo ao inteligir, o qual busca o conhecimento e
a verdade. o pensar, na busca do significado, inicia a atividade do esprito
que imprescindvel ao julgar. esse, porm, no pode se reduzir a mera
funo de subsumir o particular ao geral existente (juzo determinante), pois
precisa estar apto a buscar a premissa maior quando essa inexistir. e esse
o autntico momento do exerccio de julgar, segundo o entender de Arendt.
dessa forma, pode-se retornar questo do mal banal e s afirmaes
de Arendt: a primeira citao deste texto finaliza com Arendt afirmando
que o mal banal foi cometido por eichmann, porque ele realizou uma
figurao do humano aqum do bem e do mal, porque aqum da sociabili-
dade, da comunicao e da intersubjetividade (Arendt, 1993, p. 134).
desse fragmento podem-se extrair diversas questes, duas em especial,
7
como Kant escreveu no 40 da Crtica da faculdade de julgar, e denominada de
mentalidade alargada.
S.M. Schio Hannah Arendt: o mal banal e o julgar
132 Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 127-136
e que interessam na investigao em pauta: como distinguir o bem do
mal, ou o certo e o errado. e essa tarefa do julgamento, segundo Arendt,
e no da moral, e ocorre quando esse tem a posse da matria pensada
e ampliada pela considerao dos outros pelo pensar na perspectiva de
qualquer outro (como visto acima), momento em que ele vai apreciar esse
contedo sob o enfoque do agrado ou no. ou seja, o juzo vai voltar-se
sobre os dados apreciados e sentir prazer ou desprazer, os quais
se referem, respectivamente, ao certo, bom e agradvel, ou ao errado,
ruim, mau, desagradvel. dessa forma, Arendt pretende que a fixidez
da moral, com seus ordenamentos imperativos, tenha seus contedos
flexibilizados pelo julgamento.
A segunda, que se refere mais especificamente falta de figurao
da sociabilidade, da comunicao e da intersubjetividade, sendo
que estas pertencem ao juzo (possveis pela intersubjetividade, que
supe a pluralidade humana, e pela comunicabilidade, permitida pela
mentalidade alargada), e no ao pensamento que solitrio, pois
ocorre na intimidade do eu, com a ausncia do mundo exterior e com
uma espcie de abandono momentneo desse em prol da vida interna
do esprito. A sociabilidade, a comunicao e a intersubjetividade
demandam a presena dos outros, nem que seja imaginativamente.
Nesse sentido, se pode afirmar ainda, segundo a acepo arendtiana,
que no h uma nica forma de entender o mal banal, mas diversas
maneiras de expor e buscar explicar sua possibilidade de ocorrncia, ou seja,
como ausncia de pensamento, como irreflexo, falta de questionamento,
carncia de espontaneidade, inexistncia de intersubjetividade,
fechamento ao mundo e realidade. e ainda, imerso na vida privada
com a inexistncia do espao pblico, demisso de julgar, despresena da
conscincia, falta de imaginao e da incapacidade de colocar-se no lugar
do outro e pensar. Apesar dessas diversas possibilidades, elas convergem
quanto inatividade do esprito humano, a no atuao do pensar, do
querer e do julgar permitindo a ocorrncia do mal poltico.
o mal poltico aquele que atinge a pessoa enquanto pessoa. Isto
, quando o ser humano, singular, irrepetvel e com igualdade perante
os outros porque humano, ultrajado, desrespeitado, e at morto. o mal
pode atingir a pessoa no nvel privado, do lar ou do trabalho, por exemplo,
em que ele prejudica, indignifica, aflige o indivduo. Porm, segundo
Arendt, esse mal no tem a proporo do mal poltico, que atinge o ntimo
do ser e da prpria humanidade nele contida, que pode ser repetvel,
gigantesco em suas propores e resultados, como foi o Nazismo, exemplo
basilar no pensamento arendtiano. o mal poltico aquele que precisa
ser pensado, discutido e evitado por meio da poltica, no espao pblico,
em que todos os cidados se fazem presentes e atuantes.
S.M. Schio Hannah Arendt: o mal banal e o julgar
Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 127-136 133
Isso no quer dizer que a autora no se preocupe com o mal que
ocorre, ou pode ocorrer, no nvel privado. Ao contrrio, segundo ela, esses
acontecimentos precisam ser levados ao mundo pblico e poltico, e, aps
sua exposio e debate, devero surgir possveis solues para coibi-lo,
elimin-lo, ou ao menos, diminu-lo. A elaborao de uma lei um exemplo
de como se pode buscar resolver o problema do mal no mundo privado.
A punio que, embora seja conferida pelo mundo pblico, por meio do
estado, visa a ordenao das relaes privadas. em contrapartida, o mal
poltico normalmente no punvel. em outros termos, como punir um
governante por milhares de mortes, torturas ou desaparecimentos?
necessrio que ele seja evitado, e nem sempre as leis conseguem proteger
a pessoa, o cidado. e o exemplo pode ser, mais uma vez, o Nazismo,
mas o stalinismo ou as ditaduras tambm so exemplos de que as leis
podem ser alteradas, gerando legalidade, mas no legitimidade, justia
ou respeito pessoa e ao cidado.
em contrapartida, ainda se pode perguntar, e agora em nvel tico,
como prover o pensamento de contedos quando ele foi programado
para no mais pensar antes de atuar. e a resposta, mais uma vez, parece
apontar para o juzo em seu uso reflexionante. segundo Arendt, todo o
ser humano possui as capacidades para pensar, querer e julgar, pois
ele racional, possui um corpo (sensibilidade), imaginao e memria,
em especial. o mundo externo, com seus acontecimentos, com suas
demandas, com a natureza, a cultura, est permanentemente exigindo
a ateno humana, fornecendo dados, forando o corpo e a mente
humana a interagir com ele.
o juzo reflexionante, esta operao de reflexo [que] a real
atividade de julgar algo (Arendt, 1992, p. 377), entendido como aquele
que, a partir de um particular, busca encontrar o universal, tendo em vista
que esse no est disponvel, objetivando deduzir uma concluso, sem
a qual no h o retorno ao mundo externo, e o que significa, na tica, o
como agir. o que refora o argumento da necessidade do julgar foi o fato
de que eichmann citou Kant e o imperativo categrico (cf. Arendt, 1991b,
p. 222-223) durante o julgamento, afirmando, tambm, que ele mesmo
modificou esse imperativo quando iniciou a soluo Final, porque no
se sentia mais senhor dos prprios atos.
A perda do humano autntico ocorre, no pela falta de alguma regra
ou mandamento que oriente os homens no como agir, pois estes sempre
existiro, mesmo que errneos ou distorcidos; sequer por uma falta de
racionalidade, pois o intelecto (ou entendimento) poder estar atuando na
busca de conhecimentos, de verdades, mas isso insuficiente para uma
vida humana plena, isto , poltica, segundo Arendt. e essa perda do
humano foi demonstrada quando eichmann perverteu o imperativo
S.M. Schio Hannah Arendt: o mal banal e o julgar
134 Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 127-136
categrico kantiano para adequar-se nova situao, que era a da
soluo Final. Isto , o julgar determinante pode funcionar de forma
automtica, e o reflexivo estar inoperante ou atrofiado, mesmo assim, o
mundo externo, ao circundar o ser humano, o chama constantemente a
uma espcie de resposta ao que ocorre. ou seja, eichmann demonstrou,
com suas atitudes e palavras, que a moralidade no suficiente para que
o mal banal seja evitado, pois basta alterar as regras (premissa maior).
necessrio manter o pensamento e o julgamento sempre ativos, em
especial quando se tratam de questes polticas. mesmo assim, e ainda
segundo ela, pensar, julgar e agir so sempre individuais, pois no h como
responsabilizar, e punir, governos ou grupos: a responsabilidade pessoal.
Pode-se afirmar ainda que, em atitudes de pessoas como eichmann,
h a carncia da possibilidade de colocar-se no lugar do outro ou de lev-
lo em considerao. Nesse sentido, valorizar o outro, mesmo que apenas
em pensamento, avaliando suas opinies, necessidades ou condies,
imposto ao humano pela presena do outro no mundo, pela categoria
da pluralidade
8
, afinal todos os humanos habitam o mesmo planeta.
A partir do no consentimento prvio a regras comumente aceitas,
os acontecimentos particulares passam a afrontar cotidianamente os
cidados, obrigando-os a continuamente repensar em que companhia
desejam estar, quando esto sem a presena de outros humanos. dito
de outro modo, com quem, ou qual tipo de pessoa, eles desejam conviver
enquanto esto consigo mesmos; quais exemplos, vivos ou mortos, de
pessoas ou eventos, eles podem utilizar para se orientar no mundo. Para
tanto, segundo Arendt, o juzo e o pensamento precisam estar ativos e
atuantes, supondo um cidado participante, isto , em convvio com os
seus semelhantes, para que assim no sejam cometidos atos que so
maus, no em suas pretenses, mas em seus resultados.
Ao pensamento cabe fornecer ao juzo o resultado de sua atividade,
implicao que assumir o lugar da premissa maior, at ento ausente.
Alm disso, na eticidade se far necessria a capacidade de ter presente
e de considerar os outros no momento de julgar, evitando o egosmo
ou o solipcismo. Nesse momento, pode-se retomar a importncia da
imaginao
9
, a qual recebe a imprescindvel tarefa de tornar o ausente, os
outros cidados, presentes ao pensamento e ao juzo. A tica exige uma
8
Por exemplo, entende valle (1999, p. 32) que deve-se estar diante de si como diante
dos outros. A testemunha interior pois o representante da pluralidade; e o dilogo na
solido interioriza o ponto de vista dos outros.
9
segundo dAllones (1994, p. 61), a chaque instant limagination cratice produit les
conditions dune aptitude distinguer le bien et le mal, le beau et le laid ou, pour le
dire autrement, lhorizon de sens sans lequel le monde, livr la dsolation, cesserait
dtre lhabitat de lexistence humaine.
S.M. Schio Hannah Arendt: o mal banal e o julgar
Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 127-136 135
maneira pessoal de pensar e de agir, pois a moralidade no suficiente; a
obedincias s regras e s leis no satisfazem s necessidades do cidado
singular. mesmo a obedincia a elas deve ser pensada e julgada quando
acontecimentos inauditos se apresentarem. As faculdades mentais, em
seu exerccio, repassam, revisam, constantemente os contedos e exige a
presena ou a considerao dos outros, para tal. Isso ocorre porque preciso
tambm imaginar as consequncias do ato, e responsabilizar-se por eles.
em determinados momentos, ento, o agente precisa pensar se vai ou
no praticar um ato que foge do habitual: indispensvel desligar-se dos
automatismos, exercendo uma experimentao livre, devendo oportunizar
que o pensamento atue
10
. Para tal preciso ter coragem. essa virtude foi
desvalorizada pela sociedade atual (de massa) que supervaloriza a vida
biolgica. Por isso, o pensar e o julgar ou receberam a tarefa de suprir
a falta dos ensinamentos do passado, e orientar a ao no presente, ou
ento so anulados e suprimidos, permitindo que haja a adeso aos
comportamentos e s regras pr-definidos, tpicos na sociedade de
massa (cf. schio, 2008, p. 27), e o ser humano torna-se solitrio, desolado,
apto a cometer o mal banal.
Referncias
AReNdt, Hannah. A vida do esprito: o pensar, o querer, o julgar. Rio de Janeiro:
Relume- dumar/uFRJ, 1991.
_____. A condio humana. 5. ed. rev. Rio de Janeiro: Forense universitria, 1991a.
_____. Eichmann Jerusalm: rapport sur la banalit du mal. Paris: Gallimard, 1991b.
_____. Entre o passado e o futuro. so Paulo: Nova Perspectiva, 1992.
_____. Lies sobre a filosofia poltica de Kant. trad. de Andr duarte de macedo. Rio
de Janeiro: Relume-dumar, 1993.
dAlloNes, myriam Revault. vers une politique de la responsabilit: une lecture
de Hannah Arendt. In: Esprit, 206 (nov. 1994). (les quivoques de la Responsabilit).
KANt. Immanuel. Crtica da faculdade do juzo. trad. de valrio Rohden e Antnio
marques. Rio de Janeiro: Forense universitria, 1993.
scHIo. snia maria. Hannah Arendt: histria e liberdade (da ao reflexo), caxias
do sul: educs, 2006.
_____. Hannah Arendt: a esttica e a poltica (do juzo esttico ao juzo poltico). tese
de doutorado. uFRGs, 2008.
vAlle, catherine. Hannah Arendt: scrates e a questo do totalitarismo. lisboa:
Inst. Piaget, 1999.
10
segundo Arendt (1991, p. 153), nem sempre a ateno dirigida para a atividade
mesma, apesar da capacidade de pensar estar em todos os seres humanos. Porm,
em emergncias, resulta que o componente depurador do pensamento [...] uma
necessidade poltica (idem, 1991, p. 153).
9
Veritas Porto Alegre v. 56 n. 1 jan./abr. 2011 p. 136-149
IndIvduo multIdImensIonal e
Igualdade democrtIca
MultidiMensional individual and
deMocratic equality
Walter valdevino oliveira silva*
Resumo A partir da ideia do historiador Jerrold siegel de self
multidimensional, composto pelas dimenses corporal, relacional e
refletiva, pretendo analisar a articulao dos conceitos de igualdade e
liberdade na teoria do filsofo John Rawls, sugerindo uma leitura que
mostra como uma anterioridade fundacional do conceito de igualdade
e uma consequente desinflao do conceito de liberdade podem
ajudar na melhor compreenso da sria questo do pluralismo nas
sociedades democrticas e tambm do prprio papel do cidado nas
democracias.
PAlAvRAs-chAve self. Igualdade. liberdade. Democracia. cidado.
Pluralismo.
AbstRAct starting with the idea elaborated by the historian Jerrold
siegel of a multidimensional self, made up of relational, reflective
and corporeal dimensions, I intent to analyze the development of the
concepts of equality and freedom in the theory of the philosopher
John Rawls. In this I intent to forward a reading that show how a
foundational anteriority of the concept of equality and a consequent
deflation of the concept of freedom can provide a better comprehension
of the serious question of pluralism in democratic societies, as well as
the role of citizens in democracies.
KeywoRDs self. equality. Freedom. Democracy. citizen. Pluralism.
O aspecto da sociedade americana agitado, porque os
homens e as coisas mudam constantemente; e montono,
porque todas as mudanas so iguais.
1
* Doutor em Filosofia pela PucRs, pesquisador do Programa Nacional de Ps-Doutorado
(PNPD-cAPes) no PPG-Filosofia da PucRs. e-mail: <waltervaldevino@gmail.com>.
1
tocQuevIlle, Alexis de. A Democracia na Amrica. Livro II, p. 285.
W.V.O. Silva Indivduo multidimensional e igualdade democrtica
Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 136-149 137
o indivduo, a partir da modernidade, tornou-se o elemento definidor
da estrutura social democrtica. Defesa de direitos individuais, iguais
oportunidades para todos, independncia, realizao pessoal, relao
do indivduo com comunidades, classes, nao, cultura, dependncia
do indivduo em relao a determinaes histricas, sociais, biolgicas,
discursivas, todas essas questes perpassam qualquer aspecto
relacionado s caractersticas dos regimes democrticos. Ao estabelecer
a igualdade e a liberdade como princpios estruturadores da sociedade, o
ideal democrtico coloca o indivduo como principal ponto de referncia.
A coexistncia desses dois ideais (a igualdade levada ao extremo
limita a liberdade e vice-versa) caracteriza grande parte dos principais
conflitos passados e contemporneos das democracias. esses conflitos
deram origem a diversas correntes que consideram ser uma iluso
a reivindicao moderna pela independncia do sujeito (Nietzsche,
heidegger, Foucault, Derrida).
em contextos especficos de crises agudas decorrentes do que de
pior j pde ser praticado por seres humanos, como foi o caso das duas
grandes guerras mundiais, esses autores e seus herdeiros interpretaram a
modernidade como o desejo de realizao de uma liberdade absolutamente
transcendente, o que no corresponde nem ao que os principais pais
da modernidade escreveram (como em Immanuel Kant, por exemplo,
para o qual a liberdade simplesmente um ideal regulador), nem aos
desdobramentos do longo e difcil processo de institucionalizao das
democracias ocidentais. Deixando de lado leituras muito mais modestas
do que seja uma sociedade democrtica e os ideais de igualdade e
liberdade como a de tocqueville, por exemplo , esses autores acabaram
por dar uma dimenso muitas vezes mstica ao conceito de autonomia.
o relativismo poltico-moral desse tipo de leitura fica claro, por exemplo,
na adeso de heidegger ao nazismo
2
e na facilidade com que Foucault
apoiou, em 1978, a Revoluo Iraniana, liderada pelo aiatol Khomeini,
com o argumento de que ela seria uma tentativa de abrir na poltica
uma dimenso espiritual
3
. minimizar esse tipo de posicionamento
poltico, como se ele no tivesse relao nenhuma com o fundamento do
pensamento de seus autores, como tem sido feito com frequncia at hoje,
no deixa de ser uma nova forma de no-compreenso das dimenses
2
A anlise mais completa sobre a relao da filosofia de heidegger com o nazismo pode
ser encontrada em FAye, emmanuel. Heidegger, lintroduction du nazisme dans la
philosophie Autour des sminaires indits de 1933-1935. Paris: ditions Albin michel,
2005.
3
FoucAult, michel. quoi rvent les Iraniens. In: Le Nouvel Observateur, 16/10/1978,
n 726, p. 48-49. Reproduzido em Dits et Ecrits, 1954-1988, tome III: 1976-197. Paris:
ditions Gallimard, 1994, p. 690-691.
W.V.O. Silva Indivduo multidimensional e igualdade democrtica
138 Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 136-149
que o indivduo possui ao longo da histria moderna e, particularmente,
de seu papel em sociedades democrticas. esse impasse pode ser mais
bem compreendido atravs da anlise proposta pelo historiador Jerrold
siegel, em The idea of the self: thought and experience in Western Europe
since the seventeenth century
4
. siegel refaz um longo trajeto que retoma
a interpretao de como alguns dos principais pensadores modernos,
desde Descartes, leibniz e locke, e sua herana na tradio britnica,
francesa e alem, interpretaram a questo do self, do eu
5
.
Retraar a anlise completa de siegel no meu objetivo aqui.
Gostaria apenas de retomar sua ideia de que trs dimenses caracterizam
as bases da constituio do self no mundo ocidental: a dimenso corporal
ou material, a dimenso relacional e a dimenso refletiva
6
.
A dimenso corporal envolve a existncia fsica, corprea, dos
indivduos, as coisas a respeito de nossa natureza que nos tornam
criaturas palpveis movidas por desejos, necessidades e inclinaes, que
nos conferem constituies ou temperamentos particulares, tornando-
nos, por exemplo, mais ou menos enrgicos, letrgicos, impulsivos ou
apticos. os nossos selves [nossos eus], nesse sentido, considerando
qualquer que seja o nvel de autoconscincia que temos, esto alojados
em nossos corpos e so moldados pelas necessidades corporais. A
segunda dimenso, relacional, surge da interao social e cultural, dos
envolvimentos e conexes comuns que nos do identidades coletivas,
valores e orientaes compartilhadas, fazendo de ns pessoas capazes
de utilizar uma linguagem ou idioma especfico e nos definindo com
seus estilos particulares de descrio, categorizao e expresso. Nessa
perspectiva, nossos selves so o que nossas relaes com a sociedade
e com os outros definem ou nos permitem ser. A terceira dimenso, a
da refletividade [...] deriva da capacidade humana de tornar tanto o
mundo quanto nossa prpria existncia objetos de nosso olhar ativo,
de virar uma espcie de espelho no apenas para os fenmenos no
4
sIeGel, Jerrold. The idea of the self: thought and experience in Western Europe since
the seventeenth century. cambridge: cambridge university Press, 2008.
5
siegel fornece uma definio totalmente desinflacionada para o self: por self, geralmente
queremos dizer o ser particular que qualquer pessoa , o quer que seja que distingue
voc ou eu dos outros, junta as partes de nossa existncia, persiste atravs das
mudanas ou abre o caminho para nos tornarmos quem ns podemos ou devemos ser
(sIeGel, Jerrold. The idea of the self, p. 3).
6
siegel faz distino entre refletividade (reflectivity) e reflexividade (reflexivity).
Refletividade diz respeito autoconscincia intelectual e, nesse sentido, um ato mental
intencional e autodirecionado que, de alguma forma, estabelece certa distncia entre a
conscincia e seu contedo. seu objetivo evitar tanto o vnculo com os conceitos de
racionalidade e conscincia, quanto com o sentido de reflexo, ligado ideia de
atos involuntrios, no termo reflexo.
W.V.O. Silva Indivduo multidimensional e igualdade democrtica
Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 136-149 139
mundo, incluindo nossos corpos e nossas relaes sociais, mas tambm
para nossas prprias conscincias, nos colocando a certa distncia
de nosso prprio ser de modo a examin-lo, julg-lo e, algumas vezes,
regul-lo ou revis-lo. Nessa perspectiva, o self um agente ativo de
sua prpria percepo, estabelecendo ordenamento para suas atitudes
e crenas e dando direo para suas aes. Isso parece ser quanto e
como isso justificvel no esto em questo aqui , de alguma forma,
autoconstituidor ou autodefinidor: somos aquilo que nossa ateno em
relao a ns mesmo nos torna
7
.
siegel reconhece que, dentro de cada uma dessas dimenses, h
diversos pontos que levaram a muitos questionamentos ao longo da
histria da filosofia como, por exemplo, a questo de quanto, na dimenso
corporal, somos determinados pelas necessidades orgnicas ou pela
gentica, ou, na dimenso relacional, o quanto estamos submetidos a
relaes de classe, em termos marxistas, ou em termos antropolgico-
culturais. Na dimenso refletiva, podemos pensar nas diversas gradaes
utilizadas para fazer a separao entre o self e a vida material. essas
variaes especficas, entretanto, no so a questo crucial para siegel,
mesmo porque essas prprias variaes fazem parte da constituio das
interpretaes do self ao longo da histria da filosofia. Nesse sentido,
a questo principal a oposio entre vises multi e unidimensionais
do self. embora s vezes seja difcil identificar quais dessas vises
determinados autores esto adotando, ela bastante til para tornar
mais claro o conflito entre leituras que estreitam e limitam a autonomia
humana e as que a expandem demasiadamente.
A anlise de siegel sobre as interpretaes do self mostra, a
partir de outra perspectiva, como se expressa, ao longo da histria
da filosofia, o conflito central da modernidade entre os princpios da
igualdade e liberdade. Assim, quanto mais nos afastamos de uma
viso multidimensional do self, mais propensos nos tornamos a cair em
extremos interpretativos.
A constatao de que o self o resultado da interao entre essas
trs dimenses corprea, relacional e refletiva por mais banal que
possa parecer, encontra forte resistncia no mbito terico. o fato de que
o self , como descreve siegel, a interseco de mltiplas coordenadas,
cada uma com um vetor diferente e, portanto, est sujeito a presses e
tenses concorrentes
8
, faz com que ele seja tanto a oposio de desejos
e necessidades corporais contrrias s determinaes culturais, quanto
um ser refletivo que se ope aos limites relacionais e materiais. em geral,
7
sIeGel, Jerrold. The idea of the self, p. 5-6.
8
sIeGel, Jerrold. The idea of the self, p. 7.
W.V.O. Silva Indivduo multidimensional e igualdade democrtica
140 Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 136-149
o que ocorre com frequncia quando interpretaes unidimensionais
so adotadas que no momento da anlise sociolgica uma dimenso
privilegiada, enquanto outra dimenso escolhida ao se propor a
superao dessa situao. trata-se do caso da tradio marxista, que v o
homem como resultado das tenses entre as foras produtivas (dimenso
relacional), mas que acaba propondo como superao dessa situao um
ideal simplesmente inatingvel de autonomia (dimenso refletiva).
uma das hipteses de siegel para explicar esse tipo de tendncia a
de que a adoo de uma viso multidimensional pode dar a impresso de
que se est colocando em risco a possibilidade de unidade e integridade
do self. mas isso tambm adotar uma viso inflacionada do que seria a
unidade e a integridade humana, ignorando que a vida humana de fato
consiste em variaes de sucessos e fracassos, perdas e conquistas.
exemplos disso, segundo siegel, so os conceitos de fraco contra
forte em Nietzsche e de das Man contra a autenticidade do Dasein
em heidegger:
tais selves so os nicos que podem alcanar a homogeneidade completa
e, assim, isso pode agradar especialmente queles que, por alguma razo,
precisam ou desejam conceber os indivduos como seres essencialmente
uniformes, seja para provar sua pureza espiritual ou sua natureza
puramente material, seja para mostrar que eles so completamente
autnomos ou totalmente determinados por poderes ou circunstncias
externas, seja para tornar esses indivduos disponveis para aderir a
causas que requerem uma identidade indiferenciada ou a causas que
requerem comprometimento e devoo sem questionamentos.
9
o mesmo self, que em um primeiro momento encontra-se profun-
damente amordaado no mais completo determinismo social, rapi-
damente transforma-se, depois de uma espcie de iluminao filosfico-
revolucionria, em um self plenamente consciente e capaz de total
autodeterminao.
Interpretaes que adotam essa viso unilateral do self tm em
comum, portanto, o fato de ignorar uma das principais caractersticas
humanas: a ambiguidade. elas partem do princpio de que dependncia
e independncia dos indivduos so conceitos incompatveis um com o
outro, desconsiderando, portanto, algo que facilmente verificvel no
dia-a-dia de qualquer um de ns. os seres humanos so, de acordo com
siegel, refletivos justamente porque so seres corpreos e relacionais. ou
seja, sendo corpreos e relacionais, o que caracteriza os seres humanos
essa possibilidade de tomar certa distncia dessas duas dimenses, o
que possvel atravs da dimenso refletiva.
9
sIeGel, Jerrold. The idea of the self, p. 8-9.
W.V.O. Silva Indivduo multidimensional e igualdade democrtica
Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 136-149 141
mais do que isso, o prprio percurso etimolgico do termo sujeito
(subject), para siegel, indica esse carter ambguo do self. Por um lado, o
termo sujeito est ligado dimenso refletiva e indica um agente ativo,
autnomo. Por outro lado, ele tambm usado para indicar sujeio,
passividade. Proveniente do latim subjectum, que significa o que est
embaixo, somente no sculo XvII o termo sujeito passou a se referir
ideia de seres humanos conscientes, embora, segundo siegel, seu uso
na poltica tenha continuado transmitindo a ideia de estar submetido a
alguma autoridade, razo pela qual a palavra sujet foi substituda por
citoyen na Revoluo Francesa.
Algo semelhante ocorre com o termo identidade
10
, que tambm
tem um sentido passivo e outro ativo. Identidade pode tanto significar
semelhana consigo mesmo, em um sentido passivo, quanto aquilo que
nos torna o que somos, em um sentido ativo. o mesmo ocorre com o
termo pessoa, que pode significar tanto um indivduo qualquer entre
outros, quanto aquele que, por suas prprias caractersticas, se diferencia
desses outros.
A igualdade em John Rawls
medida que as condies se
igualam num povo, os indivduos parecem
menores e a sociedade maior, ou, antes,
cada cidado, tornando-se igual a todos
os outros, perde-se na multido e no se
percebe mais que a vasta e magnfica
imagem do prprio povo.
11
10
Anthony Giddens, em Modernidade e Identidade, analisa esse novo indivduo das
atuais sociedades ps-tradicionais, cuja identidade transformou-se em algo no mais
facilmente determinado, passvel de reviso a todo o momento. uma autoidentidade
que no passiva e que no implica a substituio das tradies e crenas pelo
conhecimento racional, o que coloca o indivduo no centro de constantes presses
causadas elementos como risco, ansiedade, dvida e busca por uma unidade individual
cada vez mais frgil. Giddens chama de poltica-vida esse estgio atual posterior ao
perodo da poltica emancipatria. Neste, os objetivos polticos eram a libertao
das tradies e costumes, eliminao da desigualdade e da opresso e adequao
aos imperativos da tica e da justia. A poltica-vida substitui cada um desses
trs elementos, respectivamente, pela busca pela liberdade de escolha, busca por
autorrealizao e busca pelo sentido da existncia e pela melhor forma de viver: a
poltica-vida traz de volta ao primeiro plano aquelas questes morais e existenciais
recalcadas pelas instituies centrais da modernidade. vemos aqui as limitaes das
explicaes da ps-modernidade desenvolvidas sob a gide do ps-estruturalismo
(GIDDeNs, Anthony. Modernidade e Identidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar editor,
2002, p. 206).
11
tocQuevIlle, Alexis de. A Democracia na Amrica. Livro II, p. 360.
W.V.O. Silva Indivduo multidimensional e igualdade democrtica
142 Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 136-149
Gostaria, agora, de fazer uma leitura da obra do filsofo americano
John Rawls atravs do conceito do self proposto por siegel: por self,
geralmente queremos dizer o ser particular que qualquer pessoa , o
quer que seja que distingue voc ou eu dos outros, que junta as partes
de nossa existncia, que persiste atravs das mudanas ou que abre o
caminho para nos tornarmos quem ns podemos ou devemos ser
12
.
como j disse, esse conceito de self, ao adotar uma perspectiva
multidimensional conforme siegel sugere, evita inflacionar a dimenso
refletiva, a dimenso da autonomia e da racionalidade e, descreve, assim,
o que o prprio indivduo das democracias ocidentais. o conceito de
self proposto por siegel, portanto, o que adoto para definir o indivduo.
com isso, torna-se possvel entender melhor o que Alain Renaut chama
de igualdade versus hierarquia e liberdade versus tradio
13
, ou seja,
a relao que define a dinmica das sociedades democrticas.
voltar a Rawls, portanto, nesse contexto, tem dois objetivos. o primeiro
fazer uma leitura de sua obra procurando entender que seu objetivo
principal, sobretudo com a publicao de Uma Teoria da Justia, em 1971,
no era somente o de propor uma teoria para solucionar os impasses
polticos de sua poca, mas propor uma explicao que mostrasse que
os princpios de igualdade e liberdade que fundamentam os sistemas
democrticos modernos possuem tanto fundamentao histrica quanto,
principalmente, justificativa racional. seus dois princpios de justia,
que analisarei em detalhe logo a seguir, no so reivindicaes polticas
ou slogans revolucionrios. eles j esto institucionalizados em todas
as constituies de regimes democrticos e, portanto, no isso que
est em jogo. A inteno de Rawls era outra: mostrar que a falta de
clareza a respeito da escolha, do funcionamento e das implicaes
desses princpios gera muitos dos impasses polticos contemporneos,
principalmente em relao possibilidade de consenso entre indivduos
e grupos que possuem crenas diferentes e efetivao dos princpios
de igualdade e liberdade para mulheres, negros, homossexuais etc.
Do ponto de vista histrico, para Rawls, os regimes democrticos,
estruturados sobre os princpios do liberalismo poltico, sempre foram
marcados pelo dualismo entre as concepes polticas e as concepes
particulares dos cidados suas doutrinas abrangentes, ou seja, suas
crenas particulares sobre religio, moral, costumes etc. Rawls est
de acordo com a tradio, aqui, ao reconhecer que esse o elemento
fundamental de contraposio do mundo moderno ao mundo antigo. Rawls
12
sIeGel, Jerrold. The idea of the self, p. 3.
13
ReNAut, Alain. O Indivduo Reflexes acerca da filosofia do sujeito. Rio de Janeiro:
Difel, 1998, p. 25-30.
W.V.O. Silva Indivduo multidimensional e igualdade democrtica
Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 136-149 143
antecede suas consideraes tericas relembrando os fatos histricos.
De acordo com ele, trs processos histricos foram determinantes para o
surgimento do liberalismo poltico: a Reforma protestante do sculo XvI,
que fragmentou a unidade religiosa da Idade mdia e levou ao pluralismo
religioso, com todas as consequncias para os sculos posteriores, e que
alimentou pluralismos de outros tipos, que se tornaram uma caracterstica
permanente da cultura do final do sculo XvIII
14
; o desenvolvimento do
estado moderno com administrao centralizada; e o desenvolvimento
da cincia moderna iniciado no sculo XvII (astronomia com coprnico
e Kepler, a fsica e a anlise matemtica com Newton e leibniz). mas,
para Rawls, o acontecimento mais determinante foi, de fato, a Reforma:
a origem histrica do liberalismo poltico (e do liberalismo em geral) est
na Reforma e em suas consequncias, com as longas controvrsias sobre
a tolerncia religiosa nos sculos XvI e XvII. Foi a partir da que teve
incio algo parecido com a noo moderna de liberdade de conscincia e
de pensamento
15
, principalmente com a possibilidade de o fiel se dirigir
a Deus sem a intermediao de instituies religiosas. Isso deu origem
ao que Rawls chama de pluralismo razovel de doutrinas abrangentes,
ou seja, a possibilidade, criada nas sociedades liberais, de que pessoas
que professam os mais diversos tipos de crenas (no s religiosas)
possam conviver de forma relativamente harmoniosa. Para ele, essa
a questo central do liberalismo poltico e tambm a pergunta qual
sua teoria tenta responder: como possvel existir, ao longo do tempo,
uma sociedade estvel e justa de cidados livres e iguais, profundamente
divididos por doutrinas religiosas, filosficas e morais razoveis
16
.
A maneira pela qual Rawls formula o contexto e a prpria pergunta
fundamental do liberalismo poltico nos permite fazer a leitura de que
a igualdade ocupa um lugar de fundamentao anterior liberdade nos
regimes democrticos. A abertura para a tolerncia religiosa iniciada
com a Reforma e que se desdobra at os dias de hoje em relao a uma
concepo ampla de tolerncia significava que a salvao ou no dos
homens tornara-se um fator irrelevante para a poltica, para a cooperao
social. Rawls destacar que os principais escritores do sculo XvIII
esperavam estabelecer uma base de conhecimento moral independente
da autoridade eclesistica e acessvel pessoa comum, razovel e
conscienciosa
17
como forma de responder a essa nova situao de
relativizao dos sistemas normativos. Para Rawls, a questo : qual
14
RAwls, John. O Liberalismo Poltico. so Paulo: editora tica, 2000, p. 30.
15
RAwls, John. O Liberalismo Poltico, p. 32.
16
RAwls, John. O Liberalismo Poltico, p. 33.
17
RAwls, John. O Liberalismo Poltico, p. 34.
W.V.O. Silva Indivduo multidimensional e igualdade democrtica
144 Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 136-149
o papel da autonomia e da liberdade, sobretudo nesse contexto inicial
de discusso sobre a tolerncia religiosa, para o liberalismo poltico?
Dois aspectos precisam ser destacados. Primeiramente, no contexto da
discusso sobre a tolerncia religiosa, necessrio reconhecer que a
questo da autonomia no ocupa o lugar central. o que est em jogo,
primordialmente, a possibilidade de coabitao social de pessoas com
as mais diversas crenas, no o contedo dessas crenas e, muito menos,
se essas crenas foram adotadas de forma racional ou se so o resultado,
por exemplo, de determinada tradio familiar. o que est em jogo a
igualdade do direito de professar crenas particulares, e no se elas foram
adotadas de forma livre e autnoma. Dito de outra forma, a igualdade
jurdica torna-se necessria para que cada cidado, individualmente,
possa ter garantido o seu espao de liberdade para seguir seu prprio
sistema de crena, tenha sido esse sistema adotado por vontade prpria
ou sendo ele fruto de condies ou determinaes sociais. A supresso
dessa condio de igualdade jurdica, ou seja, a adoo de algum tipo
de hierarquia, nesse novo contexto liberal, extrapolaria esse espao de
liberdade no sentido de possibilitar que outra pessoa possa ter ingerncia
sobre o contedo de crenas individuais.
em segundo lugar, as tentativas desses escritores do sculo XvIII de
fundamentar a ordem moral no mais em Deus, mas em conceitos como
racionalidade, conscincia, natureza humana ou autonomia fizeram com
que contemporaneamente e Rawls o melhor exemplo seja possvel
imaginarmos esse tipo de fundamentao racional exclusivamente para
a esfera poltica, deixando a questo moral para a esfera estritamente
individual. Rawls est plenamente consciente disso e, por essa razo,
insistir muito na diferenciao entre esse liberalismo abrangente, que
prega a autonomia para o mbito moral, e o seu liberalismo poltico, que
defende a autonomia e a aplicao de critrios racionais exclusivamente
para a esfera poltica. mas, no contexto do atual desenvolvimento do
individualismo democrtico, no h mais possibilidade de retorno a uma
moral rgida como a que vigorou at o surgimento dos grandes movimentos
de luta por direitos individuais. preciso questionar se essa insistncia
na fundamentao da poltica atravs de conceitos como autonomia e
racionalidade no acaba por gerar utopias vazias. se no mais possvel
fundamentar a moralidade individual, atravs da racionalidade e da
autonomia (como medir o quanto somos racionais e autnomos?), ainda
h sentido em esperar que os indivduos sigam racionalmente esses
preceitos de um liberalismo exclusivamente poltico?
A anlise da prpria tentativa de justificao racional dos princpios
democrticos, realizada por Rawls, mostra como a igualdade, e no a
liberdade, o elemento estruturador da juridificao das sociedades
W.V.O. Silva Indivduo multidimensional e igualdade democrtica
Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 136-149 145
democrticas. Retomo os dois princpios de justia, em sua formulao
final de 2002, para mostrar como a condio hipottica criada por Rawls,
em 1971, para fundamentar as escolhas desses princpios, j apresenta a
igualdade como elemento primordial dos regimes democrticos:
a) cada pessoa tem o mesmo direito irrevogvel a um esquema plenamente
adequado de liberdades bsicas iguais que seja compatvel com o
mesmo esquema de liberdades para todos; e
b) as desigualdades sociais e econmicas devem satisfazer duas condies:
primeiro, devem estar vinculadas a cargos e posies acessveis a
todos em condies de igualdade equitativa de oportunidades; e,
em segundo lugar, tm de beneficiar ao mximo os membros menos
favorecidos da sociedade (o princpio da diferena).
18
Novamente, importante enfatizar, esses no so princpios pro-
postos por Rawls para solucionar os problemas e impasses dos regimes
democrticos, mas para fundamentar historicamente o projeto de
juridificao dos ideais democrticos de igualdade e liberdade. so os
princpios que, atravs de artigos constitucionais que garantem liber-
dades individuais e atravs da regulao econmica que fazem com que
essas mesmas liberdades no possam ser violadas, j esto presentes
em todas as constituies dos pases democrticos.
o que Rawls faz procurar mostrar que esses princpios devem ser
considerados porque h uma forte justificativa segundo ele, racional
que indica que esses seriam os princpios escolhidos em um experimento
hipottico que torna possvel a eliminao de todos os elementos que nos
afastam da autonomia da escolha racional, ou seja, que eliminam todas
as contingncias que, socialmente, levam s injustias, opresso, s
desigualdades arbitrrias etc.
Rawls, em formulao que se tornou famosa, afirma que seu objetivo
apresentar uma concepo da justia que generaliza e leva a um plano
superior de abstrao a conhecida teoria do contrato social como se l,
digamos, em locke, Rousseau e Kant
19
. ele sugere, ento, uma situao
totalmente hipottica de contrato social, uma posio original, na
qual pessoas escolheriam os princpios que deveriam estruturar uma
sociedade na qual teriam que viver. A condio totalmente hipottica
porque essas pessoas estariam submetidas ao que Rawls chama de
vu de ignorncia, responsvel por garantir a equidade do processo de
escolha, fazendo com que os princpios resultantes sejam os mais justos.
basicamente, essas pessoas ignorariam como as vrias alternativas lhes
18
RAwls, John. Justia como Equidade, p. 60.
19
RAwls, John. Uma Teoria da Justia, p. 12.
W.V.O. Silva Indivduo multidimensional e igualdade democrtica
146 Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 136-149
afetariam individualmente e, portanto, sua escolha teria que ser feita
apenas com o conhecimento de fatos gerais. Detalhadamente, a situao
a seguinte:
supe-se, ento, que as partes no conhecem certos tipos de fatos
particulares. em primeiro lugar, ningum sabe qual o seu lugar na
sociedade, a sua posio de classe ou seu status social; alm disso,
ningum conhece a sua sorte na distribuio de dotes naturais e
habilidades, sua inteligncia e fora, e assim por diante. tambm
ningum conhece a sua concepo do bem, as particularidades de
seu plano de vida racional, e nem mesmo os traos caractersticos
de sua psicologia, como por exemplo a sua averso ao risco ou sua
tendncia ao otimismo ou ao pessimismo. mais ainda, admito que as
partes no conhecem as circunstncias particulares de sua prpria
sociedade. ou seja, elas no conhecem a posio econmica e poltica
dessa sociedade, ou o nvel de civilizao e cultura que ela foi capaz
de atingir. As pessoas na posio original no tem informao sobre a
qual gerao pertencem.
20
Ao descrever em detalhes o vu de ignorncia, ao qual esto submetidas
as partes contratantes na posio original pensada cuidadosamente
para representar a situao mais perfeita possvel para gerar as escolhas
mais racionais possveis , Rawls no s coloca a liberdade/racionalidade
em posio secundria em relao igualdade, mas acaba por fazer
provavelmente a mais completa descrio do indivduo contemporneo
concreto (e no hipottico), ou seja, desse indivduo multidimensional
(de acordo com siegel), que ao mesmo tempo fraco, impotente, volvel
e instvel, mas que tambm carrega dentro de si um rol praticamente
infinito de potencialidades.
o objetivo de Rawls, ao elaborar as restries do vu de ignorncia,
est claramente localizado no outro: podemos imaginar que um dos
contratantes ameace no dar o seu assentimento a no ser que os outros
concordem com princpios que lhe so favorveis. mas como ele sabe
quais so os princpios que lhe interessam especialmente?
21
o que
ocorre, entretanto, que Rawls acaba por descrever o carter volvel e
instvel do prprio indivduo, o que determinante para a questo da
autonomia assim que se levantar o vu de ignorncia e este indivduo
estiver posto na sociedade.
A eliminao do lugar na sociedade, da posio de classe ou do
status social importante na escolha dos princpios sociais no s
porque ignoramos a posio dos outros, mas porque esses elementos,
nas sociedades democrticas, so altamente volveis para o prprio
20
RAwls, John. Uma Teoria da Justia, p. 147, grifos meus.
21
RAwls, John. Uma Teoria da Justia, p. 150.
W.V.O. Silva Indivduo multidimensional e igualdade democrtica
Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 136-149 147
indivduo. A ascenso e a queda de nvel social so constantes em
sociedades que aboliram as tradies e as hierarquias.
A sorte na distribuio de dotes naturais e habilidades e a
inteligncia e fora precisam ser eliminados na escolha dos princpios
no porque podemos ser mais fracos em relao aos outros, mas porque,
durante nossa prpria vida, nossas habilidades e inteligncia variam
amplamente no somente de acordo com nosso desenvolvimento, mas
tambm de acordo com o que passa a ser valorizado socialmente em cada
poca. Acidentes, por exemplo, podem nos deixar incapacitados fsica
e/ou intelectualmente, comprometendo nossa autonomia.
A concepo do bem e as particularidades do plano de vida
racional tambm precisam ser eliminadas na escolha dos princpios
no tanto porque encontramos concepes do bem e planos de vida
distintos nos outros, mas porque as nossas prprias concepes de bem
e planos de vida so variveis ao longo do tempo. e o mesmo ocorre com
todos os outros elementos listados por Rawls: os traos caractersticos
da psicologia (averso ao risco ou tendncia ao otimismo ou ao
pessimismo), as circunstncias particulares de sua prpria sociedade
(como a posio econmica e poltica e o o nvel de civilizao e
cultura) e a informao sobre a gerao que pertencemos (os conceitos
de gerao passam a importar cada vez menos).
se essa situao hipottica serve muito bem para descrever como
coerente a escolha dos princpios de igualdade e liberdade nas sociedades
democrticas ocidentais porque ela expressa no a racionalidade que
seria decorrente da eliminao de todas as contingncias, mas aquilo
que, fundamentalmente, estrutura as sociedades liberais individualistas:
a conscincia profunda de nossas limitaes, de nossas fraquezas e de
nossas potencialidades, ou seja, das condies negativas que nos tornam
iguais uns aos outros.
A igualdade um elemento to fundamental para a estruturao
das sociedades democrticas, nesse esquema rawlsiano, que ela
imprescindvel tanto na situao hipottica quanto depois da retirada
do vu de ignorncia. Na situao hipottica, na verdade, ela o nico
elemento, j que a liberdade posta somente como potencialidade.
Retirado o vu de ignorncia, garante-se espao para essa potencialidade
de desenvolvimento da liberdade humana, que pode ou no ocorrer. mas
a estrutura social democrtica toda montada para que todos os fatores
gerados a partir dessa potencialidade da liberdade nunca violem certas
condies mnimas de igualdade entre os homens. Da, portanto, as
normas jurdicas que pretendem fazer com que, apesar de fatores como
classe, habilidades, inteligncia, fora e nvel de instruo, todos os
homens devam ser tratados fundamentalmente como iguais.
W.V.O. Silva Indivduo multidimensional e igualdade democrtica
148 Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 136-149
como potencialidade, a liberdade varivel e instvel e, portanto,
no pode ser medida, mensurada, calculada e avaliada. No h como
determinar o quanto uma ao livre ou no. Portadores de anomalias
(o que a normalidade?) tais como sndrome de Down ou autismo
podem ser considerados capazes de tomar decises autnomas
(autnomas segundo quais critrios?)? No mesmo sentido, qualquer
tentativa de definio sobre o que seria a natureza humana gera
debates interminveis, por exemplo, no mbito da biotica.
obviamente, a questo ultrapassa a esfera individual e tem
consequncias diretas sobre o que se espera da atividade e da participao
poltica nos regimes democrticos. o que seria uma deciso poltica
autnoma, racional e bem fundamentada? Qual seria uma condio
mnima de esclarecimento dos cidados que lhes permitisse tomar
decises polticas mais adequadas? um cidado contemporneo que
muda de canal a todo instante, como descreve o socilogo Jean-louis
missika, criticando ao baixo nvel da programao, seria mais esclarecido
politicamente do que aquele que assiste televiso somente porque
fantico por futebol? Jrgen habermas
22
poderia nos indicar os critrios
segundos os quais uma programao televisiva seria mais adequada
22
em um polmico artigo publicado originalmente no jornal alemo Sddeutsche Zeitung
e reproduzido no caderno mais! do jornal Folha de S. Paulo de 27/05/2007, Jrgen
habermas passa por cima da ideia de autonomia, defende o papel estatal para educar
um pblico vtima da convenincia publicitria e mostra, portanto, que jamais
abandonou definitivamente ideias como as expostas, por exemplo, em Strukturwandel
der ffentlichkeit - Untersuchungen zu einer Kategorie der brgerlichen Gesellschaft
(suhrkamp, 1962), no qual v, por todos os lados, manipulao da publicidade, fim
do poder de contestao, passividade do pblico e manipulao da mdia: ouvintes
e espectadores no so apenas consumidores mas tambm cidados com direito
participao cultural, observao da vida poltica e voz na formao de opinio. com
base nesses direitos, no o caso de deixar programas voltados a tais necessidades
fundamentais da populao merc da convenincia publicitria ou do apoio de
patrocinadores. mais ainda, as taxas que financiam esses servios tambm no devem
variar ao sabor dos oramentos locais, isto , da conjuntura econmica - o que
argumentam algumas emissoras num processo contra os governos locais, em trmite no
supremo tribunal Federal alemo. A ideia de uma reserva pblica voltada para a mdia
eletrnica pode ser interessante. () Quando se trata de gs, eletricidade ou gua, o
estado tem a obrigao de prover as necessidades energticas da populao. Por que
no seria igualmente obrigado a prover essa outra espcie de energia, sem a qual
o prprio Estado democrtico pode acabar avariado? o estado no comete nenhuma
falha sistmica quando intervm em casos especficos para tentar preservar esse
bem pblico que a imprensa de qualidade. (grifos meus). No mesmo caderno da
Folha de S. Paulo, o crtico literrio marius meller fornece a nica resposta a habermas:
em questes de moral, sr. habermas, o ator principal o indivduo, no o sistema. J
nos anos 1980, o sr. profetizou a queda da democracia por conta da televiso privada, e
estava errado. eu sinceramente espero que o esquema gnstico de bem e mal que o sr.
to frivolamente aplica ao liberalismo e ao neoliberalismo no se torne uma ideologia
que um dia venha a invoc-lo como sua fonte.
W.V.O. Silva Indivduo multidimensional e igualdade democrtica
Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 136-149 149
ou no devemos exigir tanto dos filsofos, nos contentando em gastar
dinheiro pblico em algo parecido com a classificao indicativa realizada
pelo Departamento de Justia e Classificao Indicativa do ministrio da
Justia brasileiro?
se a situao chegou ao ridculo e ao pattico, porque efetivamente
h um problema com as vises de mundo que veem na atividade e na
participao poltica nas democracias o local onde se devem buscar os
ideais de racionalidade, de autonomia e de positividade.
Referncias
FAye, emmanuel. Heidegger, lintroduction du nazisme dans la philosophie Autour
des sminaires indits de 1933-1935. Paris: ditions Albin michel, 2005.
FoucAult, michel. Dits et Ecrits, 1954-1988, tome III: 1976-197. Paris: ditions
Gallimard, 1994, pp. 690-691.
GIDDeNs, Anthony. Modernidade e Identidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar editor,
2002.
RAwls, John. O Liberalismo Poltico. so Paulo: editora tica, 2000.
_____. Uma Teoria da Justia. so Paulo: martins Fontes, 2000.
_____. Justia como Equidade Uma Reformulao. so Paulo: martins Fontes, 2003.
ReNAut, Alain. O Indivduo Reflexes acerca da filosofia do sujeito. Rio de Janeiro:
Difel, 1998.
sIeGel, Jerrold. The idea of the self: thought and experience in Western Europe since
the seventeenth century. cambridge: cambridge university Press, 2008.
tocQuevIlle, Alexis de. A democracia na Amrica Livro II: Sentimentos e Opinies.
so Paulo, martins Fontes, 2000.
Veritas Porto Alegre v. 56 n. 1 jan./abr. 2011 p. 150-151
Veritas
NORMAS PARA PUBLICAO
Otextodeveserenviadoporviaeletrnica,salvocomodocumentodoWord,emdisquete,
CDoupore-mail.
Parafinsdecontrole,deveseracompanhadoporversoimpressaearquivosdasfontes,
casotenhamsidousadasfontesespeciais(grego,rabe,hebraico,transliteraes).
Sopublicadostextosnasseguinteslnguas:portugus,alemo,espanhol,francs,ingls,
italianoelatim.
Oeditornorespondepelarevisolingusticadostextose,porisso,osmanuscritosque
no foram redigidos na lngua materna do autor, devem ser enviados j devidamente
revisados.
Otexto,juntamentecomasnotas,nodeveexcedera15pginas,emcorpo12(Times
NewRoman),comespaode1,5entreaslinhasemargenssuficientes.Asnotasdevem
serpaginadasemcorpo10eespaosimples.
O artigo ser precedido pelo ttulo no idioma original e em ingls (se ingls, em
portugus); o nome completo do(a) autor(a); a instituio a que pertence;
resumo e palavras-chave na mesma lngua do texto (em caso de artigos em
outra lngua, que no o ingls, o resumo e as palavras-chave devem ser apresentados
tambmemingls).
As citaes devem ser colocadas entre aspas ( ), no com as marcas , ou
outras.
Asrefernciasbibliogrficasdevemvirincludasnasnotas.
Asnotasdevemsernumeradasautomaticamenteecolocadasaopdapgina.
Alm do itlico, no devem ser usadas outras apresentaes grficas (como negrito,
sublinhado,palavrascomtodasasletrasemmaisculo,etc.).
Citaes de artigos: ltimo sobrenome do(a) autor(a) em letras maisculas, inicial(ais)
do(s)primeiro(s)nome(s),componto.Ttulodoartigoentreaspas,Ttulodoperidico,
nmerodovolume(anodepublicao),nmerodapgina.Exemplo:
SONDAG,G.LarceptiondAvicennechezDunsScot,Veritas,195(2004),p.529-543.
Citaes de captulos de livro: ltimo sobrenome do(a) autor(a) em letras maisculas,
inicial(ais) do(s) primeiro(s) nome(s), com ponto. Ttulo do captulo entre aspas, com
ponto.IndicadorIn:,Nomedoorganizador,Ttulodaobraemitlico,localdaedio,
editora,ano,pgina.Exemplo:
CERQUEIRA,J.G.Medievalidadecriseouhiato?.In:MEIRINHOS,J.F.Itinraires de la
raisontudesdePhilosophiemdivaleoffertsMariaCndidaPacheco.Louvain-laNeuve:
FIDEM,2005,p.8.
Citaodelivro:ltimosobrenomedo(a)autor(a)emletrasmaisculas,inicial(ais)do(s)
primeiro(s)nome(s),componto.Ttulodaobraemitlico,localdaedio,editora,ano,
pgina.Exemplo:
STEIN,E.Diferena e metafsicaEnsaiossobreadesconstruo.PortoAlegre:Edipucrs,
2000,p.127.
Veritas
PUBLISHINGGUIDELINES
Thetextmustbesentinelectronicformat,savedasaWorddocument,indiskette,CDor
bye-mail.
Forverificationpurposes,aprintedversionandfontarchivesmustbesentifinthepaper
areusedspecialfonts(Greek,Arabic,Hebrew,transliterations).
The languages for publication are Portuguese, English, French, German, Italian, Latin
andSpanish.
Theeditorcannotundertakealinguisticrevisionofthetexts,thus,themanuscriptswhich
arenotwrittenintheauthorsmothertongueshouldbesentalreadyrevised.
Thewholetextwithnotesmustnotexceed15pages,intype12(TimesNewRoman),with
1,5linespacingandwithsufficientmargins.Thenotescanbepagedwithllinespacing,
intype10.
Everyarticleshouldbeprecededbyatitleinthesamelanguageusedonthescriptand
inEnglish(ifEnglish,inPortuguese);authorsfullmane;theinstitutiontowhichhe(she)
belongs; abstract in the same language as the text; key words (In the case of articles
in languages other than English, abstract and key words should be submitted also in
English).
Allquotationsaretobesetoffinhighcommas(),notinquotationmarks .
Bibliographicreferencesmustbeincludedinthenotes.
Notesmustbenumberedautomaticallyandaretobepresentedasfootnotes.
Apartfromitalicsnoothergraphicpresentationswillbepermitted(suchasbold,underlined,
fullwordsincapitalletters,etc.).
Citations of articles: Authors last name in capital letters, initial(s) of the authors first
name(s), with period, Title of the article in high commas, Title of the journal in italics,
volumenumber(yearofpublication),pagesnumber.Example:
SONDAG,G.LarceptiondAvicennechezDunsScot,Veritas,195(2004),p.529-543.
Citationsofbookchapters:Authorslastnameincapitalletters,initial(s)oftheauthorsfirst
name(s),withperiod,Titleofthearticleinhighcommaswithperiod,In,Organisators
name,Titleofthebookintalics,Placeofpublication,Publisher,yearofpublication,page
number.Example:
CERQUEIRA,J.G.Medievalidadecriseouhiato?.In:MEIRINHOS,J.F.ltinraires de la
raisontudesdePhilosophiemdivaleoffertsMariaCndidaPacheco.Louvain-laNeuve:
FIDEM,2005,p.8.
Citationsofbook:Authorslastnameincapitalletters,initial(s)oftheauthorsfirstname(s),
withperiod,Titleofthebookinitalics,Placeofpublication,Publisher,yearofpublication,
pagenumbers.Example:
STEIN,E.Diferena e metafiscaEnsaiossobreadesconstruo.PortoAlegre:Edipucrs,
2000,p.127.
Veritas, v. 56, n. 1, jan./abr. 2011, p. 150-151 151
Av. Ipiranga, 6681 Prdio 33
Caixa Postal 1429
90619-900 Porto Alegre RS BRASIL
Fone/Fax: (51) 3320-3523
www.pucrs.br/edipucrs/
edipucrs@pucrs.br
www. pucrs. br/ edi pucrs
PUBLICAES EDIPUCRS
PROJETOS DE FILOSOFIA
Agemir Bavaresco
Evandro Barbosa
Katia Martins Etcheverry
Trata-se do primeiro lanamento do e-book da
Coleo Filosofia. A Coleo Filosofia da EdiPUCRS,
com mais de duzentos nmeros publicados, passa
a incluir livros em formato e-book. A primeira obra
Projetos de Filosofia, que expe os eventos e
palestras com professores e especialistas nacionais
e Internacionais ocorridas durante o ano de 2010.
213p.
http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/projetosdefilosofia.pdf
S-ar putea să vă placă și
- Em defesa da democracia brasileira: pelo alargamento da democraciaDe la EverandEm defesa da democracia brasileira: pelo alargamento da democraciaÎncă nu există evaluări
- Albert Hirschman - Idealista Pragmatico PDFDocument10 paginiAlbert Hirschman - Idealista Pragmatico PDFWagner SilveiraÎncă nu există evaluări
- Organização Social e Política Brasileira - Versão FinalDocument27 paginiOrganização Social e Política Brasileira - Versão FinalLeonardo WegnerÎncă nu există evaluări
- Melo, Guiomar Nano, Políticas Públicas de EducaçãoDocument42 paginiMelo, Guiomar Nano, Políticas Públicas de EducaçãoAderaldo Leite da Silva50% (2)
- Marcos Müller Idealismo Especulativo e ModernidadeDocument20 paginiMarcos Müller Idealismo Especulativo e ModernidadelucianogattiÎncă nu există evaluări
- Aristóteles e o Agir EconomicoDocument16 paginiAristóteles e o Agir EconomicoKarollyneÎncă nu există evaluări
- Revista Critica MarxistaDocument29 paginiRevista Critica MarxistaClaudio BarbosaÎncă nu există evaluări
- II Encontro Nacional PIBID-Filosofia - Memórias e Reflexões - Ângela Zamora Cilento Marinê de Souza Pereira Patrícia Del Nero Velasco (Orgs.) PDFDocument292 paginiII Encontro Nacional PIBID-Filosofia - Memórias e Reflexões - Ângela Zamora Cilento Marinê de Souza Pereira Patrícia Del Nero Velasco (Orgs.) PDFAugusto RodriguesÎncă nu există evaluări
- Ceticismo Moral em HumeDocument12 paginiCeticismo Moral em HumeWendel de HolandaÎncă nu există evaluări
- Opiniao Filosofica - Guerras Justas e InjustasDocument8 paginiOpiniao Filosofica - Guerras Justas e InjustasromualdomonteiroÎncă nu există evaluări
- Texto 5 - TSP III - Dominique Lecourt (2005) - Humano Pos-HumanoDocument13 paginiTexto 5 - TSP III - Dominique Lecourt (2005) - Humano Pos-HumanoFranja00kunÎncă nu există evaluări
- FOLSCHEID - A Explicação Do Texto (Ficha)Document4 paginiFOLSCHEID - A Explicação Do Texto (Ficha)Marcelo VictorÎncă nu există evaluări
- Entre a subjetividade do intérprete e a objetividade do método científico: o problema hermenêutico da aplicação em GadamerDe la EverandEntre a subjetividade do intérprete e a objetividade do método científico: o problema hermenêutico da aplicação em GadamerÎncă nu există evaluări
- Organização Social e Politica Versao FinalDocument58 paginiOrganização Social e Politica Versao FinalLeonardo WegnerÎncă nu există evaluări
- Consciência E Subjetividade Em Jean-paul SartreDe la EverandConsciência E Subjetividade Em Jean-paul SartreÎncă nu există evaluări
- Texto 2 - OLIVEIRA, 2006Document20 paginiTexto 2 - OLIVEIRA, 2006Lailton DuarteÎncă nu există evaluări
- O Que É A Filosofia para Crianças - Programa de Matthew LipmanDocument96 paginiO Que É A Filosofia para Crianças - Programa de Matthew LipmanalferlisÎncă nu există evaluări
- A Moral em Marx - Crítica MarxistaDocument15 paginiA Moral em Marx - Crítica MarxistaJulia ScavittiÎncă nu există evaluări
- IV Colóquio Pensadores BrasileirosDocument153 paginiIV Colóquio Pensadores BrasileirosPaulo PintoÎncă nu există evaluări
- E A Filosofia Da EducacaoDocument68 paginiE A Filosofia Da EducacaoKevin JuanÎncă nu există evaluări
- A Trajetória do INEP no Contexto das Políticas Públicas BrasileirasDe la EverandA Trajetória do INEP no Contexto das Políticas Públicas BrasileirasÎncă nu există evaluări
- Material Dourado, uma Abordagem para a Inovação na Atuação DocenteDe la EverandMaterial Dourado, uma Abordagem para a Inovação na Atuação DocenteÎncă nu există evaluări
- A Natureza Da Metafísica - E. J. Lowe PDFDocument16 paginiA Natureza Da Metafísica - E. J. Lowe PDFthepepperÎncă nu există evaluări
- Guiomar Namo de Mello - Magistério - ResenhaDocument2 paginiGuiomar Namo de Mello - Magistério - ResenhaIcoliveira Vasco0% (1)
- Ressignificando A DemocraciaDe la EverandRessignificando A DemocraciaÎncă nu există evaluări
- Foucault X HabermasDocument10 paginiFoucault X HabermasSílvio CarvalhoÎncă nu există evaluări
- Exame Filosofia 2019-20!!!!!!!!Document72 paginiExame Filosofia 2019-20!!!!!!!!Gaiata ModernaÎncă nu există evaluări
- Reconstrução e emancipação: Método e política em Jürgen HabermasDe la EverandReconstrução e emancipação: Método e política em Jürgen HabermasÎncă nu există evaluări
- UNGER, Roberto-Mangabeira. A Democracia Realizada PDFDocument228 paginiUNGER, Roberto-Mangabeira. A Democracia Realizada PDFAntonio AlexÎncă nu există evaluări
- Dona Benta: Uma Mediadora no Mundo da LeituraDe la EverandDona Benta: Uma Mediadora no Mundo da LeituraÎncă nu există evaluări
- A Sensibilidade Como Crítica E Reconstrução SocialDe la EverandA Sensibilidade Como Crítica E Reconstrução SocialÎncă nu există evaluări
- Carta Asiática para Os Direitos Humanos PDFDocument20 paginiCarta Asiática para Os Direitos Humanos PDFJean NasgueweitzÎncă nu există evaluări
- Onhb AnotaçõesDocument76 paginiOnhb AnotaçõesErick Vieira100% (1)
- A História Do Capitalismo - Das - Origens - Até A Primeira Guerra MundialDocument924 paginiA História Do Capitalismo - Das - Origens - Até A Primeira Guerra MundialPatricia SouzaÎncă nu există evaluări
- Ghiraldelli JuniorDocument3 paginiGhiraldelli JuniorNapoleao MendesÎncă nu există evaluări
- O Multiculturalismo e Seus Dilemas: Implicações Na EducaçãoDocument18 paginiO Multiculturalismo e Seus Dilemas: Implicações Na EducaçãoAureliano LopesÎncă nu există evaluări
- Exposição e Método Dialético em O Capital - Marcos Lutz Müller PDFDocument24 paginiExposição e Método Dialético em O Capital - Marcos Lutz Müller PDFPatricia AlmeidaÎncă nu există evaluări
- A Crítica de Carnap Aos Enunciados Da MetafísicaDocument8 paginiA Crítica de Carnap Aos Enunciados Da MetafísicaAldrea AzevedoÎncă nu există evaluări
- Introdução à epistemologia: Dimensões do ato epistemológicoDe la EverandIntrodução à epistemologia: Dimensões do ato epistemológicoÎncă nu există evaluări
- Programa Antropologia FilosofiaDocument2 paginiPrograma Antropologia FilosofiaSartoretto LucasÎncă nu există evaluări
- Aula 5 - A Imaginação Sociológica - Capitulo 1 - A Promessa - MILLSDocument3 paginiAula 5 - A Imaginação Sociológica - Capitulo 1 - A Promessa - MILLSestefannyalmeida3Încă nu există evaluări
- Programa institucional de bolsa de iniciação à docência na UFOP: Ações, limites e desafios na formação inicial de professoresDe la EverandPrograma institucional de bolsa de iniciação à docência na UFOP: Ações, limites e desafios na formação inicial de professoresÎncă nu există evaluări
- Dialética Hoje Filosofia Sistemática PDFDocument204 paginiDialética Hoje Filosofia Sistemática PDFMarcos Villela Pereira100% (3)
- A Contribuição de Hayek Às Ideias Políticas e Económicas Do Nosso Tempo - Eamonn ButlerDocument92 paginiA Contribuição de Hayek Às Ideias Políticas e Económicas Do Nosso Tempo - Eamonn ButlerBruno Fernandes PereiraÎncă nu există evaluări
- A Ditadura Militar e Os Livros Didaticos de HistoriaDocument43 paginiA Ditadura Militar e Os Livros Didaticos de HistoriaBruna Reis AfonsoÎncă nu există evaluări
- São Tomás de Aquino e o Mercado: para uma economia humanaDe la EverandSão Tomás de Aquino e o Mercado: para uma economia humanaÎncă nu există evaluări
- Dissertação Raquel WeissDocument163 paginiDissertação Raquel Weisstubarao63Încă nu există evaluări
- Formação humana em István MészárosDe la EverandFormação humana em István MészárosÎncă nu există evaluări
- Itapecuru: Governança Hídrica na Amazônia OrientalDe la EverandItapecuru: Governança Hídrica na Amazônia OrientalÎncă nu există evaluări
- Os Invasores de Marx Sobre Os Usos Da Teoria Marxista e As Dificuldades de Uma Leitura Contemporânea Michael Heinrich PDFDocument12 paginiOs Invasores de Marx Sobre Os Usos Da Teoria Marxista e As Dificuldades de Uma Leitura Contemporânea Michael Heinrich PDFreginaÎncă nu există evaluări
- Gestão Democrática das Escolas Públicas Cearenses: Avanços e RecuosDe la EverandGestão Democrática das Escolas Públicas Cearenses: Avanços e RecuosÎncă nu există evaluări
- Relações de ensino e trabalho docente: Uma história em construçãoDe la EverandRelações de ensino e trabalho docente: Uma história em construçãoEvaluare: 5 din 5 stele5/5 (1)
- Hegel - Espírito Absoluto - Estado Moderno e LiberdadeDocument3 paginiHegel - Espírito Absoluto - Estado Moderno e LiberdadeHabeenkiiÎncă nu există evaluări
- Bioetica Neuroetica Emocoes PDFDocument324 paginiBioetica Neuroetica Emocoes PDFNythamar de OliveiraÎncă nu există evaluări
- Bioetica Neuroetica Emocoes PDFDocument324 paginiBioetica Neuroetica Emocoes PDFNythamar de OliveiraÎncă nu există evaluări
- Tractatus Practico-TheoreticusDocument368 paginiTractatus Practico-TheoreticusNythamar de Oliveira100% (3)
- Tractatus Politico Theologicus EbookDocument271 paginiTractatus Politico Theologicus EbookNythamar de Oliveira100% (1)
- Tractatus Politico Theologicus EbookDocument271 paginiTractatus Politico Theologicus EbookNythamar de Oliveira100% (1)
- Veritas Mar2011 n1-11Document152 paginiVeritas Mar2011 n1-11Nythamar de OliveiraÎncă nu există evaluări
- Filosofia Da Educação BrasileiraDocument16 paginiFilosofia Da Educação Brasileiraprofjonex100% (7)
- Curso Ciências Da Natureza e Suas Tecnologias-Eixo IIDocument23 paginiCurso Ciências Da Natureza e Suas Tecnologias-Eixo IIJoberNunesÎncă nu există evaluări
- Waking Life - SRTDocument118 paginiWaking Life - SRTRayssa OliveiraÎncă nu există evaluări
- FILOSOFIADocument31 paginiFILOSOFIAK SantosÎncă nu există evaluări
- 4711 17281 2 PBDocument10 pagini4711 17281 2 PBElisangelapavaneloÎncă nu există evaluări
- Método Lógico e Gramatical de Análise de Um Texto Com o Exemplo de O BanqueteDocument2 paginiMétodo Lógico e Gramatical de Análise de Um Texto Com o Exemplo de O BanquetePedro Andrade MotaÎncă nu există evaluări
- Prova Uerj 2014Document16 paginiProva Uerj 2014CarpestudiumÎncă nu există evaluări
- Pedagogia Resiliente-Uma Proposta para Um Contexto de Mudanças Paradigmáticas (SilvaAltimarCosta)Document454 paginiPedagogia Resiliente-Uma Proposta para Um Contexto de Mudanças Paradigmáticas (SilvaAltimarCosta)Roque De Ávila JuniorÎncă nu există evaluări
- Ahk - "Não Se Pode Fugir de Si Mesmo"Document18 paginiAhk - "Não Se Pode Fugir de Si Mesmo"Cleison GuimarãesÎncă nu există evaluări
- Questao Simulado Filosofia 1 Enem 3 AnoDocument5 paginiQuestao Simulado Filosofia 1 Enem 3 AnochiquinhophbÎncă nu există evaluări
- Etica e Serviço Público - Questionario Avaliativo 1 - ENAPDocument3 paginiEtica e Serviço Público - Questionario Avaliativo 1 - ENAPRayanna Oliveira0% (1)
- Modulo Gestao Das OrganizacoesDocument223 paginiModulo Gestao Das Organizacoescecilia da piedade Herculano100% (1)
- Epistemologia NepfilDocument487 paginiEpistemologia NepfilElson BusattoÎncă nu există evaluări
- A Morte Na Visao de Seis FilosofospdfDocument2 paginiA Morte Na Visao de Seis FilosofospdfJoana Amorim100% (1)
- 01 - 100 Exercícios - LIDERANÇA MILITARDocument25 pagini01 - 100 Exercícios - LIDERANÇA MILITARJoão CruzÎncă nu există evaluări
- Textos Sobre Educação CristãDocument18 paginiTextos Sobre Educação CristãAnalice Wandenklolk Vieira FerreiraÎncă nu există evaluări
- Janete de Aguirre Bervique - Fundamentos Antropológicos Da Pscoterapia de Viktor FranklDocument5 paginiJanete de Aguirre Bervique - Fundamentos Antropológicos Da Pscoterapia de Viktor FranklAugustoEricAuadÎncă nu există evaluări
- Admiravel Mundo Novo PDFDocument147 paginiAdmiravel Mundo Novo PDFFernando Coutinho100% (6)
- Texto Seminario - Maria V Benevides Educação em DH de Que Se TrataDocument11 paginiTexto Seminario - Maria V Benevides Educação em DH de Que Se TrataGustavo FujiÎncă nu există evaluări
- DeminurgoDocument3 paginiDeminurgoMatheus SilvaÎncă nu există evaluări
- Imanishi & Silva (2016) - Despersonalização Nos HospitaisDocument16 paginiImanishi & Silva (2016) - Despersonalização Nos HospitaisFilipeÎncă nu există evaluări
- Texto - A Escola Tem FuturoDocument22 paginiTexto - A Escola Tem FuturoBruno De Oliveira Figueiredo100% (1)
- APOSTILA - UMBANDA - Estudo Básico COMPLETA - 2009Document94 paginiAPOSTILA - UMBANDA - Estudo Básico COMPLETA - 2009paulolottyÎncă nu există evaluări
- Alains Badiou - para Uma Nova Teoria Do Sujeito (Extratos)Document13 paginiAlains Badiou - para Uma Nova Teoria Do Sujeito (Extratos)Fernando Morari100% (1)
- O Destino Do Homem No Plano de DeusDocument27 paginiO Destino Do Homem No Plano de DeusSergio KitagawaÎncă nu există evaluări
- 270 CadernosihuideiasDocument24 pagini270 CadernosihuideiasGleisonÎncă nu există evaluări
- Mindset Agil - Descobrindo Os Segredos Que Ninguém Lhe ContouDocument13 paginiMindset Agil - Descobrindo Os Segredos Que Ninguém Lhe ContouJEFFERSON DUARTE AFFONSO100% (1)
- Apot de Sociologia PsicanaliticaDocument31 paginiApot de Sociologia PsicanaliticaBispo Fabio CoutoÎncă nu există evaluări
- FICHAMENTO - FICHAMENTO. As Dimensões Da Dignidade Da Pessoa HumanaDocument6 paginiFICHAMENTO - FICHAMENTO. As Dimensões Da Dignidade Da Pessoa HumanaWilliam RamosÎncă nu există evaluări
- Bp12 E3 Crescimento EspiritualDocument12 paginiBp12 E3 Crescimento Espiritualleandrolyon2022Încă nu există evaluări