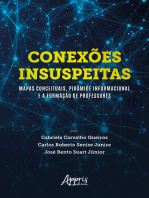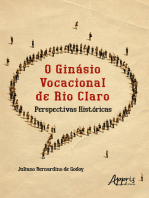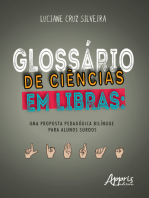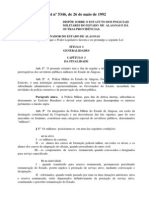Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Carpediem 2002
Încărcat de
neves1313Titlu original
Drepturi de autor
Formate disponibile
Partajați acest document
Partajați sau inserați document
Vi se pare util acest document?
Este necorespunzător acest conținut?
Raportați acest documentDrepturi de autor:
Formate disponibile
Carpediem 2002
Încărcat de
neves1313Drepturi de autor:
Formate disponibile
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai.
2001
Carpe Diem
FA Revista Cientfica da FACEX
Faculdade de Cincias, Cultura e Extenso do RN Natal, Rio Grande do Norte
ISSN 1518-5184
Natal/RN
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
Foto da Capa
Autoria: Eliphas Levi Bulhes Tcnica: Acrlica Sobre o autor: Eliphas Levi Bulhes, artista plstico de formao auto-didata, nascido em Natal. Participou de vrios concursos: a) Listel/Telemar (1 lugar) 1991 e 1993; b) Listel/Telemar (2 e 3 lugares) 1995 e 1997, respectivamente; Participou de vrias exposies: a) Salo de Exposio da Biblioteca Cmara Cascudo, Natal, (1977); b) 1 Exposio Individual Tema: O Mossoroense, Mossor, (1978); c) Centro Cultural do Brasil Academia Brasileira de Artes, Rio de Janeiro (1987); d) Galeria Newton Navarro Fundao Hlio Galvo, Natal (1991); e) Galeria Convivart da UFRN, Natal (1993-94); f) Taba Galeria de Arte, Natal, (1994); g) Galeria Cezanne, Recife (1995); h) Galeria de Artes Antiga e Contempornea, Natal, (1995); i) Marquise Galeria, Joo Pessoa, (1996); j) 1 Salo de Artes Plsticas da Cidade do Natal FUNCART, Natal (1998); l) Artenossa Galeria, Joo Pessoa, (1998); m) Yzigi International So de Eventos, Natal, (1998).
FICHA CATALOGRFICA CATALOGAO NA FONTE
Carpe Diem Revista Cultural e Cientfica da Faculdade
de Cincias, Cultura e Extenso do RN FACEX. Natal: FACEX - Coordenadoria de Pesquisa e Extenso, 2001.
Anual Descrio baseada em : n.1 (mai. 2001) ISSN 1518-5184 1. Educao Superior Peridico 2. Cincias Humanas peridico 3. Cincias Sociais e Aplicadas Peridico 4. Cincias Exatas Peridico 5. Cincias Biolgicas - Peridico. RN/FACEX 2001 CDD 378.005 CDU 378
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
FACULDADE DE CINCIAS, CULTURA E EXTENSO DO RN - FACEX
Autorizada pelo Decreto n 85.977 de 5/5/1981, publicado no D.O.U. de 6/5/1981 Mantida pelo Centro Integrado para Formao de Executivos CIFE
Carpe Diem
Publicao da Coordenadoria de Pesquisa e Extenso CPE
Diretor Presidente
Jos Maria Barreto de Figueiredo
Diretor Administrativo
Candysse Medeiros de Figueiredo Lira
Diretor Financeiro
Oswaldo Guedes de Figueiredo Neto
Diretor Acadmico
Prof. Raymundo Gomes Vieira
Secretrio Geral
Ronald Fbio de Paiva Campos
Coordenador de Pesquisa e Extenso
Prof. Francisco de Assis Maia de Lima
Conselho Editorial
Prof. Aiene Rebouas Alves Prof. Francisco de Assis Maia de Lima Prof. John Alex Xavier de Sousa Prof Llian de Oliveira Rodrigues Prof Maria Carmozi de Souza Gomes Prof Rosilda Alves Bezerra
Coordenao Editorial
Prof. Francisco de Assis Maia de Lima
Coordenao Tcnica
Prof Daise Llian Fonseca Dias Prof Miriam Magdali de Oliveira Costa Sanguilln Adriana Rodrigues de Carvalho
Produo
Grfica SantAna Ltda
Diagramao
Admar Pedro da Silva
Tiragem
1.000 exemplares
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
A Revista Carpe Diem uma publicao anual da Faculdade de Cincias, Cultura e Extenso do RN FACEX, do Centro Integrado para Formao de Executivos (CIFE) que tem como finalidade contribuir para o desenvolvimento e divulgao de conhecimentos nas reas de Cincias Humanas, Sociais Aplicadas, Exatas e Biolgicas. Destina-se, portanto, divulgao de trabalhos relativos a estudos de natureza terica e experimental no campo da pesquisa, resumos e teses ou dissertaes, monografias, trabalhos de concluso de cursos, comunicaes e artigos de reviso produzidos pelo corpo docente e discente desta e de outras instituies pblicas ou privadas. Os interessados no envio de artigos para publicao (ver Normas para apresentao de trabalhos) ou no recebimento regular da Carpe Diem devem entrar em contato com a Coordenao Editorial da mesma, junto Coordenao de Pesquisa e Extenso, no endereo abaixo.
ENDEREO
PARA
CORRESPONDNCIA
Faculdade de Cincias, Cultura e Extenso do RN FACEX Coordenadoria de Pesquisa e Extenso A/C Professor Francisco de Assis Maia de Lima1 Rua Orlando Silva, 2897 Capim Macio 59.080-020 Natal, RN Tel.: (0xx84) 217-8348 E-mail: secretaria@facex.com.br
Aceita-se permuta We ask for exchange Pidese canje On demande lchange Si richiede lo scambio
1Editor. Mestre (UFRGS) e Doutor (USP) em Gentica. Coordenador de Pesquisa e Extenso (FACEX). Coordenador do Curso de Cincias Biolgicas (FACEX). Professor voluntrio do Programa de Ps-Graduao em Gentica e Biologia Molecular (UFRN).
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
Carpe Diem
REVISTA CULTURAL E CIENTFICA DA FACEX
FACULDADE DE CINCIAS, CULTURA E EXTENSO DO RN -
Ano 1 Nmero 1 Mai. 2001
SUMRIO
Apresentao ...................................................................................................................................................... 08 Raymundo Gomes Vieira ADMINISTRAO O papel das associaes de trabalho na flexibilizao das relaes de trabalho ......................................................................................................................................................................................... 09 Carlos Antonio de Lima Moreira Maria Arlete Duarte de Arajo Servio pblico: consequncias da imposio de liderana ........................................ 25 Homero Henrique Rocha de Medeiros O novo perfil do administrador exigido pelo mercado de trabalho ...................... 37 Vera Lcia da Silva Neves EDUCAO Saberes e saber-fazer novos caminhos para uma prtica reflexiva ............... 43 Aiene Rebouas Alves Planejamento de ensino: reconstruindo sua trajetria ................................................... 54 Olmpia Cabral Neta Nas ondas cativas do rdio: as escolas radiofnicas da Arquidiocese de Natal (19571960) .......................................................................................................................................................................... 73 Rossana Kess Brito de Souza Pinheiro Educar querer entender a semioses do organismo vivo do qual se cuida ......... 88 Sanzia Pinheiro Barbosa FILOSOFIA Angelus Novus o (anti) heroi (ps) moderno: arte alegrica, barroco e revoluo esttico-cultural em Walter Benjamin ............................................................................... 95 Francisco Ramos Neves Utopia e antropofagia: quando o u do tupi guarani recoloca a cabea de Morus sobre os seus ombros ................................................................................................................................. 107 Walter Pinheiro Barbosa Junior
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
HISTRIA O Estado e a arte barroca na Frana do Sculo 111 John Alex Xavier de Sousa INFORMTICA Heurstica do Baricentro: uma soluo o(n2) para o problema do Caixeiro Viajante ..................................................................................................................................................................... 117 Joaquim Elias Lucena de Freitas LITERATURA O limiar fantstico: uma leitura dos contos Teleco, o coelinho e os Drages de Murilo Rubio .................................................................................................................................................................. 125 Carlos Alberto de Negreiro Naturalism in John Steinbecks The grapes of wrath ................................................... 134 Daise Llian Fonseca Dias Espelho, signo e imagem: a problemtica da representao em O Retrato Oval de Edgar Allan Poe ................................................................................................................................... 138 Llian de Oliveira Rodrigues Augusto dos Anjos: a ironia infausta ......................................................................................... 145 Rosilda Alves Bezerra SOCIOLOGIA Globalizao e desemprego estado, mercado e sociedade .................................... 159 Paulo Srgio Oliveira de Arajo Normas para apresentao de trabalhos ................................................................................ 173
................................................................
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
APRESENTAO
Prof. Raymundo Gomes Vieira1
Carpe Diem2 o sonho que se fez verdade. Na era do conhecimento, no h desenvolvimento possvel para um pas sem a preocupao constante com a Educao. No Brasil, as ltimas dcadas so marcadas por transformaes profundas neste campo. A Lei de Diretrizes e Bases LDB ampliou o escopo dos cursos de educao superior, e aprimorou exigncias. O MEC estabeleceu os indicadores de qualidade aos quais as instituies de ensino superior, em sua maioria srias e competentes, procuraram ajustar-se prontamente. Vimos assim a pesquisa assumir caractersticas marcantes. Consolidava-se o pensamento de Demo3 ao afirmar que sem pesquisa no h vida acadmica, a menos que a reduzamos a uma ttica incolor de repasse copiado. com muita alegria que hoje nos inserimos neste contexto e entregamos s instituies congneres, a dirigentes e participantes do trabalho pedaggico, este que o primeiro fruto produzido pelo esforo dos dedicados pesquisadores da FACEX. Eles merecem o nosso aplauso e ns nos orgulhamos por mant-los em nossos quadros. Ser, certamente, o primeiro de uma srie que consolidar a nossa participao na pesquisa e a divulgao dos mais importantes trabalhos dos docentes desta Instituio, cujo nome marcado pelo objetivo que define o seu fazer acadmico: Faculdade de Cincias, Cultura e Extenso. Que Horcio nos inspire, marcando de forma definitiva a trajetria de Carpe Diem.
Diretor acadmico da FACEX Expresso usada por Horcio, cujo sentido lato viver intensamente cada dia da vida. Foi incorporada por rcades e barrocos para definir uma preocupao filosfica em fruir a vida, isto , viv-la em plenitude. 3 DEMO, Pedro. Educar pela pesquisa. Campinas: Autores Associados, 1996.
2
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
O PAPEL DAS ASSOCIAES DE TRABALHO NA FLEXIBILIZAO DAS RELAES DE TRABALHO
Carlos Antonio de Lima Moreira1 Maria Arlete Duarte de Arajo2 RESUMO: O processo de reestruturao produtiva em curso a partir dos anos 70 nas sociedades desenvolvidas e no Brasil a partir dos anos 90, desencadeou uma profunda modificao no mundo do trabalho, provocando o que Mattoso (1995) considera uma verdadeira desordem do trabalho, expressa em nveis assustadores de insegurana na renda, no emprego, no mercado de trabalho, na contratao e na representatividade. Neste contexto de crise do trabalho, ressurgem iniciativas organizacionais que nem se situam no mbito do Estado e nem da iniciativa privada. o caso das associaes e cooperativas de trabalho que passam a constituir alternativas ao desemprego. Objetivando compreender melhor a lgica que articula esta dinmica, este artigo se prope a discutir o papel das associaes de trabalho na flexibilizao das relaes de trabalho, a partir da experincia da Associao Comunitria de Desenvolvimento do Trairy (ACT), situada em Santa Cruz/RN. Inicialmente, discute o significado da flexibilizao das relaes de trabalho. Em segundo lugar, tece comentrios sobre as condies que permitiram a exploso das associaes de trabalho como alternativa concreta crise do trabalho. Finalmente, analisa a experincia da ACT, destacando as prticas de gesto adotadas e sua relao com o projeto de flexibilizao das relaes de trabalho. PALAVRAS-CHAVE: associaes de trabalho; flexibilizao; relaes de trabalho; terceirizao. THE ROLE OF ASSOCIATIONS OF WORK IN THE FLEXIBILIZATION OF THE RELATIONS OF WORK ABSTRACT: The process of productive restructuration from the 70s on, in developed societies, and in Brazil from the 90s on, unchained a profound modification in the world of work, provoking what Mattoso (1995) considers a trully confusion of work, expressed in frightening levels of insecurity on income, employment, work market, hiring and representativity. In this context of crisis of work, again initiatives of organizations arise , however, these organizations are neither in the ambit of the Stater nor private. It is the case of associations and cooperative societies of work that start to constitute alternatives to unemployment. Having the objective of understanding better the logic that articulates this dynamic, this article proposes to discuss the role of associations of work in the flexibilization of the relations of work from the experience of Trairy Comunity of Development Association (ACT), on located in Santa Cruz/RN. At first, the article discusses the signification of this flexibilization of the relations of work. Secondly, coments on conditions that permit the explosion of the associations of work as concrete alternatives to the crisis of work. Finally, it analizes the experience of the ACT, pointing out the adopted practices of management and their relation with the project of flexibilization of the relations of work. KEY-WORDS: associations of work; flexibilization; relations of work; outsourcing.
1
Mestre em Administrao (UFRN). Professor dos cursos de Administrao da FACEX e da FARN. E-mail: cmoreira@eol.com.br 2 Doutora em Administrao (FGV). Professora do PPGA da UFRN. E-mail: dfb@digi.com.br
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
10
1 INTRODUO O processo de reestruturao produtiva em curso a partir dos anos 70 nas sociedades desenvolvidas, desencadeou uma profunda modificao no mundo do trabalho, provocando o que Mattoso (1995) considera uma verdadeira desordem do trabalho, expressa em nveis assustadores de insegurana na renda, no emprego, no mercado de trabalho, na contratao e na representatividade.
Conforme percuciente observao de Umberto Romagnoli, o direito do trabalho assistiu a uma imponente reestruturao capitalista que redesenhou a geografia das atividades produtivas e, conjuntamente, a tipologia das formas do emprego da mo-de-obra; terceirizou a economia e convulsionou o mercado de trabalho; mundializou os mercados e produtos e modificou, por efeito das novas tecnologias, tambm os trabalhos tradicionais (Neto, 1996, p. 332).
No Brasil este processo se acentua a partir dos anos 90, quando as empresas comeam a adotar inovaes organizacionais e tecnolgicas motivadas pela crescente competitividade internacional favorecida pela abertura comercial. As novas formas de gesto e de enxugamento de estruturas administrativas adotadas combinadas com a incapacidade do Estado em promover polticas de estmulo ao emprego, resultaram na expulso de um contingente de trabalhadores das empresas para o mercado de trabalho, gerando insegurana tanto para aqueles que constituem o ncleo estvel da empresa como para aqueles que no mercado de trabalho buscam uma reinsero. O mercado de trabalho que sempre se caracterizou por elevados ndices de rotatividade, informalidade e baixos salrios, agora convive com alarmantes taxas de desemprego. Como afirma Carleial (1997, p. 25):
Mesmo no perodo 1950-80, de consolidao da indstria nacional e, por conseguinte, do assalariamento e da criao de milhares de postos de trabalho, a heterogeneidade desse mercado era visvel: ele comportava desde trabalhadores assalariados com registro em carteira, de grandes empresas ou empresas estatais, at uma gama de ocupados, subempregados e trabalhadores informais, sinalizando a necessidade de polticas ativas de emprego
Neste contexto, ressurgem iniciativas organizacionais que nem se situam no mbito do Estado e nem da iniciativa privada. o caso das associaes e cooperativas de trabalho que passam a constituir alternativas ao desemprego. Em muitas situaes nascem do desejo de associao de um grupo de pessoas em viabilizar uma atividade produtiva e com isso garantir sua sobrevivncia e em outras so decorrentes da adoo pelas empresas de novas formas gerenciais, como a terceirizao.
A capacidade de gerao de postos de trabalho da grande firma fortemente abalada pelos procedimentos inovadores, notadamente pela prtica da externalizao/terceirizao, que estabelece uma migrao dessa capacidade para mdias e pequenas firmas e estimula a proliferao de trabalhadores autnomos, sem vnculo empregatcio, e de trabalhadores em domiclio (Carleial, apud Carleial, 1997, p. 22).
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
11
Objetivando compreender melhor a lgica que articula esta dinmica, este artigo se prope a discutir o papel das associaes de trabalho na flexibilizao das relaes de trabalho, a partir da experincia da Associao Comunitria de Desenvolvimento do Trairy (ACT), localizada no municpio de Santa Cruz/RN. Inicialmente, discute o significado da flexibilizao das relaes de trabalho em um contexto de profundas modificaes econmicas, polticas e tecnolgicas. Em segundo lugar, tece comentrios sobre as condies que permitiram a exploso das associaes de trabalho como alternativa concreta crise do trabalho. Em terceiro lugar, analisa a experincia da ACT, destacando as prticas de gesto de pessoal adotadas. Finalmente, destaca a lgica de articulao entre as prticas de gesto e o projeto de flexibilizao das relaes de trabalho. 2 O SIGNIFICADO DA FLEXIBILIZAO DAS RELAES DE TRABALHO Tornou-se consenso em amplos segmentos da sociedade que sem flexibilizar as relaes de trabalho o Brasil perde competitividade e, consequentemente, capacidade de insero em uma economia globalizada. Argumenta-se que o custo Brasil proibitivo, que h regulamentaes excessivas e que somente a flexibilizao do trabalho poderia colocar o pas na trilha de um mundo globalizado. Contudo, se h consenso na defesa da flexibilizao, no h unidade de pensamento quando se questiona sobre o que seria exatamente flexibilizao. Assim, com a preocupao de dirimir esta questo, fomos buscar o significado da palavra. Segundo Ferreira (1995, p. 300), flexibilizar tornar-se flexvel e flexvel o que se pode dobrar ou curvar; arquevel, vergvel; fcil de manejar, malevel, domvel; dcil, brando, submisso. Ora, se flexibilizar significa tornar-se malevel, domvel, somente podemos entender a flexibilizao das relaes de trabalho como a tentativa de desregulamentlas, deixando-as livres da interferncia do Estado e consequentemente ao sabor do mercado. Em outras palavras, flexibilizar as relaes de trabalho implica em dotlas de maleabilidade, ou seja, de capacidade de ajuste aos ditames do mercado, dado o pressuposto de que so rgidas. Isto significa que o trabalho deve se submeter aos altos e baixos das mutaes decorrentes de fatores polticos, econmicos e tecnolgicos das empresas. Para Ann Numhauser-Henning, apud Neto (1996, p. 335):
a flexibilizao trabalhista consiste na possibilidade da empresa contar com os mecanismos jurdicos que permitam ajustar sua produo, emprego e condies de trabalho ante as flutuaes rpidas e contnuas do sistema econmico (demanda efetiva e diversificao da mesma, taxa de cmbio, interesses bancrios, competncia internacional), as inovaes tecnolgicas e outros fatores que demandam ajustes com rapidez.
Importa registrar que tudo se passa como se de fato o direito do trabalho fosse extremamente rgido, impeditivo da modernizao das empresas. Para Neto (1996, p. 340), a simples constatao da inexistncia de qualquer restrio aos empregadores quanto s formas de estabelecimento do vnculo empregatcio, ou ainda, de
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
12
obstculos sua desconstituio, e do nmero elevado de trabalhadores fora do mercado formal de trabalho confirmam a desregulamentao intrnseca do modelo nacional. Ou, como diz Romagnoli, apud Neto (1997, p. 37):
a flexibilidade na entrada do mercado de trabalho manifesta-se pelas medidas legislativas que incentivam o trabalho part-time, pelos ingressos diferenciados ao trabalho para os jovens, pela multiplicao de possibilidades de emprego precrio e temporrio, pela reduo de tutela do direito do trabalho, das categorias sociais subprotegidas e pela deliberao das lgicas privatistas na oferta e na demanda de trabalho.
Poder-se-ia tambm discutir a rigidez na sada do mercado de trabalho, expressa pelos elevados ndices de rotatividade no trabalho. Desde a criao do Fundo de Garantia por Tempo de Servio (FGTS), pondo fim estabilidade no emprego, no se pode dizer que h rigidez na demisso, seja motivada ou imotivada. Como afirma Neto (1997, p. 37), a flexibilidade na sada do mercado de trabalho est assegurada pela legislao sobre a limitao do campo de aplicao e o rigor da tutela contra a despedida individual e por uma nova legitimao das redues de pessoal. Se no h rigidez na entrada e na sada do mercado de trabalho, flexibilizar o direito do trabalho nada mais , compartilhando da idia de Carleial (1997), do que uma adequao da flexibilidade jurdica conhecida flexibilidade estrutural do mercado brasileiro. Logo, o discurso da flexibilizao somente pode ser entendido como uma ofensiva do capital contra o trabalho em um momento em que o movimento sindical se encontra fragilizado e os trabalhadores se sentem (os que ainda permanecem empregados) receosos de perder o emprego. Assiste-se assim uma investida sobre direitos e conquistas dos trabalhadores em nome da necessidade de competitividade e internacionalizao da economia. Precariza-se o trabalho com ampliao de jornadas de trabalho, reduo de salrios, empregos parciais, corte de benefcios, suspenso de aes na justia em troca do emprego, aumento de horas extras e ingressos no mercado de trabalho diferenciados para os jovens. Tudo depende das circunstncias. A vulnerabilidade do direito passa a ser a tnica dominante. 3 A EXPLOSO DAS ASSOCIAES DE TRABALHO Com a passagem da era industrial para a era da informao constata-se, em cada pas, a formao de uma sociedade bipolar. Tal fato caracteriza-se, de acordo com Rifkin (1997), por apresentar de um lado, os trabalhadores do conhecimento, muito bem pagos, integrantes da economia global, pertencentes era da informao, separados do resto da populao em qualquer grande cidade; e por outro lado, trabalhadores com salrios menores em contraste com aumento na produtividade, mais trabalho temporrio, mais trabalho contingente, mais trabalho por contrato, enfim, trabalhadores excludos da nova economia global. De acordo com Barbosa, apud Barbosa [199-?, p. 2]:
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
13
os impactos do rearranjo na esfera produtiva sobre a sociedade no tm precedentes dentro da lgica do capitalismo. De maneira avassaladora, foram rompidos equilbrios que prevaleciam por dcadas dentro de um sistema que encontrou seu apogeu nos vinte anos que se seguiram ao fim da segunda guerra mundial.
No cerne das mudanas, a importncia da reviso do papel do Estado emerge de forma polmica, envolvendo vises diferentes. De um lado, aqueles que apoiam a presena do Estado, para assegurar o mnimo de garantias que a iniciativa privada no est disposta a oferecer quelas pessoas excludas da lgica produtiva. Do outro lado, os que defendem a sada do Estado, pois apontam para sua incapacidade de exercer atividades em setores onde se espera agilidade e retorno sobre o investimento. Essa dicotomia tem dificultado a procura por alternativas negociadas que visem uma passagem menos traumtica a um modelo que tente compatibilizar justia social a uma economia de mercado. As dificuldades, no entanto, no tm impedido o surgimento de um novo espao para reordenamento dos problemas da comunidade, que no Estado nem mercado e cujas aes voltam-se ao interesse pblico. Trata-se de um espao que, rompendo a dicotomia entre pblico e privado, afirma-se como um espao de iniciativas privadas com sentido pblico. De acordo com Fernandes (1994, p. 21), a idia de um terceiro setor denota um conjunto de organizaes e iniciativas privadas que visam produo de bens e servios pblicos. Dessa forma, segundo esse mesmo autor, os eventuais excedentes devem ser reinvestidos nos meios para a produo dos fins ajustados, assim como os bens e servios produzidos devem ser, caracteristicamente, de consumo coletivo. Ao referir-se aos elementos componentes do terceiro setor como sendo nogovernamentais e no-lucrativos, Fernandes (1994) chama a ateno para o fato de que o poder ou o lucro no constituem motivos suficientes para a ao. O autor esclarece que no-governamentais implica indicar iniciativas e organizaes que, enquanto tais, no integram o governo e no se misturam com o poder do Estado. Por outro lado, sem fins lucrativos implica designar um conjunto de organizaes e de aes cujos investimentos vo alm dos casuais retornos financeiros. Assim sendo, observa-se que, no terceiro setor, as organizaes que o constituem diferenciam-se pela busca de valores que transpem a utilidade. Para Salamon, apud Fernandes (1994, p. 19), o terceiro setor:
... composto de (a) organizaes estruturadas; (b) localizadas fora do aparato formal do Estado; (c) que no so destinadas a distribuir lucros aferidos com suas atividades entre os seus diretores ou entre um conjunto de acionistas; (d) autogovernadas; (e) envolvendo indivduos num significativo esforo voluntrio.
Segundo Melo (1997, p. 1), o terceiro setor compe-se de:
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
14
atividades que se distinguem claramente do setor governo, responsvel pelas tarefas peculiares esfera pblica, como primeiro setor; o segundo setor, o mercado representado pelas atividades com fins lucrativos; e o terceiro setor abrange as demais atividades que nem se submetem lgica privada, do lucro, nem ao controle direto do governo.
Melo (1997) afirma que, hoje em dia, em relao dcada de oitenta, o terceiro setor tem aes muito mais abrangentes: compreende instituies filantrpicas dedicadas prestao de diversos tipos de servios, como por exemplo: sade, educao e de defesa dos direitos humanos. Dessa forma, vem constituindo-se em uma rea ampla destinada participao cidad, realizao de trabalhos em que indivduos e empresas efetivam sua sensibilidade e compromissos sociais, atravs da doao de recursos (materiais e financeiros), tempo e talento s causas sociais. Opinio semelhante defendida por Cardoso (1997), ao afirmar que na dcada de 80 as Organizaes No-Governamentais (ONGs) constituam os novos espaos de participao cidad. Hoje em dia, verifica-se que o terceiro setor compreende instituies filantrpicas dedicadas prestao de servios em diversas reas (sade, educao e bem-estar social, por exemplo); organizaes voltadas para a defesa dos direitos de grupos especficos da populao (homossexuais e mulheres, por exemplo), de proteo ao meio-ambiente, promoo do esporte, da cultura e do lazer; congrega as vrias experincias de trabalho voluntrio e, mais recentemente, presencia-se o fenmeno crescente da filantropia empresarial. A expresso terceiro setor, segundo Fernandes (1997), ainda pouco utilizada no Brasil. Foi traduzida do ingls (third sector) e faz parte do vocabulrio sociolgico usual nos Estados Unidos. No Brasil, apenas alguns crculos ainda restritos como, por exemplo, o Grupo de Institutos, Fundaes e Empresas (GIFE) comeam a usla naturalmente. Nos Estados Unidos, comum utilizar as expresses organizaes sem fins lucrativos, significando um tipo de instituio cujos benefcios financeiros no podem ser repartidos entre seus diretores e associados; e organizaes voluntrias, num sentido complementar primeira. Na Inglaterra, mais freqente ouvir-se falar em caridades, filantropia e Mecenato. Na Europa Continental, prevalece a expresso organizaes no-governamentais, cuja origem est na nomenclatura do sistema de representaes das Naes Unidas. Denominou-se assim s organizaes internacionais que, embora no representassem governos, possussem a devida importncia para integrar a Organizao das Naes Unidas (ONU). Por sua vez, na Amrica Latina, inclusive no Brasil, fala-se de sociedade civil e de suas organizaes. O terceiro setor constitui-se pois, em um espao amplo e diversificado de organizaes sem fins lucrativos. Segundo Fernandes (1997), so quatro as razes que levam ao agrupamento dos componentes do terceiro setor sob um mesmo nome: a) faz contraponto s aes de governo: enfatiza a idia de que os bens e servios pblicos so conseqncias no apenas da atuao do Estado, mas tambm de uma significativa participao de iniciativas particulares; b) faz contraponto s aes do mercado: a existncia de um terceiro setor indica que o mercado no atende a todas as necessidades e interesses efetivamente manifestos, em meio aos quais se movimenta. Dessa forma, faz-se necessrio que uma parcela considervel das condies que viabilizam o mercado seja atendida por investimentos sem fins lucrativos; c) empresta um sentido maior aos elementos que o compem: volta-se a dar importncia aos valores presentes em iniciativas de cunho caridoso, reconhece-se a
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
15
participao cidad como uma condio essencial consolidao das instituies, bem como propaga-se a idia do voluntariado como expresso de existncia cidad, acessvel a todos e a cada um, indispensvel resoluo dos problemas de interesse comum; e d) projeta uma viso integradora da vida pblica: salienta a complementaridade que existe (ou deve existir) entre aes pblicas e privadas, ou seja, entre aes que envolvem o Estado, o mercado e o terceiro setor. Para Rifkin (1995), o terceiro setor, alm de sua importncia como espao para exerccio da cidadania, hoje, na era da informao, da reestruturao produtiva, uma sada para reeducar e absorver parte da mo-de-obra desempregada. Nos Estados Unidos, o terceiro setor vem preenchendo lacunas abertas pela reestruturao produtiva, amenizando o impacto do desemprego estrutural atravs do grande nmero de organizaes sem fins lucrativos, somando 1,2 milho, de modo que, se fossem um pas seria a stima economia do mundo. De acordo com Melo (1997), no Brasil, o terceiro setor aparece como grande empregador e gerador de renda. Para tal afirmativa, apoia-se em dados do Ministrio do Trabalho, segundo o qual, em 1991 existiam mais de 200 mil organizaes sem fins lucrativos, empregando mais de 1 milho de pessoas, o que coloca o setor como o terceiro maior segmento na gerao de emprego e renda do pas. Conforme Landin, apud Fernandes (1997), considerando-se a anlise de dados da Receita Federal no ano de 1991, a maioria (77%) dessas organizaes constituda de associaes (aproximadamente 170 mil). Para compreender como o terceiro setor, mais particularmente as associaes e cooperativas de trabalho, emergem como uma alternativa ao desemprego, torna-se necessrio buscar a lgica de articulao entre a exploso dessas iniciativas e o processo de reestruturao produtiva em curso. A crise do fordismo a partir dos anos 70, marcada pela crescente competitividade internacional, desgaste do taylorismo mecanizado, impossibilidade de regulao econmica global, choque do petrleo e especulao financeira, trouxe no s a desagregao do mundo do trabalho, como um intenso processo de mudanas tecnolgicas e organizacionais nas empresas. Entre as medidas adotadas pelas empresas, com repercusses diretas no nvel de emprego, destaca-se a terceirizao. Pode-se entender o fenmeno terceirizante como sendo um processo de gesto onde as empresas concentram todos os seus esforos para sua atividade principal, repassando para terceiros as atividades secundrias com os quais mantm uma relao de parceria. Fontanella, Tavares e Leiria (1994, p. 19) afirmam que: A terceirizao uma tecnologia de administrao que consiste na compra de bens e/ou servios especializados, de forma sistmica e intensiva, para serem integrados na condio de atividade-meio atividade-fim da empresa compradora, permitindo a concentrao de energia em sua real vocao, com intuito de potencializar ganhos em qualidade e competitividade. De acordo com Moraes Neto (1997), o que se deve buscar com a terceirizao : competitividade, simplificao da estrutura, qualidade e produtividade. J Faria (1994) avalia que a terceirizao tem os seguintes objetivos: reduo de despesas, mudanas organizacionais, racionalizao produtiva, especializao flexvel e quebra do mo-
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
16
vimento sindical. Em pesquisa realizada pelo Departamento Intersindical de Estatstica e Estudos Scio-Econmicos (DIEESE), apud Grilo (1993), as vantagens da terceirizao, na percepo dos empresrios entrevistados so: concentrao apenas em atividades fins, maior flexibilidade organizao que passa a se dedicar a um nmero menor de atividades, maior flexibilidade produo, j que demandas atpicas podem ser contratadas externamente, maior especializao com a adoo de tecnologias avanadas e, maior qualidade, reduo de custos fixos e economia em encargos financeiros. Na mesma pesquisa, os empresrios indicam que as dificuldades pertinentes terceirizao so: choque cultural entre empresa e fornecedor, conflitos sindicais, m escolha de parceiros e resistncia interna s modificaes. Na viso de Rezende (1997), a terceirizao constitui-se numa das mais importantes estratgias exigidas pelo atual processo produtivo e competitivo. Portanto, a opo por sua escolha revela-se numa deciso de fundamental relevncia e tem de ser tomada aps minuciosa anlise das vantagens e dificuldades em curto, mdio e longo prazos. Percebe-se que a terceirizao, particularmente, proporciona empresa concentrar-se naquilo que ela pode fazer de melhor e que constitui-se na sua atividadefim (estratgica). Por sua vez, as demais atividades so transferidas para outras empresas de menor porte (terceirizadas). Conforme Moreira (1999), deve-se atentar ainda para o fato de que a empresa, ao optar pela terceirizao, mantm um pequeno nmero de trabalhadores com vnculo empregatcio, portanto, com direito frias, 13 salrio, previdncia social, possibilidade de ascenso profissional, assistncia mdico-odontolgica, boas condies de trabalho, dentre outros direitos e benefcios sociais. Em contrapartida, a empresa dispensa uma parcela de trabalhadores que poder ou no voltar ao mercado de trabalho. De acordo com Faria (1994), para os trabalhadores excludos do ncleo estvel da empresa, a terceirizao pode levar reduo salarial, especialmente para a rea tcnica das empresas terceirizadas, degradao das condies de trabalho nas empresas terceirizadas e desmobilizao sindical com os trabalhadores saindo de categorias mais organizadas para categorias menores e com baixo nvel de reivindicaes. Importa registrar que na atual conjuntura, mesmo a possibilidade de trabalho precrio no se apresenta para a maioria dos trabalhadores. Emergem assim alternativas de ocupao fora das fronteiras convencionais do mercado de trabalho. Segundo Lima [199-?]1 , nos ltimos 10 anos, no Brasil, houve um crescimento de 300% no setor de cooperativismo, principalmente na rea de prestao de servios. No setor industrial ressalta-se a formao de cooperativas de trabalhadores nos setores de calados e confeces nos estados do Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro constitudas por trabalhadores desempregados. Na regio Nordeste, paralelamente aos baixos pisos salariais predominantes na maioria dos estados nordestinos, uma parceria envolvendo o governo federal, estadual e municipal, rgos patronais e fbriLIMA, Jacob Carlos. O texto tem um carter preliminar. uma primeira sistematizao de dados de pesquisa sobre a formao de cooperativas de produo no Nordeste dentro do projeto Reestruturao produtiva e trabalho: seus impactos scio-econmicos regionais (FINEP-CNPq) em desenvolvimento junto ao Grupo Tecnologia e Trabalho da Universidade Federal da Paraba.
1
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
17
cas tem possibilitado a reproduo de um novo modelo de unidade produtiva que a cooperativa. Contudo, enfatiza, faz-se necessrio esclarecer o carter da novidade, pois desde o sculo anterior so comuns as cooperativas, sejam como proposta de uma autonomia do trabalhador frente ao capital, sejam como sadas contextuais a situaes de desemprego. O que h de novo nas cooperativas nordestinas, destaca Lima [199-?], a sua formao para atender demandas de empresas especficas que, para tanto, financiam parcela de suas atividades com contratos diversos, embora prevalea a exclusividade na produo e o controle sobre a organizao do trabalho. Constata-se pois, que a emergncia de associaes e cooperativas de trabalho no fogem lgica de acumulao dominante, mas se subordinam s novas exigncias impostas pelo novo padro de acumulao e assumem assim um carter de complementaridade no processo de reestruturao produtiva ao viabilizar a externalizao da produo. 4 A ASSOCIAO COMUNITRIA DE DESENVOLVIMENTO DO TRAIRY (ACT) A Associao Comunitria de Desenvolvimento do Trairy (ACT), situada na cidade de Santa Cruz/RN, no Vale do Trairy, no semi-rido norte-rio-grandense, a 110 Km de Natal, foi constituda em 24 de maro de 1986, como entidade civil, sem fins lucrativos, com o objetivo de revitalizar a economia santacruzense e regional, que em pocas passadas tinha na cultura algodoeira sua principal fonte econmica. A regio do Trairy compreende os municpios de Campo Redondo, Lajes Pintada, Jaan, Coronel Ezequiel, So Bento do Trairy, Japi, Tangar, Stio Novo, Presidente Juscelino e Santa Cruz. A ACT, de acordo com seu Estatuto [1986?], tem por finalidade: a) desenvolver atividades econmicas, sociais, educativas, culturais e desportivas, com recursos prprios e/ou obtidos por doaes ou emprstimos, voltadas para o atendimento s famlias carentes, crianas, adolescentes e idosos; b) proporcionar a oferta de servios sociais bsicos emergenciais nas reas de educao, sade, alimentao e habitao aos seus scios, participantes e clientela (famlias carentes, crianas, adolescentes e idosos); e c) estimular as comunidades carentes e a clientela definida anteriormente, a desenvolverem as suas potencialidades geradoras de ocupao e renda, visando a melhoria da qualidade de vida. A ACT administrada pelos seguintes rgos: Assemblia Geral, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. Para atender suas finalidades, a ACT promove convnios e parcerias com rgos governamentais e no-governamentais, na forma da lei, visando a locao de recursos materiais e financeiros e o assessoramento tcnico para a execuo das aes. A ACT possua inicialmente, segundo Alexandre (1998), o carter de uma indstria de fundo de quintal e sua produo era voltada apenas para o mercado domstico da prpria Santa Cruz. Posteriormente, com a chegada de unidades do Servio Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), especializada em treinamento de pessoal, a ACT inicia a confeco de fardamentos em escala industrial para hospitais e postos
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
18
de sade do governo do estado. A situao comea a modificar-se a partir de meados de 1996, quando os dirigentes da ACT decidem no mais comercializar os produtos da Associao diretamente no mercado. Ao contrrio, passam a prestar servios para a iniciativa privada atravs de parcerias. A ACT estabelece ento uma relao de complementaridade, assumindo na cadeia produtiva a etapa do acabamento, etapa que apesar de ocupar muita mo-de-obra no exige grande qualificao e deixa a comercializao e a distribuio da produo com os parceiros. Atualmente, a ACT possui parcerias com empresas como a Sulfabril (SC), responsvel pela produo de camisas em malha e camisas de tecido plano; Fama (SP), responsvel apenas pela produo de camisas de tecido plano; Herbus (RN) e Capricrnio (SP), ambas responsveis pela produo de calas jeans. A lgica que orientou e ainda orienta as parcerias pode ser compreendida atravs do depoimento do Presidente da ACT, ao comentar o incio das parcerias:
No custo Brasil os encargos inviabiliza qualquer produto que voc possa fazer para competir. A vem o problema da globalizao, da abertura do mercado, os tigres asiticos. Muita gente dessa parte de confeces quebrou com a importao de tecidos. Americana liquidou-se nessa parte e as pessoas que
no se reestruturaram nem se organizaram foram para o buraco. Ento ns tivemos essa idia de que na hora que aconteceu isso a gente estava dentro do jogo. Ns tnhamos essa vantagem. E a as empresas comearam a bordar, comearam a pensar para ter alguma soluo para poder sobreviver no mercado. E ns levamos a vantagem porque j existia, ns j tnhamos esse know-how, j existia um certo trabalho; eles comearam a acreditar, foram chegando, foram fazendo essas parcerias e foram realmente vendo que a sada para poder competir e para poder sobreviver no mercado era essa, no tinha outra. E, pelo outro lado tambm, a prpria justia do trabalho tambm se viu forada a ceder alguma coisa porque seno tambm ia fechar. Ningum podia trabalhar com esses encargos, com esse absurdo da justia do trabalho. Os prprios juizes, hoje, esto mais flexveis porque o prprio governo tambm com esses contratos temporrios a que voc est vendo, com esses acordos a entre os sindicatos. T se acabando o piso salarial e hoje o cidado est preocupado com uma nica coisa que o emprego. Ele quer garantir o emprego dele. Garantindo o emprego dele ele est satisfeito para poder sobreviver. E nos favoreceu bastante essa conjuntura que mudou (Souza Neto, 1998). Importa registrar a ao do Estado como intermediador dessas parcerias, uma vez que atravs do financiamento de prdios, mquinas e instalaes, assume parte dos custos das empresas. As indstrias determinam o tipo de instalao fsica necessria, o layout, a maquinaria, a organizao do trabalho dentro das unidades. A ACT faz o projeto, quanto vai custar, o nmero de pessoas empregadas,
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
19
encaminha para os rgos governamentais. Com o recurso liberado, adequa instalaes ou constri os prdios necessrios. Os parceiros assinam contrato de compra e fornecimento de matrias-primas por tempo determinado (Lima, [199-?, p. 17]). Alm das unidades produtivas, a ACT desenvolve uma srie de atividades na rea social: os projetos Educao Infantil, Terceira Idade e Cidado do Amanh. Comporta ainda o programa do leite, mantido pelo governo estadual. Os projetos da rea social so sustentados, principalmente, atravs de convnios com rgos federais e estaduais. Entretanto, hoje em dia, o grande objetivo da ACT fazer com que a rea produtiva mantenha a rea social. O nmero de scios da ACT ilimitado e encontra-se distribudo nas seguintes categorias: a) scios fundadores: os que participaram da criao da entidade e subscreveram a ata de fundao, em nmero de 63; b) scios contribuintes: os que contribuem com uma mensalidade, a ser definida em Assemblia Geral, em nmero de 52; c) scios benemritos: os que tenham prestado relevantes servios entidade, contribuindo para o crescimento da ACT, em nmero de 1; e d) scios participantes: trabalhadores autnomos que utilizem os equipamentos de trabalho e a estrutura fsica da ACT para desenvolverem efetivamente suas atividades profissionais, em nmero de 755. Na ACT a maior parte dos associados do sexo feminino (70%). Entretanto, observa-se que a participao masculina no processo produtivo vem aumentando gradativamente, em funo das escassas oportunidades de trabalho existentes na regio. A maioria dos trabalhadores formada por jovens com idade girando em torno de 22 a 23 anos. No obstante, tambm encontra-se gente com idade mais elevada. Por fim, em relao escolaridade, constata-se que os nveis de formao predominantes so os de primeiro e segundo graus. Todavia, h casos em que aparece a formao de terceiro grau. As prticas de gesto adotadas na ACT privilegiam os seguintes aspectos: a) organizao do trabalho: a organizao do trabalho em equipes, com metas previamente determinadas e remunerao atrelada ao desempenho, introduz na Associao prticas tpicas de iniciativas empresariais, com destaque especial para a questo do controle. A gerncia transfere grande parte do seu controle para o prprio grupo, dado que a remunerao depende do desempenho do grupo. primeira vista poderia parecer que essa forma de organizar o trabalho estimula a participao, que d mais autonomia s pessoas. Um olhar mais atento, no entanto, identifica nessa prtica um controle mais sofisticado j que exercido de forma subliminar. Segundo o Presidente da ACT, referindo-se s mulheres que trabalham na produo: elas mesmas esto cobrando umas das outras; esto vigiando. Exatamente tirando esse peso que existia conosco. (...) ficar trabalhando dois sbados e dois domingos, trabalhando mais de 12 horas por dia. Mas para qu? para cumprir o compromisso (Souza Neto, 1998); b) vnculo empregatcio: a Associao no tem empregados, mas associados.
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
20
Assim sendo, no gera vnculo empregatcio e no so observados direitos trabalhistas. Por lei, os associados no gozam de direitos trabalhistas: carteira de trabalho assinada, FGTS, frias, ausncia justificada e coisas do gnero; c) recrutamento e seleo: as exigncias colocadas pelo recrutamento/seleo limitam-se idade - faixa de 17 a 30 anos e escolaridade - curso primrio. Atendidas essas condies, feito o registro na Associao. Da por diante a seleo fica a cargo do SENAI que utiliza-se de testes psicolgicos, testes de habilidades e entrevistas. O ndice de reprovaes situa-se em torno de 30% a 40%, uma vez que boa parte dos candidatos so incapazes de acompanhar as exigncias da produo. Segundo o Presidente da ACT, as pessoas esto ficando excludas porque no tm condies; porque sofreram seqelas na infncia, passaram fome. (...) so pessoas que querem trabalhar, mas que no tm a mnima habilidade, nem competncia, nem condies de acompanhar aquele ritmo que exigido pela empresa para voc competir (Souza Neto, 1998). Importa registrar que o processo de recrutamento/ seleo em nada se diferencia de polticas adotadas em outras iniciativas empresariais; d) treinamento: o treinamento industrial realizado pelo SENAI que tem a funo de preparar a mo-de-obra para atender s exigncias da produo. O foco do treinamento descobrir o melhor potencial de cada candidato vaga e ajustar este potencial s determinaes da rea produtiva. Segundo o Presidente da ACT, tem pessoa que para fechar manga, outra para pregar botes, gola. Voc procura ajustar as pessoas. Importante voc saber fazer um pouco de cada. Mas isso demora. Isso um treinamento que elas tero com a prtica (Souza Neto, 1998). O treinamento dado em funo da organizao do trabalho; e) benefcios: a poltica de benefcios apresenta-se como uma poltica de clientela. Compensa-se a falta de direitos trabalhistas com a concesso de benefcios provenientes dos convnios firmados entre a ACT e governos federal e estadual. Assim, os associados recebem uma cesta bsica mensal atravs do projeto Cidado do Amanh, transporte para o trabalho, atendimento mdico-odontolgico para o associado e sua famlia e servio de cartrio extensivo famlia. Estabelece-se assim relao de lealdade entre associados e Associao. Isto fica claro nas palavras do Presidente: Tudo que a gente quer reverter esses benefcios para eles mesmos. Cada vez mais a gente chega com um benefcio, procurando ajudar, procurando melhorar a qualidade de vida das pessoas. Ento, no tem porque essas pessoas ficarem contra ns. Ao contrrio, so defensoras nossas (Souza Neto, 1998); e f) remunerao: os salrios so definidos em funo da produo, o que gera uma presso para produzir mesmo que isso signifique sacrificar o tempo de lazer e de descanso. Segundo informaes do Presidente da ACT, as scias ganham pelo que produzem. Se faltou um dia, dois dias, trs dias, no recebe aqueles dias que faltou. No existe negcio de atestado. E elas j esto num nvel de conscientizao e esto cada vez mais melhorando, porque s interessa o produto pronto (Souza Neto, 1998). Atualmente, a folha de pagamento da ACT gira em torno de R$ 80.000,00. Considerando-se que a Associao gera 550 postos de trabalho direto (400 na rea produtiva e 150 na rea social), chega-se a uma remunerao mdia igual a R$ 145,45. Levando-se em considerao apenas a rea produtiva, onde o ganho por produo, a remunerao mdia gira em torno de R$ 100,00 a R$ 120,00. H casos especficos em que percebe-se R$ 80,00, R$ 90,00, R$ 140,00 ou R$ 150,00. Como se
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
21
verifica, a remunerao s vezes no chega ao valor do salrio mnimo. Considerando que no h encargos trabalhistas, fica fcil compreender como algumas indstrias de vesturio esto conseguindo produzir com nveis de custos equivalentes ao custo chins. Constata-se pois, que a filosofia de gesto de pessoal da ACT extremamente funcional s indstrias de vesturio, adequando-se s exigncias impostas pelos parceiros e utilizando prticas de gesto muito prximas daquelas utilizadas pela iniciativa privada. Segundo o Presidente da ACT, a gente trabalha na linha de educar como se fosse uma empresa. Hora de chegar, de se vestir, de educar, de trabalhar mquinas, as boas maneiras (Souza Neto, 1998). Este fato nos leva a questionar a real existncia de uma filosofia associativista no interior da Associao. O que se percebe que a Associao acabou se transformando em uma empresa subcontratada com predominncia de trabalhadores assalariados. 5 CONCLUSO As parcerias firmadas entre a ACT e as empresas de vesturio certamente reduzem o nvel de desemprego em uma das regies mais castigadas do Rio Grande do Norte e injetam um volume considervel de recursos na economia local. No entanto, o que se discute a forma disfarada de assalariamento sob a denominao de associao. As prticas de gesto identificadas, definidas e supervisionadas pelas empresas parceiras deixam claro a lgica que articula de um lado o processo de externalizao das atividades das grandes empresas de vesturio e por outro, a constituio de associaes: reduo de custos pela precarizao do trabalho. Ao externalizar parte das atividades, a empresa estimula novas parcerias no mercado e estabelece relaes de complementaridade frente s novas exigncias impostas pelo novo padro de acumulao capitalista. A terceirizao joga assim um papel fundamental para viabilizao das associaes e cooperativas de trabalho, ao garantir um fluxo de produo/receita para estas iniciativas. Outrossim, cria uma relao de dependncia entre a Associao e as empresas parceiras. O depoimento do Presidente da ACT, ao comentar o problema de ajustes da produo com a empresa parceira, claro nesse sentido:
...alguns parceiros tm faltado com matria-prima na nossa produo. E isso fica ruim. Ento, ns estamos definindo uma meta de um mnimo de produo para um ms. A minha capacidade total de 400.000 peas de camisetas/ms, mas a mdia atinge 60%, 70% ou 300.000, 250.000 peas. Ento se no tiver camiseta durante o ms, ele vai pagar pelo menos isso para eu poder remunerar elas. Ento isso j uma garantia grande. Esse um dos grandes problemas que ns estamos resolvendo. exatamente o problema da comercializao. Porque no pode. Eu j no vendo por qu? Porque eu no tenho condies de comercializar, que o grande problema. Eu j terceirizo, fao o servio, presto o servio , ele me paga pelo servio. (...) isso resguarda um certo tempo: 1 ms, 2 meses, 3 meses. Mas quando a coisa engrossa, quando o mercado t ruim no tem contrato que d jeito. O cara tem a obrigao de me abastecer porque eu tenho condies de fazer 300.000 peas, 400.000 peas. Se ele no t vendendo , ele no vai mandar. No adianta. Ele pode cumprir o primeiro ms, cumprir o segundo, mas no terceiro no d
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
22
mais para cumprir porque no est vendendo. Se no est vendendo, no t recebendo. Isso um problema que acontece no s comigo. um problema mundial. Um problema comercial, econmico. O nosso problema assegurar que elas vo ter no mnimo tanto por ms ( Souza Neto, 1998).
Outrossim, a forma jurdica de associao impede que determinadas demandas trabalhistas tenham espao e assim sendo cria condies para que as grandes empresas tenham custos de produo reduzidos e consequentemente enormes margens de lucratividade, vez que contam com um contingente pequeno de trabalhadores, em uma indstria que utiliza largamente trabalho intensivo. Importa registrar que essa situao no especfica da ACT. Estudo realizado no Nordeste sobre a flexibilidade produtiva na indstria do vesturio, conclui que:
a novidade das cooperativas nordestinas est na sua constituio para atender demandas especficas que, para tanto, bancam parte de seu funcionamento, com contratos variados, embora predomine a exclusividade na produo e o controle sobre a organizao do trabalho. Os trabalhadores so associados e como tal no regidos pela legislao trabalhista. O recolhimento das obrigaes sociais responsabilidade dos trabalhadores. Com isso, alm do baixo salrio propriamente dito, que raramente ultrapassa a faixa de 1,5 salrios mnimos, a terceirizao em cooperativas reduz mais ainda os custos de produo, tornando o preo unitrio de camisetas brancas, por exemplo, inferior ao custo chins ou asitico, tidos como modelos de competitividade internacional (Lima, [199-?, p. 5-6]).
Como se v, as associaes de trabalho apresentadas como soluo ao desemprego, merecem um olhar mais atento, pois se por um lado retiram um contingente de trabalhadores do desemprego, no se pode afirmar contudo que esta insero no mercado de trabalho possibilita o exerccio pleno da cidadania. Compartilhando da idia de Carleial (1997, p. 30):
O olhar otimista sobre este momento capaz de privilegiar os empregos criados no Cear, por uma empresa que no garante os direitos trabalhistas e que contrata trabalhadores atravs de uma cooperativa pagando salrio mnimo. Isto melhor do que nada, dizem alguns. at possvel que sim, mas ento vamos nos entender melhor: So empregos? So ocupaes? Do que se trata aqui? Em segundo lugar, qual a sociedade que emerge a partir desses ocupados? Qual a diferena entre estas ocupaes e as histricas frentes de emergncia nordestina em pocas de seca? Isso moderno?.
Ou colocando de outra forma: a autogesto como alternativa ao fechamento de postos de trabalho decorrente dos processos de reestruturao produtiva e desemprego estrutural, longe de apresentar-se como um espao de cidadania, tem exercido
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
23
importante papel na flexibilizao das relaes de trabalho do conjunto dos trabalhadores, ao precarizar ainda mais as condies de trabalho existentes. 6 REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS ALEXANDRE, Marcos. Prosperidade no Serto. RN Econmico. Natal, n. 483, p. 812, fev. 1998. BARBOSA, Allan Claudius Queiroz. A dicotomia pblico x privado e a busca de uma gesto eficaz: experincias de parceria na Amrica Latina. Recuperado em 5 abr. 1998. Disponvel na Internet: http://www.clad.org.ve/anales2/queiroz.html. CARDOSO, Ruth. Fortalecimento da sociedade civil. In: IOSCHPE, E. B. (Org.). 3 Setor: desenvolvimento social sustentado. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997. 173p. p. 7-12. CARLEIAL, Liana Maria da Frota. Firmas, flexibilidades e direitos no Brasil: para onde vamos?. Perspectiva, So Paulo, v. 11, n. 1, p. 22-31, jan./mar. 1997. ESTATUTO da Associao Comunitria de Desenvolvimento do Trairy - ACT. [Santa Cruz]: [ACT], [1986?]. no paginada. FARIA, Aparecido de. Terceirizao: um desafio para o movimento sindical. In: MARTINS, Helosa de Souza, RAMALHO, Jos Ricardo (Orgs.). Terceirizao: diversidade e negociao no mundo do trabalho. So Paulo: Hucitec: CEDI/NETS, 1994. 237 p. p. 41-61. FERNANDES, Rubem Csar. Privado, porm pblico: o terceiro setor na Amrica Latina. 2. ed. Rio de Janeiro: Relume-Dumar, 1994. 156p. ______.O que o terceiro setor?. In: IOSCHPE, E. B. (Org.). 3 Setor: desenvolvimento social sustentado. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997. 173p. p. 25-33. FERREIRA, Aurlio Buarque de Holanda. Dicionrio Aurlio bsico da lngua portuguesa. So Paulo: Nova Fronteira. out. 1994 e fev. 1995. (Obra em 19 fascculos semanais encartados na Folha de So Paulo). FONTANELLA, Denise, TAVARES, Eveline, LEIRIA, Jernimo Souto. O lado (des)humano da terceirizao: o impacto da terceirizao nas empresas, nas pessoas e como administr-lo. Salvador: Casa da Qualidade, 1994. 114p. GRILO, Margareth. Empresas estatais apelam mais e mais para a terceirizao. Tribuna do Norte, Natal, 6 jun. 1993. p. 9. LIMA, Jacob Carlos. O custo Nordeste: flexibilizao produtiva na indstria do vesturio. [S.l. : s.n.], [199-?]. 28p. MATTOSO, Jorge. A desordem do trabalho. So Paulo: Pgina Aberta, 1995. 210p. MELO, Francisco Cartaxo. Terceiro Setor: um exerccio de cidadania. Recuperado em set. 1997. Disponvel na Internet: http://www.sistecnet.com.br/ofarol/setor.htm.
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
24
MORAES NETO, Deraldo D. de. Terceirizao: uma oportunidade de negcios para a pequena empresa. Salvador: SEBRAE/BA, 1997. 49 p. MOREIRA, Carlos Antonio de Lima. Terceirizao: quem ganha e quem perde com o uso dessa tcnica de gesto estratgica. Tendncias do Trabalho, Rio de Janeiro, n. 295, p. 22-23, mar. 1999. NETO, Jos F. S. Direito do trabalho e flexibilizao no Brasil. Perspectiva, So Paulo, v. 11, n. 1, p. 33-41, jan./mar. 1997. ______. Flexibilizao, desregulamentao e o direito do trabalho no Brasil. In: OLIVEIRA, Carlos A. B. et alli (org.). Crise e trabalho no Brasil: modernidade ou volta ao passado?. So Paulo: Scritta, 1996. REZENDE, Wilson. Terceirizao: a integrao acabou?. RAE, So Paulo, v. 37, n. 4, p. 6-15, out./dez. 1997. RIFKIN, Jeremy. O fim dos empregos: o declnio inevitvel dos nveis dos empregos e a reduo da fora global de trabalho. Traduo por Ruth Gabriela Bahr. So Paulo: Makron Books, c1995. 348 p. Traduo de: The End of Work: the decline of the global labor force and the dawn of the post-market era. ______. Identidade e natureza do terceiro setor. In: IOSCHPE, E. B. (org.). 3 setor: desenvolvimento social sustentado. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997. 173 p. p. 1323. SOUZA NETO, Odorico Ferreira de. Associao Comunitria de Desenvolvimento do Trairy - ACT. Natal/RN, 1998. Entrevista do Presidente da ACT, realizada no Centro Empresarial Djalma Marinho, em 26 jan. 1998, concedida a Carlos Antonio de Lima Moreira, durante a elaborao do Projeto de Pesquisa de Dissertao de Mestrado do Programa de Ps-Graduao em Administrao, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Gravada em fita cassete.
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
25
SERVIO PBLICO: CONSEQNCIAS DA IMPOSIO DE LIDERANA
Homero Henrique Rocha de Medeiros1
RESUMO: A escolha de lderes quando regida pela autoridade de um membro, e no por sua qualificao ou grau de influncia sobre os outros, principalmente quando o poder deriva de um s cargo, traz inmeros problemas para as organizaes polticas. Os liderados, nesse caso, no aceitam a liderana da chefia imposta, conseqentemente, os servios prestados para a sociedade so de qualidade inferior. Nesse sentido, o presente trabalho tem como principal objetivo refletir sobre as conseqncias que esta imposio provoca no setor pblico.
PALAVRAS-CHAVE: Servio pblico; sistema problema; crise de liderana; imposio da liderana e funo do lder. PUBLIC SERVICE: CONSEQUENCES OF LEADERSHIP IMPOSITION ABSTRACT: The choice of leaders when is ruled by authority of a member and not only for his qualification or level of influence over the others mainly when power, comes from one post, it brings several problems for the political organizations. The subordinates, in this case, do not accept the imposed leadership, consequentely, the rendered services to society are of inferior quality. In this sense, the present work has as its main objectives, to meditate about the consequences that this imposition provokes in the Brazilian public sector. KEY-WORDS: Public service; system problem; leadership crisis; leadership imposition and the function of the leader.
Jornalista. Mestre em Administrao de Empresas com nfase em Marketing (UFPB). Professor dos Cursos de Administrao e Secretariado Executivo da FACEX. Al. Anglica de Almeida. Moura, 2004 - Bl. H, Ap. 101, Capim Macio 59.084-010 - Natal/RN. Tel: (0xx84)207- 4571 E-mail.: hhrocha@hotmail.com
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
26
1 DEFINIO DO SISTEMA PROBLEMA A ecologia de uma organizao to delicada e vulnervel como a de uma floresta. Uma coisa d suporte a outra; um elemento alimenta outro; aquele outro abastece aquela, que por sua vez alimenta esta. Qualquer parte do ciclo da vida que interrompido ou alterado afeta outras partes, normalmente para pior, raramente para melhor. Nada acontece sem que se produza um efeito sobre alguma coisa. Os resultados s vezes no so visveis por semanas, meses ou anos. Eleitos ou apontados, os principais mandatrios se sucedem rapidamente medida que os governos ganham ou perdem confiana, mas o servio pblico permanece o mesmo. Esses administradores permanentes dirigem o pas de acordo com os costumes e as regras j estabelecidas. O fato de ministros serem mudados regularmente no afeta o trabalho no dia-a-dia. Em situaes normais, isso faz com que as coisas estejam funcionando. Mas funcionando no quer dizer, oferecer servios de qualidade. Dificilmente vive-se no que pode ser classificado como situao normal ou previsvel. A certeza na vida, se que existe alguma, a de que haver mudanas. O tipo de mundo sobre o qual se fazem planos hoje, no ir existir dessa forma amanh. O constante fluxo de informaes e a modificao de idias exigem que o administrador esteja sempre aprendendo. Ningum consegue sequer chegar perto do ponto em que se possa dizer que sabe de tudo. As trilhas do mundo organizacional esto repletas de fracassos daqueles que achavam que j sabiam de tudo e deixaram de aprender. Ao invs de descobrirem pessoas que realmente entendam cada um dos negcios que o compem, ditando-lhes claramente as exigncias e as linhas mestras a serem seguidas, e deixando que elas dirijam suas operaes, a maior parte deles insiste em tentar fazer tudo sozinhos. Em uma poca em que um esporte individual como o tnis, tem especialistas para tudo, deveria ser evidente que o poderoso administrador do tipo eu sei tudo, uma espcie obsoleta, se que tal pessoa um dia existiu. A chave para uma vida til e satisfatria est no desejo de aprender e continuar aprendendo, pelo menos no que se refere a humanidade. Diretriz aquilo que a organizao elabora todo tempo. Se nada estiver estabelecido formalmente, ento segue-se adiante com base na experincia anterior do lder nomeado por grupos polticos. E isso o que acontece com o servio pblico. Seguem-se diretrizes de tempos passados se existirem, se no, caminha-se de acordo com o vento e conforme a vontade dos polticos. Todas as organizaes gostariam de encontrar algum que fizesse a coisa certa, no tempo certo e pela razo certa. Todos gostariam de poder dirigir algo com confiana absoluta de que seriam estabelecidas metas compreensveis, que uma tarefa, por mais difcil que fosse, seria executada tranqilamente, e de conseguir sucessos e no problemas. Gostariam de encontrar pessoas que possam inovar e implementar tudo ao mesmo tempo. O ambiente de trabalho tudo. A cultura parte dele. Uma cultura pode ser superada e liquidada por uma ambiente negativo. A produtividade, tanto dos colarinhos-brancos como do operariado, pode virar ferrugem. Vejam as grandes naes
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
27
que decaram, embora ainda mantivessem seus usos e costumes. Um tanto ultrapassado a frase mais comum que se ouve significando o ambiente de trabalho no setor pblico. Traz a idia de algum que esteja usando instrumentos adequados mas j bem gastos, comendo em pratos de porcelana rachados e discutindo temas que estejam completamente inadequados e inteis. Claro que o retrato do servio pblico no esse, mas uma parte das reparties se encontra nesta situao. Passar a vida marchando para a decadncia realmente uma idia terrvel. 1.1 Esquema do Problema O primeiro passo para resoluo de um problema est diretamente ligado a sua identificao. A prtica do mapeamento de idias, mesmo sendo relativamente recente nas cincias que estudam o comportamento humano, atualmente bastante disseminada para a compreenso de problemas. Uma viso bastante sucinta tem-se em THOMPSON (1996), ao definir como: um processo de associao de palavras e idias estruturadas em conceitos, palavras chaves, cores e grficos para formar uma rede no linear de observaes e potenciais pensamentos. Numa tica mais pragmtica, podemos afirmar que o mapeamento de idias ou da mente, como foi chamado pelo seu inventor Tony Buzan, o processo de procura de novas perspectivas para o problema, ao observar os pontos de vista de outras pessoas afetadas por ele. Para sintetizar todos os pensamentos e associaes com o problema da imposio da liderana no servio pblico, elaborou-se uma sntese final que se segue, extrada do uso do mapeamento de idias. I . Fatores de Liderana Imposta que afetam o Servio Pblico A. Causas B. Sintomas C. Resultados II. Variveis A. Variveis Causas 1. Poder concentrado no fator poltico 2. Valores no obedecidos 3. Ausncia de viso compartilhada 4. Inexistncia de foco no usurio 5. Mudanas constantes 6. Ver a empresa como partes e no como um todo 7. Falta de liderana B. Variveis intervenientes 1. Compromisso com a empresa 2. No assumir riscos 3. Comunicaes deficientes 4. Alto nvel de conflito 5. Boatos 6. Falta de bom-senso 7. Inexistncia de trabalho em equipe
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
28
8. Falta de confiana 9. Inexistncia de incentivos C. Variveis no resultado 1. Baixa qualidade 2. Queixas dos usurios 3. Queda de produtividade a. Ritmo de trabalho menor b. Mais erros 4. Falta de competitividade 5. Objetivos e prazos descumpridos 6. Queda na arrecadao de fundos e receita 7. Insatisfao no trabalho a. Absentesmo b. Baixos salrios 8. Constante mudanas na administrao 9. Age como uma organizao em crise constante 2 SERVIO PBLICO O Setor Pblico uma estrutura hierarquizada. Segundo MORGAN (1996) as organizaes podem ser vistas sob a tica da metfora mecanicista, ou seja, a concepo do homem ao considerar as organizaes enquanto mquinas. Considere, por exemplo, a previso mecnica com a qual muitas de nossas instituies devem operar. A vida organizacional freqentemente rotinizada com a preciso exigida de um relgio. Espera-se que as pessoas cheguem ao trabalho numa determinada hora, desempenhem um conjunto predeterminado de atividades, descansem em horas marcadas e ento retomem sua atividade at que o trabalho termine. Freqentemente o trabalho muito mecnico e repetitivo. Qualquer pessoa que tenha observado o trabalho de produo em massa na fbrica ou em algum grande escritrio processando formulrios de papel, tais como pedidos de seguro, devoluo de impostos ou cheques bancrios notar a maneira maquinal, pela qual tais organizaes operam. MORGAN (1996), conclui afirmando que as fbricas so planejadas imagem das mquinas, sendo esperado que seus empregados se comportem, essencialmente, como se fossem partes de mquinas. A organizao poltica - carreira do lder - no setor pblico regida pela autoridade e no por sua reputao ou grau de influncia sobre os outros. O poder deriva de um s cargo. Existe liderana nas camadas intermedirias e ela uma funo distribuda, que se desloca, dependendo do estgio em que se est. O problema que estas lideranas no reconhecem e no aceitam a liderana da chefia, uma vez que foi imposta para eles, como tambm, com o grau de compromisso do lder maior com seu grupo poltico que o nomeou para o cargo e no para com a instituio. O jogo nas reparties pblicas, suas regras e valores, usando uma metfora, como um time de vlei: so necessrios trs toques para levantar a bola sobre a rede, no importa quem a tocou desde que o ltimo toque seja dado pelo seu dirigente maior. Saber quais as regras o primeiro caminho para poder jogar. O erro e
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
29
o acerto desaparecem quando se tm conscincia de estar jogando. A falta de liderana pode realmente criar organizaes neurticas, que vivem com vrios graus de conflito e mostram padres desiguais de pontos fortes e fracos. O individualismo exprime competio pessoal para progredir atravs dos jogos polticos. mais difcil se conseguir que as coisas sejam feitas no servio pblico, simplesmente porque tudo passa pela seguinte avaliao: o que que isso tudo vai gerar para mim? A autoridade hierrquica, da maneira como tem sido tradicionalmente empregada pela administrao ocidental, costuma evocar a obedincia, no favorecendo o compromisso. A obedincia resultado de quanto mais fortemente for exercido o poder hierrquico. De acordo com LEVY-LEBOYER (1993), credibilidade como a reputao algo conseguido com o tempo. Ela no vem automaticamente com o cargo ou o ttulo. Ela comea cedo em nossas vidas e carreiras. As pessoas tendem a assumir de incio que algum que foi elevado a um certo status na vida, galgou degraus ou atingiu objetivos significantes, merece confiana. Mas a confiana completa assegurada somente depois que as pessoas tiverem a oportunidade de conseguir conhecer mais sobre o indivduo. Os alicerces de credibilidade so construdos tijolo por tijolo. A medida que cada novo fragmento for se fixando, a base sobre a qual se erige as esperanas futuras gradualmente construda. (KOUZES e POSNER, 1993) Cargo uma forma grosseira de medir o poder; ele no reflete as sutilezas do real alinhamento. Para que uma organizao opere com flexibilidade, o poder no deve derivar simplesmente de um cargo. JACOBS (1970), descreve trs possibilidades: o poder da especializao, do conhecimento ou habilidades especializadas; o poder das relaes e ligaes pessoais; e o poder da grande e intangvel autoridade pessoal ou carisma. Uma organizao que permite s pessoas se manifestarem e desenvolverem esses tipos de poder, sem considerarem seu status oficial, daro um grande passo no desenvolvimento da liderana de base. Corporaes e reparties governamentais, em toda parte, tem pessoas em cargos de chefia que imaginam que o lugar que ocupam no organograma lhes deu um corpo de seguidores. E isso, evidentemente, no aconteceu. Eles ganharam subordinados. Se os subordinados se tornaro seguidores, depender do gerente agir como lder. A rotina de empenhar-se com que seus subordinados o sigam sem discutir, pouco tempo lhe deixa para pensar naquilo que deveria ser feito para trabalhar com pessoas, realmente motivadas e mais eficazes. espantoso o nmero de pessoas que ocupam cargos de chefia que no acredita nem mesmo que algum precise estar motivado para poder trabalhar. O trabalho para esse tipo de chefia no precisa fazer sentido para que seja cumprido. Como resultado disso, raramente, encontra-se uma organizao pblica que conte em seus postos de chefia com verdadeiros lderes. A maioria daqueles a quem se nomeou como chefes, atua de forma a condicionar ou procurar dirigir seus subordinados pelo movimento. Com isso, em pouco tempo a frustrao e a perda de motivao instalam-se de maneira generalizada. Os chefes, no geral e na sua grande maioria, esto longe de corresponder aos conceitos de liderana.
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
30
Isso contribui para que o trabalho passe a ser visto somente como fonte de dinheiro e nunca como fonte de satisfao. Os lderes polticos (liderana imposta) que ignorarem totalmente outras necessidades humanas no trabalho, tais como, necessidades de aprender, auto-valorizao, orgulho, competncia e ser til s pessoas, dificilmente obtero resultados positivos. Contratando somente as mos dos trabalhadores, no suas mentes e coraes, as Instituies perdem um precioso retorno dos seus investimentos nas pessoas. Se eles ganham somente recompensas financeiras e atendem apenas s suas necessidades de segurana, nunca contribuiro mais do que um mnimo em suas organizaes. Elas tambm se sentiro alienadas e deixaro a empresa por outra que pague a mesma coisa ou um pouco mais quando tiver vagas. isso que vem acontecendo, os melhores profissionais esto deixando o servio pblico para ingressarem no setor privado. 3 CRISE DE LIDERANA Desde tempos passados, a liderana constitui uma das maiores preocupaes dos pesquisadores em comportamento humano no trabalho e, no entanto, no existe ainda um consenso quanto definio do fenmeno. Liderana um conceito escorregadio e ilusrio, que deixa perplexos mesmo os cientistas sociais. De acordo com CLEMENS e MAYER (1989), certo pesquisador ao consultar mais de 3.000 livros e artigos sobre liderana, concluiu que: no se sabe muito mais a respeito desses assuntos hoje em dia do que se sabia quando toda a confuso teve incio. A idia que pessoas tem sobre liderana reflete os valores e as preocupaes mais gerais de sua poca. Toda gerao se rebela no apenas contra determinados lderes, mas tambm contra o prprio estilo de liderana adotado por eles. Para JACOBS (1970), a liderana uma interao entre pessoas na qual uma apresenta informao de um tipo e de tal maneira que os outros se tornam convencidos de que seus resultados, (...) , sero melhorados caso se comporte da maneira sugerida ou desejada. Um conceito mais individualista encontrado em HEMPHIL e COONS (1957), ao sustentarem que a liderana o comportamento de um indivduo quando est dirigindo as atividades de um grupo em direo a um objetivo comum. Para DAVIS e NEWSTRON (1989) a liderana um conceito bastante simples: o processo de encorajar e ajudar os outros a trabalhar entusiasticamente na direo de objetivos. o fator humano que ajuda um grupo identificar para onde ele est indo e assim motivar-se em direo aos objetivos. Sem liderana uma organizao seria somente uma confuso de pessoas e mquinas, do mesmo modo que uma orquestra sem o maestro seria somente msicos e instrumentos. A orquestra e todas as outras organizaes requerem liderana para desenvolver ao mximo seus preciosos ativos. Para BERGAMINI (1994),liderar , antes de mais nada, ser capaz de administrar o sentido que as pessoas do quilo que esto fazendo. No de se estranhar, que a palavra liderana reflita coisas diferentes para diferentes pessoas. Assim sendo, os pesquisadores freqentemente passam a definir liderana, partindo de uma perspectiva individual, ressaltando aquele aspecto do fenmeno que seja mais significativo para eles. Essa argumentao pode ser observada em BENNIS e NANUS (1998): assim como o amor, a liderana continuou a
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
31
ser algo que todos sabiam que existia, mas ningum podia definir. As pessoas se relacionam melhor com algum que reconheam como um conhecedor da vida no campo de batalha, e que tenha uma empatia com as presses e frustraes ali existentes. Elas ajudam a fazer com que esse tipo de lder seja bemsucedido, da mesma forma como podem faz-lo fracassar caso no se relacione com elas. A maior parte dos lderes no costuma reconhecer que seus subordinados podem estar, deliberadamente, trabalhando contra eles. Os administradores mais experientes ficam desconcertados pelo padro de sucesso de alguns lderes e pela taxa de fracasso de outros. Eles no percebem que as peas do tabuleiro de xadrez esto decidindo o jogo em favor daqueles que as apreciam. Se os funcionrios se sentem parte da comunidade organizacional, seguras e protegidas, empolgadas com a misso e os valores, e acreditam que os demais estejam vivendo de acordo com eles, geralmente produzem bons servios para o todo. E se so membros dedicados da comunidade, ser mais seguro confiar que criem os prprios papis de liderana atravs das fronteiras organizacionais. Como membros da comunidade, eles se preocuparo menos com a defesa de seus espaos, acreditando que ao cuidarem da organizao estaro cuidando de si mesmos. Quando a organizao est acfala, pode muito bem regredir para padres mais complexos de discriminao, baixos nveis de moral e produtividade do empregado, uma imagem pblica frgil e uma falha na identificao e no desenvolvimento dos objetivos e metas. Alguns autores, entre eles SMITH e PETERSON (1989), identificaram dois tipos de liderana poltica: transacional e transformacional. A liderana transacional ocorre quando uma pessoa toma a iniciativa de fazer contato com os outros com o objetivo de trocar alguma coisa de valor. J a liderana transformacional baseada em mais do que a submisso dos seguidores; ela envolve modificaes de crenas, necessidades e valores dos seguidores. O relacionamento entre a maioria dos lderes do setor pblico e seguidores transacional em que os lderes se aproximam dos seguidores de olho na troca de uma coisa por outra: os cargos por votos ou subsdios de contribuies para campanha. A autoridade do lder parece vir mais da habilidade de interagir adequadamente do que do poder formal que a posio ocupada possa ter. Assim sendo, uma grande parte do sucesso do lder vem da sua possibilidade de influenciar os seus seguidores, bem como de aceitar a influncia que emana deles. Essa influncia s fluir verdadeiramente na medida em que o lder esteja pronto para alicerar suas aes no conhecimento ntimo que passa a ter dos subordinados, suas crenas, valores e expectativas, bem como na sua habilidade em conseguir que eles atinjam os seus prprios objetivos. Um dos grandes problemas da liderana a formao de equipes de trabalho. Uma equipe no simplesmente uma fora tarefa, pois nesta os membros so designados pelos superiores, que definem sua misso e estabelecem os critrios para julgamento de sua realizao. Uma verdadeira equipe, ao contrrio, tanto define os prprios objetivos como encontra os meios para atingi-los, integrando a concepo das tarefas com sua execuo. Uma vez que na organizao voltada para o conhecimento as equipes estabelecem as prprias metas, tambm so livres para usar qualquer
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
32
nova informao que lhes chegue para refinar seus mtodos e objetivos, enquanto fazem o trabalho. A organizao deve comear como uma equipe e se concentrarem em compartilhar e difundir a liderana, em vez de incentivar um culto da personalidade. A instituio um todo e no a figura do seu dirigente maior, como a liderana imposta na maioria das vezes quer representar. 4 FUNO DO LDER Para SMITH e PETERSON (1989), a eficcia do lder repousa na sua habilidade de tornar uma atividade significativa para aqueles que esto nesse conjunto de papis. No mudar comportamentos, mas dar aos outros o senso de compreenso daquilo que esto fazendo e, especialmente, articul-los para que possam comunicar-se sobre o sentido do comportamento deles. Alm disso, se for possvel o lder colocar em palavras o sentido daquilo que o grupo est fazendo, isto se transforma em um fato social. Esta dupla capacidade de dar sentido as coisas e coloc-las em linguagem significativa para um grande nmero de pessoas d ao lder uma enorme alavancagem. Atualmente, a funo mais importante para os lderes no servio pblico, conseguir que a motivao no trabalho no desaparea, fazendo com que os funcionrios continuem vendo algum sentido naquilo que est fazendo. Um lder deve sempre questionar a misso e metas da organizao, bem como, o que constitui o desempenho e os resultados na mesma, e no temer a capacidade de seus liderados, muito pelo contrrio, devia desfrutar dela. Os lderes so pessoas com sistemas de valor nada diferentes dos de seus seguidores; a liderana resulta diretamente da inteligncia, talvez do poder e do carisma pessoal, do desejo e do compromisso, e de uma disposio para fazer coisas que os demais esto menos propensos a fazer. O lder deve ter uma voz que articule a vontade do grupo e molde essa vontade para fins construtivos e uma capacidade de inspirar pela fora da personalidade, fazendo com que outros se sintam com autonomia para aumentar e empregar as prprias capacidades. Quase todo lder possui uma qualidade positiva que talvez seja ainda mais importante do que a excepcional inteligncia - a generosidade. A liderana verdadeira congrega pessoas de formao e objetivos distintos em formas que proporcionam oportunidades justas e iguais para que contribuam ao mximo, atinjam metas pessoais e realizem todo seu potencial. O lder deve funcionar como elo entre sua organizao e a comunidade maior, para estabelecer a organizao como um lugar onde as pessoas queiram trabalhar de modo produtivo, desenvolver novos mercados e manter os existentes.
5 CONCLUSES E RECOMENDAES
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
33
O Governo Federal ainda no se deu conta da sinergia organizacional e humana que desperdiada pelo fato de no possurem lderes eficazes. Ele tem, no geral, muitos chefes em todos os nveis, desde a cpula at a base, mas raro que estas pessoas consigam fazer com que o ambiente de satisfao, produtividade e motivao predominem. Como se pode comprovar na argumentao de TACK (1989), os gerentes, muitas vezes, gerenciam departamentos, gerenciam pessoas, mas no as lideram. Poucos so os empregados que trabalham utilizando seu potencial. A liderana eficaz os motiva voluntariamente a dedicarem suas mentes e atributos fsicos para o objetivo maior. Segundo BENNIS e NANUS (1988),
nossa crise atual solicita liderana em cada nvel da sociedade e em todas as organizaes que a formam. Sem liderana da espcie que vimos solicitando difcil ver como podemos moldar um futuro mais desejvel para esta nao ou para o mundo. A ausncia ou falta de efetividade na liderana implica ausncia de viso, uma sociedade sem sonhos; na melhor das hipteses, isto resultar na manuteno do status quo e, na pior, a desintegrao de nossa sociedade, por falta de propsito e coeso.
Com as mquinas substituindo cada vez mais o trabalho rotineiro e com o crescimento do percentual de trabalhadores voltados para o conhecimento, mais lderes so necessrios na organizao. As atividades destinadas aos seres humanos envolvem inovao, novas maneiras de ver e reao aos usurios pautada em novos mtodos de trabalho. Aproxima-se a poca em que todos os empregados tero de revezar na liderana, quando perceberem que precisam exercer influncia sobre os demais para realizar sua viso. preciso ultrapassar os tradicionais conceitos de hierarquia a fim de gerar espao para todos conduzirem, quando o conhecimento especializado representar a chave para a ao certa. Mas para que isso seja implementado preciso que os lderes pblicos abracem a causa, mais abrangente do que a satisfao pessoal e do grupo poltico. A tecnologia gil, a competio global e as mudanas ambientais e demogrficas esto criando uma conscincia por organizaes mais efetivas e eficientes. Se tais mudanas, no forem devidamente acompanhadas, ter-se-, sem sombra de dvida, um papel cada vez mais coadjuvante no contexto organizacional. Como ser trabalhada nossa qualidade de vida e a da empresa, em funo da liderana que nos conduzir ao futuro? O tempo est passando e no se ter como reav-lo, quanto mais perdurar esta situao mais no fundo no poo cairemos. A gesto do tempo imprescindvel no setor pblico, sendo poucos os que observam a necessidade da gesto do tempo dentro de uma organizao. O incio do prximo sculo fica cada dia mais perto. Como chegar o setor pblico ao sculo XXI? Poder-se-ia dizer que chegar atrelado ao passado; entrar de marcha r e desnorteado, ou confiante no futuro, trabalhando com a viso no horizonte. No se pode responsabilizar a liderana por tudo; os liderados tambm a tem..
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
34
Poucos so aqueles que se perguntam: o que poderia ser feito na organizao para que realmente tivessem importncia? Mas isso reflexo da crise de motivao no trabalho de que fala LEVY-LEBOYER (1993): a crise complexa e apresenta aspectos contraditrios. A anlise dos fatos, como exame das suas explicaes, bem mostra que se est atravessando um perodo de reorganizao profunda dos valores ligados ao trabalho, caracterizada pelas contradies inesperadas que se deveria tentar elucidar e a partir das quais seria desejvel saber predizer sua evoluo. Isto pode ser observado nas contradies existentes dentro de um mesmo indivduo que no pode viver sem trabalho e ao mesmo tempo diz que o trabalho o impede de viver. ainda LEVY-LEBOYER que afirma:
estas contradies esto inseridas no seio da sociedade, na qual, alguns rejeitam completamente o trabalho, ao permitir a reduo total de suas necessidades de consumo; enquanto outros reivindicam seu direito ao trabalho, porque da retiram uma identidade e nele procuram meios de se realizar. Mesmo que isso ocorra sem o imperativo de uma motivao financeira e que outros ainda encontram o seu equilbrio psicolgico, ao mesmo tempo, no papel social e dentro de uma funo profissional.
Talvez o aspecto mais relevante da futura liderana seja que as caractersticas do lder no estaro presentes em algumas pessoas o tempo todo, mas em muitas pessoas numa parte do tempo, medida que as circunstncias mudam e diferentes pessoas desenvolvem a percepo, podendo assumir papis de liderana. A liderana ser, ento, uma funo cada vez mais emergente, em vez de uma propriedade das pessoas nomeadas para papis formais. Visto que hoje o processo de nomeao de dirigentes uma funo crtica das entidades governamentais, podemos imaginar que, no futuro, dirigentes nomeados no desempenharo os principais papis de liderana, mais sero diagnosticadores perptuos que podero delegar autoridade a diferentes pessoas, em diferentes momentos, e deixar a liderana emergente. Seria isso utopia? Se o mundo deve aprender a gerenciar-se melhor, muito mais pessoas nas organizaes tero de ser lderes e as funes de liderana tero de ser mais largamente compartilhadas. Acredita-se que lderes so aquelas pessoas que caminham na frente, sinceramente compromissadas com mudanas profundas em si mesmas e em suas organizaes. Uma liderana eficaz, em lugar da imposta, poder ajudar muito mais o servio pblico a vencer melhor os desafios do futuro. Olhar alm do desconhecido vai requerer novas maneiras de pensar, novos olhos, mos, pernas e ouvidos. Cabe aos funcionrios tomar atitudes que venham trazer a implementao de um servio pblico que vise, fundamentalmente, a valorizao do ser humano. Somente a partir disso que os empregados podero reverter este catico quadro que se
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
35
apresenta. Algumas sugestes foram relacionadas abaixo, a partir da soluo da definio do sistema problema, que acreditamos possa ajudar esta reverso: a. Incentivar os trabalhadores a discutir, analisar, questionar o processo decisrio no servio pblico; b. Fortalecer o papel desempenhado pelas Associaes de Funcionrios na garantia de benefcios e direitos; c. Cobrar o comprometimento da liderana imposta com a Instituio que dirige; d. Questionar coletivamente as decises impostas e propor alternativas mais eficientes e eficazes; e. Minimizar ao mximo a influncia poltica na instituio; f. Tentar promover as lideranas informais e valoriz-las; g. Promover a busca de melhoria contnua das condies de trabalho, refletindo na produtividade, atendimento e qualidade de vida de todos; h. Incentivar todos a vestirem a camisa da instituio, atravs de campanhas de integrao de funcionrios; e i. Incluir os usurios nas discusses do papel da instituio, promovendo uma maior interao e melhorando a imagem institucional. Desta forma, tais aes recomendadas poderiam ser assim estruturadas: A. Criar uma viso 1. Torn-la compreensvel 2. Torn-la inspiradora 3. Inclu-la em avaliaes de desempenho B. Valorizar a colaborao 1. Estabelecer equipes de trabalho de projeto 2. Derrubar barreiras hierrquicas e de diviso 3. Estimular um ambiente de criatividade e assumir riscos 4. Avaliar e recompor os esforos de equipe 5. Realizar encontros em locais afastados 6. Iniciar treinamento interfuncional 7. Fortalecer e valorizar o aspecto humano 8. Incentivar a liderana informal C. Encorajar o comprometimento com a Instituio 1. Participar efetivamente do processo decisrio 2. Fortalecer o papel das Associaes de Funcionrios 3. Cobrar o comprometimento da liderana imposta 4. Questionar coletivamente decises impostas 5. Minimizar a influncia poltica 6. Negociar melhores condies de trabalho 7. Vestir a camisa da empresa D. Assumir uma orientao focalizada no usurio 1. Entender o usurio externo 2. Entender o usurio interno 3. Identificar as necessidades dos usurios 4. Avaliar e recompensar a satisfao do usurio E. Iniciar um processo contnuo de aperfeioamento
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
36
1. Eliminar o trabalho suprfluo a. Relatrios b. Aprovaes c. Reunies d. Medies e. Polticas 2. Trabalhar em equipes interfuncionais para descobrir mtodos melhores e eficazes 3. Incluir usurios e fornecedores no processo 6 REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS BENNIS, W., NANUS, B. Lderes: estratgias para assumir a verdadeira liderana. So Paulo: Editora Harbra, 1985. BERGAMINI, C. W. Liderana: administrao do sentido. So Paulo: Atlas, 1994. CLEMENS, J. K., MAYER, D. F. Liderana: um toque clssico. So Paulo: Best Seller, 1989. DAVIS, K., NEWSTROM, J. Human behavior at work-organizational behavior. New York: McGraw-Hill, 1989. HEMPHILL, J. K., COONS, A. E. Development of the leader behavior description questionnaire. In: I R.M. STOGDILL, R. M., COONS, A. E. Leader behavior: Its description and measurement. Columbus: Bureau of Business Research. Ohio State University, 1957. JACOBS, T. O. Leadership and exchange in formal organizations. Alexandria: Human Resources Research Organization, 1970. KOUZES, J. M., POSNER, B. Z. Credibility how leaders gain and lose it, why people demade it. San Francisco: Jossey-Bass, 1993. LEVY-LEBOYER, Claude. A Crise das Motivaes. So Paulo: Atlas, 1993. MANZ, C.C., SIMS, J .H. P. Super-leadership - leading others to lead themselves. New York: Berkley Book, 1989. MORGAN, G. Imagem da Organizao. So Paulo: Atlas, 1996. SMITH, P., PETERSON, M. Leadership, organizations and culture. London: SAGE Publications, 1989. TACK, A. A liderana motivacional. So Paulo: Siammar, Servio Cultural Interamericano, 1989. THOMPSON, Charles. Grande Idia: como desenvolver a aplicar sua criatividade. So Paulo: Atlas, 1996.
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
37
O NOVO PERFIL DO ADMINISTRADOR EXIGIDO PELO MERCADO DE TRABALHO
Vera Lcia da Silva Neves1 RESUMO: As discusses desenvolvidas, no presente texto, objetivam mostrar o novo perfil do administrador, diante das tendncias do mercado de trabalho. Nessa perspectiva, sero consideradas as transformaes que se efetivam neste mercado, situando-as no contexto da globalizao econmica, o qual marcado por crescentes mudanas nos sistemas econmicos, tecnolgicos entre outros, surgindo, ento, a necessidade de profissionais com capacidades adequadas para suprir as exigncias que o novo mercado requer. Para se chegar as caractersticas do administrador vir, primeiramente, um breve comentrio sobre a globalizao econmica e o mercado de trabalho. Isto se faz necessrio para que o leitor possa acompanhar as variaes do mercado e, desta forma, chegar ao novo perfil do administrador com um maior grau de compreenso. PALAVRAS-CHAVE: Globalizao econmica; Mercado de trabalho; Perfil do administrador.
THE NEW PROFILE OF THE MANAGER REQUIRED BY THE WORK MARKET ABSTRACT: The developed discussions in this text have the objective of showing the new profile of the manager before the tendencies of the work market. In this perspective, it will be considered the transformations which occur in this market, plancing them in the context of economic globalization that has been marked by growing changes in the economic and technological systems among others, rising then, the necessity of professionals with appropriate capability to supply the requirements that the new market requires. In order to achieve these features proper of a manager, firstly, it will come a brief comment on economic globalization and the work market. This is necessary for the reader to follow the work market variations, and thus, comes up to this new profile of the manager with a higher level of understanding. KEY WORDS: Economic globalization; Work market; Manager profile.
Administradora. Mestre em Administrao de Recursos Humanos (UFRN). Coordenadora do Curso de Administrao com Habilitao em Comrcio Exterior da Faculdade de Cincias, Cultura e Extenso do RN (FACEX). Telefax: (0xx84) 208-1500. Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
38
Com a globalizao econmica, o mercado de trabalho passa a exigir profissionais mais capacitados, multiqualificados. Este mercado est em processo de transformao, exigindo lderes participativos (substituindo autoritrios que perdem cada vez mais espao), premiando o trabalho em equipe. No Brasil, percebe-se a busca, por parte das empresas, por um novo relacionamento inter-firmas, estimulando os executivos que comandam os negcios no pas, no sentido de criarem nichos de alto grau de competncia para preservar a competitividade. O mercado de trabalho globalizado e competitivo diminui o nmero de empregos formais (com carteira de trabalho assinada) e aumenta o leque de possibilidades de trabalho para administradores bem preparados e capazes de gerenciar seus prprios negcios, a chamada empregabilidade. Durante algum tempo foi dispendido muito esforo para diminuir as distncias entre as cidades. As repercusses provocadas pela revoluo tecnolgica na economia mundial no foram pequenas. O aumento na interdependncia comercial e financeira entre as naes neste final de sculo recebeu o nome de globalizao econmica, a qual se configura por mudanas, como: a mundializao dos mercados e sua crescente integrao, as novas formas de concorrncias, dentre outras. Hoje, atravs desta globalizao, o controle do mercado de quase todo o planeta est em poder das multinacionais. Os meios de comunicao como o telefone, telefax, o rdio e a internet aproximaram ainda mais as distncias existentes entre as naes. Por exemplo, uma fbrica na Inglaterra pode entrar em contato com uma filial no Brasil. Com o desenvolvimento da tecnologia, as naes passaram a se organizar em grupos, procurando proteger seus interesses econmicos, mesmo quando alegavam motivos no propriamente relacionados ao comrcio internacional. Surgiram, ento, a extinta Liga das Naes; a Organizao das Naes Unidas (ONU) e o grupo dos sete pases mais ricos do mundo (G-7), composto pelos EUA, Inglaterra, Japo, Frana, Itlia, Canad e Alemanha. Ao passo em que as empresas multinacionais passam a investir cada vez mais em determinados pases, sujeitos a instabilidades polticas e econmicas, surge a necessidade de diminurem os riscos que envolvem esses investimentos, criando entidades como o Fundo Monetrio Internacional (FMI) com o intuito de manter uma certa harmonia econmica internacional. Alguns bancos e instituies financeiras controlam o fluxo de dinheiro no mundo. Com as competies comerciais cada vez mais fortes e freqentes, surge a necessidade de associaes internacionais, uma vez que a unio de pases com interesses comuns a melhor soluo para enfrentar as ameaas que estas competies representam. Com isto, criam-se os blocos econmicos: o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), composto pelos pases Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai; o Acordo de Livre Comrcio da Amrica do Norte (NAFTA), composto pelos EUA, Canad e Mxico; a Unio Europia (UE), composta pelos pases europeus; e a Associao de Cooperao Econmica da sia e do Pacfico (APEC), composta pelos pases da sia e Pacfico. Com relao a estes blocos, o MERCOSUL o que apresenta maiores possibilidades de desenvolvimento; o nico da Amrica Latina
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
39
e torna-se uma exigncia da economia mundial contempornea, visando a proteo contra ataques comerciais de outras regies. Esta exigncia ocorre devido s multinacionais que possuem tecnologia avanada competirem pelo domnio dos mercados do mundo. Esta competio muitas vezes predatria, ou seja, destri a estrutura comercial mais frgil dos pequenos concorrentes em locais onde se instalam. Por exemplo, se um pas que possui indstria txtil em desenvolvimento descuidar-se, deixando que produtores da sia entrem em seu mercado sem restries, estes novos produtores podem colocar tecidos a preos muito baixos, levando falncia as fbricas txteis que no tm condies de competir. Em vista disto, a criao do MERCOSUL no foi uma opo, e sim, uma exigncia que as condies do mercado impuseram aos pases em geral. Pases como o Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai saram na frente dos demais pases sul-americanos, unindo-se na defesa de seus interesses em comum. Algumas conseqncias decorrentes da formao do MERCOSUL so: * proteo s empresas da regio contra empresas estrangeiras mais evoludas que ainda no se estabeleceram aqui; * associaes de empresas do bloco para troca de informaes sobre tecnologia, visando maior produtividade, reduo de custos e aumento da competitividade; * mercado consumidor maior; * eliminao de tarifas de importao, com barateamento dos produtos; * reduo da burocracia com maior agilizao na realizao dos negcios; * maior oferta de produtos; * reconhecimento de diplomas para o exerccio profissional; e * necessidade de conhecimento das lnguas espanhola e portuguesa. Diante do exposto acima e com a tecnologia sempre em avano, as tarefas vo se tornando indeterminadas pelas possibilidades de usos mltiplos dos prprios sistemas; e a tomada de decises passa a depender da captao de uma multiplicidade de informaes obtidas atravs das redes informatizadas. Assim, o administrador tem que fazer escolhas e opes o tempo todo, devido a imprevisibilidade das situaes. Neste novo mercado h a necessidade de um trabalho revalorizado, em que o administrador, conforme as novas diretrizes curriculares para o curso de graduao de administrao, dever ter uma formao generalista, polivalente, exercendo funes que mostrem um maior comprometimento com a empresa em que trabalha. Isto pode ser consolidado a partir da compreenso do conjunto de competncias, habilidades, saberes e conhecimentos que provm da formao geral (conhecimento cientfico), da formao profissional (conhecimento tcnico) e da experincia de trabalho e social (qualificaes tcitas), tratando assim, da qualificao real do administrador. A formao do nov profissional compreende no s como fazer, mas o por que fazer, em que este, alm de dominar diferentes tcnicas, equipamentos e mtodos, conhece tambm a origem destas tcnicas, os princpios cientficos e tcnicos que embasam os processos produtivos. As caractersticas fundamentais para o novo profissional, de acordo com estas diretrizes so: capacidade de raciocnio abstrato, de autogerenciamento, de assimilao de novas informaes; compreenso das bases gerais, cientfico-tcnicas, sociais e econmicas da produo em seu conjunto; a aquisio de habilidades de natureza conceitual e operacional; o domnio das atividades especficas e conexas; e a flexibilidade intelectual no trato de situaes cambiantes. Em uma pesquisa realizada em 1998 pelo Conselho Federal de Administrao
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
40
(CFA) em parceria com a ABMES, ANGRAD, ESPM, FAESPA, FESAG, Faculdades Integradas SantAnna, IBMEC, UNIB, UNIP e UDESC foi verificado que tanto o segmento formado por administradores quanto o formado por empregadores enfatizam as habilidades e as atitudes ao definirem o perfil ideal de um administrador profissional: * conhecimentos: conhecimento em informtica, em idiomas, em planejamento e conhecimento sistmico da empresa; * habilidades: saber trabalhar em equipe, capacidade de planejar, capacidade para tomar deciso, capacidade para aprender, capacidade de comunicao verbal e escrita, capacidade de negociao, capacidade de assumir riscos e viso articulada das vrias reas da empresa; * atitudes: ter esprito empreendedor, motivar a equipe, ser tico, demonstrar entusiasmo pelo trabalho, comprometimento com a empresa e pr-disposio para trabalhar muitas horas. Pode-se observar que h uma convergncia entre o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes valorizado por eles (entrevistados). Qualquer administrador possuindo essas caractersticas ter seu futuro profissional garantido, porque isto que o mercado de trabalho demanda atualmente. As competncias so originadas ao longo da trajetria da vida profissional do administrador. Para uma maior compreenso destas competncias - apresentadas conforme DELUIZ (apud, ANDRADE, 1997) podem ser: intelectuais, tcnicas ou metdicas, organizacionais, comunicativas, sociais, comportamentais e polticas assim como um maior entendimento das habilidades - que segundo KATZ (apud, ANDRADE, 1997) podem ser: conceitual, humana e tcnica. ANDRADE (1997) elaborou um quadro que mostra as habilidades em relao ao perfil generalista/ polivalente e especialista do administrador e outro quadro apresentando as competncias em relao s habilidades. No quadro que se refere s habilidades relacionadas ao perfil do administrador, pode ser observado que as habilidades humanas e conceituais esto direcionadas para o novo perfil (generalista/polivalente), enquanto que as habilidades tcnicas voltam-se mais para o perfil especialista. No segundo quadro (competncias em relao s habilidades) o autor criou uma legenda que mostra o nvel de contribuio de cada competncia para a consolidao das habilidades. As competncias intelectuais, comunicativas e polticas apresentam muita contribuio, para as habilidades conceituais, bastante contribuio, para as humanas e pouca, para as tcnicas. As competncias sociais oferecem muita contribuio, para as habilidades humanas, bastante, para as conceituais e pouca, para as tcnicas. Estes tipos de competncias contribuem mais para as habilidades destinadas ao novo perfil exigido pelo mercado. REGIS (1997) apresenta os indicativos de uma pesquisa realizada pela Manager Consultoria em recursos humanos com 840 executivos entre dezembro/1996 e fevereiro/1997, em que podem ser observadas as qualidades (habilidades) que estes executivos acreditam que deveriam ter. As qualidades que tiveram um maior nmero de respostas foram: atualizao, viso de conjunto, liderana e criatividade. Estas qualidades esto dentro das principais caractersticas exigidas para a formao do novo perfil profissional, porm, a tica que tambm deveria possuir um grande nmero de respondentes, ficou bem abaixo, com um ndice apenas de 0,2%, referente a dois respondentes em valor absoluto. Mesmo assim, estes executivos entrevistados mostram
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
41
que possuem algum conhecimento sobre as novas qualificaes requeridas na formao dos profissionais generalistas. Outra pesquisa realizada por PAULA (1999) com 1329 entrevistados, na qual 783 so administradores, 246 donos de empresa e 300 professores que lecionam em cursos de Administrao de Empresas, mostra os seguintes resultados: * Os administradores sabem exatamente o que os empregadores querem. A maioria respondeu que necessrio que os profissionais sejam criativos e capazes de trabalhar em grupo. * Os empregadores dizem que as principais qualidades que esperam encontrar em um profissional graduado em Administrao so: comprometimento com a empresa; ter garra, ambio e vontade de crescer; ter viso geral das atividades da empresa; saber trabalhar em equipe. Ainda dizem que as principais vantagens percebidas nos profissionais recm-formados so: possuem diploma de curso superior; so atualizados; conhecem matrias importantes; possuem boa viso da empresa. * Tanto empregadores, quanto administradores e professores notam as deficincias das escolas de Administrao. Grande parte destes entrevistados acreditam que falta integrao entre a prtica e a teoria e que h a necessidade de desenvolver convnios para que as empresas ofeream maiores oportunidades de estgio para os alunos. Levando-se em considerao todas as informaes apresentadas, pode-se dizer que o novo profissional tem que estar capacitado tanto em termos de conhecimentos, quanto em termos de habilidades e de competncias. No que diz respeito aos conhecimentos, este profissional deve ter: cultura globalizada, boa formao escolar e conhecimentos de informtica. Com relao s habilidades: iniciativa e coragem de correr riscos, criatividade e inovao, foco no negcio, auto-desenvolvimento, capacidade de trabalhar em equipe, persistncia e equilbrio, empatia e gostar de aprender sempre. No que se refere s competncias: saber (conhecimentos), saber fazer e saber ser. Estas trs caractersticas devem estar sempre unidas, uma vez que para o novo perfil profissional necessrio que haja uma integrao entre a teoria e a prtica. Assim, o curso de Administrao dever buscar a construo de uma base tcnico-cientfica, servindo como um instrumento que oferece aos alunos a oportunidade de construir a sua prpria formao intelectual e profissional. Para que o administrador competente possa desenvolver as novas funes, h a necessidade de competncias de longo prazo que podem ser formadas apenas sobre uma ampla base de educao geral, isto porque o trabalho em equipe substitui o trabalho individualizado e as tarefas do posto de trabalho so modificadas pelas funes polivalentes, pois o trabalho est cada vez mais autnomo e complexo. Percebe-se, ento, que o mercado mudou e para que os administradores atinjam este novo perfil profissional necessrio que as Instituies de Ensino Superior (IES) adequem as suas metodologias de ensino, adaptando o processo de aprendizagem ao conceito de educao continuada, da busca constante do conhecimento, com o objetivo de tornar estes administradores aptos a disputar o mercado formal, como tambm, de prepar-los para cuidar de seus prprios negcios, mostrando capacidades para absorver, processar e se adequar por si mesmos s necessidades e exigncias requeridas no mundo atual. Todos os profissionais esto diante de um grande desafio, o da competncia, e quem se limitar a cumprir as suas tarefas de forma burocrtica estar
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
42
superado em curto prazo, sendo substitudo por outro profissional mais capacitado e criativo. REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS ANDRADE, Rui Otvio Bernardes de. A formao de recursos humanos em Administrao: indicativos de um novo paradigma na formao profissional e no processo ensino x aprendizagem do administrador. (Tese de Livre Docncia). Rio de Janeiro. UGF. jul. 1997. ______. AMBONI, Nrio. Diretrizes curriculares para os cursos de graduao em Administrao. Braslia, fev. 1999. CRUZ, Tadeu. Sistemas, organizao e mtodos: estudo integrado das novas tecnologias de informao. So Paulo: Atlas, 1998. LIMA, Mandita Corra., ANDRADE, Rui Otvio Bernardes de. O perfil, formao e oportunidades de trabalho do administrador profissional. Revista Brasileira de Administrao. Braslia, ano IX, n. 25, mai. 1999. MERIJ, Ana Lcia. SOA prepara profissionais para a empregabilidade. Jornal Administrao. Rio de Janeiro, n. 34, jun./ jul. 1999. PAULA, Slvio Pires de. Precisa-se de profissional engajado com a empresa. Jornal Administrador Profissional. So Paulo, ano XXII, n. 158, jul. 1999. REGIS, R. Em busca do equilbrio. Inovao Empresarial. Jun. 1997. SIQUEIRA, Wagner. A hora da afirmao. Jornal Administrao. Rio de Janeiro, n. 34, jun./jul. 1999.
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
43
SABERES E SABER-FAZER NOVOS CAMINHOS PARA UMA PRTICA REFLEXIVA1
Aiene Rebouas Alves2 RESUMO: O presente texto traz algumas reflexes sobre a repercusso de um projeto de formao em servio, na prtica docente de uma das professoras que participou desse projeto. Inclui a discusso das condies em que realizou a prtica pedaggica, com nfase na formao e nos saberes construdos ao longo desse fazer, destacadamente os estudos da abordagem scio-histrica como elemento organizador do processo ensino-aprendizagem. Define sua insero no projeto e a possibilidade de reorganizar os conhecimentos que constituem a ao docente (disciplinar, curricular, das cincias da educao e da prtica), como o elemento de ruptura de um fazer sem consistncia terica para um fazer reflexivo/prtico, propiciador de avanos do nvel conceitual dos alunos. PALAVRAS-CHAVE: Professor; formao; ensino-aprendizagem; saberes. KNOWLEDGE AND KNOW HOW TO DO NEW WAYS FOR A REFLEXIVE PRACTICE
ABSTRACT: The present text brings some reflexions on the echoing sound of an education project of enabling in service, one of the teachers who participated of this project. It includes a discussion of the conditions in which the pedagogical practice was performed, enphasizing the formation and knowledge throughout this doing, remarkablely the studies of socio-historical approaches as elements of organization of the teaching learning activity. It defines its isertion in te project and the possibility of reorganizing knowledge that constitute the teaching activity to discipline, to offer a good curriculum, to teach science of education and its practice, as the element of rupture of a doing without atheoretical consistency to a reflexive/practical doing, propiciatory of progress in the concept level of the students. KEYWORDS : teacher; formation; teaching learning activity; knowledge.
Texto que integra as discusses apresentadas na nossa dissertao de Mestrado VIDAS EM CONFRONTO: processo de formao e trajetria profissional. 2 Mestre em Educao pela UFRN. Coordenadora do curso de Pedagogia da FACEX. Professora das disciplinas Fundamentos Scio-Econmicos da Educao e Sociologia da Educao no PROBSICA/UFRN/SEDCRN. Rua Itapagipe, 2865, Nepolis. CEP 59.088-020 Natal,RN.Tel.: (0xx84)217-4526.
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
44
Os saberes pedaggicos podem colaborar com a prtica. Sobretudo se forem mobilizados com base nos problemas que a prtica coloca... (...) no confronto e na reflexo sobre as prticas e os saberes pedaggicos, e com base neles, que os professores criam novas prticas. Selma Garrido Pimenta. O rpido ritmo das transformaes sociais, econmicas, polticas e culturais das sociedades contemporneas traduz-se, no espao escolar, pela complexidade crescente das funes atribudas ao professor. Nessa realidade, o professor colocado como agente responsvel em criar condies para que seus alunos sejam capazes de utilizar os saberes para produzirem e transformarem o meio, participando no seio da comunidade da vida coletiva, como cidados conscientes. Tal desafio exige da comunidade escolar, e em especial do professor, a construo/reconstruo do seu fazer, numa atitude reflexiva, na auto-avaliao de suas aes no cotidiano da sala de aula. Essa reflexo deve ter como pressuposto a articulao teoria/prtica, considerando o contexto no qual o ensino -aprendizagem acontece. Nessa abordagem, a prtica docente enquanto prtica social constituda por um conjunto de saberes que do ao docente uma direo ao seu trabalho. Esses saberes so construdos nas inter-relaes que o professor estabelece com seu grupo social, seus alunos e o referencial terico-metodolgico que d suporte as suas aes. Assim, se o professor busca desenvolver uma prtica voltada para a socializao do saber elaborado, ele agir na direo da ruptura com os padres sociais dominantes e sua ao estar sedimentada no dilogo, que para Hoffmann (1995) o ncleo de atos cognoscentes desveladores da realidade. Ao agir nessa direo, o docente, em conjunto com os demais segmentos da instituio, vai dar vida a escola, para que esta se transforme num centro cultural aberto, no qual saberes espontneos e saberes cientficos se articulam, favorecendo a compreenso da realidade para alm das aparncias. A construo de uma prtica dirigida conscientemente para favorecer a ruptura com o senso comum, pressupe o domnio de um conjunto de saberes que abrangem os conhecimentos adquiridos na formao inicial, os que se referem s disciplinas ensinadas, os relativos organizao do currculo, e principalmente, aqueles que so construdos luz das reflexes tericas da prtica, num processo contnuo de formao.
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
45
1 DANDO SENTIDO PRTICA Na minha experincia como professora primria, desde ministrar aulas particulares para alunos que estavam se alfabetizando; trabalhar como monitora do MOBRAL; ensinar em classes multisseriadas, como professora leiga e, posteriormente, integrando o corpo docente do sistema pblico de ensino, como professora qualificada destaco a insero no Projeto Uma Escola para a Escola3 , como o divisor entre uma prtica autoritria e a construo de um fazer reflexivo, que me permitiu auto-avaliar e reelaborar conscientemente a ao pedaggica. Tais reflexes, inicialmente, eram mediadas pelos sujeitos educativos envolvidos no projeto: equipe de assessoramento (UFRN) e equipe tcnico-pedaggica, docentes e discentes. Posteriormente, constituram-se atividade individual, na qual estabelecia relaes entre meus conhecimentos prvios, os referenciais tericometodolgicos, os saberes dos alunos para reorganizar o planejamento e a execuo das situaes de aprendizagem. A efetivao sistemtica dessa auto-avaliao permitiu-me a construo/ desconstruo/ reconstruo de muitos saberes e saber-fazer, que se revelaram em algumas atitudes didtico-pedaggicas ao gerir a sala de aula. Ao me referir a muitos saberes, estou situando o saber docente como um saber plural. Neste aspecto, concordo com os autores que discutem a problemtica do saber docente (Tardif et al., 1991). Para esses autores, o ensino mobiliza vrios saberes, os quais so utilizados pelo professor de acordo com as exigncias especficas de cada situao vivenciada. Foi buscando atender s necessidades e exigncias do cotidiano da sala de aula numa articulao teoria/prtica, que construi novas aes, as quais passaram a integrar a prtica pedaggica de forma consciente e intencional. Inicialmente, destaco a atitude de estimular a fala dos alunos, levando-os a expressar suas idias e enunciar opinies. Ao considerar todas as falas importantes, passo a vivenciar o dilogo, colocando-o como elemento fundamental no processo de construo dos conhecimentos. Os conhecimentos vivenciais dos alunos que, em pocas anteriores, eram por mim negados, constituram-se e se constituem ponto de partida para promover rupturas na direo do saber sistematizado. A postura dialgica do professor abordada por Kramer (1995, p. 94)
como a mudana de um discurso autoritrio para um discurso polmico. Sugere que o professor deixe vago, dentro de sua fala, o espao para que os alunos possam ultrapassar a posio de simples ouvintes e, assim, o professor possa conhecer as diferentes realidades culturais e sociais, que poderiam ser utilizadas em situaes de ensino.
Para Snyders (1988, p. 118-119)
Projeto realizado em parceria com Ncleo de Estudos e Pesquisas em Educao Bsica (NEPEB) do Departamento de Educao (DEPED)/UFRN e Escola Estadual Berilo Wanderley.
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
46
Cabe ao professor assegurar muito freqentemente aos alunos uma imagem valorizada de si mesmos: persuadi-los que eles tm coisas a dizer, coisas, a fazer de que valem a pena (...) testemunhando-lhes uma confiana naquilo que j so que o professor os ajudar a progredir em relao a satisfao cultural escolar: ousaro enfrentar o difcil; sem se recusarem a si prprios, seus valores, mas elabor-los, explicit-los, elucidlos para realizar saltos de ultrapassagem.
Holly (1995, p. 99) tambm chama a ateno para essa questo ao afirmar que os professores passam a valorizar a voz dos alunos, bem como as interaes e relaes que influenciam a aprendizagem, quando lanam um olhar retrospectivo sobre sua histria de vida e encontram a origem de sua filosofia de ensino. A interlocuo com esses autores corrobora minha posio ao colocar a atitude dialgica como elemento definidor de uma nova prtica, pois esta atitude rompe com as relaes autoritrias que perpassam o ensino-aprendizagem, no mbito das prticas educativas. Outra ruptura em relao ao meu fazer foi externada na considerao s individualidades dos alunos, uma vez que isso implica em respeitar o ritmo prprio de aprender de cada criana, pois, dependendo de suas condies objetivas, ela precisar de uma maior ou menor ajuda do professor para vencer os desafios. Essa atitude pedaggica me conduziu a fazer observaes sobre o que as crianas no resolviam sozinhas e, a partir dessas observaes, elaborava tarefas que possibilitassem o trabalho cooperativo, tanto com os colegas, quanto com a minha interveno. A preocupao em auxiliar as crianas, valorizando as solues que conseguiam com a minha ajuda ou de um colega mais experiente, est respaldada na abordagem vygotskyana de zona de desenvolvimento proximal. Para Vygotsky esse conceito de fundamental importncia para destacar as dimenses do aprendizado escolar no processo de desenvolvimento da criana. Segundo esse autor, o desenvolvimento mental da criana revela dois nveis: o desenvolvimento real, o qual refere-se a funes mentais que j amadureceram e esto expressas na capacidade de resolver problemas de forma independente; e o potencial que est relacionado capacidade de resolver problemas com a ajuda de algum mais experiente. A distncia entre esses dois nveis denominada zona de desenvolvimento proximal. Esta define as capacidades que esto em processo de maturao, portanto, caracteriza o desenvolvimento prospectivo das funes mentais. Essa abordagem traz uma contribuio importante ao papel do professor como mediador da aprendizagem, pois ao orient-lo a valorizar as respostas da criana fornecendo-lhe as pistas na soluo do problema, orienta-o na organizao das situaes de aprendizagem para que sejam possibilitadoras desses avanos. Ao tomar essa posio na orientao da aprendizagem dos alunos, uma outra atitude se manifesta: a compreenso de seus erros como tentativas de reelaborao dos novos conhecimentos. A implicao dessa posio na prtica docente est na possibilidade de elaborar tarefas que permitam aos alunos estabelecer o maior nCarpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
47
mero possvel de relaes, entre o que eles j sabem e o novo conhecimento. A partir dessa compreenso, procurei investigar os interesses dos alunos e busquei organizar com ajuda das equipes (UFRN, tcnica e docente da escola) situaes de aprendizagem que os motivassem a aprender. Nessa perspectiva, os exerccios mecnicos e repetitivos cederam lugar a tarefas que estimulavam a criatividade e a realizao das capacidades mentais que esto em processo de desenvolvimento. Uma outra atitude construda diz respeito a organizao dos contedos escolares. Na tarefa, a preocupao centrava-se na significao desses contedos, tanto em relao a continuidade dos mesmos com as experincias dos alunos, quanto no que se referia a possibilidade de ruptura na direo do conhecimento sistematizado. O conjunto de mudanas aqui expressas se manifestavam e se definiam nas interaes que se processavam no grupo de trabalho (equipe-UFRN, tcnico-pedaggica, docente e discente) e na dinmica da sala de aula. Logo, resultaram da construo/ desconstruo/reconstruo de saberes acerca do processo ensino-aprendizagem, os quais movimentam saberes do campo da psicologia, sociologia, filosofia, da didtica, dos conhecimentos historicamente produzidos e dos seus processos de construo e da prpria experincia docente. Esse processo construtivo constituiu-se tarefa rdua e tonificante, medida que conseguia me localizar e aos meus alunos em contextos sociais, histricos e polticos mais amplos. Quanto mais aprendia a observar e a refletir sobre os pontos de tenso e resistncia no processo ensino-aprendizagem, mais encontrava alternativas para as aes pedaggicas, dando sentido prtica. Dessa forma, o reconhecimento do carter unitrio da prtica docente levoume a assumir o lugar de observadora cuidadosa, criadora de oportunidades que conduzissem os alunos para alm dos conhecimentos espontneos. Importa realar que essas mudanas do fazer pedaggico resultaram de um processo de construo coletiva, cuja reelaborao individual atravessou um largo espectro desde o aborrecimento, a frustrao, o conflito de valores e convices, simpatia e finalmente aceitao e a adeso. 2 DA ROTINA REFLEXO Os esforos empreendidos na reconstruo da minha trajetria como professora, permitiram-me situ-la no contexto mais amplo da formao docente no Brasil. Na intercesso da histria particular com a histria da sociedade, foram definindose contornos do fazer docente, os quais esto marcados por sucessivos e permanentes obstculos a serem vencidos. Sob esse aspecto, evidenciaram-se tantos os aspectos do desenvolvimento profissional e de percursos de formao, quanto etapas significativas, nas quais estavam presentes diferentes atitudes e empenho na prtica docente, bem como diferentes percepes sobre essa prtica e o processo educativo em geral. Assim, foi possvel demarcar o avano qualitativo do meu fazer docente, a
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
48
partir das aprendizagens construdas ao participar de um processo de formao continuada que me possibilitou elaborar/reelaborar saberes, a partir da reflexo/ao da prtica pedaggica. Este, para mim, foi o elemento de ruptura entre uma prtica marcada predominantemente pela transmisso/assimilao, para uma prtica centrada na construo do conhecimento. Importa realar que os saberes apreendidos e organizados na experincia vivenciada, em particular no processo de formao, no se sobrepuseram aos que eu j havia internalizado, todavia possibilitaram a reelaborao do conjunto de conhecimentos que constituam o meu saber docente. Dessa forma, foi possvel identificar nas relaes estabelecidas no mbito da formao em servio um novo referencial que passou a orientar a organizao da prtica docente, na perspectiva de elevar o nvel de conhecimento dos alunos. Dentre os saberes reelaborados esto os que dizem respeito ao processo de construo de conhecimento da criana e as relaes que estabelecem nesse processo, destacadamente a abordagem scio-histrica; aos contedos escolares e a sua organizao; ao desenvolvimento desses contedos e a reflexo da prtica docente como elemento possibilitador da construo de novos conhecimentos, confirmando, portanto, ao que Tardif et al., (1991) denominam de saber plural. Para esses autores o saber docente formado pelo amlgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos da formao profissional, dos saberes das disciplinas, dos currculos e da experincia (Tardif et al.,1991, p. 218) e que todos esses saberes implicam um processo de aprendizagem e de formao, no qual os professores atualizam suas concepes, convices e suas aes. No momento em que consegui estabelecer uma relao reflexiva com tais saberes, reelaborei o saber da experincia com a possibilidade de mediar o processo de construo de conhecimento das crianas na perspectiva da formao conceitual. Concomitante construo dessa prtica, ampliou-se a compreenso das prticas anteriores, sendo possvel identificar trs fases no meu percurso como docente e os modelos de professor a elas correspondentes. Essa diviso est baseada nos aspectos organizacionais da prtica e nos referenciais tericos-metodolgicos que as sustentavam, os quais estavam expressos nas concepes e convices que eu tinha sobre o ensino-aprendizagem, a construo do conhecimento, o papel da escola, do professor e das relaes entre os alunos e o professor. Para estabelecer esse paralelo recorri aos estudos de alguns autores, dentre estes destacam-se as postulaes de Gonzlez e Escartn (1996) sobre a evoluo das concepes dos professores acerca do ensino e sua relao com as idias que esto sendo produzidas e veiculadas no contexto social e educacional, considerando os anos oitenta como o marco do desenvolvimento de propostas educacionais que passam a conviver com as prticas realizadas pelos docentes, possibilitando a identificao de quatro tipos de professor: transmissor, arteso, tecnolgico, descobridor. Estes tipos so construdos na relao que os docentes estabelecem com as novas idias, incorporando-as a um determinado saber que caracteriza sua prtica, fazendo com que esta evolua.
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
49
O tipo transmissor caracteriza-se pela postura autoritria, transmitindo conhecimentos numa perspectiva tradicional de ensino. Os alunos so vistos como pessoas que nada sabem e que precisam memorizar aqueles conhecimentos que o professor transmite. O tecnolgico aquele tipo para quem a base do ensino eficaz est no planejamento e no controle das variveis que podem afetar a aula, tendo o componente tecnolgico como fomentador do trabalho pedaggico. O autodidata em questes pedaggicas ou arteso aquele que elabora sua prtica em sala de aula e desenvolve suas aes sem ter em conta outros campos do conhecimento. O tipo descobridor segue a corrente de pensamento de que os alunos organizam e reorganizam seus conhecimentos atravs de hipteses, dedues, planificaes, sustentando-se na concepo de que esses processos cognitivos so condutores da capacidade de cada aluno reelaborar os conhecimentos de cada disciplina. Alm desses tipos, os autores apontam ainda que em tempos mais recente surgiu um outro, denominado por eles de professor construtor. Este, referenda sua prtica numa abordagem psicolgica que se preocupa com o desenvolvimento do pensamento do aluno e como se d seu aprendizado. Essa caracterizao e conceitualizao de tipo de professor apresentada pelos autores remete-nos compreenso da prtica pedaggica como prtica social, que se realiza e se define na interao com outros sujeitos, seus valores, seus saberes e convices marcadas por concepes pessoais sobre o ensino-aprendizagem, o homem, o conhecimento como indicadores da prtica, mesmo que nem sempre haja conscincia por parte de quem a realiza. A esse respeito Gonslez e Escartn (1996, p. 331) colocam
Han ido emergido diferentes tipos de profesor para adaptar-se a las variaciones del entorno educativo. Estas variaciones estn asociadas a la asimilacin de ciertas ideas referidas a la educacin por parte del estamento docente. Uma vez aceptada una nueva idea, el profesorado se adapta a la nueva situacin. incorpora la nueva concepcin a su prctica profesional y evoluciona.
A posio dos referidos autores ajudam-me a situar minha prtica pedaggica e as suas nuances, entendendo-a como processo de construo contnuo, no qual as interaes sociais tm papel importante na sua reelaborao individual. Assim, os confrontos das orientaes tericas, divergncias e convergncias acerca das posturas pedaggicas que foram assumidas na minha prtica docente, se evidenciam no mbito de cada sala de aula assumida e desvelam a fora de certas idias aceitas no contexto educacional. O quadro a seguir demonstra a evoluo do meu fazer pedaggico, considerando a construo de um conjunto de saberes que estavam referendando esse fazer, de acordo com o contexto em que a prtica ia se desenvolvendo.
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
50
QUADRO 1 - Ao docente e perfil da professora.
FASES DA CARREIRA DOCENTE Sem formao mnima PERFIL DO PROFESSOR
ORGANIZAO DO FAZER PEDAGGICO
Baseado em modelos de antigos professores; repetiam-se tarefas dos livros; primava-se pelos exerccios mecnicos; exigia- Transmissor; se silncio total dos alunos que deveriam se ocupar em respon- Arteso; der as tarefas; as aulas consistiam em exposies orais e escri- Descobridor. tas e os alunos teriam que repetir essas lies para no fracassarem. Permanece o modelo dos professores com quem aprendi; destaca-se aqui a preocupao com o uso de materiais didticos, com o plano de aula, com os objetivos que queria alcanar; permanece o predomnio do discurso docente sobre o silncio dos alunos; surge um sinal de valorizao da leitura dos alunos e a utilizao da literatura na alfabetizao dos alunos; h uma insatisfao com o modelo transmissor e busca-se melhorar a prtica. Organizao do trabalho docente com planejamento coletivo; valorizao dos conhecimentos prvios dos alunos; organizao dos contedos com seqncia e gradao; situaes de aprendizagens diversas; dificuldades na realizao das aulas e sistematizao dos conhecimentos; incio da considerao dos nveis diferenciados de aprendizagens; esforo na busca do dilogo com momentos de autoritarismo; conscincia do referencial que orienta a prtica. Transmissor Tecnolgico com predomnio do descobridor
Com formao em nvel de 2 Grau
Com formao em nvel de 3 grau e inserida num projeto de formao continuada.
Transmissor Tecnolgico Descobridor com predomnio do construtor.
A classificao apresentada mostra a incapacidade dos modelos de professora que apresentei em cada fase da docncia de conter a realidade, medida que esta complexa, dinmica e fluda, tanto que em nenhum dos momentos foi possvel enquadrar-me num perfil puro. De forma inconsciente ou consciente esses modelos so incorporados pelo professor e este ao assimilar as novas idias se adapta a elas, incorporando alguns princpios que silenciam o modelo anterior e evidenciam mudanas na sua prtica. Tomar conscincia das lentes que usamos para analisar o nosso prprio fazer, definido nesse trabalho como um caminho para nos apropriarmos dos saberes de que somos portadores, trabalhando-os sob o ponto de vista terico e conceptual. Sob esse enfoque, proponho que a prtica pedaggica seja transformada criativamente, atravs da reflexo/ao dos professores impulsionados pelo desejo de no permitir a acomodao.
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
51
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS ALMANAQUE Abril. So Paulo: Abril Cultural, 1995. BOSI, Ecla. Memria e Sociedade: Lembranas de Velhos. So Paulo: Queiroz Editora, 1979. BRASIL. Ministrio da Educao e Cultura. Parmetros Curriculares Nacionais. Braslia, 1997. BRASIL. Ministrio da Educao e Cultura. Plano Decenal de Educao para todos. Braslia, 1993. BUSSMANN, Antnia Carvalho. O Projeto Poltico-Pedaggico e a Gesto da Escola: uma construo possvel. In: VEIGA, Ilma P. Alencastro (Org.) Projeto Poltico-Pedaggico da Escola: uma construo possvel. Campinas: Papirus, 1995. CAMPOS, Maria do Rosrio Castio. Novas metodologias de investigao histrica e de ensino da Histria: A Biografia. In: 4 COLLOQUE NATIONAL de LAIPELF; Afirse. Lisbonne. Colloque National de Laipelf Afirse, 1993. p. 444453. CELMA, Jules. Dirio de um educastrador. Traduo de Elizabethe M. Sawaya Kaphan. So Paulo: Summus, 1979. Traduo de: Journal dun ducastreur. DRAIBE, Sonia M. As polticas sociais e o neoliberalismo: Reflexes suscitadas pelas experincias latino-americanas. Revista USP, So Paulo, n. 17, mar./mai. 1993. FALKEMBACH, Elza Maria Fonseca. Planejamento participativo. Uma maneira de pens-lo e encaminh-lo, com base na escola. In: VEIGA, Ilma P. Alencastro (Org.). Projeto poltico-pedaggico da escola: uma construo possvel. Campinas, SP: Papirus, 1995. FERREIRA, Maria Salonilde. Como se ensina na escola pblica. In: 4 Colloque National de lAipelf, 1992. Afirse. Lisbonne. Colloque National de Laipelf. Lisbonne: Afirse, 1992. p. 19-20. _____. LEcole, Pour quoi? tude des rapposts entre scolarit et origine social des enfants dans lenseignement de 1er degr du Nold - Est du Brsil. Caen, Frana. 1984. (Tese de Doutorado). FERREIRA, M. S., BARROS, Eva C. A C. A Escola em sua particularidade: anlise do Plano Curricular da Escola Pblica. In: 3me Colloque National de Laipelf, 1992. Lisboa. Evaluation en Education, Lisbonne, 1993. p. 269-280. FIORI, Jos Luiz. Sobre a crise do estado brasileiro. Revista de Economia Poltica. So Paulo, v. 9, n. 3, 1989. FURET, Franois. A oficina da histria. Traduzido por Adriano Duarte Rodrigues. Lisboa: Gradiv, 1975. (Col. Construir o Passado, v. 1).
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
52
GAUTHIER, Martineau et al. Por uma teoria da pedagogia: pesquisas contemporneas sobre o saber docente. Laval; Quebec. Canad, 1996. p. 2-89. GERMANO, Jos Willington. Estado militar e educao no Brasil( 1 9 6 4 - 1 9 8 5 ) . So Paulo: Cortez, 1993. ______. Lendo e aprendendo: a campanha de p no cho. So Paulo: Cortez, 1989. GHIRALDELLI JR., Paulo. Histria da educao. So Paulo: Cortez, 1990. GES, Moacyr de. De p no cho tambm se aprende a ler, 1961-64: uma escola democrtica. So Paulo: Cortez, 1991 (Coleo Educao Contempornea). GONZLEZ, J. ESCARTN, Flortegui. Qu piensan los profesores acerca de como se debe ensear. Enseanza de las ciencias. La Laguna, v. 14, n. 3. 1996. p. 331342. HOFFMAN, Jussara Maria Lerch. Avaliao mediadora: uma prtica em construo da pr-escola universidade. Porto Alegre: Educao e Realidade, 1995. HOLLY, Mary Louse. Investigando a vida profissional dos professores: dirios biogrficos. In: NVOA, Antnio (Org.) Vidas de professores. Porto: Porto Corbex, 1995. p 79-110. KRAMER, Sonia. Por entre as pedras: arma e sonho na escola. So Paulo: tica, 1993. ______. Alfabetizao Leitura e Escrita: formao de professores em curso. Rio de Janeiro: Papis e Cpias de Botafogo, 1995. KRUPA, Sonia M. Portella. Sociologia da educao. So Paulo: Cortez, 1993. (Coleo Magistrio 2 Grau. Srie Formao de Professor). LELIS, Isabel Alice. A formao da professora primria: da denncia ao anncio. So Paulo: Cortez, 1989. MELLO, Guiomar Namo. Magistrio de 1 Grau: da competncia tcnica ao compromisso poltico. So Paulo: Cortez, 1987. MOITA, Maria da Conceio. Percursos de formao e de trans-formao. In: NVOA, Antnio (Org.). Vidas de professores. Porto: Porto Cordex, 1995. p.111140. MORAIS, Gizelda Santana. A tica da formao de professores numa educao de salrio mnimo. Revista Educao em Questo. Natal, v. 6, n. 2, p. 39-50, jul./dez. 1996. NOVAES, Maria Eliana. Professora primria: mestra ou tia. So Paulo: Cortez, 1984. NVOA, Antnio. Os professores e as Histrias da sua Vida. In: NVOA, Antnio (Org.) Vidas de professores. Porto: Porto Cordex, p 11-30. 1995.
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
53
PEY, Maria Oly. A escola e o discurso pedaggico. So Paulo: Cortez, 1988. PESSANHA, Eurize Caldas. Ascenso e queda do professor. So Paulo: Cortez, 1993. PERRENOUD, Philippe. Prticas pedaggicas, profisso docente e formao: perspectivas sociolgicas. Lisboa: Dom Quixote, 1993. PIRES, J. et al. Pesquisa educacional. Natal: EDUFRN, 1991. RAMALHO, Betnia L. A desprofissionalizao do magistrio de 1 grau da Paraba. Barcelona: Universidad Autnoma, 1993. (Tese, Doutorado em Educao). SANTO, Ruy Csar do Esprito. Pedagogia da transgresso: um caminho para o autoconhecimento. Campinas: Papirus, 1996. SNYDERS, Georges. Alegria na escola. Porto Alegre: Manolo, 1985. TARDIF, Maurice., LESSARD, Claude., LAHAYE, Louise. Os professores face ao saber: esboo de uma problemtica do saber docente. Teoria & Educao, v. 4, p. 215-235, 1991. Uma Escola para escola. Programa de Ps-graduao. Ncleo de Estudos e Pesquisas em Educao Bsica (NEPEB). Departamento de Educao (DEPED). CCSA (Centro de Cincias Sociais Aplicadas (CCSA), UFRN. Natal, 1987. VASCONCELOS, Celso dos Santos. Planejamento: plano de ensino-aprendizagem e projeto educativo elementos metodolgicos para elaborao e realizao. So Paulo: Libertad, 1995. (Cadernos Pedaggicos do Libertad, v. 1). VYGOTSKY, L. S. Formao social da mente. So Paulo: Martins Fontes, 1991. _____. Pensamento e linguagem. So Paulo: Martins Fontes, 1993.
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
54
PLANEJAMENTO DE ENSINO: RECONSTRUINDO SUA TRAJETRIA1
Olmpia Cabral Neta2 RESUMO: Este artigo aborda o tema planejamento de ensino situando-o no contexto das tendncias pedaggicas. Sistematiza elementos para uma compreenso da origem e evoluo do planejamento, resgata a sua trajetria no Brasil, destacando as fases do princpio prtico, instrumental e participativo. Evidencia que as duas primeiras fases do planejamento de ensino esto respectivamente relacionadas com as tendncias pedaggicas tradicional e tecnicista e a terceira fase com a pedagogia crtico-social. Assinala que atualmente o planejamento participativo se apresenta como a forma mais adequada para organizar o trabalho pedaggico do professor. PALAVRAS-CHAVE: planejamento de ensino; tendncias pedaggicas; organizao do ensino. PLANNING OF INSTRUCTION: RECONSTRUCTING ITS TRAJECTORY ABSTRACT: This article is about the theme planning of instruction, placing it in the context of pedagogical tendencies. It systematizes elements to an understanding of the origin and evolution of planning; it focus on its trajectory in Brazil, and detaches phases of planning of instruction. It makes evident that the two phases of the planning of instruction are respectivelly related to the tecnicist and traditional pedagogical tendencies and the third phase is related to the social-critical pedagogy. This article also marks that nowadays planning with participation has shown itself as a more apropriate way to organize the pedagogical work of the teacher.
KEY-WORDS: Planning of instruction; pedagogical tendencies; organization of instruction.
1 Este artigo foi elaborado tomando como referncia uma discusso mais ampla desenvolvida na Dissertao de Mestrado defendida no Programa de Ps-Graduao da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 2 Mestre em Educao pela UFRN. Professora de Didtica da Faculdade de Cincias, Cultura e Extenso do RN (FACEX). Rua Eng. Nelson Bahia, n 1854, Cidade Jardim, Natal, RN. E-mail: cabraln@ufrnet.br.
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
55
1 UMA INTRODUO SOBRE O PLANEJAMENTO Os estudos histricos sobre o tema planejamento sugerem que o ato de fazer planos ou planejar faz parte do cotidiano do homem desde que ele se descobriu com capacidade de pensar antes de agir. Segundo Carvalho (l976), o conhecimento sistematizado sobre as mais remotas civilizaes permite concluir que planos, programas, projetos e, principalmente o processo de planejamento sempre foram adotados, mas, sob formas distintas das atuais. Reportando-se aos registros histricos pode-se destacar, como exemplo dos primrdios de planejamento, a construo das pirmides do Egito que, segundo os historiadores, certamente, no se realizou sem planos e projetos. Exigiu dos administradores e dos dirigentes de ento, decises complexas de mdio e longo prazos para a administrao dos recursos e para as suas edificaes. Os planos e projetos marcaram presena tambm nos arquedutos romanos, na irrigao agrcola da Mesopotmia Antiga, nas obras civis das cidades gregas e romanas, nas embarcaes, ou seja, na vida das distintas civilizaes antigas. Como proposta ntida de planos de ao e da presena do processo de planejamento, Carvalho (1976) destaca o plano de comercializao entre os povos do Oriente e do Ocidente realizado pelos fencios no sculo XX a.C. Pode ser citada ainda como evidncia do planejamento, a proposta de reforma agrria para a sociedade romana formulada pelos irmos Graco no sculo I a.C . Na era moderna, pode-se lembrar como evidncia do uso do planejamento, os programas de desenvolvimento econmico-administrativo regional. Como exemplo podemos citar a rota comercial do Bltico, financiada pelos banqueiros internacionais, por volta do sculo XVI. Esse programa de desenvolvimento contemplava objetivos, diretrizes e instrumentos de ao para a realizao de feiras comerciais, eventos que se repetiam desde o sculo XIII, e dispunha sobre a organizao da infra-estrutura das cidades para suportar o movimento das feiras, definindo pocas mais propcias para tais eventos em funo de estudos do clima, das caractersticas scio-culturais das populaes e da determinao dos melhores produtos a serem comercializados face aos estudos de mercado internacional (Carvalho, 1976). Cabe ressaltar, todavia, que foi com o desenvolvimento comercial e industrial, ocorrido com o capitalismo, que a preocupao de planejar foi incorporada rea econmica. medida que os negcios dos comerciantes dos tempos iniciais do capitalismo foram se expandindo, a administrao das fortunas comeou a exigir formas novas de conduta. Os tempos do poder feudal, das pilhagens e dos tesouros guardados cediam seu lugar concorrncia entre comerciantes. Para esse novo mundo que surgia com a expanso do capitalismo, o poder comeava a se medir pela capacidade de expanso das atividades comerciais. Diante dessa realidade era preciso saber prever, antecipar situaes, arriscar fundos. Era um certo tipo de planejamento que passava a ser uma exigncia inerente atividade econmica (Ferreira, 1981).
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
56
evidente que no proliferaram desde os tempos remotos os planos de desenvolvimento econmico e social, como hoje existem, orientados para o desempenho da sociedade em seu conjunto. Esses planos so mais recentes. Porm, como foi assinalado, planos e projetos ocasionais sempre existiram, com maior ou menor abrangncia de contedo. Os exemplos de experincias de planejamento so inmeros e marcantes, crescendo no decorrer do prprio desenvolvimento histrico, alcanando hoje em alguns pases, o mximo de sofisticao tcnico-cientfica. No dizer de Ferreira,
com a industrializao, a maquinaria entra para dar maior produtividade a mo de obra, que produzia as mercadorias cuja venda permitia aumentar o capital. Nesse momento passa a ser necessrio prever bem a entrada de matrias primas, o ritmo das mquinas, as funes dos operrios. Hoje em dia, com a organizao racional do trabalho, se prev as funes dos operrios e os movimentos das mquinas para que as mesmas no faam movimentos desnecessrios. (Ferreira, 1981, p.28).
O autor argumenta que com o desenvolvimento do capitalismo, as empresas ganharam uma dimenso tal, representando tanto capital aplicado e tanta gente trabalhando nelas, que improvisar passa a ser sinnimo de suicdio e de inconscincia dos riscos sociais que se pode criar para a sobrevivncia do capitalismo. Nessa mesma linha de raciocnio, Carvalho (l976), assinala que aps a Segunda Guerra Mundial (l939 a l945) o planejamento tem sido considerado como um procedimento lgico capaz de auxiliar efetivamente os esforos de desenvolvimento econmico e social. Na dcada subsequente a esse conflito internacional, inmeros governos de Estados, em particular dos pases considerados subdesenvolvidos, vislumbraram no plano a possibilidade do milagre desenvolvimentista e, a partir da, bastou apenas um passo para que o planejamento se tornasse um mito, uma palavra mgica. No campo educacional, os registros histricos sugerem que o planejamento de ensino, guardadas as particularidades prprias de cada poca, esteve sempre presente no ato de pensar a educao. O planejamento um instrumento que vem sendo utilizado no decorrer do desenvolvimento da sociedade para pensar e organizar o ensino. De incio, ele no era usado como uma tcnica sistemtica, porm tinha uma intencionalidade: transmitir os costumes, os valores e os ensinamentos de gerao a gerao. Posteriormente, com o desenvolvimento da cincia e da tcnica, o planejamento de ensino assume caractersticas cientficas, objetivando sistematizar racionalmente o fazer pedaggico no interior da escola. Assim, o planejamento de ensino guardadas as particularidades prprias de cada poca, tem se tornado para os educadores um instrumento de trabalho.
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
57
2 UM RESGATE DA ORIGEM E DA EVOLUO DO PLANEJAMENTO DE ENSINO Nas comunidades primitivas, mesmo no havendo educao formal sistemtica e a educao das crianas no estando confiada a ningum em especial, cabia aos adultos introduzi-las nas crenas e nas prticas do seu grupo social. Apesar de no haver uma instituio destinada a educao formal das crianas e jovens, existia uma intencionalidade, uma vez que eles eram colocados em um ambiente propcio para a partir da convivncia com o meio, desenvolver o seu aprendizado (Ponce, 1981). Desde os primrdios, existem indcios de formas elementares de instruo e aprendizagem. As experincias das comunidades primitivas, nas quais os jovens passavam por um ritual de iniciao para ingressar nas atividades do mundo adulto se constitui um claro exemplo. Essa forma de ao pedaggica pode ser considerada como uma forma estruturada de ensino, embora no esteja presente o aspecto didtico (Libneo,1994). Para Libneo (1994, p.57) na antigidade clssica e no perodo medieval tambm se desenvolveram formas de ao pedaggica em escolas, mosteiros, igrejas, universidades. Entretanto, assinala que at meados do sculo XVII no podemos falar em didtica como teoria do ensino, que sistematize o pensamento didtico e o estudo cientfico das formas de ensinar. O sculo XVII, mais precisamente o ano de 1627, palco de uma obra de grande importncia para a histria da educao. Estamos nos referindo Didtica Magna escrita por Comnio, onde vamos encontrar indicativos do planejamento de ensino. Gomes (1957, p.33) assinala que a Didtica Magna :
sem dvida o primeiro tratado sistemtico de pedagogia, de didtica e at de sociologia escolar. Como que compendiando todo o iderio pedaggico de Comnio, foi sobretudo ela que lhe mereceu ser considerado o Bacon da pedagogia e o Galileu da educao. seu objectivo mostrar como possvel ensinar tudo a todos.
o prprio Comnio (1957, p.71) que afirma:
Se, portanto, queremos Igrejas e Estados bem ordenados e florescentes e boas administraes, primeiro que tudo ordenemos as escolas e faamo-las florescer, a fim de que sejam verdadeiras e vivas oficinas de homens e viveiros eclesisticos, polticos e econmicos. Assim facilmente atingiremos o nosso objectivo; doutro modo, nunca o atingiremos.
O estudo da obra de Comnio permite assinalar que os rudimentos do planejamento de ensino tm suas razes na histria da didtica. Esta por sua vez est umbilicalmente relacionada com o surgimento do ensino como uma ao intencionalmente organizada dedicada a instruo. Segundo Libneo (1994, p.58),
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
58
O termo Didtica aparece quando os adultos comeam a intervir na atividade de aprendizagem das crianas e jovens atravs da direo deliberada e planejada do ensino (....). Estabelecendo-se uma inteno propriamente pedaggica na atividade do ensino, a escola se torna uma instituio, o processo de ensino passa a ser sistematizado conforme nveis, tendo em vista a adequao s possibilidades das crianas, s idades e ritmos de assimilao dos estudos.
A preocupao com o didtico comea a configurar-se a partir do sculo XVII. Nesse perodo surge, entre outras, a obra de Comnio. Nela o autor defende o ponto de vista segundo o qual necessrio organizar o ensino. O prprio nome esclarecedor: Didtica Magna: tratado da arte universal de ensinar tudo a todos. Gasparin (1994), ao estudar a Didtica Magna, informa que Comnio entrou em contato, no ano de 1627, com a Didctica de Elias Bodin, publicada em Hamburgo no ano de 1621. Salienta o autor que Comnio ficou entusiasmado com aquela obra, a respeito da qual afirmou: Sua leitura me estimulou e pensei em realizar uma obra igual em nossa lngua e, a tempo oportuno, torn-la conhecida (Comnio, apud Gasparin, 1994, p.43). Segundo Gasparin (1994), o prprio Comnio reconhece, no prefcio da Didtica Magna, que no apenas a Didtica de Elias Bodin o impulsionou a escrever uma importante obra sobre a arte de ensinar. A deliberao sobre o mtodo renovado de estudos do Ratke, a aproximao com as teorias cientficas e filosficas de Bacon, Galileu, Vives, Campanella e muitos outros, contriburam para o amadurecimento de sua concepo de didtica. A Didtica Magna no dizer de Gasparin (1994, p.55 ) traz implcita a idia de que Comnio no quer apenas uma arte de ensinar, mas antes, uma grande e poderosa arte, uma arte de elevada qualidade e ao mesmo tempo universal, repetida muitas vezes, em toda a parte. Isso o que expressa o termo magna que qualifica e delimita a sua didtica. Para Gasparin (1994), Comnio serviu-se do termo magna exatamente porque no queria to s designar algo de grandes propores, mas uma arte de ensinar que, alm de uma ampla abrangncia, traduzisse a idia de fora e do poder que ela teria sobre os homens quando fosse implantada em todas as escolas de todos os reinos. A leitura da Didtica Magna refora o nosso entendimento de que nela se encontra as primeiras idias mais sistematizadas sobre a necessidade de se organizar o ensino. Nela, Comnio esclarece que o fundamento da reforma das escolas a ordem exata em tudo. Reforando seu ponto de vista, o autor assim escreve:
Se procurarmos que que conserva no seu ser o universo, juntamente com todas as coisas particulares, verificamos que no seno a ordem, a qual a disposio das coisas anteriores e posteriores, maiores e menores, semelhantes e dissemelhantes, consoante o lugar, o tempo, o nmero, as dimenses e o peso devido o conveniente a cada uma delas. Por isso, algum disse com elegncia e verdade que a ordem a alma das coisas. Com efeito, tudo aquilo que ordenado, durante todo o tempo em que conserva a ordem, conserva o
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
59
seu estado e a sua integridade; se se afasta da ordem, debilita-se, vacila, cambaleia e cai ( Comnio 1957, p.181).
No captulo 13 da Didtica Magna, Comnio enftico quando utiliza argumentos para fundamentar a sua didtica, o seu mtodo e a reforma das escolas. Ele apresenta argumentos de duas ordens. Num primeiro momento apoia-se na natureza e posteriormente na criao do homem como modelo da arte de ensinar. Para ilustrar o seu ponto de vista, o autor recorre a vrios exemplos da natureza e da arte, que, segundo a sua interpretao, so a ordem exata e a alma das coisas. Dentre os vrios exemplos apresentados por Comnio, selecionamos o que ele compara o funcionamento da escola ao de um relgio, porque na nossa compreenso o que melhor ilustra a necessidade da organizao do ensino. Para desenvolver o seu raciocnio, Comnio indaga: qual a fora oculta que anima o relgio? Responde ele: Nenhuma outra seno a fora da ordem que manifestamente reina em todas as suas partes, ou seja, a fora proveniente da disposio de todas as suas peas, que concorrem com o seu nmero, as suas dimenses e a sua ordem para tornar aquela disposio tal que cada pea tem um papel determinado e meios para desempenhar, ou seja, a proporo exata de cada pea com as outras, a harmonia de cada uma com as que lhe esto em relao e leis mtuas para comunicar reciprocamente a fora uma as outras (...). Todavia se qualquer pea se estilhaa, ou se parte, ou anda mal, ou comea a estar bamba, ou se torce, ainda que seja a rodinha mais pequena, o eixo mais pequeno, o parafuso mais pequeno, imediatamente todo o relgio para ou anda mal. Deste modo se torna evidente que tudo depende apenas da ordem (Comnio, 1957, p. 185-186). Gasparim (1994), interpretando o pensamento comeniano, expresso na citao anterior, assinala que o mesmo, embora parea estranho, na realidade no o , pois que o homem j havia produzido ou estava construindo esse modelo de organizao social como produto de sua ao sobre a matria, atendendo s suas novas necessidades histricas. Escreve, ainda, o autor (1994, p.82: Alm de expresso da organizao social do trabalho, o relgio tornase modelo para a organizao escolar, na qual tudo deve ser regulado da mesma forma pela exata repartio do tempo em meses, dias, horas, destinadas ao ensino; por uma habilidosa diviso de contedo a ser ensinado, e por um mtodo que atenda as necessidades do contedo e dos alunos..
Como vimos, Comnio sugere na Didtica Magna que a escola se organize, tomando como referncia o exemplo do funcionamento do relgio. Em nossa comCarpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
60
preenso, a defesa do autor no se direciona na perspectiva de que a escola se estruture como uma mquina, mas que ela necessita de um grau de organizao que permita um adequado funcionamento. Isso fica evidente na seguinte passagem da Didtica Magna. A arte de ensinar nada mais exige, portanto, que uma habilidosa repartio do tempo, das matrias e do mtodo. Se conseguirmos estabelecer com exatido, no ser mais difcil ensinar tudo a juventude escolar, por mais numerosa que ela seja (...) E tudo andar com no menor prontido que um relgio posto em movimento regular pelos seus pesos. (...) Procuremos, portanto em nome do altssimo, dar s escolas uma organizao tal que corresponda, em todos os pontos, de um relgio, construdo segundo as regras da arte e elegantemente ornado de cinzeladuras variadas (Comnio, 1957, p.186). Comnio (1957, p.190) em seus argumentos explicita ... evidente que a ordem que desejamos seja a regra universal perfeita na arte de tudo ensinar e de tudo aprender, no deve ser procurada e no pode ser encontrada seno na escola da natureza. Para materializar a sua tese - o mtodo universal para ensinar tudo a todos Comnio (1957) prope dividir as instituies escolares em quatro graus, levando em considerao a idade e o aproveitamento. O regao materno, escola destinada a infncia; a escola primria ou pblica de lngua verncula, para a idade da puercia; a escola de latim ou o ginsio, dirigida para a adolescncia e a academia e as viagens, direcionadas para a juventude. Nessa proposta de organizao do ensino apresentada por Comnio (1957), encontramos a origem da idia de graduao dos contedos a serem transmitidos pela escola. Ele escreve: embora estas escolas sejam diversas, no queremos, todavia, que nelas se aprendam coisas diversas, mas as mesmas coisas de maneira diversa, (...) mas segundo a idade e o grau de preparao antecedente, e conduzindo sempre mais acima (p.410,411). Comnio, alm de propor uma organizao do sistema escolar que considera a graduao do ensino, elabora um catlogo descrevendo as metas para cada grau de ensino, o que atualmente poderamos chamar de currculo. Ele delimita o plano de ensino para os vrios tipos de escolas, especificando cada matria a ser ensinada e justificando o porqu de cada uma. Sugere, ainda, material a ser utilizado e atividades a serem desenvolvidas. A discusso at agora sistematizada permite compreender que o mtodo universal, proposto por Comnio, para ensinar tudo a todos, constitui-se em indcios da utilizao do planejamento na atividade de ensino. O que surge posteriormente, consciente ou no, tem suas bases nas idias formuladas por Comnio em meados do sculo XVII. O planejamento de ensino, em funo das mudanas ocorridas atravs dos tempos e do surgimento de novos conhecimentos cientficos sobre como se processa a
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
61
aprendizagem, vem assumindo historicamente configuraes que se adaptam s novas realidades. No contexto do sculo XX, o movimento da escola nova, que tem em John Dewey um dos principais representantes, recoloca o planejamento como uma questo central. Teixeira (1967, p.22), reportando-se a essa questo, assinala :
Sendo a educao o resultado de uma interao, atravs da experincia, do organismo com o meio ambiente, a direo da atividade educativa intrnseca ao prprio processo da atividade. No pode haver atividade educativa, isto , um reorganizar consciente da experincia, sem direo, sem governo, sem controle. Do contrrio, a atividade no ser educativa, mas caprichosa e automtica .
Tambm Saviani (1983) destaca que a escola nova desloca o eixo da questo pedaggica dos contedos cognitivos para os mtodos ou processos pedaggicos (grifos nossos). Trata-se de uma teoria pedaggica que, de acordo com Saviani (1983a, p.13), considera que o importante no aprender, mas aprender a aprender . luz das idias da escola nova possvel apreender que o planejamento passa a ter um papel importante na perspectiva de organizar a escola e o fazer pedaggico numa nova perspectiva: educao vida e viver desenvolver-se, crescer. O posicionamento de Teixeira (1967) elucidativo da importncia que assume o planejamento no interior da concepo deweyana. Na sua crena o processo educativo o processo de contnua reorganizao, reconstruo e transformao da vida (Teixeira, 1967, p.31). Uma interlocuo com o prprio Dewey sobre esse aspecto particular significativa. Na sua linha de argumentao, o autor (1967, p.61) destaca que o valor dos conhecimentos sistematizados num plano de estudos est na possibilidade que d ao educador, de determinar o ambiente, o meio necessrio criana, e, assim, dirigir indiretamente a sua atividade mental. Para o autor, a sociedade, ao tornarse mais complexa, cumpre proporcionar um ambiente social especial que se dedique especialmente a desenvolver as aptides dos imaturos. Esse ambiente seria a escola. Dewey (1979, p.24) prope as seguintes funes deste meio social: simplificar e coordenar os fatores da mentalidade que se pretende desenvolver; purificar e idealizar os costumes sociais existentes; criar um meio mais vasto e melhor equilibrado do que aquele pelo qual os imaturos, abandonados a si mesmos, seriam provavelmente influenciados. Cabe assinalar que o movimento da escola nova influenciou o pensamento pedaggico na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. Na dcada de 30, no Brasil, surge um movimento de um grupo de educadores que busca no iderio da escola nova os fundamentos para a defesa de suas concepes educacionais. Esse grupo de educadores1 lana em 1932 um documento intitulado O Manifesto dos Pioneiros da Educao Nova que objetivava construir as bases de uma nova educao para o pas.
1 Dentre os principais educadores podemos citar: Fernando de Azevedo, Ansio Teixeira, Loureno Filho, Paschoal Lemme, Ceclia Meirelles, Afrnio Peixoto, Roquette Pinto.
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
62
No referido manifesto encontramos indicaes claras da necessidade de organizao tanto do sistema de ensino quanto da atividade pedaggica. Os autores do manifesto assinalam que a falta de organizao do aparelho escolar est relacionada a ausncia, em quase todos os planos e iniciativas educacionais, da determinao dos fins da educao (aspecto filosfico e social) e da aplicao (aspecto tcnico) dos mtodos cientficos aos problemas da educao. Nas palavras dos autores, o problema reside na falta de esprito filosfico e cientfico, na resoluo dos problemas da administrao escolar (Manifesto dos Pioneiros da Educao Nova, 1984, p. 407). O Manifesto dos Pioneiros assinala que o educador deve trabalhar cientificamente, devendo estar interessado tanto na determinao dos fins da educao quanto nos meios de realiz-los. Continua ainda o manifesto:
Se o educador tem um esprito cientfico empregar os mtodos comuns a todo o gnero de investigao cientfica, podendo recorrer tcnica mais ou menos elaborada e dominar situao, realizando experincias e medindo os resultados de toda e qualquer modificao nos processos e nas tcnicas, que se desenvolveram sob o impulso dos trabalhos cientficos na administrao dos servios escolares (Manifesto dos pioneiros da educao nova, 1984, p.408).
Tomando como suporte as idias de Saviani (1983 b), pode-se dizer que a partir do final da dcada de 20 e, especialmente, a partir de 1930, o entusiasmo pela educao cede lugar ao otimismo pedaggico que, com o advento do escolanovismo ir deslocar as preocupaes educacionais do mbito poltico para o mbito tcnico-pedaggico. Nesse contexto, o planejamento incorporado como uma estratgia importante para a organizao do ensino. Entretanto, preciso assinalar que a adoo do planejamento de ensino, de forma mais abrangente e organizada no sistema educacional brasileiro, fruto da conjuntura que se configurou a partir do movimento de 1964. Coerente com a perspectiva do planejamento global e do planejamento educacional, o planejamento de ensino apresenta-se como uma forma racional e neutra para resolver os problemas no interior da escola. Em nvel legal, a Lei 5540/68 que reformulou o ensino superior e a Lei 5692/71 que reorganizou o ensino de 1 e 2 graus, estabelecem uma nova orientao para o planejamento de ensino. Esta ltima, prev a criao do servio de Superviso Escolar a quem competeria assessorar os professores na tarefa de planejar o ensino em nvel da instituio escolar, bem como exercer o controle do trabalho do professor dentro de uma perspectiva tecnicista. Essa tendncia perdurou por toda a dcada de 60 e 70, tendo sido redimensionada, pelo menos em nvel de discurso, a partir da dcada de 80.
3 ELEMENTOS PARA COMPREENSO DA TRAJETRIA DO PLANE-
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
63
JAMENTO DE ENSINO NO BRASIL No Brasil, o planejamento de ensino, de acordo com o contexto scio-poltico, assume concepes diversas do ato de planejar. Ott (1984) aponta trs fases do planejamento de ensino: fase do princpio prtico; fase instrumental e fase do planejamento participativo. Vasconcellos (1995), retomando a classificao apresentada por Ott, faz uma breve anlise da histria do planejamento situando-o no contexto das tendncias educacionais. A fase do princpio prtico, segundo o autor, est relacionada tendncia tradicional da educao. Essa tendncia caracterizada como aquela que tem uma viso essencialista do homem. Nela, o homem concebido como constitudo por uma essncia universal e imutvel. educao cumpre moldar a existncia particular e real de cada educando essncia universal e ideal que o define enquanto ser humano. No mbito da tendncia tradicional, os mtodos de ensino baseiam-se na exposio verbal da matria ou na sua demonstrao. Na relao professor aluno, predomina a autoridade do professor que exige atitude receptiva dos alunos e impede qualquer comunicao entre eles no decorrer da aula. Os contedos so os conhecimentos e valores sociais acumulados pelas geraes adultas e repassados ao aluno como verdades (Libneo, 1989). Nessa perspectiva educacional o planejamento de ensino seria feito pelo professor sem grande preocupao formal, tendo essencialmente como referncia a tarefa a ser desenvolvida em sala de aula. Segundo Vasconcellos (1995) os planos eram apontamentos feitos em folhas, fichas, cadernos (tipo semanrio at hoje utilizado por professores de primeira a quarta srie), a partir das leituras preparatrias para as aulas. Esse plano era retomado cada vez que o professor ia dar a aula novamente, servindo por anos e anos. Conclui o autor:
O planejamento pedaggico do professor, no sentido tradicional, a rigor no era bem planejamento; era muito mais o estabelecimento de um roteiro que se aplicaria a qualquer realidade. No entanto, observava-se que o plano realmente orientava o trabalho do professor, e tinha de fato uma funo, ou seja, havia uma estreita relao entre planejar e acontecer(1995,p.16).
Ao tratar dessa problemtica, Fusari (l984), esclarece que na escola tradicional, os professores davam aulas e passavam o contedo das disciplinas a partir do plano de aula que faziam. Esses planos resumiam-se em fichas, semanrio, dirio de classe, cadernos e apontamentos pessoais. O professor estudava, consultava seus alfarrbios e livros, fazia seus apontamentos e, na maioria dos casos, sabia como iniciar, continuar e terminar a aula. Continua Fusari (1984, p.16),
O planejamento, neste caso, resumia-se do preparo da aula a partir do
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
64
contedo que o professor queria transmitir. Os professores primrios, que ensinam todas as matrias, planejam o seu trabalho utilizando o dirio de classe onde registravam, com antecedncia, as aulas da semana. Na maioria dos casos, aquilo que era planejado pelo professor, de fato, era reproduzido na sala de aula..
A segunda fase do planejamento - fase instrumental - teve incio no final da dcada de sessenta e est relacionada tendncia tecnicista da educao. Essa tendncia se caracteriza pela neutralidade cientfica, buscando inspirao nos princpios da racionalidade, eficincia e produtividade. Advoga a reorganizao do processo educativo de maneira a torn-lo produtivo e operacional, cabendo escola moldar o comportamento humano, atravs de tcnicas especficas (Saviani, 1993). No mbito da concepo tecnicista da educao, a matria de ensino se reduz ao conhecimento observvel e mensurvel. Os contedos resultam da cincia objetiva, procurando eliminar qualquer sinal de subjetividade. Os mtodos de ensino consistem em procedimentos e tcnicas para a organizao e o controle das condies ambientais que garantam a transmisso e a recepo de informaes. O relacionamento professor aluno estruturado e objetivo, com papis bem definidos o professor administra as condies de transmisso da matria, conforme um sistema instrucional eficiente e efetivo em termos do resultado da aprendizagem; o aluno recebe, aprende e fixa as informaes (Libneo, 1989, p.30). No final da dcada de 60 e incio da dcada de 70, o planejamento tecnicista indicado pelas esferas governamentais como a soluo para os problemas de falta de produtividade da educao escolar. Com o advento da Lei 5692/71, assiste-se, pela primeira vez na histria da educao brasileira, o Estado indicando o planejamento de ensino como estratgia a ser incorporada por todas as escolas do sistema educacional. No dizer de Saviani (1983b, p.38) a partir da, os meios educacionais so inovados por correntes ou propostas pedaggicas tais como o enfoque sistmico, operacionalizao de objetivos, tecnologias de ensino, instruo programada, mquinas de ensinar, educao via satlite, tele-ensino, microensino, etc. H na perspectiva de Vasconcellos (1995) uma generalizao do planejamento, sem contudo, questionar os fatores scio-polticos-econmicos do contexto. Acrescenta o autor que, em decorrncia das influncias das teorias comportamentalistas, dava-se muita nfase ao aspecto formal do planejamento, propondo a especificao de todos os comportamentos verificveis, chegando mesmo a afirmar-se que s se poderia estabelecer objetivos que pudessem ser medidos. Essa exigncia tcnica para elaborar o planejamento, justificou, segundo Vasconcellos, ideologicamente sua centralizao nas mos de especialistas do Estado ou das escolas, fazendo parte da expropriao do que fazer do educador e do esvaziamento da educao como fora de conscientizao, levando a um crescente processo de alienao e controle exterior da educao. A anlise desse mesmo autor sugere que, nesse momento, o saber do professor foi sendo desvalorizado, levando a uma perda de confiana naquilo que fazia. Paralelamente criou-se um mito em torno do planejamento, como se fazer um bom plano
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
65
garantisse automaticamente uma boa prtica pedaggica. Em outras palavras, ensina bem o professor que planeja bem o seu trabalho, entendendo-se este planejar como sendo a elaborao do documento denominado plano. Isso chegou a tal ponto que alguns professores ou tcnicos se dedicavam a elaborar bons planos e se sentiam realizados com isto, desvinculando-se da prtica efetiva do planejamento. Podemos dizer que, nesse momento, planejar passou a significar preencher formulrios com objetivos educacionais gerais, objetivos instrucionais operacionalizados, contedos programticos, estratgias de ensino, avaliao de acordo com os objetivos, etc. Por volta de 1968 e 1970, alguns educadores, tcnicos que trabalhavam a nvel do sistema educacional (Ministrio, Secretaria de Educao, Universidade), tiveram acesso a uma tecnologia educacional importada relacionada ao planejamento educacional que trazia implcita a idia da produtividade, da eficincia e da eficcia do ensino. Em vista que o ensino brasileiro, como assinala o autor, por um conjunto de razes (intra e extraescolares), no caminhava bem, as tcnicas de planejamento caram como uma luva para superar a falta de produtividade do ensino. Na ausncia de uma anlise mais aprofundada dos problemas da educao e de suas relaes com o contexto scioeconmico poltico vigente, esta engenharia de planejamento, absorvida a-criticamente pelos educadores brasileiros, acabava por ser implantada de norte a sul do pas (Fusari, 1984, p.34). Isso significa dizer - e aqui uma vez mais Fusari (1984) tomado como referncia - que naquele momento, os professores aderiram a tecnologia do planejamento sem saber quase nada das causas e conseqncias desta adeso. Acabaram reduzindo o planejamento redao de planos a partir da orientao mecanicista e lgica. Nela, os professores deveriam fazer um diagnstico dos seus alunos, definir claramente seus objetivos de trabalho, selecionar contedos a partir dos objetivos, selecionar estratgias de ensino a partir dos objetivos e contedos e selecionar estratgias de avaliao a partir dos objetivos educacionais. Esta foi, para o autor, uma nova fase da histria do planejamento educacional nas escolas brasileiras: o que ocorria na sala de aula no batia com aquilo que estava escrito no plano. Na prtica, o professor oscilava entre dar contedos e utilizar metodologias ativas de ensino. Em geral, o aluno ficava privado do contedo, sem o desenvolvimento das habilidades psico-motoras, sem percepo crtica da realidade, enfim, sem aprender aquilo que os planos registravam (Fusari, 1984. p.34). A terceira fase - fase do planejamento participativo ganha destaque no cenrio brasileiro no contexto de esgotamento do regime civil-militar. Em decorrncia da crise econmica, principal suporte do regime, associada luta poltica pela democratizao em curso no pas e crise de governabilidade o planejamento governamental afasta-se da concepo tecnocrtica que predominara durante os primeiros governos daquele regime. Nesse momento de crise, o planejamento assume uma nova configurao. Os governantes passam a acenar com a possibilidade da populao participar na concepo e na execuo das polticas. A propsito, escreve Cabral Neto (1997, p. 65),
a crise do regime ditatorial resultou, tambm, no enfraquecimento das forCarpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
66
mas autoritrias que haviam predominado no relacionamento do Estado com a sociedade civil. Nessa nova conjuntura, o planejamento autoritrio e centralizado, que tinha sido a marca registrada dos anos mais duros do regime civil-militar, deveria ser substitudo por uma interveno participativa. O planejamento colocava-se, agora, como promotor da justia social com participao dos clientes: bem estar com cidadania.
A anlise de Germano (1993, p. 223) sugere que o II e o III Planos Nacionais de Desenvolvimento, em funo da crise de legitimidade enfrentada pelos dois ltimos governos militares, incorporam s sua metas amplos apelos redistributivistas e participacionistas. Seguindo essa mesma trilha, Cabral Neto (1997) indica que foi no contexto da crise dos governos militares que a questo da participao assumiu um lugar de destaque no panorama poltico nacional. Segundo esse autor, a derrocada do crescimento econmico, principal suporte do regime, associada luta poltica - em gestao no pas pela sua democratizao - e s presses externas, imps ao governo a necessidade de reavaliar a sua relao com a sociedade, com vistas a rearticular formas que gerassem as condies mnimas de governabilidade, sem, contudo, perder o controle da nascente abertura poltica do pas. A anlise de Cabral Neto (1997) sugere ainda que o discurso da participao foi incorporado aos documentos oficiais do governo do Presidente Ernesto Geisel, (1974-1979), e ampliado no governo do Presidente Joo Batista Figueiredo, (19801985), tendo como eixo central a busca da legitimidade em processo crescente de esgotamento. Assim, o discurso da participao, presente tanto nos planos gerais do governo quanto nos programas educacionais, resultante de uma nova conjuntura que comeou a se delinear no final da dcada de 70. A Nova Repblica ao se instalar em 1985, assume, em nvel do discurso, o compromisso de mudar a realidade social do pas que era considerada catica. Nesse sentido, o Primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento da Nova Repblica (I PNDNR), para o perodo 1986-1989, privilegia uma poltica de crescimento econmico e de combate a pobreza. O planejamento a partir desse momento passa a defender o desenvolvimento econmico com justia social e a participao como elemento fomentador da cidadania. Nesse momento, o discurso da participao se intensifica ainda mais nos planos governamentais, os quais acenam com a possibilidade de promover amplas reformas em todas as reas, com destaque para as polticas sociais. O foco central das reformas situava-se em torno da necessidade de criar as condies para que toda a populao pudesse participar da tarefa de democratizar as aes governamentais (Cabral, 1997). Em sntese, pode-se dizer que a democratizao dos mecanismos de relao entre o Estado e a sociedade atravs do planejamento participativo, amplamente prometida pela Nova Repblica, apesar de alguns avanos, no significou a sua implementao na prtica. Lessa (1989) assinala que a complexa relao entre o Estado e a sociedade civil no Brasil expressa um certo grau de centralizao das decises no poder executivo e est
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
67
ligada origem da transio brasileira, onde a ordem autoritria foi coparticipadora do regime que lhe sucedeu. Assinala o autor que a precria democracia brasileira, ps1985, foi antecipada por uma ditadura cuja agenda e legado incluram nos ltimos anos, um conjunto de reformas liberalizantes (Lessa, 1989, p.91). Entretanto, preciso evidenciar que, como j foi referido, o discurso da participao ganha um grande destaque nos planos e programas governamentais da Nova Repblica. Isso no significou, contudo, que o discurso do planejamento participativo tenha consubstanciado-se em prticas reais. Cabe assinalar, ainda, que essa tendncia do planejamento participativo que comeou a configurar-se no final da dcada de 70, evoluindo por toda a dcada de 80, ganhou espao privilegiado na dcada de 90. Nessa ltima dcada, no setor educacional, por exemplo, os planos elaborados centram-se medularmente na idia de planejamento participativo. O Plano Decenal de Educao para Todos, elaborado pelo Ministrio da Educao e do Desporto para a dcada de 90 expresso desse entendimento. Seguindo essa lgica geral, o planejamento no mbito escolar incorpora, pelo menos em nvel do discurso, caractersticas participacionistas. Segundo Vasconcellos (1995), o planejamento participativo fruto da resistncia e da percepo de educadores que ao mesmo tempo que faziam a crtica ao planejamento tecnocrtico, foram buscando formas alternativas de fazer a educao e, portanto, de planej-la. Agora, nas palavras de Vasconcellos (1995, p.18), o saber deixa de ser considerado como propriedade do especialista , passando-se a valorizar a participao, o dilogo, o poder coletivo local, a formao da conscincia crtica a partir da reflexo sobre a prtica transformadora (1995, p.18). Vasconcellos (1995) relaciona as duas primeiras fases do planejamento de ensino (princpio prtico e instrumental) com as tendncias tradicional e tecnicista. Todavia, no que concerne a terceira fase, o autor no estabeleceu relao com nenhuma tendncia pedaggica. Na nossa compreenso, possvel indicar que a idia de planejamento participativo est de certa forma relacionada s tendncias histrico-crtica defendida por Saviani (1991) e crtico-social dos contedos defendida por Libneo (1989). Os defensores dessas concepes de educao, ao mesmo tempo que criticam as teorias crticas-reprodutivistas, enxergam as possibilidades de um trabalho pedaggico centrado na melhoria da qualidade da escola pblica enquanto instncia de difuso do conhecimento. Saviani assinala que a pedagogia histrico-crtica centra-se na defesa da especificidade da escola. A escola tem uma funo especfica, educativa, propriamente pedaggica, ligada questo do conhecimento; preciso, pois, resgatar a importncia da escola e reorganizar o trabalho educativo, levando em conta o saber sistematizado, a partir do qual se define a especificidade escolar ( Saviani, 1991, p.101). Libneo, pontilhando a mesma trajetria percorrida por Saviani, defende que h de se privilegiar a aquisio do saber vinculado s realidades sociais. Nessa perspectiva preciso que os mtodos de ensino favoream a correspondncia dos contedos com os interesses dos alunos, e que estes possam reconhecer nos contedos o auxlio ao
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
68
seu esforo de compreenso de realidade prtica e social (1989, p.40). Os mtodos na pedagogia crtico-social dos contedos no partem de um saber artificial depositado a partir de fora, nem do saber espontneo, mas de uma relao direta com a experincia do aluno, confrontada com o saber trazido de fora. Assim, o conhecimento resulta da troca que se estabelece entre o meio e o sujeito, sendo o professor o mediador. Ento, a relao pedaggica consiste no provimento das condies em que professores e alunos possam colaborar para progredir essas trocas. O papel do adulto insubstituvel, mas acentua-se tambm a participao do aluno no processo (Libneo, 1989, p.41). (Grifos nossos). Trata-se, pois, de encarar grupo-classe como uma coletividade onde so trabalhados modelos de interao com a ajuda mtua, o respeito aos outros, os esforos coletivos, a autonomia nas decises, a riqueza da vida em comum, e ir ampliando progressivamente essa noo (de coletividade) para a escola, a cidade, a sociedade toda (Libneo, 1989, p.44). (grifos nossos). Essa breve retrospectiva refora a nossa posio que, por volta dos anos 80, o planejamento de ensino assume uma nova configurao. Verifica-se o afastamento da perspectiva tecnicista do planejamento e uma busca de construo de novos caminhos para pensar e organizar o ensino: o planejamento participativo. Atualmente a discusso sobre planejamento de ensino est associada idia de participao. A proposta contida nos documentos sugere que os atores educacionais e a comunidade devem participar das decises e aes empreendidas pelo sistema educacional e, mais especificamente, pela unidade escolar. Essa , tambm, uma tendncia que encontra cada vez mais respaldo entre os profissionais da educao e especialistas que discutem a questo especfica do planejamento. Para Vianna (1986), o homem, como ser social, encontra sua realizao no convvio com seus semelhantes, necessitando de trabalho participativo e comunitrio que possibilite troca de vivncias, maior aperfeioamento e satisfao pessoal. Em decorrncia desse entendimento, a autora prope uma nova forma de ao, cuja fora reside na participao de muitas pessoas politicamente agindo em funo de necessidades, interesses e objetivos comuns. Nessa perspectiva, o planejamento deve ser flexvel, adaptado a cada situao especfica, envolvendo decises coletivas e se constituindo num processo poltico vinculado deciso da maioria. O Planejamento Participativo se constitui num propsito coletivo, numa deliberada e amplamente discutida construo do futuro da comunidade, na qual participe o maior nmero possvel de membros de todas as categorias que a constituem (Cornely, 1977 apud Vianna, 1986). Essa mesma perspectiva de planejamento defendida por Vasconcellos (1995, p.51):
O fato de buscar o planejamento participativo tem a ver com opes de ordem tica e pragmtica: A participao um valor, uma necessidade humana ( o homem se torna homem pela sua insero ativa no mundo da cultura, das relaes etc.). uma questo de respeito pelo outro, de reconhecimento
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
69
de sua condio de cidado, de sujeito do sentir, pensar, fazer, poder. Mas alm disto, a participao no processo de planejamento tem a ver com uma questo muito prtica: o desejo de que as coisas planejadas realmente aconteam (p.51). (Grifos do autor).
Para esse autor, a atividade educacional complexa e envolve um rol de determinantes. E a participao favorece a que um conjunto de fatores determinantes se articulem em torno de uma mesma direo, o que aumenta a probabilidade de que as coisas venham a se concretizar. A participao tambm um elemento estratgico, uma forma de diminuir - pela negociao, pela busca de consenso ou de hegemonia - as resistncias dos prprios agentes internos a instituio. necessrio se fazer um planejamento participativo uma vez que dessa forma o sujeito da reflexo tambm o sujeito da deciso, da ao e do usufruto; h motivao, pelo fato de se estar entendendo s necessidades do sujeito; possibilitase o crescimento dialtico da autonomia e da solidariedade; o que se privilegia o processo e no s o plano escrito. Dessa forma a participao deve se dar em todas as instncias: discusso, deciso, colocao em prtica, avaliao e frutos do trabalho (Vasconcellos, 1995). Nessa perspectiva a ao de planejar no se reduz ao simples preenchimento de formulrios para controle administrativo; , antes, a atividade consciente de previso das aes docentes, fundamentadas em opes poltico-pedaggicas, tendo como referncia permanente as situaes didticas concretas, isto , a problemtica social , econmica, poltica e cultural que envolve a escola, os professores, os alunos, os pais, a comunidade, os quais interagem no processo de ensino ( Libneo, 1994). O objetivo principal do planejamento de ensino em uma dimenso participativa , segundo Vasconcellos (1995), possibilitar um trabalho mais significativo, transformador e mais realizador na sala de aula, na escola e na sociedade. Nesse contexto, o planejamento de ensino deve resultar do processo de reflexo e deciso que envolva os vrios atores comprometidos com o ensino-aprendizagem. O planejamento de ensino no deve ser feito por uma exigncia burocrtica. Ao contrrio, deve resultar de um trabalho sistemtico do professor, o qual deve estar associado a um projeto poltico-pedaggico que expresse o seu compromisso com a clientela que freqenta a escola pblica. Nesse sentido, Libneo (1994, p.222) assinala: A escola, os professores e os alunos so integrantes da dinmica das relaes sociais; tudo que acontece no meio escolar est atravessado por influncias econmicas, polticas e culturais que caracterizam a sociedade de classe. Isto significa que os elementos integrantes do planejamento escolar - objetivos, contedos, mtodos e avaliao -, esto recheados de implicaes sociais e tm um significado genuinamente poltico. Por essa razo, o planejamento participativo uma atividade de reflexo acerca das nossas opes e aes. Segundo o autor se no pensarmos detidamente sobre o rumo que queremos dar ao nosso trabalho, ficaremos entregues aos rumos estabelecidos pelos interesses dominantes da sociedade. Em sntese, nessa abordagem o planejamento considerado como um processo
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
70
que envolve uma reflexo crtica e participativa sobre a previso das principais decises que vo nortear o fazer pedaggico dos professores e a aprendizagem dos alunos. 4 REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS BRASIL. Presidncia da Repblica. Plano Nacional de Desenvolvimento da Nova Repblica, 1, 1986/1985. Braslia, 1986. BRASIL. Ministrio da Educao e do Desporto. Plano Setorial de Ao na rea Educacional 91/95. Braslia, 1991. BRASIL. Ministrio da Educao e do Desporto. Plano Decenal de Educao para Todos 1993-2003. Braslia, 1994. CABRAL NETO, Antnio. Poltica educacional no Projeto Nordeste: discursos, embates e prticas. Natal: EDURN, 1997. ______. Ampliao das oportunidades educacionais: raridade ou direito negado? Cadernos de Pesquisa, So Paulo: Fundao Carlos Chagas/Cortez, n. 99, p. 3646, nov. 1996. CALAZANS, Maria Julieta da Costa. Planejamento da educao no Brasil; novas estratgias em busca de novas concepes. In: KUENZER, Accia et al. Planejamento e educao no Brasil. So Paulo: Cortez, 1990, p.11-34. CARVALHO, Horcio Martins de. Introduo teoria do planejamento. So Paulo: Brasiliense, 1976. COMNIO, Joo Ams. Didctica magna; tratado universal de ensinar tudo a todos. Traduo e notas de Joaquim Ferreira Gomes. 3. d. Lisboa: Fundao Calouste Gulbenkian, 1957. CUNHA, Luiz Antnio. Educao, Estado e democracia no Brasil hoje. So Paulo: Cortez, 1991. DEWEY, John. Vida e educao. 6. ed. Traduo de Ansio Teixeira. So Paulo: Melhoramentos, 1967. ______. Democracia e educao: introduo filosofia da educao. Traduo de Godofredo Rangel e Ansio Teixeira. 4. ed. So Paulo: Companhia Editora Nacional, 1979. FERREIRA, Francisco Whitaker. Planejamento sim ou no. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981. FREITAG, Brbara. Escola, Estado e Sociedade. 4. ed. So Paulo: Moraes, 1980. FUSARI, Jos Cerchi. O planejamento educacional e a prtica dos educadores. Revista ANDE, So Paulo, n.8, p. 33-40, 1984. GASPARIN, Joo Luiz. Comnio ou da arte de ensinar tudo a todos. Campinas: Papirus, 1994. (Coleo Magistrio. Srie Formao e Trabalho Pedaggico). GERMANO, Jos Willington. Estado militar e educao no Brasil 1964-1985.
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
71
So Paulo: Cortez, 1993. GOMES, Joaquim Ferreira. Introduo. In: COMNIO, Joo Ams. Didctica magna: tratado universal de ensinar tudo a todos. 3. ed. Lisboa, Fundao Calouste Gulbenkian, 1957. p. 5-41. HOFFMANN, Jussara Maria Lerch. Avaliao Mediadora: uma prtica em construo da pr-escola universidade. Porto Alegre: Educao e Realidade, 1995. HORTA, Jos Silvrio Bahia. Planejamento educacional. In: MENDES, Durmeval Trigueiro (Org.). Filopsofia da educao brasileira. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 1983. p.195-239. IANNI, Octvio. Estado e planejamento econmico no Brasil. Rio de Janeiro: Brasiliense, 1986. LESSA, Renato. Reflexes sobre a gnese de uma democracia banal. In: DINIZ, Eli, BOSCHI, Renato, LESSA, Renato. Modernizao e consolidao democrtica no Brasil: dilemas da Nova Repblica. So Paulo: Vrtice/IUPERJ, 1989, p.77182. LIBNEO, Jos Carlos. A prtica pedaggica de professores da escola pblica. Dissertao (Mestrado em Educao) Faculdade de Educao, Pontifcia Universidade Catlica de So Paulo, 1984. ______. Democratizao da escola pblica: a pedagogia crtico social dos contedos. 8. ed. So Paulo: Loyola,1989. ______. Didtica. So Paulo: Cortez, 1994. (Coleo Magistrio do 2 Grau. Srie Formao do Professor). LUKESI, Cipriano Carlos. Filosofia da educao. So Paulo: Cortez, 1994. (Coleo Magistrio do 2 Grau. Srie Formao do Professor). ______. Avaliao da aprendizagem escolar. So Paulo: Cortez, 1995. MACHADO, Nlson Jos. Epistemologia e Didtica: as concepes de conhecimento e inteligncia e a prtica docente. So Paulo: Cortz, 1995. O MANIFESTO dos pioneiros da educao nova. Revista Brasileira de Estudos Pedaggicos, Braslia, v. 65, n. 150, p.407-425, mai./ago. 1984. MELLO, Guiomar Namo de. Magistrio de 1 grau: da competncia tcnica ao compromisso poltico. So Paulo: Cortez, 1982. (Coleo Educao Contempornea). NIDELCOFF, Maria Teresa. Uma escola para o povo. Trad. Joo Silvrio Trevisan. 10. ed. So Paulo: Brasiliense, 1981. OTT, Margot. Planejamento de aula: do circunstancial ao participativo. Revista de Educao da AEC, Braslia, n. 54, jan. 1984. PAULO, Iliana. A dimenso tcnica da prtica docente. In: CANDAU, Vera Maria
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
72
(Org.). Rumo a uma nova didtica. Petrpolis: Vozes, 1990. p.81-96. PONCE, Anbal. Educao e luta de classes. Trad. Jos Severo de Camargo Pereira. 2. ed. So Paulo: Cortez, 1981. SAVIANI, Dermeval. Escola e democracia: teorias da educao, curvatura da vara, onze teses sobre educao poltica. So Paulo: Cortez, 1983a. ______. Tendncias e correntes da educao brasileira. In: MENDES. Durmeval Trigueiro. (Org.). Filosofia da educao brasileira. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 1983b. p.19-47. ______. A filosofia da educao brasileira e sua veiculao pela Revista Brasileira de Estudos Pedaggicos. Revista Brasileira de Estudos Pedaggicos, Braslia, v. 65, n. 150, p.273-290, mai./ago. 1984. ______. Pedagogia histrico-crtica: primeiras aproximaes. 2.ed. So Paulo: Cortez, 1991. SNYDERS, Georges. Pedagogia progressista. Coimbra: Almedina, 1974. ______. Para onde vo as pedagogias no-diretivas. Trad. Ruth Delgado. 2. ed. Lisboa: Moraes, 1978. ______. Alegria na escola. Trad. Bertha H. Guzovitz e Maria C. Caponero. So Paulo: Manole, 1988. ______. Escola e democratizao do ensino. Educao em Questo, Natal, v. 3, n. 2. p. 86-103, jul./dez. 1989. ______. Entrevista. Revista da Faculdade de Educao da USP, So Paulo, v. 21, n. 2, p. 139-147, jul./dez.1995. TEIXEIRA, Ansio. A pedagogia de Dewey; esboo da teoria de educao de John Dewey. In: DEWEY, John. Educao e vida. So Paulo: Melhoramentos, 1967. p.13-41. TURRA, Cldia Maria Godoy. Planejamento de ensino e avaliao. 11. ed. Porto Alegre: Sagra, 1995. VASCONCELLOS, Celso dos Santos. Planejamento: plano de ensino-aprendizagem e projeto educativo. So Paulo: Libertad, 1995. (Cadernos Pedaggicos do Libertad, v.1). VIANNA, Ilca Oliveira de Almeida. Planejamento participativo na escola. So Paulo: EPU, 1986.
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
73
NAS ONDAS CATIVAS DO RDIO: AS ESCOLAS RADIOFNICAS DA ARQUIDIOCESE DE NATAL (1957-1960)
Rossana Kess Brito de Souza Pinheiro1 RESUMO: Este trabalho discorre acerca das escolas radiofnicas da Igreja Catlica de Natal no perodo compreendido entre 1957 e 1960, tentando perceber como a Igreja Catlica contribuiu para a poltica desenvolvimentista mundial, evidenciando os aspectos pedaggicos e doutrinais. Inicialmente foram selecionados os documentos da Arquidiocese de Natal (convnios, fotos, correspondncias e roteiros de aulas do SAR) para serem analisados. Estes foram organizados por perodos, selecionados e catalogados de acordo com o interesse da pesquisa. Alguns jornais da poca que circulavam em nosso Estado foram utilizados, particularmente A Repblica, encontrado no Instituto Histrico e Geogrfico e A Ordem, publicao da Arquidiocese. Posteriormente passamos a analisar os documentos luz da nova histria cultural, tentando perceber o no-dito existente nos documentos trabalhados. Finalmente, passamos a registrar na linguagem escrita nossas impresses, constataes e anlises que culminaram em um ensaio monogrfico acerca do presente tema. As Escolas Radiofnicas configuraram-se como novos meios de difundir os ideais da instituio catlica, ao mesmo tempo em que visavam integrar o homem do campo no desenvolvimento nacional. PALAVRAS-CHAVE: educao; histria; igreja; catolicismo; radiofnica. ON THE CAPTIVE WAVES OF THE RADIO: THE RADIO SCHOOLS OF NATALS ARCHDIOCESE (1957-1960). ABSTRACT: This work is about radio schools of the Catholic Church in Natal in the period among 1957 and 1960. It tries to perceive the way the Catholic church contributed to a world policy of development, making evident the pedagogical and doctrinal aspects. At first, documents of the Archdiocese of Natal were selected (accords, photos, letters and plans of classes of the SAR) in order to be analized. They were organized in periods, selected and catalogued according to the interest of the research. Some newspapers of that time which circulated in our State were used, especially A Repblica (The Replubic), found at Instituto Histrico e Geogrfico (Geographic and Historical Institute) and A Ordem (The Order), a publication of the Archdiocese. Later, we analized the documments through the light of the new cultural history, trying to perceive the unsaid in the documents analized. Finally, we started to write down our impressions, results and analisys which culminate in an essay about this present theme. The Radio Schools configurate themselves as new ways to spread ideals of the Catholic institution, at the same time that aimed to integrate the agricultural man in the national development. KEY-WORDS: education, history, church, Catholicism, radio station.
1 Pedagoga. Professora do Ensino Fundamental. Pesquisadora no Ncleo de Estudos Estado Poltica e Educao da UFRN, integrando a base Educao, Histria e Prticas Culturais.
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
74
O vento o mesmo; mas sua resposta diferente em cada folha. (Ceclia Meireles) Esta investigao prope, um resgate da historiografia educacional norteriograndense, contribuindo para a insero de importantes eventos educacionais do Estado na historiografia oficial brasileira, bem como a incitar outros pesquisadores a construrem a histria daqueles que, por muito tempo, estiveram condicionados e encerrados nos arquivos e memrias dos antigos. Em 21 de maro de 1961, a partir das atividades de educao pelo rdio promovida pelo episcopado nas arquidioceses de Natal e Aracaju, criado o Movimento de Educao de Base (MEB), atravs do qual o Governo Federal comprometia-se a fornecer recursos por meio de convnios com rgos da administrao federal e da Conferncia Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), utilizando a rede de emissoras catlicas com o intuito de atender s regies Norte, Centro-Oeste e Nordeste do pas, no que diz respeito alfabetizao de adultos. Esta histria, no entanto tem seu incio algumas dcadas anteriores. Em 1935, a Ao Catlica Brasileira (ACB) implantada pelo Cardeal Leme, em sintonia com a idealizao do papa Pio XI que pretendia com a Ao Catlica dinamizar as atividades no meio social. As idias do Papa fundavam-se em uma necessidade de o verbo se fazer carne, no bastava cuidar do esprito era necessrio atender s exigncias do corpo. A Igreja Catlica dava-se conta de que seus fiis eram de carne e osso e, portanto, precisavam comer, vestir e morar.2 Alm disso, a carncia de padres fazia a Igreja Catlica repensar sua poltica vocacional, tanto do ponto de vista de recrutamento de novos seminaristas como acerca da formao deles, pois tambm carecia de intelectuais em seu interior. O Brasil estava, neste perodo, tomado por uma variedade de idias e movimentos que se interpenetravam dialeticamente como: o conservadorismo da Igreja Catlica, o liberalismo apregoado mundialmente, o crescimento gradual de religies protestantes3 no pas e o iderio comunista que comeava a se espalhar depois da criao do Partido Comunista (PC) em 1922. A Igreja Catlica do Brasil consegue em meio a esta turbulncia catalisar os esforos sociais em um complexo de movimentos convergentes no qual enquadra o seu esforo de renovao que se propagou pela Arquidiocese de Natal sendo esta uma das primeiras Dioceses a implementar o projeto de interveno social no Brasil, conhecido internacionalmente como Movimento de Natal. O Movimento de Natal foi fruto do assistencialismo tradicional, se propondo a melhorar o mundo social de que era parte uma viso cada vez mais ampla e integrada dos problemas sociais e do processo de desenvolvimento scio-econmico (Camargo, 1971, p.67), o que levou a Arquidiocese de Natal realizao de vrios
2 Importante ressaltar que estas transformaes, ou melhor, esta preocupao com o social no era algo unnime dentro da instituio catlica. Apenas parte da Igreja compartilhava desses projetos sociais. 3 O termo protestante refere-se a todas as religies que contestam a religio oficial de um pas. No caso do Brasil, so todas as religies que contestam o catolicismo.
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
75
programas de ao no apenas no campo religioso, mas tambm na valorizao humana. Foi um empreendimento de atividades scio-polticas que teve seu incio em meados da dcada de 40. Esta dcada foi marcada na cidade de Natal, pelos efeitos de uma guerra que promoveu uma mudana de valores e de costumes, abalando a estrutura tradicional e aumentando o ndice de desemprego, prostituio, delinqncia juvenil e formao de favelas, sendo esta ltima, produto da migrao de origem rural em larga escala. Nesse contexto, a Igreja Catlica assume um carter emergencial atendendo s necessidades mais imediatas da situao. A Escola de Servio Social fundada em 1949 pela Juventude Feminina Catlica, o Departamento Diocesano de Ao Social e as reunies do clero realizadas por seis padres,4 entre eles Pe. Eugnio de Arajo Sales, recm-chegado da parquia de Nova Cruz, onde durante um ano experienciou os problemas do homem do campo, do origem s atividades sistemticas do Movimento de Natal, no sentido de combater a misria. Com a criao do Servio de Assistncia Rural (SAR), em 1949, passa a ser este o rgo destinado a atender o meio rural, atravs das Misses Rurais, Semanas Ruralistas e Centros de Treinamento de Lderes. No princpio, as atividades que prevaleciam eram as de cunho assistencial, inicialmente direcionadas aos centros urbanos e depois estendidas ao meio rural. O SAR, em seu plano de atividades, propunha uma ao educativa com a finalidade de prestar assistncia s comunidades do interior do Estado, servindo-se de modernas tcnicas do Servio Social Rural, que inclua assistncia jurdica, educativa e religiosa.5 Neste mesmo ano o Movimento d incio s primeiras Escolas Radiofnicas, objeto deste estudo, para a educao de base no Brasil. A partir deste trabalho mais amplo o SAR passou a cumprir aquilo a que se destinava quando da sua criao: ter dinamicidade para intervir no meio rural, visando transform-lo pelo desenvolvimento de prticas educativas, capazes de modelar novas maneiras de pensar e de agir em sociedade (Nascimento, 1999, p.58). Nosso campo de investigao encontra-se, portanto, dentro do universo de atividades desenvolvidas pelo SAR, entre 1957 e 1960, especificamente aquelas relacionadas s aulas radiofnicas que visavam a alfabetizao do homem do campo. Para tanto, estabelecemos recortes, utilizando, neste primeiro estudo as fontes documentais do arquivo da Arquidiocese de Natal e o acervo de jornais do Instituto Histrico e Geogrfico do Rio Grande do Norte, dentre as quais escolhemos as correspondncias, convnios e aulas radiofnicas vinculadas ao SAR no perodo de 1957 a 1960 e o jornal A Repblica entre 1957 e 1959. O Arquivo da Arquidiocese de Natal vem sendo constantemente citado em monografias, dissertaes e teses relacionadas Histria da Educao. Este arquivo se constitui em uma fonte inesgotvel de informaes que vem pouco a pouco modificando o pensamento dos pesquisadores que ali marcam a sua presena. Obviamen4 Cf. CAMARGO, Cndido Procpio Ferreira de. Igreja Catlica e Desenvolvimento. So Paulo: CEBRAP,1971. 5 Cf. Oliveira, Marlcia de Paiva. Igreja Catlica e Renovao: Educao e Sindicalismo no Rio Grande do Norte (1945-1964). So Paulo, 1992. [Tese de Doutorado em Educao]. Pontifcia Universidade Catlica de So Paulo.
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
76
te, no nossa preocupao chegar a qualquer verdade acerca do incio ou dos motivos que levaram a Igreja Catlica de Natal a realizar uma atividade educacional como a empreendida atravs das Escolas Radiofnicas, como diz Certeau: Certamente no existem, por mais gerais que sejam, nem leituras, tanto quanto se possa estend-las, capazes de suprimir as particularidades do lugar de onde falo e do domnio em que realizo uma investigao (Certeau,1982, p. 65). Esta concepo de Certeau nos remete a reflexo sobre a histria tradicional que se vangloria de reconstituir a verdade dos fatos. Ora para se ter uma verdade necessrio que tenhamos uma mentira. Mas e quando esta mentira torna-se verdade e esta verdade, mentira, o que temos afinal? Temos a subjetividade do autor, entendida por Certeau como um sistema de referncia, uma filosofia implcita, particular. Temos doxa. Apenas uma opinio limitada a referncias particulares do lugar, estado ou conhecimento de cada pesquisador. Na escrita historiogrfica tudo comea com a separao, reunio e/ou transformao em documentos de certos objetos que se apresentam de outra forma. Ou ainda, na produo de tais documentos, pelo simples fato de recopiar, transcrever ou fotografar, mudando seu lugar e seu estado, de acordo com o interesse e a filosofia particular de quem os manipula. Neste sentido, que passamos a selecionar os documentos a serem analisados, bem como a organiz-los por perodos, selecionando-os e catalogando-os de acordo com o interesse da pesquisa. Alguns jornais da poca que circulavam em nosso Estado foram utilizados, particularmente A Repblica, encontrado no Instituto Histrico e Geogrfico e A Ordem, publicao da Arquidiocese. Este ltimo, no entanto, serviu-nos apenas como referncia de estudo, pois esta publicao no foi editada entre os anos de 1955 e 1961, compreendendo exatamente o perodo desta pesquisa (1957-1960). O objetivo era buscar reportagens que nos fizessem compreender as causas e as conseqncias desse movimento educacional, bem como a conjuntura nacional e local da poca. Trabalhamos com o conceito de Villar (1985, p. 77) que compreende a conjuntura como sendo um conjunto de condies articuladas entre si que caracterizam um dado momento no movimento global da histrica. (grifos do autor). A nova histria uma abordagem que se caracteriza por perceber a histria como estrutural ou total, compreendendo os acontecimentos histricos como realidades estruturais em movimento, no apenas como algo estabelecido, mas tambm pelas lutas e tentativas de consolidao de dado modelo estrutural6 e suas repercusses na vida das pessoas comuns. De acordo com o paradigma tradicional, a histria diz respeito essencialmente poltica, esta admitida como essencialmente relacionada ao Estado, sendo mais nacional e internacional, que regional. Partindo da premissa de que tudo tem um passado que pode em princpio ser reconstrudo e relacionado ao restante do passado (Burke, 1992, p.11), a base filosfica da nova histria
6 Cf : VILLAR, Pierre. Iniciao ao vocabulrio da anlise histrica. Edies Joo S da Costa, 1985.
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
77
a idia de que a realidade social e culturalmente constituda, portanto relativa. Por este motivo os registros oficiais, aqueles emanados pelos governos podem ser suplementados com outros tipos de fontes como: jornais, fotografias ou anurios de estatstica, por exemplo, de maneira interdisciplinar no sentido de buscar na antropologia, na economia, na literatura, na arte, elementos vrios para compor o mosaico que vai delinear a forma do acontecimento a que se prope investigar o historiador. Neste sentido que procuramos compreender a economia mundial e nacional da poca construindo uma relao direta com os acontecimentos regionais e locais do perodo, na consulta a fontes oficiais e nooficiais. Ainda que tenhamos claro estarmos longe da histria total defendida pelos Annales,7 esta forma constitui uma tentativa de dar vez e voz s sombras da nossa histria da educao no intuito de elevar estas sombras a condio de parte desta histria. O CENRIO O capitalismo emerge como um vulco de duas crateras: a revoluo econmica na Inglaterra e a revoluo poltica na Frana. As erupes deste modo de produo eclodem temporariamente.8 Uma dessas ecloses ocorre durante a dcada de 50, com um boom econmico que Hobsbawn classifica como a Era de Ouro9 do sculo XX. Segundo este autor, a Era de Ouro pertenceu essencialmente aos pases capitalistas desenvolvidos. Mas Hobsbawn esquece de explicitar que esta poca de ouro era para alguns, tanto em relao pases industrializados como agrrio-exportadores. Neste sentido no podemos condicionar a Era de Ouro aos pases desenvolvidos, pois no Brasil, um pas em desenvolvimento, tambm existia uma parcela da populao que possua um poder de compra equivalente a esta idia de ouro defendida pelo autor. Alm de ser o mesmo perodo do projeto nacionalista-desenvolvimentista do Presidente Juscelino Kubitscheck, em que at mesmo a imprensa internacional veiculava informaes acerca dos progressos econmicos do pas, como podemos ler nesta notcia do The Financial Times, publicada pelA Repblica :
Londres, 17 A despeito da precria posio do Brasil, o desenvolvimento geral do pas est continuando numa proporo impressionante. A produo de conformidade com o plano traado pelo presidente JK tem sido bem mantida em bases que excede as expectativas. (A Repblica 18/03/59)
A 2 Guerra provoca um deslocamento do eixo econmico da Europa para a Amrica. Parece que este novo modo de desenvolvimento do capital funcionou, pois a partir da que vai comear a Era de Ouro do capitalismo, no sculo XX. Alm do deslocamento do eixo, o Estado passa a assumir no ps-Guerra um novo papel no processo de acmulo e centralizao do Capital: o investimento nos
7 Nos referimos aqui denominada primeira gerao de tericos da nova histria cultural. 8 Anunciamos o movimento do capital como sendo cclico com perodos de ascenso e de declnio. 9 HOBSBAWN, Erick. Era dos extremos: o breve sculo XX 1914-1991. SP: Cia das Letras, 1997.
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
78
setores em que o retorno de capital no imediato (como por exemplo a PETROBRAS, no Brasil) e a absoro de um grande contingente de funcionrios pblicos uma vez que, o Estado de bem-estar trazia em suas entranhas a lgica do pleno emprego. Assim, o Estado deixa de ser um simples regulador do mercado inserindo-se diretamente nele. Estes movimentos do capital so ofuscados por um nacionalismo, por um ufanismo, numa poca em que nem mesmo os intelectuais conseguiam perceber os movimentos internos do novo processo de acmulo e centralizao do capital. No podemos exigir que os intelectuais da poca tivessem clareza das novas articulaes entre os capitalistas (banqueiros, os industriais, os grandes latifundirios) e o Estado. Pois, a conscincia apresenta-se sempre retardada, ou melhor, ela raramente se d no sendo do momento histrico. A compreenso dos movimentos do capital torna-se difcil no s pelo fato da conscincia apresentar-se retardada, mas tambm pela colaborao da imprensa que difunde as idias que contribuem para tornar o cenrio nebuloso. Nos jornais10 que pesquisamos, muitas reportagens e/ou transcries de discursos sugerem ser uma preocupao dos Governos internacionais e nacionais diminuir o fosso econmico entre os pases desenvolvidos e em desenvolvimento entre os Estados destes pases. No Brasil o governo apresenta-se como preocupado em diminuir as diferenas econmicas das regies. O jornal A Repblica, do final da dcada de 50 datado de 19.07.59, transcreve o discurso do senador Srgio Marinho do Rio Grande do Norte, em que ele aponta o perigo das disparidades inter-regionais no Senado Federal. O discurso acerca da implementao da SUDENE, ressaltando os prs e os contras do projeto em tramitao na cmara, vejamos alguns fragmentos do discurso:
... Shakespeare, se no me engano, quem v os povos divididos entre povos fartos e povos famintos, e adverte que os povos famintos, so povos perigosos(...). O que d atualidade advertncia shakespeariana o fato de, em nossos dias, se ter tornado explosiva a situao gerada pelo agravamento dos desnveis, fazendo mais opulentos os que j so fartos e mais miserveis os que so famintos (...). Se as inquas desigualdades sociais deram embasamento terico doutrina socialista de Estado, pouca coisa seria mais accessvel e til sua difuso e receptividade do que (...) o velho instinto reivindicatrio da justia social...
Este fragmento nos permite perceber que enquanto a imprensa difundia a idia de que o governo devia se preocupar com as disparidades inter-regionais e enquanto alguns intelectuais como Ansio Teixeira acreditava que No estamos preparando, no estamos esperando, nem estamos evitando a Revoluo. Estamos em plena Revoluo Social (Rocha, 1992, p.203). O que de fato estava acontecendo era a espoliao do Nordeste e a concentrao de capital industrial no sudeste do pas. Tratava-se de um novo ciclo do sistema capitalista, vejamos:
Recorremos aos jornais, para melhor explicitar a nossa idia de que a imprensa cumpre um papel significativo no sentido de atender aos seus interesses. Convm lembrar que nesta Monografia trabalhamos com o jornal oficial do Estado.
10
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
79
A expanso do sistema capitalista de produo ocorre mediante ciclos sucessivos, determinados pela mudana na composio orgnica do capital. Tais ciclos, ou o ciclo capitalista, de forma genrica, so a forma que tomam as mudanas na composio orgnica do capital; elas correspondem, por sua vez, ao movimento de concentrao e centralizao do capital. (Oliveira, 1981, p.75)
A reflexo terica acima complementa os aspectos descritos at este momento. Ao mesmo tempo em que no podamos deixar de colocar o iderio que permeava as aes das vrias instituies, no podemos crer em apenas um lado da questo. Como vimos no discurso do Senador, as preocupaes com as disparidades regionais no s eram verdadeiras como pertinentes situao da poca. Preocupaes estas tambm da Sociedade Civil e, portanto, da Igreja. No entanto, cruzando informaes de outras fontes bibliogrficas, percebemos haver um descompasso entre o que acontecia no discurso e o que de concreto havia. No Brasil esta expanso concentra-se no Centro-Sul com a cidade de So Paulo como eixo gravitacional da economia do pas. Desta forma, as cidades que ficam mais perifricas em relao ao eixo, tendem a ser suplantadas, ocorrendo a destruio das economias regionais no intuito de concentrar o capital. As cidades do Norte e Nordeste se encontravam nessas condies e tiveram suas tentativas de industrializao impedidas de florescerem, no por causa das intempries ou da m qualificao da mo-de-obra como nos faz crer at mesmo os livros utilizados nos bancos escolares em nosso pas, mas principalmente por uma poltica que tem seu correspondente na estrutura de poder do Estado sem o qual as foras que reproduzem o capital no se imporiam. Convm lembrar que a poltica nacionalista desenvolvida pelo Presidente encontra em seu interior bases para a destruio dos capitais regionais, no sentido de capturar estes capitais em favor de uma nica regio e, dessa forma, encontrar hegemonia econmica. Mas no eram apenas os senadores, intelectuais leigos, economistas, polticos que estavam preocupados em promover, mesmo que no plano ideolgico, o fim dos desnveis sociais e a promoo humana, a Igreja, particularmente a Catlica, tambm se projetava e dava suas opinies e contribuies neste sentido. No Brasil, especificamente no Rio Grande do Norte, a Igreja Catlica, na figura de seus prelados tambm se fazia presente nas discusses. Vejamos a manchete de uma reportagem que foi veiculada pela imprensa local neste perodo: D. EUGNIO SALES REPORTAGEM: A FOME PODE LEVAR A POPULAO AO IMPREVISVEL (A Repblica - 28.03.58). A preocupao demonstrada por D. Eugnio nesta fala pertinente no sentido da misria levar o indivduo a atos desesperados em que todo o nimo para a resistncia desaparece. A pobreza pressiona, a alma fica desesperada e no se pode prever a que ponto pode chegar revoltas sociais que tenham como estandarte a sobrevivncia. Evitar isso no era apenas desejo da sociedade civil, mas tambm do Estado.
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
80
Entrando em cena em 1952, a CNBB adquire com sua estratgia pastoral aberta aos problemas sociais, consistncia e autoridade moral, alm do carter divinizador que ela em si carrega, torna-se o canal mediador entre o eclesistico e o civil, sistematizando e dando carter oficial s suas atividades pastorais. Nos planejamentos e atividades da Igreja Catlica foroso constatar que o Estado presena constante ora como convidado, ora como participante na forma de subvenes aos trabalhos realizados ou correspondncias diretas com certos dignatrios eclesisticos revelando estreitos laos entre as duas instituies, como vemos abaixo: Vossncia. Rvma., 18 de abril findo, comunico assinei nesta data decreto outorga concesso emissora de Educao Rural Ltda. Instalar estao radiodifusora. Respeitosas Saudaes. Juscelino Kubitschek. (A Repblica 22.05.58) No apenas o Nordeste est em discusso naquele perodo, a situao do homem do campo encontra-se em pauta, onde o esforo para melhorar a qualidade de vida do meio rural preocupao no apenas do poder pblico, mas da Igreja Catlica. Experincia bem sucedida da Arquidiocese de Natal no emprego do rdio para promover a educao de base, a organizao (A Repblica, 1959) com o intuito de polarizar tdas as providncias, tdas as obras novas devem ser a da elevao do nvel do homem (A Repblica, 1959). Na dcada de 50, o governo desenvolvimentista de Juscelino, tambm visava a educao no meio rural, tendo esta como redentora social. A realidade histrica onde se inserem as relaes entre Igreja Catlica e educao precisam ser compreendidas para que fiquem claras as causas de uma preocupao to forte em torno da educao e da melhoria de vida dos indivduos. Este presidente se propunha a descontar o atraso do passado, impelindo o pas na busca de um progresso, cujo lema era cinqenta anos em cinco, e a educao aparecia como o instrumento mais favorvel a este propsito. Entre 1922 e 1960, a euforia educacional levou os Governos a lanar em mo de instrumentos eficazes como a educao aplicando a esta tecnologia, numa relao dialtica a servio do capital e da indstria. A relao entre a Igreja e o Estado apareceu ento como uma via de mo dupla: ao Governo interessava atribuir o trabalho a uma instituio como a Igreja Catlica balizada no amor divino como forma de minimizar as tenses sociais bastante acentuadas na Regio Nordeste no final da dcada de 50 e incio de 60, com a expanso dos sindicatos rurais e as discusses acerca da Reforma Agrria se acentuando cada vez mais e Igreja Catlica, uma ao que ao mesmo tempo ampliasse suas bases, difundisse seus princpios ideolgicos e fizesse valer o ideal cristo de uma vida fraterna e abundante a todos, interferindo diretamente nas conscincias das pessoas envolvidas. O perodo era propcio a uma aliana neste sentido; para os trabalhadores o seu adversrio era o capital ou quem o detinha e no esta ou aquela instituio. Nesta poca, entre 1958 e 1960, vivenciava-se o final de um longo perodo de
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
81
discusses entre leigos e catlicos por ocasio da promulgao da Lei de Diretrizes e Bases da Educao 4.692/61, onde fica claro que embora existisse uma tendncia ao dilogo entre as duas instituies, a poltica educacional promovia confrontos acirrados entre catlicos e liberais. A hierarquia eclesistica estava sempre atenta s discusses nesta rea por entender ser a escola a agncia formadora maior e, portanto, a que exercia influncia sobre as lideranas polticas do pas. A histria da educao do Brasil passou por diversos estgios desde a colnia. Sempre a Igreja Catlica esteve frente na discusso de projetos ou planos de reforma que pudessem estar em desacordo com seus interesses. O projeto para educao de base iniciado pelo ento Presidente do SAR, D. Eugnio de Arajo Sales, Bispo Auxiliar de Natal, objetivava atender tanto s necessidades de um pas premente em mudanas, em transformaes sociais e econmicas, como a um projeto iniciado na dcada de 40 de levar os ideais catlicos a todos os brasileiros, num processo de retorno ao seio da Santa Madre Igreja. As mudanas eram bem vindas, desde que fossem de acordo com os dogmas da instituio que as possibilitava. Na sua dissertao Maria Lcia Pinto exemplifica o cuidado de D. Eugnio com os contedos que eram difundidos pelas Escolas Radiofnicas. Ele possua uma atitude conservadora, somente admitindo mudanas lentas e moderadas, responsabilizando-se pelo contedo transmitido pelas escolas (mesmo que em 64 tenha defendido lderes sindicais e se responsabilizado pelas aulas que eram transmitidas, impedindo a interrupo das mesmas) fazendo, segundo a autora, com que se afirmasse um dos objetivos principais deste projeto no Nordeste, ou seja, impedir a expanso das ligas camponesas e o avano do comunismo no campo, cumprindo tambm as tarefas da poltica desenvolvimentista de Juscelino, promovendo a organizao da comunidade, formao de lderes, alfabetizao de adultos, promoo de melhores tcnicas agrcolas no meio rural, englobando os aspectos econmicos (desenvolvimento), polticos (injustias sociais), religiosos (justia divina), indispensveis ao desenvolvimento econmico da regio. Visava um desenvolvimento harmonioso do local para o nacional.11 Como pudemos demonstrar, as Escolas Radiofnicas surgiram em um momento muito peculiar da histria. Com o capitalismo em um perodo ascendente no Brasil, uma poltica que favorecia os incentivos financeiros e um trabalho sistematizado e articulado j desenvolvido, a Igreja Catlica contou com todos os elementos para fazer acontecer suas aulas radiofnicas. AS AULAS RADIOFNICAS A partir do material emprico, referente s Escolas Radiofnicas, coletado e organizado, assim como das leituras que empreendemos passamos a refletir, principalmente, sobre que bases didtico-pedaggicas ergueu-se o ensino distncia promovido pela Arquidiocese de Natal. O fato que pouco sabemos sobre este aspecto. Alm do fato da literatura que
Nacionalismo (hegemonia poltica), populismo (participao dos subalternos), desenvolvimentismo (promoo humana) iderios polticos do perodo entre 1956-1961.
11
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
82
versa sobre este movimento de ao social da Igreja de Natal enfocar mais os aspectos scio-polticos e econmicos, os documentos do SAR com relao s escolas Radiofnicas, que encontramos, no descrevem a influncia pedaggica que permeava este projeto educacional. Podemos, entretanto, a partir de um referencial histrico acerca dos ideais educacionais da Igreja Catlica nos ltimos sculos, inferir ser esta partidria do ensino tradicional, centrado na figura do professor e promovendo o aluno passivo. Trabalhamos com roteiros de aulas que encontramos no arquivo da Arquidiocese do ano de 1960,12 quando as Escolas ainda estavam sob a gerncia do SAR. Abaixo transcrevemos o roteiro de uma das aulas: EMISSORA DE EDUCAO RURAL DIVULGAO: 09 fevereiro de 1960 HORRIO : 18,55hs. PROGRAMA : 7 Aula Radiofnica 2 Turno ou Turno A Prezados alunos rdio ouvintes, monitor amigo, boa-noite. Todos de p, invoquemos proteo da Santssima Virgem para os nossos trabalhos. TCNICA/CARCT./AVE MARIA Prof. Antes de iniciarmos a nossa aula, conversemos um pouco. mais uma vez insistimos: a escola radiofnica de uma localidade deve/ ser organizada pela Comunidade e para a Comunidade. A vida da comunidade deve ser a vida da escola. Desejamos que cada escola radiofnica seja o resultado da cooperao de todos os habitantes da localidade; homens velhos ou moos, mulheres e at crianas. Tambm tornamos a afirmar que o fim das escolas Radiofnicas no / Somente ensinar a ler, a escrever e a contar ainda que isso, por si s, constitua progresso que bem desejaramos ver realizado em pouco tempo, com a alfabetizao em massa da populao rural. Cada escola radiofnica ser uma instituio com largas razes que a todos os indivduos congreguem a finalidade das Escolas Radiofnicas e tornar todos mais capazes de vencer na vida. TCNICA/CARACT./3 MINUTOS(TRS) Abram os livros na pgina 13. (L e faz os alunos lerem) No dividimos ao alunos do 2 turno em grupos por que sabemos que so poucos e podemos ler todos de uma s vez, fazendo leitura em cro. Leiam mais uma vez toda a lio.
A escolha dos roteiros de aulas de 1960, deve-se ao fato de: primeiro, termos encontrado muitos roteiros de aulas deste perodo; segundo, por no termos encontrado nos arquivos da Arquidiocese os roteiros que datam de 1958 e 1959.
12
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
83
(L) Monitor, mande os alunos lerem palavras isoladas desta lio de hoje; para isto vamos dar um pequeno intervalo musical. TCNICA/CARACT./3 MINUTOS(TRS) Para aperfeioarmos cada vez mais a nossa escrita, vamos copiar a sentena que o monitor vai escrever no quadro e, em casa, nas horas de lazer (horas de Lazer so as horas do dia nas quais ns no temos obrigaes para fazer) nas horas de lazer ns escrevemos muitas vezes, nos nossos cadernos, a mesma sentena. Vamos monitor, apanhe o giz e escreva no quadro: Escove os dentes tdas as noites. Sem cumprirmos desde criana ste preceito de higiene, no poderemos ter bons dentes e/ sem bons dentes no poderemos gozar sade. O que somos sem sade? Farrapos humanos, sem capacidade para o trabalho, sem vida, sem alegria. E por isso que tudo devemos fazer para gozar sade; to fcil, escovar os dentes tdas as noites... Copiaram a sentena ? Vamos dar um pequeno intervalo para todos copiarem. TCNICA/CARACT./3(TRS) MINUTOS Tirem os cadernos de aritmtica. Copiem as contas que o monitor vai escrever no quadro; Monitor, apanhe giz e escreva... 240 627,00 35,00 -185 +32 ,80 x4 Copiem as contas. TCNICA/CARACT./3(TRS) MINUTOS Sigam a nossa orientao; vamos colocar resposta em tdas essas continhas. Pronto? Podemos comear? TCNICA/CARACT./3(TRS) MINUTOS Pelo sinal, etc. TCNICA/CARACT./AVE MARIA E FUNDA C/A FINAL FIM Este roteiro de aula evidencia o que havamos sugerido quanto a pedagogia que
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
84
funda a elaborao dos roteiros e sua aplicao, ou seja, a Igreja Catlica apresenta-se explicitamente como partidria do ensino tradicional, centrando o processo ensino-aprendizado na figura do professor (Vamos monitor, apanhe o giz e escreva no quadro) e, promovendo o aluno passivo (Tirem os cadernos de aritmtica. Copiem as contas que o monitor vai escrever no quadro). importante considerar que o procedimento pedaggico das aulas baseia-se muito na cpia (Para aperfeioarmos cada vez mais a nossa escrita, vamos copiar a sentena que o monitor vai escrever no quadro), na repetio (nas horas de lazer ns escrevemos muitas vezes, nos nossos cadernos, a mesma sentena.) e na obedincia (Sigam a nossa orientao). No entanto, um outro aspecto curioso deste roteiro que os seus idealizadores conseguiram interpenetrar a pedagogia e o meio, ou seja, no existe uma justaposio, mas uma combinao entre o contedo e a forma de apresentao das aulas. A aula radiofnica mesmo tendo como fundamento a pedagogia tradicional, conseguiu manter um dos elementos da magia do rdio, ou seja, ela conseguiu em certos aspectos subverter a lei da fsica que anuncia a impossibilidade de a massa de um corpo ocupar vrios espaos ao mesmo tempo. Com a aula sendo transmitida pelo rdio a professora-locutora transcende o limite e mesmo no estando diante dos olhos de tantos alunos, ela se faz presente em vrias salas. Talvez este seja um dos mais importantes aspectos do rdio: ele rompe com a ditadura da viso e instaura o reino da audio convidando pela voz o ouvinte a invocar imagens. Apesar da distncia, as aulas so trabalhadas de modo a instituir uma relao de proximidade entre a professora e os alunos. Em vrios trechos, de vrias aulas, percebemos uma preocupao em agir como se ela estivesse presente na sala de aula:
Gostaram dos testes? Meus amigos, somente por meio das provas como as que acabamos de fazer ontem, poderemos verificar se vocs esto aprendendo. (aula radiofnica 08.08.1960) Est tudo em ordem? Escrevam. (aula radiofnica 08.04.1960)
Existia uma preocupao da professora-locutora em estabelecer um feedback com os alunos, mas como as aulas eram mecnicas e a professora-locutora as ministrava no estdio da Rdio, ela ficava impedida de ver e ouvir, ao mesmo tempo, os alunos que estavam espalhados em diversas salas de aula e em diversos lugares diferentes do Estado. Assim, tornou-se necessrio que a Igreja Catlica construsse um sistema complexo de comunicao. Quem falava era a professora-locutora, mas quem via e ouvia os alunos era a monitora que, por no estar no estdio, tambm no via a professora. Deste emaranhado de relaes, podemos deduzir que a tentativa de um feedback com os alunos terminava em um monlogo. Este detalhe diferencia a Escola Radiofnica do Sistema Regular de Ensino13 no que diz respeito a nossa afirmao de que a Igreja Catlica era partidria do ensino tradicional, porque alm de todos os
13 Recorremos a proposio de Sistema de Ensino Regular para designar as escolas em que a relao professoraluno essencialmente presencial.
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
85
elementos da escola tradicional as Escolas Radiofnicas ainda haviam construdo um modo complexo de comunicao conforme o que ns apresentamos acima. Quanto monitora, podemos sugerir que o seu papel muito claro nos roteiros analisados: ela uma engrenagem14 to importante para fazer funcionar a escola quanto as pilhas de 1.000 horas e o prprio rdio-receptor. Mas, como a professora poderia demonstrar os referenciais de escrita a que se propunha sem o auxlio da monitora? Portanto, ela apresentava-se muito mais fundamental do que uma simples engrenagem. Apesar do processo se apresentar com os elementos da Pedagogia Tradicional e com um certo predomnio das tcnicas de transmisso pelo rdio, no podemos esquecer que a educao pelo rdio era antes de tudo um processo que envolvia uma certa quantidade de pessoas. Talvez por isso, o processo de desenvolvimento das aulas foi pouco a pouco evidenciando a necessidade de se levar em conta o modo de vida das pessoas. As Escolas Radiofnicas, j como MEB, passam a atender esta necessidade mais relacionada ao cotidiano dos alunos. Os temas das aulas passam a ser definidos a partir de visitas s comunidades realizadas por funcionrios do MEB, que coletando dados sobre a vida dos trabalhadores rurais em cada regio formulavam os Livros de Leitura utilizados nas Escolas Radiofnicas. O processo de educao pelo rdio no conseguiu promover a pretensa integrao do trabalhador rural no desenvolvimento nacional. Por outro lado, possibilitou instrumentos como a leitura e a escrita que os poderiam ter levado a isto se as pessoas envolvidas neste projeto no estivessem sujeitas aos limites polticos do perodo investigado. CONSIDERAES FINAIS A educao , invariavelmente, descrita como fator bsico e decisivo no desenvolvimento de uma nao. Mesmo as pessoas que no tm um grau de escolarizao avanado, reconhecem e afirmam sua importncia.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
14 Utilizamos este vocbulo para dar mais nfase ao processo de coisificao do ser na tica industrial do perodo.
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
86
BBLIA sagrada. Trad. por Joo Ferreira de Almeida. Rio de Janeiro: Sociedade Bblica do Brasil, 1968. BRUNEAU. Thomas C. Catolicismo brasileiro em poca de transio. So Paulo: Ed. Loyola, 1974. BURKE, Peter (Org.). A Escrita da Histria: novas perspectivas. So Paulo: UNESP, 1992. CAMARGO, Cndido Procpio Ferreira de. Igreja e Desenvolvimento. So Paulo: Cebrap,1971. DOCUMENTO DO SAR. Aula Radiofnica. Arquivo da Arquidiocese, Natal, 17.fev. 1960. ______. Aula Radiofnica. Arquivo da Arquidiocese, Natal, 9.fev.1960. ______. Aula Radiofnica. Arquivo da Arquidiocese, Natal, 16.fev. 1960. ______. Aula Radiofnica. Arquivo da Arquidiocese, Natal, 24.mar. 1960. ______. Aula Radiofnica. Arquivo da Arquidiocese, Natal, 8. abr. 1960. ______. Aula Radiofnica. Arquivo da Arquidiocese, Natal, 8. ago.1960. ______. Convnio com o SSR. Arquivo da Arquidiocese, Cx.146, Natal, 1958. ______. Convnio INIC/SAR. Arquivo da Arquidiocese, Cx.146, Natal, set. 1960. ______. Correspondncia, Arquivo da Arquidiocese, Cx.188, Natal, [s.d.]. D. EUGNIO Sales reportagem: a fome pode levar a populao ao imprevisvel. A Repblica, Natal, 28 de maro de 1958. FEBVRE, Lucien. Combates pela histria. Lisboa: Presena, 1989. FERNANDES, Florestan. O desafio educacional. So Paulo: Cortez, 1989. FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 7. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. G, Maria Zilda de Siqueira. As escolas radiofnicas no projeto de comunicao social da Igreja Catlica. Natal, 1991. [Dissertao de Mestrado em Educao.Universidade Federal do Rio Grande do Norte] HOBSBAWN, Erick. Era dos extremos: o breve sculo XX 1914-1991. So Paulo: Cia das Letras, 1997. JAEGER, Werner. Paidia: formao do homem grego. So Paulo: Martins Fontes, 1986. MARCFERRO. A histria vigiada. So Paulo: Martins Fontes, 1989. NASCIMENTO, Jos Mateus. A histria dos grupos mirins como prtica educativa da Arquidiocese de Natal (1973-1979). Natal, 1999.[Monografia de Graduao em Pedagogia. Universidade Federal do Rio Grande do Norte]
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
87
NECESSRIAS medidas urgentes para conter o desequilbrio entre o nordeste e o centro-sul. A Repblica, 19 jul. 1959. OLIVEIRA, Francisco de. Elegia para uma re(li)gio : SUDENE, Nordeste e Planejamento e conflitos de classe. 3. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981. OLIVEIRA, Marlcia de Paiva. Igreja Catlica e Renovao: Educao e Sindicalismo no Rio Grande do Norte (1945-1964). So Paulo, 1992.[Tese de Doutorado em Educao. Pontifcia Universidade Catlica de So Paulo] PINTO, Maria Lcia Leite. As Escolas Radiofnicas: ao poltica e educativa da igreja catlica no RN (1956-1961). Natal, 1989. So Paulo, 1992. [Dissertao de Mestrado em Educao. Universidade Federal do Rio Grande do Norte] REPERCUTE no Rio o programa educativo da emissora rural. A Repblica, Natal, 3 jul. 1959. ROUSSEAU, J.J. Emlio ou Da Educao. So Paulo: Martins Fontes, 1995. SAVIANI, Dermeval. Escola e Democracia: teorias da educao, curvaturada vara, onze teses sobre educao e poltica. So Paulo: Cortez, 1986. TEIXEIRA, Ansio. Estamos em plena revoluo social. In: ROCHA, Joo Augusto de Lima.(Org.). Ansio em movimento: a vida e a luta de Ansio Teixeira pela escola pblica e pela cultura no Brasil. Bahia: Fundao Ansio Teixeira, 1992. VILLAR, Pierre. Iniciao ao vocabulrio da anlise histrica. Edies Joo S da Costa, 1985. WANDERLEY, Luiz Eduardo W. Educar para transformar: educao popular, Igreja Catlica e poltica no Movimento de Educao de Base. Petrpolis: Vozes, 1984.
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
88
EDUCAR QUERER COMPREENDER A SEMIOSES DO ORGANISMO VIVO DO QUAL SE CUIDA
Sanzia Pinheiro Barbosa1 RESUMO: Trata-se de uma reflexo acerca da necessidade dos estudos da semitica para pedagogia numa perspectiva em que o ser da pedagogia um organismo vivo. O mundo metamorfoseado para aquele que possui o psiquismo mais elementar em formas, cores, odores e sensaes a partir de sua estrutura biolgica. Ns, animais humanos, possumos emissores e receptores espalhados por todo o corpo, que (re)apresenta para ns e para o outro um mundo exterior e interior, um constante vira-ser, isto , a nossa relao com o mundo um eterno (des)velar , puro fluxo do pensamento, nada mais que um fio de melodia correndo na sucesso de nossas sensaes. A matria viva da pedagogia o amlgama sgnico expresso por aqueles que tem sua alma cuidada pelo pedagogo, ou seja, este amlgama representa os substratos fenomenais da conscincia. A operao do pedagogo deve ser, portanto, desmontar o signo expresso, analisar os seus elementos, e assim p-lo em movimento e devolvlo ao indivduo. PALAVRAS-CHAVE: Educao; semitica; filosofia; Ser
EDUCATING IS THE DESIRE OF UNDERSTANDING THE SEMIOSIS OF THE LIVING ORGANISM THAT ONE TAKES CARE OF ABSTRACT: This is a reflection on the necessity of semiotics studies for pedagogy, in a perspective that the self of pedagogy is a living organism. The world is in a kind of metamorphosis for one who have a more elementary psyquism in forms, colors, smells, and sensations from his biological structure. We, human animals, have got senders and transmitters spread through the whole body that (re)introduce to us and to the other , an interior and an exterior world, which is a constant comes-to-be, that is, our relation with the world is an eternal keeping-awake, pure flux of thought, nothing more than a wire of melody running in the succession of our sensations. The living subject of pedagogy is the amalgam sign expressed by someone who has his soul watched by the pedagogue, that is, this amalgam represents the phenomenal substracts of the conscience. The pedagogue action must be, then, to dismount the expressed sign, to analyze its elements , and thus, put it in movement and give it back to the individual. KEY-WORDS: Education; semiotics; philosophy; Being
1 Pedagoga. Especialista em Filosofia (rea: Epistemologia) pela UFRN. Mestranda em Cincias Sociais (UFRN).
Professora do curso de Pedagogia da FACEX. Pesquisadora do GRECON/UFRN. Rua Santo Antonio, 360 Vila de Ponta Negra. CEP 59090-270 Natal, RN.
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
89
Os trigramas no so representaes enquanto tais, so tendncias de movimento. I ching O calor dos trpicos aquece o ser humano, e do fogo nutriz da vida at este ser h um desvio da luz, do calor, do som, do cheiro... H uma refrao, uma duplicidade paradoxal por aquele que onde no est, e est onde no , ou seja, o signo, no apenas um corpo fsico que habita a realidade, mas a reflete, parte dela e se mantm fora dela pois refrata ao refleti-la. Em momento algum o outro que representa. O signo s expressa, s substitui, s aponta para o outro. a unidade mnima da semitica que, por sua vez, constitui o mbito da mediao entre o mundo e o eu, o eu e o outro, o eu e o eu, e no a linguagem verbal que , por assim dizer, uma mediao Segunda, um desdobramento da teia semitica. Essa teia puro devir e apresenta-se como um amlgama sgnico na qual cada signo mantm transparente a sua fonte. A linguagem um dos primeiros inventos de todo organismo vivo. O mundo metamorfoseado para aquele que possui o psiquismo mais elementar em formas, cores, odores e sensaes a partir de sua estrutura biolgica. O animal humano um ser sensrio-verbi-voco-visual, possui emissores e receptores espalhados por todo o corpo, que (re)apresentam para si e para o outro um mundo exterior e interior, mundo este que constante vir-a-ser, ou seja, sua relao com o mundo um eterno (des)velar, puro fluxo, o pensamento, nada mais que um fio de melodia correndo na sucesso de suas sensaes. Por estar constantemente aberto, recebendo informaes e emitindo-as, lana no mundo um amlgama sgnico to complexo quanto a sua existncia. O amlgama diz uma parte nfima de uma conscincia em processo contnuo. O signo expresso o terceiro de um processo que continua e se transforma no outro, que olha, escuta, sente e cheira. As informaes do mundo penetram no ser por todos os canais possveis, colidindo com sua experincia interpenetram-se e gera um at ento existente. O homem enquanto pan-homo-sapiens-demens est preso, condenado a uma teia complexa e infinita para dentro e para fora. Cada signo provoca outros, tanto no emissor quanto no receptor. A relao tridica (objeto-signo-interpretante), geradora do signo, cria novos signos imaginveis e inimaginveis. Em estado de viglia ou sonhando, o homem estar no signo. Quando pensa estar na coisa o signo que se apresenta. Nesse sentido, o pedagogo que pretende se debruar sobre a compreenso do desabrochar da alma deve ser como o investigador que encontra no signo expresso um ponto de partida para o seu percurso. Deve comportar-se como um observador/ leitor que olha espritos que criam e concebem. Porm, quando os pedagogos se renem para dizer de linguagem, dizem com a lngua. O que pode ela dizer? ... diz de um mundo infinito de curso incessante. Quando pega-se a palavra daqueles que ora se cuida, toma-se como uma linguagem formalizada. Esquece que as lnguas naturais comportam um rumor que perturba a essencialidade da informao. A palavra densa de significado do mundo que rodeia o humano, lacunosa, fragmentria, diz sempre algo menos com respeito ao experimentvel. A mgica do signo verbal impressionou a humanidade pelas propriedades de associar o trao visvel coisa invisvel, coisa ausente, coisa desejada ou temida, como uma frgil passarela improvisada sobre o abismo. Desde os tempos mais remotos, os signos (trata-se aqui da palavra) que os
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
90
homens tm usado no processo de construo do pensamento, e o ato de registrar suas realizaes tm se constitudo num motivo constante de espanto e iluso. Todas as palavras so espirituais, este dizer de Witman no muito diferente da atitude dos antigos egipcios, que no texto das pirmides mencionam um deus chamado Klern, isto , palavra. A divindade guardi de Roma tinha um nome incomunicvel, e em algumas regies da Grcia antiga os nomes sagrados dos deuses eram gravados em placas de chumbo e afundados no mar para garanti-los contra a profanao. Para Rosseau, a palavra a primeira instituio social, sendo o seu criador o amor que a cria com menor felicidade que o desenho. Assim, o amor possuindo maneiras mais vivas de exprimir-se, despreza-a. Rosseau ressalta que a linguagem verbal aprisiona o corpo, ele diz: O texto uma defesa dos olhos, pois o discurso mais eloqente aquele que se introduz o maior nmero de imagens, e o som das palavras nunca possui maior energia do que aquelas possuem os efeitos das cores. Dessa forma, o pedagogo de uma maneira geral tem se iludido no sentido de tomar uma palavra (o signo verbal), como o cu da verdade de um ser que puro devir. Nada mais fcil de julgar o que tem contedo e solidez. O caminho em direo ao eu que um constante vir-a-ser mais difcil, e mais difcil ainda produzir sua exposio. Os resultados que os pedagogos exibem nada mais que cadveres que deixam atrs de si a tendncia. Essa atitude reificada que o homem tem diante daqueles que se guia e sobre os quais deveria debruar-se, no estranha se for levada em considerao, que se tem o ser como um meio de existncia, e no como um fim em si mesmo. Perde-se o cosmos e restando apenas o olho do drago, pois as luzes da cidade obscurecem o olhar humano. O pedagogo perde-se daquele que guia, perdendo assim a razo do caminhar, ou seja, perde o ser, e olha o alfabetizando, o vestibulando, o aluno (que segundo Walter Jnior, a etimologia da palavra aluno sem luz). Busca-se procedimentos que assepsiam a alma, polindo o rudo gerador. Por que insistir em tirar as crianas da obscuridade com hbitos de higiene hediondos? No ser por que o homem esquece que antes de ser, esteve no inferno e mergulhou no Leth2 ? E que o signo expresso o no-mais de um rio que continua o seu curso, uma vez que nem mesmo a morte conclusiva? Admite a diversidade. Mas, quanto que tem de ousadia para erguer teorias acerca daquele que ora cuida? Os signos expressos so substratos fenomenais da conscincia. No so representaes do estado da alma que o expressa, so tendncias do movimento desta. Eis a matria viva da pedagogia: o amlgama sgnico expresso por cada ser que cuidado. No entanto, o pedagogo exige um tratado que descreva um sistema acabado de frmulas perfeitas, e com isso se afasta do Ser. Desvia-se para buscar procedimento que lhe so estranhos passando por cima do(s) eu(s) de cada um, ao invs de demorar-se, abandona-se a ele(s) procurando estar nele(s); Prefere, porm, estar em algo distinto como a didtica, programas fixos, contedos vazios de sentido e oficinas suspeitas.
2 O Hades, inferno grego, percorrido por rios que Homero, bem antes de Viglio e Dante, descreve com sacro terror: O Estige (ou gua do Silncio), o Aqueronte (Rio da Dor), o Cocito (Rio das Lamentaes), o Periflegetonte (Rio do Fogo) e o Leth (Rio do Esquecimento)
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
91
preciso desvelar a cena de representao. Apenas os captores de uma maneira geral so capazes de faz-lo. Captadores de uma maneira geral e mais especificamente artistas e cientistas tm na linguagem em movimento sua matria prima. Porm, a operao do pedagogo inversa, se trata de desmontar o signo expresso, analisar os seus elementos numa tentativa de compreender a dinmica do sistema vivo que o emitiu. Assim, sai de uma compreenso mecnica de mundo que lhe legou o sistema de avaliao e outras formas de mortes, que por mais diferente que possa ser termina em uma nota como se fosse passvel de mensurao a sua interioridade e ao seu processo de transformao. Esses fatores envolvem no apenas a cultura mas toda a herana gentica e energtica, ou seja, o conceito de sistema vivo, e como diz Saltouris, deveria englobar todos os outros em nossas instituies educacionais. Ensinar a poltica e a economia dos sistemas vivos. Todas essas coisas deveriam estar reunidas, pois isso poderia ajudar na condio de ser humano, a manter os sistemas saudveis. Atividade do educador coloca o verbo compreender acima do ensinar. A noo do compreender exige o saber que o ser puro devir. A capacidade de ler o movimento da alma que ora se cuida e mergulhar na tradio do pensamento da humanidade. Quem melhor responde a esta questo o pensador americano Peirce, sua semitica uma tentativa de compreenso do movimento da conscincia. Porm, antes de se fazer uma pequenssima exposio do pensamento desse autor, importante colocar em rpidas palavras o conceito de signo para outros autores, que mesmo possuindo diferentes modos de pensamentos referentes semitica peirciana pensaram a questo da linguagem de maneira singular. Os termos mais usados como smbolo, sinais, ndices, etc., no tm o mesmo sentido para os vrios autores que tratam do assunto. Mas para o pensador Sexto Emprico, o signo se constitui de trs: o som e aquilo que existe. O terceiro fator, no entanto, no um corpo. descrito como uma entidade indicada ou revelada pelo som, e que apreendemos como subsistindo em nosso pensamento. Santo Agostinho em sua doutrina crist afirma: o signo uma coisa que acima e fora da impresso que causa nos sentidos faz algo diverso aparecer na mente como conseqncia de si. Locke, formulador dos postulados bsicos do empirismo clssico sugere: Foi necessrio ao homem desvendar certos sinais sensveis, externos, por meio dos quais estas idias invisveis dos quais seus pensamentos so formulados, pudessem ser conhecidos dos outros... Rosseau, em seu ensaio sobre a origem das lnguas, desenvolveu uma formulao na qual se pode verificar que linguagem e educao so dois elementos que se interpenetram na construo do esprito humano:
To cedo um homem foi reconhecido por outro como um ser que pensa e semelhante a ele, o desejo ou a necessidade de comunicar seus sentimentos lhe fez procurar os meios. Esses meios no podem ser tomados seno dos sentidos, os nicos instrumentos pelos quais um homem pode agir sobre o outro. Eis ento a instituio dos signos sensveis para exprimir o pensamento. Os inventores da linguagem no fizeram esse raciocnio, mas o instinto lhe sugeriu a conseqncia.
Peirce retoma a trilogia do Sexto Emprico que por sua vez se inspira nos esticos
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
92
para dizer do seu conceito de signo. Um signo ou representamen algo que, sob certo aspecto ou de algum modo representa alguma coisa para algum. Cria na mente dessa pessoa um signo equivalente ou talvez um signo melhor desenvolvido. Assim, para que esse interpretante seja erigido, necessrio que signo, objeto e interpretante se toquem. Hjelmslev, herdeiro da semiologia sousseriana afirma: Um signo funciona, designa, significa. Operando-se a um no signo, um signo portador de uma significao. Shaff, quando se volta para pensar a comunicao humana percebe que o signo se apresenta como ponte mediadora:
Qualquer objeto material ou propriedade de tal objeto, ou um evento material transforma-se em signo quando no processo da comunicao, serve, dentro da estrutura da linguagem adotada pelas pessoas que se comunicam ao propsito de transmitir certos pensamentos acerca da realidade, isto , acerca do mundo exterior, ou de experincias interiores (emocionais, estticas, volitivas...) de qualquer das pessoas que participam do processo de comunicao.
Bense retrata de modo singular o pensamento relacional ao anunciar que o signo no pois um objeto com propriedade, mas uma relao. Umberto Eco parece sintetizar uma idia que percorre todos que se debruaram sobre esta matria. Para o pensador, signo tudo quanto base de uma conveno social previamente aceita, possa ser entendido como algo, que est no lugar de outra coisa... Apesar de existir divergncia de conceituao, h duas variantes que se apresentam nas vrias definies: a primeira que o signo um que est por outro, ou seja, representa um que no ele mesmo; a segunda, que o signo correlao. O pensamento relacional sinttico se instaura quando se ergue um interpretante. Antes de debruar o pensamento na semitica peirceana, importante lembrar aos educadores da importncia dos estudos da semitica para educao, por acreditar que o nvel do desenvolvimento dos meios em que se encontra a sociedade exige uma teoria do ritmo, do movimento, a estrutura a ser apreendida a mvel, so poucos elementos que se fixam. necessrio advertir que tal pensamento destina-se s almas que querem perquerir, e que j compreenderam que apesar da impossibilidade do retorno de Leonardo da Vinci, a criao nos nossos dias exige o solo frtil da diversidade. A referncia de Peirce das cincias modernas, com sua particularizao do objeto e sua exigncia emprica. No entanto, sua noo de cincia de coisa viva, uma busca realizada por homens vivos, que est em permanente estado de metabolismo e crescimento, diferente de Kant, que estudar a conscincia que conhece. Peirce acompanha o desenvolvimento da conscincia, percorre a sua evoluo at a superao em suas sucessivas formas: primeiridade, secundidade, terceiridade. Estas categorias cenoptagricas concordam substancialmente com as figuras da conscincia em Hegel: a certeza sensvel, a percepo e o entendimento. Como homem que tinha a mente treinada em laboratrio, Peirce o observador que observa o esprito, seus espritos que criam e concebem, assim o pensador busca detalhar cada categoria. Este rebuscar est implcito em toda a sua obra: suas
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
93
categorias cenoptogricas, sua semitica e as formas inferenciais elementares articulando-se entre si para dizer do caminho que a conscincia percorre. Cada concepo erguida pelo interpretante retomada num nvel superior, recapitulada e introduzida em uma nova perspectiva. As categorias cenoptagricas so classificadas a partir da anlise da experincia que o resultado cognitivo de nossas vidas passadas. No mundo da experincia h um elemento que a fora bruta. Nela h uma binariedade: dois que so verdadeiros na relao um com o outro. H na fora bruta vrias binariedades. Existe um estado subseqente de coisas as quais se supem duas tendncias que se opem: uma primeira, tentando mudar a relao em um sentido; uma segunda, tentando mudar a relao em outro sentido. Estas mudanas se combinam de uma maneira tal, que ao dar origem ao terceiro, cada tendncia em algum grau seguida e em algum grau modificada. So dois que se chocam na mente, gerando um terceiro at ento inexistente. O terceiro o elemento que vai mediar a relao entre as binariedades. Esse elemento mediador a linguagem constituda de partculas a qual chamamos signo. Um signo um representamen que apresenta de alguma forma, sob algum aspecto e sob certa medida, um objeto que no precisa ser necessariamente existente, mas capaz de erguer um interpretante que seja a representao de algumas das partes do objeto apresentado. As classes de signo apresentadas por Peirce3 so uma teia complexa de relaes tridicas. E exatamente aqui que as categorias cenoptagricas encontram seu detalhamento. A classificao dos signos sugere, ainda, que Peirce tentava dizer do movimento da vida. Suas categorias parecem estao da construo da inteligncia na natureza ou o caminho da conscincia para a cincia. O qualissigno icnico remtico um primeiro puro. um mar de aminocidos, um mar polissonoro, gerador da diversidade, de tantos vrios caminhos que a vida nos oferece. A ltima classe, a do legissigno simblico argumental, exemplificada por Peirce com o ciclo do raciocnio (abduo, induo e deduo). o pice de complexificao do processo da vida. Abduo, induo e deduo so como um ciclo, isto , degraus que conduzem ao raciocnio cientfico, o dilogo entre eles impulsionado pelo choque entre os fenmenos externos e a observao colateral do interpretante. Peirce tenta uma aproximao da lgica do movimento da conscincia, reduz toda a ao mental forma do raciocnio vlido, sem qualquer outra suposio exceto, a das razes da mente que ergue o interpretante. Sua semitica no uma mera topologia dos signos; o movimento mesmo da conscincia que se contrai (morte) e esse expande (vida) na gerao de idias. Seguir a sugesto do pensador Morin e realizar a transgresso necessria de uma viso mecnica para uma viso orgnica exige a compreenso dessa floresta sgnica em que vive o humano, e a compreenso de que educar cuidar da alma, e isso requer uma aproximao da lgica do movimento da alma, cujo ritmo interior
3 Trata-se aqui de um estudo feito das dez classes do signo, apresentadas no livro Semitica, da editora Perspectiva (ver bibliografia)
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
94
se expressa na ordenao da ao. Essa ao sgnica, pois se no for signo no comunica, no instaura relao entre os entes.
BIBLIOGRAFIA ATLAN, Henri. Entre o cristal e a fumaa: ensaio sobre a organizao do ser vivo. Rio de Janeiro: Zahar, 1992. FESO, Herclito de. Fragmentos. So Paulo: Nova Cultural, 1996 (Col. Os Pensadores). FERRARA, Lucrcia. A estratgia do signo: linguagem/espao: ambiente urbano. So Paulo: Perspectiva, 1986. GARCIA, Eduardo A. C. Biofsica. So Paulo: Sarvier, 1998. HABERMAS, Jurgen. Conhecimento e interesse. Rio de Janeiro: Zahar, 1982. PLAZA, Jlio. Traduo intersemitica. So Paulo: Perspectiva, 1987. MCLUHAN, Marshal. Understanding media: os meios de comunicao como extenses do ho mem. So Paulo: Cultrix, 1976. ______. A galxia de Gutemberg. So Paulo: Editora Nacional, 1977. MORIN, Edgar. O mtodo I: a natureza da natureza. Lisboa: Publicaes EuropaAmrica, 1987. ______. O mtodo IV: as idias sua natureza, vida, habitat e organizao. Lisboa: Publicaes Europa-Amrica, 1991. NOBERT, Wiener. Ciberntica: ou controle e comunicao no animal e na mquina. So Paulo: Polgono, 1970. OGDEN, C. K., RICHARDS, I. A. O significado de significado: um estudo da influncia da linguagem sobre o pensamento e sobre a cincia do simbolismo. Rio de Janeiro: Zahar, 1976. PEIRCE, C. S. Semitica. So Paulo: Perspectiva, 1990. ______. Semitica e filosofia. So Paulo: Cultrix, 1975. POPPER, Karl R., ECCLES, John. O eu e seu crebro. So Paulo: Papirus/UNB, 1991.
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
95
ANGELUS NOVUS O (ANTI) HERI (PS) MODERNO: ARTE ALEGRICA, BARROCO E REVOLUO ESTTICO-CULTURAL EM WALTER BENJAMIN1
Francisco Ramos Neves2
RESUMO: Este ensaio representa uma leitura hermenutica da tese 09 sobre o Conceito de Histria em Benjamin. Relacionamos a imagem alegrica do Angelus Novus com o ideal de revoluo da histria e com a desconstruo semitica e filosfica da literalidade fechada da arte simblica e da noo de marcha linear e homognea (continuum) presente na filosofia da histria dominante. PALAVRAS-CHAVES: Alegoria; fragmento; barroco, histria; ps-moderno. ANGELUS NOVUS THE (POST)MODERN (ANTI)HERO: ALLEGORICAL ART, BAROQUE AND CULTURAL-AESTHETIC REVOLUTION IN WALTER BENJAMIN
ABSTRACT: This essay represents an hermeneutic reading of the thesis 09 on the Concept of History in Benjamin. We made a relation of the allegorical image of the Angelus Novus with the ideal of history revolution and the semiotic and philosophical desconstruction of the closed literallity of the symbolic art, and the notion of the linear march and homogeneous (continuum) present in the philosophy of the dominant history. KEY-WORDS: Allegory; fragment; baroque; history; post-modern.
1 Este ensaio um captulo de minha dissertao de Mestrado que realiza uma hermenutica das teses benjaminianas,
Sobre o Conceito de Histria, elaboradas em 1940.
2 Mestrado em Filosofia da Histria (UFPB). Professor de Filosofia, tica Profissional e de Mtodos e Tcnicas
de Pesquisa. da Faculdade de Cincias, Cultura e Extenso do RN (FACEX) e da Faculdade Natalense para o Desenvolvimento do RN (FARN). E-mail.: ramosneves@bol.com.br Tel.: (0xx84)964 1772
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
96
H um quadro de Klee que se chama Angelus Novus. Representa um anjo que parece querer afastar-se de algo que ele encara fixamente. Seus olhos esto escancarados, sua boca dilatada, suas asas abertas. O anjo da histria deve ter esse aspecto. Seu rosto est dirigido para o passado. Onde ns vemos uma cadeia de acontecimentos, ele v uma catstrofe nica, que acumula incansavelmente runa sobre runa e as dispersa a nossos ps. Ele gostaria de deter-se para acordar os mortos e juntar os fragmentos. Mas uma tempestade sopra do paraso e prende-se em suas asas com tanta fora que ele no pode mais fech-la. Essa tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, ao qual ele vira as costas, enquanto o amontoado de runas cresce at o cu. Essa tempestade o que chamamos progresso.3
1 INTRODUO Este trabalho realiza uma leitura hermenutica da tese 09, presente nas Teses Sobre o Conceito de Histria, obra elaborada pelo filsofo alemo, Walter Benjamin, no ano de 1940. Perodo marcado profundamente pelo auge do regime totalitrio nazi-fascista e pela misteriosa morte do autor, na fronteira franco-espanhola, precisamente na cidade de Port Bou, quando se encontrava acuado na tentativa de fugir da perseguio e do avano das tropas da represso nazi-fascista..
Benjamin, Walter. Teses Sobre o Conceito da Histria. In. Magia e tcnica, arte e poltica.. 2. ed. So Paulo: Brasiliense, 1986. Tese 9, p. 226.
3
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
97
Essa tese insere-se em um conjunto de outras teses como fragmentos alegricos que remetem semanticamente a um outro sentido daquele manifesto literalmente em seus termos. A interpretao da metfora do Angelus Novus, no quadro do artista plstico Paul Klee, realizada por Benjamin a partir de um fragmento textual, como prprio imagem dialtica do barroco, nos envia a outras leituras e a outras tentativas de interpretao. E no sentido de uma leitura alegrica que realizamos este trabalho hermenutico da supracitada tese. Nessa tese podemos vislumbrar contribuies ao entendimento do conjunto das outras teses fragmentares no que diz respeito crtica da razo histrica do historicismo na concepo tradicional e iluminista da filosofia da histria. Bem como, podemos vislumbrar com a tese 9 elementos de uma inverso drstica no estudo semntico e esttico da figura do anjo da tradio divina, para representar um ser outro que sirva de representao crtica das formas tradicionais de reproduo conservadora da cultura dominante com seus monumentos convencionais. E isto nos possibilitou discutir a perda do papel e desconstruo da forma do heri tradicional como cone da legitimao da histria em sua resistncia s transformaes que objeto do novo representante do heri, o (anti) heri (ps) moderno. Alm do mais a referida tese suscita a problematizao semitica entre alegoria em sua contraposio com o smbolo; a primeira enquanto linguagem do barroco na quebra da literalidade e do universo fechado do smbolo enquanto linguagem do classicismo prpria concepo de histria da tradio dominante. Por fim, enfatizamos que o presente trabalho no tem a pretenso de ser a leitura nica e verdadeira da alegoria do Angelus Novus, mas representa uma contribuio e uma leitura eminentemente alegrica do fragmento benjaminiano que por sua caracterstica barroca ainda tem muita coisa a interpretar e nos ensinar com suas metforas. 2 IMAGEM TRADICIONAL X IMAGEM ALEGRICA: O Ser Outro na Questo das Diferenas Esttica e Semntica da Imagem do Angelus Novus. A representao esttica de um anjo, tal qual a de um arcanjo, um serafim, um querubim, etc., comumente expressa como smbolo a figura do belo que simboliza um estado de serenidade e felicidade, inerente sua categoria fundante: a harmonia das formas, sobretudo dos contornos faciais, e isto no se constata na imagem do Angelus Novus, o que, a priori, j o coloca enquanto contraponto, enquanto diferena, como veremos abaixo com a hermenutica (interpretao - leitura) da supracitada Tese benjaminiana de crtica razo histrica da tradio. No h aquela harmonia prpria forma esttica da realidade angelical, muito menos no se vislumbra na denominao semntica Angelus Novus o fundamento da eternidade intemporal; pois, neste fundamento no h o velho nem o novo, s o eterno, o que est por fora da temporalidade histrica. E isto caracteriza o carter alegrico do Anjo da Histria enquanto um cone que manifesta em sua aparncia uma significao outra: a crtica e desconstruo do que se coloca como eterno, supremo e determinante, que so categorias prprias ao conceito de razo instrumental presente na filosofia da histria dos dominantes. Em tal razo h a submisso da vontade de todos s absolutas e escatolgicas foras do progresso, porm o Angelus Novus resiste e interpe sua vontade prpria, contrariando a ordem da histria oficial estabelecida arbitrariamente.
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
98
Os anjos no so novos, so intemporais como o prprio Deus de quem so emanao. Os anjos tambm no tm vontade prpria, sobretudo aps a lio exemplar aplicada a Lcifer. Eles so governados pelo prprio desgnio divino e por isso mesmo a natureza ou as foras do mundo celeste jamais atua contra eles. Portanto se a tempestade letal do progresso, que vem do paraso, decorreu da vontade de Deus, esse anjo no mais obedece, mas resiste aos propsitos do Supremo.4
No entanto, a alegoria5 do Angelus Novus concebida por Paul Klee e adotada por Benjamin, na supracitada tese, como representao do anjo da histria, em sua forma esttica, no propicia ao espectador um contemplar sereno e tranqilo de uma harmonia apolnia, prpria ao smbolo dentro do campo semitico. Sua compreenso requer uma hermenutica que extrapole o seu sentido literalmente manifesto; visto que, a leitura alegrica representa a busca de seu ser outro, uma espcie de alteridade semntica, pela quebra da literalidade simblica de sua imagem. 3 O ALEGRICO COMO CONTRAPONTO SEMITICO AO SIMBLICO: O Barroco Como Anttese do Classicismo. A relao semitica de diferenciao entre o simblico e o alegrico pode ser enfatizada na imagem icnica do Angelus Novus. De acordo com Benjamin a compreenso persuasiva e esquemtica desta relao pode se efetivar luz da decisiva categoria do tempo6 ; pela qual verificamos que o smbolo apresenta convencionalmente a forma harmnica do tempo histrico, que ao juntar significado e significante, prope uma representao monista e fechada em uma totalidade que tudo estrutura e hierarquiza7 . Por sua vez, a alegoria, ao contrrio do smbolo, enquanto metfora continuada a representao da obra em aberto, a obra que, para referir-se ao mundo fragmentado, tornou-se ela prpria fragmentada, por recusar a totalizao, o fechamento de sentido.8 E isto a demonstra enquanto portadora de mltiplos e diferentes sentidos e significaes em uma polissemia de signos, possibilitando a formao da arte a partir da tcnica de colagens, montagens e remontagens de fragmentos, desconstruindo a unidade entre contedo e forma, prpria realidade semntica do smbolo. prprio do procedimento alegrico essa disjuno entre o significado( o contedo, o que se expressa) e o significante (a forma).9 Destarte, a alegoria representa a desfigurao e mortificao da aparente harmonia das formas de arte, como podemos observar na imagem grotesca e desfigu-
4 5
Sevcenko, Nicolau. O Enigma Ps-moderno. In.: Ps-modernidade. Campinas: Ed. da UNICAMP, 1987. p. 48. Etimologicamente, alegoria vem do grego allos (outro) e agourein (falar), portanto, quer dizer: falar o outro. A alegoria um procedimento retrico atravs do qual se exprime um sentido, no imediatamente compreensvel, diverso do sentido literal. Ver.: Frederico, Celso. Lukcs e Walter Benjamin. in.: Lukcs: Um Clssico do Sculo XX. .ed. So Paulo: Moderna, 1997. p. 68. (Col. Logos). 6 Benjamin, Walter. Origem do Drama Barroco Alemo. So Paulo: Brasiliense, 1984. p. 188 7 Frederico, Celso. Op. cit. p. 74 8 Idem. p. 70 9 Idem. p. 69
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
99
rada do Angelus Novus, evidenciando as runas da histria pela olhar petrificado de uma caveira como representao tambm alegrica da mortificao e fragmentao da realidade (simblica) presente na histria oficial. E de acordo com Benjamin,
Ao passo que no smbolo, com a transfigurao do declnio, o rosto metamorfoseado da natureza se revela fugazmente luz da salvao, a alegoria mostra ao observador a facies hippocratica da histria como protopaisagem petrificada. A histria em tudo o que nela desde o incio prematuro, sofrido e malogrado, se exprime num rosto no, numa caveira. E porque no existe, nela, nenhuma liberdade simblica de expresso, nenhuma harmonia clssica da forma, em suma, nada de humano, essa figura, de todas, a mais sujeita natureza, exprime, no somente a existncia humana em geral, mas de modo altamente expressivo, e sob a forma de um enigma, a histria biogrfica de um indivduo.10
A alegoria do Angelus Novus ao quebrar a aparente realidade do objeto realiza sua morte para fazer renascer um novo significado sobre sua verdade literal e simblica. Esta mortificao acontece porque, pela abordagem alegrica, o objeto retirado do seu contexto tradicional, habitual, e desconstrudo, mortificado em sua manifestao literal para uma nova (outra) vida.
O alegorista, em seu fazer artstico, retira os objetos de sua localizao histrica habitual e lhes confere , no novo contexto, um significado material diverso do originrio. (...) Com isso, o objeto morre para poder renascer. Ocorre, portanto, uma pulverizao do mundo: a realidade desmontada e reduzida a fragmentos, sendo que cada um deles pode receber uma nova significao. 11
Assim, o Barroco como expresso artstica do alegrico se revela como a soberana anttese do classicismo, sendo este a expresso artstica do smbolo; enquanto que no Classicismo (tambm em parte no Romantismo) h um culto ao smbolo da arte acabada, na arte barroca o olhar profundo do alegorista transmuta de um s golpe coisas e obras numa escrita apaixonante.12 4 ANJO BARROCO, BARBRIE E DIABRETES MUSICAIS NA ARTE DE FANTASIA LIVRE DE PAUL KLEE. Paul Klee, com sua obra, corri as bases do edifcio de contemplao passiva da obra de arte, desfigura a tranqilidade do gozo esttico. O mundo de Klee , um mundo muito diferente de outro qualquer concebido por uma imaginao latina: um mundo de espectros e duendes, de gnomos matemticos e diabretes musicais, de flores lficas e bestas fabulosas: um mundo gtico.13
10 11
Benjamin, Walter. Op. cit. p. 188. Frederico, Celso. Op. cit. p. 69. 12 Benjamin, Walter. Op. cit. p. 198. 13 Read, Herbert. A Arte de Agora, Agora. 2.ed.. So Paulo: Perspectiva, 1981. p. 109.
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
100
O olhar de quem contempla uma de suas (des) figuras, como o Angelus Novus, de profundo estranhamento que o conduz ao espanto caracterstico da Nova Barbrie. Segundo Benjamin, nas figuras do Klee a exterioridade no pode ser aleatria, pois como manifestao externa, representao, a expresso fisionmica dessas figuras obedece ao que est dentro. Ao que est dentro, e no interioridade: por isso que elas so brbaras.14 Isto se justifica ao percebermos que Paul Klee, artista plstico moderno, representante da arte de fantasia livre, arte pela arte. No entanto, mesmo sendo livre de um cnone formal absoluto sua arte possui um contedo fundamental, porm, o elemento formal acha-se inteiramente subordinado ao contedo. O contedo no est subordinado a nada: fantasia livre.15 A arte de fantasia livre gera uma ausncia de sentido na literalidade de sua exposio, e no debater-se contra a tempestade do progresso historicista que reside o no-senso e a passagem ao sentido se constri sobre a nova historiografia recuperadora da cultura dos rejeitados historicamente. E segundo a razo barroca, o Anjo benjaminiano o de Baudelaire, Klee, Rilke: so receptculos de uma reserva de no-senso, para que se possa passar ao sentido16 . Esta forma de arte prpria da inteno barroca, bem como a escrita visual do alegrico constituda por uma espcie de fragmento amorfo17 , que a torna, mesmo assim, rica em significaes; na qual a expresso de cada idia recorre a uma verdadeira erupo de imagens, que origina um caos de metforas18 , onde, evidentemente com a abertura do sentido para a expresso barroca da escrita alegrica,
Cada pessoa, cada coisa, cada relao pode significar qualquer outra. Essa possibilidade profere contra o mundo profano um veredicto devastador, mas justo: ele visto como um mundo no qual o pormenor no tem importncia. Mas ao mesmo tempo se torna claro, sobretudo para os que esto familiarizados com a exegese alegrica da escrita.19
As obras de arte de Klee, como o Angelus Novus, so destinadas s pessoas dotadas de uma sensibilidade ps-moderna; visto que desconstroem o tradicional, reproduzido pelo passado histrico do factual vivido, que alegoricamente mortifica o presente deste continuum para um dizer outro, pela emergncia do inteiramente novo na histria. Assim,
Experincia e Pobreza. In.: Magia e Tcnica, Arte e Poltica. 2.ed. So Paulo: Brasiliense, 1986. p. 116. 15 Read, Herbert. Op. cit. p. 108. Read chega a ousar uma definio da arte de Klee, dizendo que ela serve de ponte entre abstrao geomtrica e simbolismo onrico, entre cubismo e super-realismo. Seu gnio (como o de Picasso) abrange os extremos do movimento moderno, e ao mesmo tempo os transcende. Ele foi reivindicado pelos surrealistas, mas nunca endossou o programa deles. p. 109-110. 16 Matos, Olgria C. F.. Os Arcanos do Inteiramente Outro: A Escola de Frankfurt, a melancolia e a revoluo. So Paulo: Brasiliense, 1989. p. 69. 17 Benjamin, Walter. Origem... So Paulo: Brasiliense, 1984. p. 198 ss. 18 Benjamin, Walter. Op. cit. p. 195. 19 Idem . p.196-197
14 Benjamin,, Walter.
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
101
tanto um pintor complexo como Paul Klee quanto um arquiteto programtico como Loos rejeitam a imagem do homem tradicional, solene, nobre, adornado com todas as oferendas do passado, para dirigir-se ao contemporneo nu, deitado como um recm-nascido nas fraldas sujas de nossa poca.20
Ao contrrio, seu olhar de uma profunda melancolia e uma indignao moral, e em seu caminho esbarra com os detritos do fluxo do tempo histrico da tradio dominante, tornando-se um contraponto tempestade do progresso;21 e o momento de sua fruio esttica se estende arrastado por este olhar espantoso, inquietante e escancarado do Angelus Novus. A alegoria a natureza e forma deste olhar, e sua inspirao reside no rosto turvo e glido da melancolia. Pois a alegoria o nico divertimento, de resto muito intenso, que o melanclico se permite22 . 5 O ANJO DA HISTRIA COMO (ANTI) HERI (PS)MODERNO: Runas e fragmentao da razo histrica na crtica ao culto de conservao da histria oficial. As realizaes do heri tradicional so coroadas de xito quando apresenta objetivamente o fluxo determinista do tempo, cumprindo em seus atos e em suas imagens a idia de um progresso enquanto marcha inexorvel de um povo no interior de um tempo vazio e homogneo do historicismo. A crtica da idia do progresso tem como pressuposto a crtica da idia dessa marcha23 do historicismo que apregoa o culto ao heri da histria oficial. A imagem do Angelus Novus no incorpora as caractersticas do heri tradicionalmente aceito. Sua imagem a do anti-heri que mergulha na contracorrente da histria, desconstruindo a idia do progresso da razo histrica no pensamento da tradio poltico e culturalmente dominante. Desta forma, a espera ao heri da tradio representa uma atitude conservadora que favorece aos dominantes. o culto aristocrata e capitalista de submisso a um poder centralizador e desptico, como o prprio historiador conservador do tradicionalismo da histria oficial no sculo XIX , Thomas Carlyle, defende como forma de manuteno do status quo existente. Segundo Carlyle, para a juventude respeitar a ordem e conservar a histria sem mudanas necessrio o culto ao heri tradicional, visto que, o antigo heri filho da ordem, sua misso garanti-la, e seu culto a garantia das tradies, dos credos e das sociedades institudas.24 Assim, criticamente a imagem alegrica da histria de perspectiva anti-herica, que no conserva a cadeia dos acontecimentos do tempo vazio e homogneo, que
20 Benjamin, Walter.
Experincia e Pobreza. In.: Magia e Tcnica, Arte e Poltica. 2.ed. So Paulo: Brasiliense, 1986. p. 116. 21 A idia de progresso presente nas teorias tradicionais da filosofia da histria representa um movimento determinado por pretensas leis histricas, que regem a marcha da humanidade independente de sua vontade livre, constituindo a idia de fora no conceito de teleologia (teoria formal do agir conforme a fins determinados racionalmente) da tradio. 22 Benjamin, Walter. Origem ... p. 207 23 Benjamin, Walter. Teses ... Tese 13, p. 229. 24 Feij, Martin Cezar. O Que Heri. So Paulo: Brasiliense, 1984. p. 34. (Coleo Primeiros Passos).
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
102
demonstra a histria oficial como uma catstrofe nica, que acumula incansavelmente runa sobre runa e as dispersa a nossos ps.25 E esta imagem da histria em fragmentos o que joga o anti-herico Angelus Novus no espanto por tamanha translucidez. O Anjo a alegoria que mostra a histria do vivido (do ocorrido oficialmente) como runa e fragmentos das potencialidades do ainda-no-vivido, que a alteridade histrica reprimida. A matria mais nobre da criao barroca esta imagem da histria em fragmentos, em runas, em estilhaos, e nisto consiste o ncleo central da viso alegrica: a exposio barroca, mundana, da histria como histria mundial do sofrimento, significativa apenas nos episdios do declnio26 . E, ainda de acordo com o pensamento benjaminiano, como runa, a histria se fundiu sensorialmente com o cenrio. Sob essa forma, a histria no constitui um processo de vida eterna, mas de inevitvel declnio. Com isso, a alegoria reconhece estar alm do belo. As alegorias so no reino dos pensamentos o que so as runas no reino das coisas. Da o culto barroco das runas.27 Destarte, diferentemente do heri da tradio conformista que se submete passivamente tempestade do progresso como smbolo de uma cadeia de acontecimentos, o Angelus Novus a alegoria do anti-heri, sua misso a de fazer explodir o continuum do cortejo triunfal da histria pelos ares, formando uma tempestade de fragmentos. O anjo, tal qual o (anti)heri (ps)moderno aquele que est margem, juntamente com os rejeitados historicamente, pois, no estando mais sintonizado com o poder, ele prprio est condenado a ser um vencido e um enxovalhado.28 E por isso que faz questo, metaforicamente, de no vivenciar a experincia do tempo vazio e homogneo da razo histrica. A (in)experincia com a histria oficial dos dominantes, a partir da realidade efmera e fugidia do rejeitado,
do inadaptado, do alegorista da cidade(...) homloga ao olhar do Anjo melanclico da histria: nele se tecem as relaes inditas entre o humano e o inumano, o efmero e o eterno, a histria e o messianismo. O Anjo o intrprete daquilo que no homem e na histria existe de inumano, que transgride suas fronteiras.29
A apario fugaz na histria do Angelus Novus, representa a imagem de conflito com a figura do antigo heri trgico do passado vivido da antigidade, eternizado pela empatia historicista. A imagem do anjo da histria de perspectiva anti-herica, tal qual o poeta moderno, que temos como exemplo Charles Baudelaire, o poeta de Flores do Mal. Desta forma, o anjo, tal como o poeta, a alegoria da temporalidade, do precrio e do fugidio, vivido nas multides abstratas e quantitativas da metrpole, esse turbilho pantesta da modernidade.30 Haja vista que, o poeta o substrato do heri da antigidade, uma espcie
25 26
Benjamin, Walter. Op. cit.. Tese 9, p. 226. Benjamin, Walter. Origem ... p. 188. 27 Benjamin, Walter. Op. cit. p. 200. 28 Sevcenko, Nicolau. Op. cit. p. 48. 29 Matos, Olgria C. F.. Op. cit. p. 69. 30 Matos, Olgria C. F.. Op. cit. p. 70.
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
103
de heri moderno que se auto nega enquanto tal e renuncia seu papel; pois, no conceito de heri moderno j se esboa esta renncia. Ele est predestinado derrota31 . O heri da atualidade mais que moderno ps-moderno, pela crtica desconstrutiva da razo histrica. Vinculo o Angelus Novus ao ideal ps-moderno, visto que este ideal supe uma reflexo sobre o tempo, e se refere, em sua elaborao conceitual a um outro tempo histrico que no seja um tempo homogneo, linear, em que se pudesse estabelecer um recorte e fixar uma data decisiva, um ato inaugural, como se poderia esperar da viso simplista da histria na qual somos zelosamente educados 32 . E este outro tempo, que o Anjo da histria indica, rompe com as barreiras do totalitarismo da razo instrumental do historicismo da modernidade iluminista, que fecha o universo da histria em um encadeamento causal rumo a fim predeterminado; desta forma, a alegoria alada que Benjamin descreve assume revolucionariamente um outro tempo, e essa a condio do novo que se manifesta aps a modernidade33 . O Angelus Novus, por sua renncia ao papel do heri tradicional, , neste novo tempo, o anti-heri na relao com a tradio da histria simplista e linear propalada pelos dominantes. Porque o heri moderno no heri o representante do heri34 . E na relao: essncia - fenmeno, a essncia enquanto idia alimenta a sua manifestao: o fenmeno, que por sua vez torna-se representao da essncia. J que o fenmeno eminentemente histrico e contingencial, sua forma representativa torna-se algo radicalmente diferente da origem, desconstruindo seu papel e forma original. A heteronomia complexa desta (ps) modernidade revela-se como tragdia em que o papel do heri est disponvel35 , como sua fatalidade, na qual o heri no est previsto; ela no tem emprego para este tipo. Ela o amarra-o para sempre no porto seguro; abandona-o a uma eterna ociosidade.36 Assim, em uma alegoria o anti-heri assume o papel colocado disposio, o desconstroi e o representa na imagem do heri moderno. O anti-heri encarna o ideal de personagens pouco convencionais para a situao (ps) moderna. So os exilados urbanos das grandes metrpoles que os marginalizam na melancolia das cidades racionalistas. Os novos heris do drama barroco benjaminiano da modernidade so os que esto margem, os a-sociais, os inadaptados37 ; como, alm de outros, o Flaneur, o apache, o dandy, o colecionador, o trapeiro, o poeta38 , que, tal qual Baudelaire, desconstroi a realidade pela arte
31
Benjamin, Walter. A Modernidade. In: A Modernidade e os Modernos. Rio: Tempo Brasileiro, 1975. p. 16. (Biblioteca Tempo Universitrio, 41) 32 Sevcenko, Nicolau. Op. cit. p. 45. 33 Idem. p. 50. 34 Benjamin, Walter. Op. cit. p. 28 35 Idem. p. 28 36 Idem. p. 27 37 Matos, Olgria C. F.. Op. cit. p. 69
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
104
alegrica. E esses heris inadaptados so na verdade os que no se encontram nos anais da histria oficial, pois sempre a histria oficial registrou os heris oficiais, os heris da classe dominante: reis, generais, empresrios e guerreiros39 ; os demais se destacam, mas por serem contrrios a esta ordem histrica legitimadora da opresso, e esses so os inadaptados heris conspiradores e revolucionrios, que so bandidos para a classes dominantes e heris para as classes dominadas40 . Em Baudelaire podemos ver o resgate desse outro tipo de heri, o (anti)heri anunciado alegoricamente como o outro ser da realidade em uma violncia potica que desconstri o sentido original do heri da tradio. Visto que, a poesia de Baudelaire um ato violncia e nisto ele recorre a alegorias. So as nicas que fazem parte do segredo.41 E entre aqueles personagens inadaptados que se situa a alegoria do anjo da histria, que em seu espanto com o turbilho de acontecimentos da sociedade capitalista moderna serve de referncia para a crtica transformadora da realidade, e este o carter prprio alegoria, que Baudelaire define poeticamente da seguinte forma:
ALEGORIA/ uma bela mulher, de aparncia altaneira,/Que deixa mergulhar no vinho a cabeleira./As tenazes do amor, os venenos da intriga,/Nada a epiderme de granito lhe fustiga./Da Morte ela se ri e escarnece da Orgia,/ Espectros cuja mo, que ceifa e suplicia,/Respeitaram, contudo, em seus jogos de horror,/Neste corpo elegante o rstico esplendor./Caminha como deusa e dorme qual sultana,/E mantm no prazer uma f maometana./Braos em cruz, inflando os seios soberanos,/Com seu olhar convoca a raa dos humanos./Ela sabe, ela cr, em seu ventre infecundo,/E no entanto essencial ao avano do mundo,/Que a beleza do corpo sempre um dom sublime/Que perdoa a sorrir qualquer infmia ou crime./O inferno desconhece e o Purgatrio ignora,/E quando a negra Noite anunciar sua hora,/Da Morte ela h de olhar o rosto apodrecido/ Sem remorso ou rancor, como um recm-nascido.42
Benjamin teve forte influncia do pensamento esttico de Baudelaire, principalmente no que diz respeito noo de alegoria. A postura iconoclasta do Angelus Novus que, mesmo diante das runas e decadncia do mundo moderno da razo histrica, no se entrega ao inferno do cortejo triunfal dos dominantes, nem aceita
38 Estes personagens tm, em sua imagem, muita coisa em comum que os designam como (anti)heris (ps)modernos.
O apache que, segundo Benjamin, renega as virtudes e as leis, denuncia de uma vez para sempre o contrato social. E o colecionador, o dandy, o flaneur, o trapeiro e o poeta, alm de outros, que, de acordo com Baudelaire, vagam perdidamente, feitos transeuntes, pela cidade a coletar como se coleta rimas e versos todo o lixo do dia que passou, tudo o que ela jogou fora, tudo o que perdeu, tudo o que despreza, tudo o e destri; assim este grupo de personagens coleciona os anais da desordem, o Cafarnaum da devassido, seleciona as coisas, escolhe-as com inteligncia; procede como um avarento em relao a um tesouro e agarra o entulho que nas maxilas da deusa da indstria tomar a forma de objetos teis ou agradveis. Baudelaire, Charles. Apud. Benjamin, Walter. Op. cit. p. 15, 16 e ss. 39 Feij, Martin Czar. Op. cit. p. 29 . 40 Idem. p. 31 41 Benjamin, Walter. Op. cit. p. 30. 42 Baudelaire, Charles. Alegoria (CXIV). In.: As flores do mal. 5.ed. Rio: Nova Fronteira, 1985. p. 403
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
105
seguir a corrente do continuum historicista. O anjo da histria benjaminiano tem uma relao ntima com o conceito esttico de alegoria em Baudelaire; como o prprio poeta enuncia em um de seus poemas que a alegoria no teme a decadncia, ela ri da morte e desta Morte ela h de olhar o rosto apodrecido Sem remorso ou rancor, e ver que as runas e os fragmentos que desconstroem e mortificam o mundo moderno apenas prenunciam o inteiramente outro, o novo na contracorrente da histria, como um recm-nascido.43 Tambm podemos vislumbrar uma conspirao contra a literalidade simblica dos textos literrios44 , no que diz respeito figura do heri, e o prprio Baudelaire reconhece na figura do conspirador (a exemplo de Blanqui) a imagem do heri moderno45 . E conclama: abaixo as tragdias, que colocava o heri antigo em uma marcha determinista a uma trgica escatologia sem o direito de sequer sonhar com a liberdade, para propor uma desconstruo desta marcha, indo pela contracorrente e despedindo-se do mundo em que a ao no sinnimo do sonho46 . A alegoria na poesia de Baudelaire, na figura do anti-heri e nas figuras de Klee, que tanto inspiraram Benjamin, tem as costas voltadas para o cortejo triunfal dos vencedores, e o Angelus Novus, como a mais presente arte alegrica, a referncia destas figuras bastante tematizadas nas obras de Baudelaire. Destarte,
tal qual o Angelus Novus, tambm Benjamin e Baudelaire testemunham o desfiguramento, a destruio e as runas da metrpole moderna(...) Modernidade e caducidade so captadas naqueles que a cidade exclui, marginalizando-os: so os velhos, o lixo humano, dos Tableaux Parisiens47
A melancolia de vislumbrar o mundo em fragmentos mortos, e as intenes dos vencidos em runas encobertas pelos monumentos deixados pelos dominantes prpria constituio do olhar alegrico que tenta deter-ser para recuperar a histria na perspectiva daqueles oprimidos. A melancolia coloca o anjo benjaminiano em situao de distncia em relao a seu mundo, pois o melanclico vive um sentimento de estranhamento(...) o sentido profundo da melancolia encontra-se em sua fidelidade ao rejeitado48 Benjamin utiliza-se da alegoria, na referida tese 9, para representar o momento filosfico do assombro (ou espanto), gerador de conhecimentos, como um corte (refluxo) no tempo continuum. Pois, quando o fluxo real da vida represado, imobilizando-se, essa interrupo vivida como se fosse um refluxo: o assombro esse refluxo.49 O refluxo histrico propiciado pela contracorrente desconstrutiva do ideal historicista e teleolgico do tempo e do progresso. O Angelus Novus tem o rosto voltado para o passado e no para o futuro prometeico e otimista do determinismo da razo histrica. Dessa forma, como resultante do assombro filosfico, tal alegoria alada no tem o olhar dirigido ao fim escatolgico de uma totalidade fechada,
43 44
Baudelaire, Charles. Op. cit. p. 403 A prpria leitura alegoricamente estabelecida prope a desconstruo da literalidade semntica do texto em um movimento exegtico (hermenutico), que nos remete ao distante mesmo no que est prximo, em busca de um significado outro. Desta forma, a leitura alegrica procura acompanhar esse movimento, essa insistente busca do outro. Ver.: Kothe, Flvio R.. A Alegoria. So Paulo: tica, 1986. p. 75. 45 Benjamin, Walter. Op. cit. p. 31. 46 Baudelaire, Charles. Apud. Benjamin, Walter. Op. cit. p. 31. 47 Matos, Olgria C. F. Op. cit. p. 72. 48 Idem. p. 71 e ss. 49 Benjamin, Walter. Que o Teatro pico. In: Magia e Tcnica, Arte e Poltica. 2.ed. So Paulo: Brasiliense, 1986. p. 89.
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
106
nem segue em uma marcha linear e mecnica determinada por pretensas leis naturais. 6 CONCLUSO Por fim, o anjo da histria a alegoria que, por excelncia, torna-se cone da luta de Walter Benjamin contra a noo de progresso em si da humanidade presente na razo histrica iluminista. Sem dvida, que por assim ser, a Tese 09 a mais importante e mais amplamente conhecida. Nela se configura a radicalizao alegrica do relacionamento da histria destino com a histria dos fracassos, onde o tempo presente propicia o momento filosfico do assombro para sua reparao anamnsica e para a realizao da esperana de felicidade no resgate do inteiramente novo, como o ainda-no-vivido. O Angelus Novus traduz a recusa da mo-nica seguida pelo transcurso da razo histrica na teleologia do mesmo na filosofia da histria. E a demonstrao alegrica da viso barroca do mundo e da histria em fragmentos, aberta para inmeras possibilidades revolucionrias, na desconstruo do continuum do tempo vazio e homogneo e na reparao e recuperao anamnsica da histria na perspectiva dos injustiados, rumo ao inteiramente novo na histria da humanidade. 7 BIBLIOGRAFIA BAUDELAIRE, Charles. As Flores do Mal. 5.ed., Rio: Nova Fronteira, 1985. BENJAMIN, Walter. A Modernidade. In: A Modernidade e os Modernos. Rio: Tempo Brasileiro, 1975. (Biblioteca Tempo Universitrio, 41). _____. Experincia e Pobreza. In: Magia e Tcnica, Arte e Poltica. 2.ed. So Paulo: Brasiliense, 1986. (Obras Escolhidas, v. 1). _____. Origem do Drama Barroco Alemo. So Paulo: Brasiliense, 1984. _____. Que o Teatro pico. In: Magia e Tcnica, Arte e Poltica. 2.ed. So Paulo: Brasiliense, 1986. (Obras escolhidas, v.1) _____. Teses Sobre o Conceito da Histria. In: Magia e Tcnica, Arte e Poltica. 2.ed.. So Paulo: Brasiliense, 1986. (Obras escolhidas, v.1). FEIJ, Martin Cezar. O Que Heri. So Paulo: Brasiliense, 1984. (Coleo Primeiros Passos). FREDERICO, Celso. Lukcs e Walter Benjamin. In: Lukcs: Um Clssico do Sculo XX. 2. ed. So Paulo: Ed. Moderna, 1997. (Col. Logos). KOTHE, Flvio R.. A Alegoria. So Paulo: tica, 1986. MATOS, Olgria C. F.. Os Arcanos do Inteiramente Outro: A Escola de Frankfurt, a melancolia e a revoluo. So Paulo: Brasiliense, 1989. READ, Herbert. A Arte de Agora, Agora. 2.ed.. So Paulo: Ed. Perspectiva, 1981. SEVCENKO, Nicolau. O Enigma Ps-moderno. In: Ps-modernidade. Campinas: Ed. da UNICAMP, 1987.
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
107
UTOPIA E ANTROPOFAGIA: QUANDO O U DO TUPI GUARANI RECOLOCA A CABEA DE MORUS SOBRE OS SEUS OMBROS
Walter Pinheiro Barbosa Junior1 RESUMO: Este trabalho objetiva contribuir com uma certa arqueologia na tradio literria sobre Utopia. Ele inspira-se nas obras dos utopistas e busca identificar os elementos de interseco que existem entre a cultura europia e a dos humanos que habitavam nas terras do alm-mar. A antropofagia oswaldiana, o sentido que a letra U possui na lngua tupi e o contexto histrico da poca em que So Tomas Morus escreveu sua obra: Livreto deveras precioso e no menos til do que agradvel sobre o melhor dos regimes de Estado e a ilha da utopia, fundamentam e definem a forma deste trabalho enquanto uma preocupao filosfico-literria que reflete as mltiplas possibilidades das utopias, concentrando-se na letra que inicia a palavra utopia. O U sendo na lngua grega negao, tambm se apresenta no tupi guarani como comer, engolir, ou seja, enquanto uma afirmao. PALAVRAS-CHAVE: Utopia; arqueologia; Morus; Tupi. UTOPIA AND ANTHROPOPHAGY: WHEN THE U FROM THE TUPI GUARANI PUTS AGAIN MORUSS HEAD OVER HIS SHOULDERS ABSTRACT: This work has the objective of giving a contribution in terms of archeology to the literary tradition on Utopia. It is inspired in works of utopists, and it searches for identifying the elements of intersection that exist between the European culture and that of human people who inhabited over-sea lands. The Oswaldian anthropophagy, the meaning that the letter Ugot in the Tupi language, and the historical context of the epoch in which Saint Thomas Morus wrote his work: Book indeed precious and not lesser useful than nice on the best social system of the State and the island of utopia (our translation) substantiate and define the form of this work as a philosophical and literary preoccupation that reflect the multiples possibilities of the utopias, concentrating on the letter which iniciates the word utopia. The U means Greek negation, but it also presents itself in Tupi Guarani meaning to eat, to swallow, as an affirmation. KEY-WORDS: Utopia; archaeology; Morus; Tupi.
1 Pedagogo. Mestre em Educao. Doutorando do Programa de Ps-Graduao em Educao da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Professor Assistente I da UFRN. End.: Serrambi V, Bl. 06, apt. 404. Nova Parnamirim. CEP 59080-100, Parnamirim/RN. E-mail: pinheirorn@zipmail.com.br
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
108
Por toda parte estamos diante do Ser e cercados de mistrios. (Heraldo Barbuy) Leve o pssaro E a sua sombra voante mais leve E o que lembra ouvindo-se deslizar seu canto mais leve E o desejo rpido desse antigo instante Mais leve. (Ceclia Meireles) Desejo penetrar na no verdade, destruir aletia, banquetear-me com a serpente e vagar pelo mundo, deslizando no bosque por entre as tenebrosas rvores de concreto buscando algo que se assemelhe ao algo da busca. No quero a companhia de Virglio, nem que Beatriz me aguarde, sigo como mais um troglodita borgiano que ergue o lugar, mas habita a margem e no usa capa nem guarda-chuva quando chove. Caminho inutilmente, p ante p, pelas avenidas, ruelas e estreitos becos da cidade que erigi em mim mesmo, em uma das esquinas, ou melhor, na calada do caf So Luiz onde escuto o grunhido do homem de marrom, me aproximo e ouvindo dos seus lbios olho suas palavras que marcham como marcham os soldados no dia 7 de setembro: firmes, cadenciados e organizados. O homem de marrom contava para os outros desocupados, que a palavra utopia significava fantasia, ideal, desejo irrealizvel e que esta mesma palavra podia designar um gnero literrio que delimita um campo no qual diversas obras encadeiam-se como elos de uma mesma e nica corrente; para ele a palavra podia ainda designar algumas fices polticas. O homem de marrom julgou desargumentar todos os presentes quando afirmou: - A palavra utopia significa u de negao, de no e, topos que significa lugar. Portanto, a etimologia da palavra utopia significa: lugar que no existe. Para destruir de vez qualquer possibilidade de contra argumentao ele sentenciou: - A palavra utopia emerge com muita fora, quando, em 1716, o relator do Conselho de Estado, So Tomas Morus escreveu sua obra prima: A Utopia, e nesta obra ele utilizou palavras como Amaurote (cidade fantasma), rio Anidra (rio sem gua), rei Utopos (rei do lugar que no existe) e colocou como relator Rafael (viajante que abre os olhos dos homens). Com isso o prprio Morus negou tudo o que enunciou. Ouvindo os lbios do homem de marrom e olhando suas palavras, um eu de mim atordoado se recolheu cela interior (a mais profunda), para em silncio realizar uma escavao arqueolgica. O tempo, a pacincia e o trabalho de um dos meus eus permitiram descobrir que a sorte de todo pensamento importante tem sido sempre a de durar se dividindo, de maneira que a prxima questo do elo que une a tradio diversificada permanece aberta e em debate. Um eu paciente de mim entrou no rio da existncia. Descalo, sentia o fluxo da terra e da gua a tocar os ps, a cabea estendia-se pela abbada celeste e seus braos sustentavam as teias da rede de uma peneira que s vezes retia os fragmentos
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
109
primitivos oriundos da fonte. Entre os fragmentos retidos, estava um livro, cujo ttulo era: Livreto deveras precioso e no menos til do que agradvel sobre o melhor dos regimes de Estado e a Ilha da Utopia. Encantado com esta redescoberta ele no percebeu que um senhor de cabelos longos e brancos o convidava para sentar-se beira do rio, mas quando este eu de mim percebeu, foi e sentou-se com o senhor de longos cabelos brancos e dele ouviu as seguintes palavras: - So Tomas Morus se nutria das idias que possua. Ele viajou para Flandres (Holanda) com o objetivo de restabelecer o comrcio de l com a Holanda, l ele conversava com os homens do alm-mar que lhes contavam as coisas da Amrica. Morus, meu filho, ficou encantado, pois ele vinha da Inglaterra onde via os carneiros devorando os homens e ouviu falar do novo mundo. O velho e o novo mundo apresentam-se na conscincia de Morus como um esperma e um vulo. Esta fecundao origina a sua obra cujo ttulo foi reduzido a Utopia. O aflorar dos desejos de Morus o transformou em uma ameaa a Inglaterra e, em 1532, como chanceler ingls, ele se demitiu, foi julgado e condenado. O Ser que gestou e pariu a obra que originou a palavra que passou a designar um gnero literrio teve sua cabea apartada do corpo, e entre corpo e cabea se instituiu um fluxo de sangue. A partir do sc. XVI passamos a aceitar as obras que expressavam os desejos mais profundos dos homens que ardiam de vontade, como utopias. Retira-se com esta palavra a presentidade ou o agora das obras. O eu paciente de mim, olhando as guas do rio que deslizavam desnudas para se encontrar com o mar, lembrou que uma palavra pode ser mais que a margem que aprisiona o rio, ela pode ser o poluente que o mata. Este rapto de um instante do pensamento, lanou uma centelha de luz na obscura conscincia e fez emergir perguntas que estavam guardadas nos recnditos escuros da memria: ser que justo a palavra utopia designar A Repblica de Antstenes? Obra que conhecemos por meio dos Cnicos; ou a obra de Hipodamo de Mileto, que serve de inspirao para Plato? Ou a obra O Pas dos Meropes de Teopompo? Ou a obra de Jambulos? O eu paciente de mim tecendo pensamentos com perguntas do mesmo modo que o pescador tece sua rede, recordou o neto de Slon que em sua obra A Repblica nos diz:
No h Estado, nem governo nem sequer um indivduo que do mesmo modo possa jamais se tornar perfeito, antes que a esses filsofos pouco numerosos a que agora chamam, real. Dizer que uma ou outra destas hipteses impossvel de se dar, ou nenhuma delas, acho que no h razo para tal. Se assim fosse, seria justo que troassem de ns, por no passarmos, nas nossas conversas de meras fantasias. No assim? - .
(PLATO, 1980: 158). Assim como Plato, algo em mim no aceita a utopia como uma fantasia e acredita na utopia como um desejo de lugar. Pois, Campanella, que passou vinte e sete anos preso, escreveu: A Cidade do Sol ou Dilogo Sobre a Repblica no qual demonstra que a idia da reforma da Repblica Crist est de acordo com a promessa feita por Deus a Santa Catarina e a Santa Brgida. O eu paciente de
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
110
mim continuou conversando a beira do rio com o senhor de longos cabelos. Ele se levantou, e, em profundo silncio deslizou com as guas. Permaneci sentado beira do rio com a boca fechada e os olhos perdidos no devir das guas. No h solido nem silncio. Os eus de mim conversam e um diz: por todo esse tempo as nuvens do erro foram tomadas pelo cu da verdade; outro eu salta com os olhos brilhando e quase gritando de felicidade anuncia que uma nvoa ofuscou meu entendimento. S agora me dou conta, que o comunismo no um estado que deve ser criado, um ideal em torno do qual a realidade se deve regulamentar. O comunismo um movimento real, que se materializa no s no instante em que h uma transformao das relaes de produo, mas se realiza em cada olhar, em cada gesto, em cada atitude de uma criana, de uma moa ou de um velho que na relao com o outro sente o fio de melodia percorrer toda sua existncia. Agora, um dos eus de mim, tornou-se capaz de perceber que nem os socialistas utpicos eram utpicos. Fourier e os falanstrio; Robert Owen e a socializao de sua riqueza; Babeauf e a Conjurao dos Iguais. Um eu calado de mim resolve se pronunciar e diz: agora percebo que retirar a presentidade mutilar a existncia. Talvez, a palavra utopia enquanto negao de lugar seja inadequada para por si s designar a obra de Morus, pois at em Morus o lugar existia e ficou existindo de tal forma que Antnio Conselheiro tinha sua obra, como livro de cabeceira. Mas como chegar a um novo ethos da palavra? Nesse momento, um eu mais antigo de mim sorriu e seu riso anunciou o caminho, uma vez que sua boca se apresentou como um u. Tal gesto lembrou os Tupis Guaranis, em cuja lngua o U significa comer. Enquanto os meus eus dialogavam, o vento soprou uma palavra: antropofagia. Ao ouvi-la se instaurou o breu e o instante em que o fio de melodia percorreu todo o meu ser, anunciando: - O novo ethos da palavra utopia deve abandonar o U de negao e beijar o U do Tupi Guarani; pois os utopistas so bons ouvidores e comedores dos desejos e das faltas do bicho homem. A cano continua tocando. Levanto-me e ando pela beira do rio para em seguida continuar caminhando inutilmente, p ante p pelas avenidas, ruelas estreitas e becos da cidade que nem sei quem erigiu. BIBLIOGRAFIA. DE FESO, Herclito. Fragmentos. So Paulo: Nova Cultural, 1996. HEIDEGGER, Martin. Ser e Tempo. 8. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 1999. MARX, Karl. O Capital. Livro I. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989. _____. A Ideologia Alem. So Paulo: Hucitec, 1984. _____. Manuscritos Econmico-Filosficos. Lisboa: Edies 70, 1964. MORUS, T. A Utopia. Rio de Janeiro: Vozes, 1994. PETITFILS, Jean-Christian. Os Socialismos Utpicos. So Paulo: Circulo do Livro, 1977. PLATO. A Repblica. Lisboa: Fundao Calouste Gulbenkian, 1949.
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
111
O ESTADO E A ARTE BARROCA NA FRANA DO SCULO XVII
John Alex Xavier de Sousa1
RESUMO: H uma relao da arte acolhida no seio da Frana do sculo XVII com o Estado daquela localidade e esclarecendo essa afirmao sero apontadas trs proposies: primeiro, uma comparao entre a Itlia e a Frana barrocas; segundo, a interveno do Estado francs na arte; e por ltimo, uma comparao de uma possibilidade com o real, ou seja, o esquema de uma fachada proposta para o Louvre por Gian Lorenzo Bernini, e outra que foi aceita por Lus XIV. As proposies no esto dissociadas, ao contrrio so complementares para o vnculo entre a arte e o Estado francs no perodo barroco.
PALAVRAS-CHAVE: Barroco; Histria da Arte; Estado francs.
THE FRENCH STATE AND THE BAROQUE ART IN THE SEVENTEENTH CENTURY
ABSTRACT: There is a relation between the art held in the bosom of France in the XVII century and the France State. In order to make this statement clear, we will point out three propositions: firstly, a comparison between the baroque in Italy and France; secondly, the intervention of the French state in art; and finally, a comparison of a possibility with the real, that is, the squeme of a proposal of a front part for the Louvre by Gian Lorenzo Bernini, and another, accepted by Luis XVI. The propositions are not dissociated, on the contrary, they are complementary for the link one between art and the French State in the baroque period.
KEY-WORDS: Baroque; History of art; French State.
1 Mestre em Cincias Sociais pela UFRN. Professor de Histria da Arte da Faculdade de Cincias, Cultura e Extenso do RN (FACEX). Coordenador do Ncleo de Extenso e Pesquisa de Arte e Cultura (NEPAC)/ FACEX. Membro do Grupo de Estudo da Complexidade (GRECOM)/UFRN. Rua Irm Rosaly, 3601 Candelria. 59.064-710 Natal, RN.
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
112
...problemtica a afirmao de que o Barroco o estilo do Absolutismo, refletindo o Estado centralizado, governado por um autocrata com poderes ilimitados. Embora o absolutismo atingisse o auge durante o reinado de Lus XIV, nos finais do sculo XVII, tinha vindo a formar-se desde a dcada de 1520 (sob Francisco I da Frana, e os Mdici, duques da Toscana). Alm disso a arte barroca tanto floresceu na burguesa Holanda, como nas monarquias absolutistas, e o estilo oficialmente patrocinado sob Lus XIV foi de um gnio marcadamente comedido e classicista. JANSON O estilo barroco surgiu na Europa, mais precisamente na Itlia, na Roma dos papas, um gosto que beira o exagero se comparado com o estilo que o precedeu, o clssico. Da Itlia parece haver se difundido para o restante do mundo ocidental, alcanando, em algumas localidades, onde o clima da Reforma Catlica2 estava em efervescncia, extrema embriaguez. J em outras localidades, como a Europa setentrional, o espetculo barroco adquiriu uma sobriedade e um ritmo peculiar, que s vezes faz-se necessrio redimensionar algumas caractersticas para amold-lo na concepo de estilo. Por isso, falo em um gosto, que foi difundido pelo continente, rompendo a barreiras martimas e encontrando solo nas Amricas. As peculiaridades culturais de cada regio vo dar cor e forma ao Barroco. No caso da Frana do sculo XVII, a sua ligao ntima com o Estado e a nobreza imprimir em seu contedo caracteres que em alguns momentos tendem a se opor ao italiano e ao espanhol, por exemplo, enquanto noutros momentos parece abraar o fio condutor, que se convencionou chamar Barroco. Mas, antes de adentrar em tal situao convm uma conceituao do termo. A origem do termo vria, porm a que parece mais aceita consiste no vocbulo usado, na Pennsula Ibrica, pelos ourives, para designar uma prola de superfcie irregular. Sabe-se de outras, como na Itlia, conversa de pouco valor argumentativo3 e por dizer respeito a pintor maneirista, Barrocci,4 entre outras. Tendo conscincia da deficincia de um conceito, gostaria de sempre deix-lo aberto no que diz respeito ao Barroco, na idia de no limit-lo, pois sua prpria forma no cabe em si. O gosto da populao europia do final do sculo XVI passou por modificaes significantes, beirando uma mudana em sua viso de mundo, era o contraste violento entre o teocentrismo e o racionalismo antropocntrico situao que concedia o cetro, que antes pertencera a Deus, ao homem. Esse era o clima que passava a perdurar no mundo europeu e ganharia seu pice durante o sculo XVII. Essa nova forma de observar a realidade consistia na persistncia de valores que ganharam concretude no medievo e persistiam na vida cotidiana do homem moderno, com todas as transformaes tcnicas, cientficas, econmicas, pelas quais passava a sociedade. De posse desse novo arsenal no se torna complicado compreender a permanente existncia de conceitos contrrios sobrevivendo coetaneamente.
2 Uso o termo Reforma Catlica ao invs do muito usado Contra-Reforma, pois percebo o movimento reformista da Igreja Catlica, sob a gide do Conclio de Trento, como algo que ultrapassa uma simples reao a Reforma Protestante iniciada por M. Lutero. O termo Reforma Catlica ganha a complexidade que foi esse movimento para o catolicismo. 3 CONTI, 1987, p. 6. 4 GRANDE ENCICLOPDIA DELTA LAROUSSE, v.1, p. 770.
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
113
Na Frana, por volta do sculo XIV, j havia uma tendncia aparente da centralizao poltica que foi, de certa forma, esfacelada pela Guerra dos Cem Anos (1337-1453), porm ao mesmo tempo fortificou o esprito nacionalista francs fazendo com que a monarquia organizasse um exrcito real, que cobriu de fora a realeza, apontando para consolidao do poderio do sistema poltico vigente a monarquia. O sculo XVI parece materializar o Estado Nacional e o poder monrquico. Nele autoridade monrquica adquire valor preponderante com a concordata de Bolonha (1516), ficando os bens eclesisticos aos interesses do rei, sem contar com a possibilidade de interveno estatal na poltica da Igreja. Se no sculo XVI europeu percebemos a consolidao do Estado Nacional e do absolutismo, no posterior veremos o apogeu, coincidindo com o perodo caracterizado pelo gosto barroco.
A Frana foi no sculo XVII o pas mais poderoso da Europa, tendo a populao mais numerosa e estando firmemente centralizada em torno do rei. Tomou a preponderncia poltica Espanha, que dominara a Europa no sculo precedente (Bazin, 1994, p. 123).
Um aspecto que no deixa de ter sua importncia, no tocante ao tema de estudo em pauta, resvala para o assunto poder e arte, pois na compreenso do estilo barroco costuma-se dizer que fruto da propagandstica da Igreja catlica, abalada pela Reforma Protestante.5 Porm, tal percepo reduz o barroco a uma corrente como italiana e quela desenvolvida na Pennsula Ibrica, por exemplo. Nesse caso o francs seria uma exceo? Faria parte da propaganda do poder do seu Estado? Era uma forma de manter sua soberania em um momento onde os meios de comunicao de massa no existiam? Tomar esse caminho pode levar a um erro no que diz respeito a proposio de arte que me proponho, pois pode limit-la a um simples reflexo, quando a percebo impregnada tambm da caracterstica de transformadora do meio em que produzida.6 H uma estreita relao entre o Estado francs do sculo XVII com o tipo de arte produzida, mas afirmar que arte seria um reflexo dele poderia limit-la, negaria o constante esprito inovador dos artistas e dos outros patamares da hierarquia social, reduzindo a criao da arte ao carter artesanal da manufatura ou cpia, que parecem negar a possibilidade do salto imaginativo.7 Ainda, poderamos estar atribuindo um poder demasiadamente superior aos reis, talvez de carter metafsico, caracterstica que no me proponho. Mas, h uma relao da arte acolhida no seio da Frana do sculo XVII com o Estado daquela localidade e para esclarecer essa afirmao passemos a discusso de trs proposies: primeiro, uma ligeira comparao entre a Itlia e a Frana, no que diz respeito ao gosto barroco; segundo, como o Estado francs intervia diretamente na arte; e por ltimo, uma comparao de uma possibilidade com o real, ou seja, o esquema de uma fachada proposta para o Louvre por Gian Lorenzo Bernini e outra, que foi aceita por Lus XIV, que corresponde a fachada atual. Essas proposies no esto dissociadas, ao contrrio so at complementares para a compreenso que me proponho, o vnculo entre a arte e o Estado. Na Itlia, a ligao da Igreja, e na Frana, a do Estado, assemelham-se pela hierarquia rgida entre uma instituio e outra, levando-se a perceber de chofre que
Como o pensamento do terico do Barroco apontado por WIESENBACH. Como atesta BASTIDE, R. na sua obra Arte e Sociedade, e ultrapassando este percebo, ainda, uma relao dialgico-recursiva entre a arte e o meio. 7 JANSON que trabalha a percepo de salto imaginativo na introduo de sua obra Histria da Arte, que est ligado a criatividade que o artista possui e, assim, configura originalidade a sua criao.
6 5
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
114
se na Itlia o barroco parece estar intimamente ligado a propagandstica da Igreja Catlica, na Frana, este serviria aos interesses dos dspotas, como atesta German Bazin, a seguir:
Nos edifcios religiosos o estilo da Contra Reforma foi introduzido pelos jesutas: apesar disso a Frana no renunciou inteiramente s suas prprias tradies, e a completa romanizao da arquitetura religiosa s ocorreria no reinado de Lus XIII. Mas na Frana, ao contrrio da Itlia, foi o edifcio secular, e no o religioso, que predominou na poca de Henrique IV (Bazin, 1994, p. 123).
Os prprios mecenas na Itlia so elementos ligados ao papado, tradio que antecede ao perodo barroco, o Renascimento, enquanto na Frana so figuras polticas como Richelieu, Sublet des Noyers, Coubert e os monarcas, chegando o estilo em Frana a absorver o nome dos reis estilo Lus XIV e Lus XV; a burocracia atrelada a hierarquia das instituies da Igreja e do Estado se faz caracterstica comum em ambas as regies comentadas, os dogmas institudos pela Igreja catlica no se distanciam, por exemplo, da figura dos reis, basta nos reportarmos a Marc Bloch, em Os Reis Taumaturgos. Mas, a aura que circunda o Estado parece estar imbuda muito mais do poder fsico que o espiritual, se bem que ambas as instituies faa uso desmedido do acmulo de riquezas materiais para demonstrar o poder que concentram no mundo dos homens. Por ltimo, para ilustrar esse primeiro ponto, vejamos: ...o Estado absolutista nunca foi um rbitro entre a aristocracia e a burguesia, ainda menos um instrumento da burguesia nascente contra a aristocracia: ele era a nova carapaa poltica de uma nobreza atemorizada (Anderson, 1984, p. 17). A afirmao acima ir colocar lado a lado duas instituies do sculo XVII, o Estado e a Igreja, sendo a segunda abalada pela Reforma Protestante e se encontrando atemorizada, tambm ir procurar a qualquer preo uma forma de se manter erguida diante a nova situao que emergia. Esse temor que compartilha a nobreza reclinado sobre uma era incerta se assemelha com o barroco. O segundo aspecto corresponde ao vnculo que a poltica exerce sobre a arte, onde percebe-se um interesse da Frana, em relao a outros pases, de atrelar a indstria e artes a causa do seu desenvolvimento, ou seja, aumentar a produo de manufaturados evitando, assim, ter de adquiri-los no exterior. Da a ligao ntima de figuras da poltica estatal, como
...Coubert, principal ministro de Lus XIV, organizou a produo do pas, criando ou encorajando sistematicamente vrias instituies planejadas para desenvolver as artes e a cultura. Na Frana o movimento acadmico tendia a governar o gosto e o progresso intelectual. Em 1661 Coubert deu estmulo decisivo Acadmie, conhecida como Acadmie de Pinture et de Sculpture, fundada em 1648. A Petite Acadmie, conhecida como Acadmie des Inscriptions e criada em 1663, tinha a incumbncia de assessorar o trono no tocante a problemas iconogrficos, inscries e desenho de moedas; a Acadmie des Sciences surgiu em 1666 (...) As conferncias na Acadmie de Pinture et Sculpture, seguidas de debates e controvrsias, culminaram na elaborao de
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
115
uma espcie de doutrina oficial (grifo meu), baseada nos princpios do beau idal mas modificadas pelas teorias de expresso que estavam ento em grande destaque na Frana (Bazin, 1994, p. 122).
A percepo de Bazin ntida no que diz respeito a um controle da arte pelo Estado francs, mas lembremos das inmeras representaes dos Irmos Le Nain, atestada por ele prprio, onde surgem camponeses, cenas satricas, nobres ou plebeus com um naturalismo violento comum ao estilo barroco em moda. Ento esse controle, essa doutrina oficial, esse paternalismo estatal, ou outro termo que venha coibir a arte, era limitado quando o artista conseguia romper as malhas do poder, apresentando resultados da incongruncia do prprio Estado, incapaz de solucionar as pssimas condies pelas quais passava a maioria da populao em contraposio da nobreza. Nesses termos podemos observar, no sculo XVII, os germes, abafados pela nobreza, do que posteriormente, no final do XVIII, iria desembocar na Revoluo Francesa, mesmo que posteriormente esse ltimo fato tenha se revestido pelo reacionarismo, o que o precede de cunho revolucionrio, levando em considerao a situao periclitante da maioria da populao francesa. Observando dessa forma a arte passa a ter tambm funo transformadora, deixando de ser mera manipulada, torna-se produto-produtora do meio que a gera e transformado por ela. A terceira e ltima proposio nasce de uma atitude poltica do governo francs em relao a construo da fachada oriental do Louvre. Trata-se de um exemplo claro de uma extenso do poderio daquele Estado no que diz respeito a arte e da afirmao do gosto sbrio preponderante do mesmo, como atesta os trechos, a seguir:
Coubert rejeitou (...) os projetos de Le Vou, Lemercier e Mansart e mandou vir Bernini de Roma. Este apresentou, em 1665, solues de estilo barroco para a longa fachada, mas elas no foram adotadas porque o gosto da corte de Lus XIV tendia mais para o classicismo de tipo ulico que caracterizou todo o estilo desse centro cultural na segunda metade do sculo. Por fim adotou-se o projeto, elaborado em conjunto por Perrault, Le Vou e Le Brum, de uma ampla colunata em fila nica Enciclopdia dos Museus, 1967, p. 166). (...) o traado parece concebido por um arquelogo, mas um arquelogo capaz de escolher as caractersticas da arquitetura clssica que no s associam Lus XIV glria dos csares, mas fossem compatveis com as partes anteriores do palcio (Janson, 1988, p. 543).
Realmente de posse do projeto de Bernini para a fachada leste do Louvre, percebemos toda a carga dinmica, comum ao estilo em voga na Itlia. Ondulante, repleta de detalhes com elementos de peso, apresentando apelos aos sentidos, tal conceito arquitetnico estava alm da sobriedade exigida naquela poca em Frana. Por isso, no sem desavena entre Ministro e Rei, Lus XIV preferiu o projeto dos seus arquitetos oficiais, por atestarem elementos clssicos, como coluna, fronto, arco, dispostos equilibradamente pela fachada. A escolha feita pelo soberano francs estava em consonncia com o modelo que representava aquele Estado o clssico que, com rarssimas excees, marginalizava a imensa massa camponesa, to
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
116
bem retratadas pelas mos dos irmos Le Nain, com j citado. Dessa forma o que perdurou foi algo que pudesse esconder as diferenas sociais, que contivesse a maioria da populao da revolta, algo que comeou a desmoronar com o passar das dcadas, porm precisou esperar mais de sculo para o advento da Revoluo Francesa (1789), que por ironia ou contradio adotar novamente os moldes greco-romanos. Finalizemos este tpico na voz de H. W. Janson: A fachada oriental do Louvre assinalou a vitria do classicismo francs sobre o barroco italiano, como estilo real. Por ironia este grande modelo pareceu demasiado puro: Peraut no tardou a desaparecer da cena (Janson, 1988, p. 543). O Estado Absolutista corresponde a um Estado de transio entre o feudalismo e o capitalismo, como atesta Polantzas cheio de contradies, a classe burguesa no ainda, em termos exatos, uma classe politicamente dominante (1977, p. 154), o rei concentrando poderes ilimitados em sua pessoa, a existncia de uma nobreza ociosa, em contrapartida a massa camponesa sob a tutela e opresso do governo. Assim, dentro de um clima paradoxal inerente as prprias condies mercantilistas da poca, vez por outra o brio barroco surgir aqui e acol na Frana, no ngulo Nordeste do prprio Louvre (regido por elementos de movimentao, na arquitetura de Versalhes, nalgumas pinturas. Porm, tudo coberto pelo eixo da sobriedade, exmia sobriedade de uma nobreza prestes a ruir. REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS ANDERSON, Perry. Linhagens do Estado absolutista. Porto: Afrontamento, 1984. CONTI, Flavio. Como entender a arte barroca. Lisboa: Edies 70, 1987. BASTIDE, Roger. Arte e sociedade. 3. ed. So Paulo: Nacional, 1979 BAZIN, German. Barroco e rococ. So Paulo: Martins Fontes, 1994. ENCICLOPDIA dos museus Louvre Paris. So Paulo: Melhoramentos, 1967. FREUD, Sigmund. Dois Grupos Artificiais: a Igreja e o Exrcito. In: Obras completas. Rio de Janeiro: Imago, v.18, 1974. GRANDE enciclopdia Delta Larousse. v. 1, p.770. HABERMAS, Jrgen. Mudana estrutural na esfera pblica. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1984. JANSON, H. W. Histria da arte. 5. ed. So Paulo: Martins Fontes, 1988. POULANTZAS, Nicos. Poder poltico e classes sociais. So Paulo: Martins Fontes, 1977. TORRES, Joo Carlos Brum. Figuras do Estado moderno. So Paulo: Brasiliense, 1989. TILLY, Charles. Coero, capital e estados europeus. So Paulo: EDUSP, 1996. WEISBACH, Werner. El Barroco: arte de la contrarreforma. Madrid: EspasaCalpe, 1942.
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
117
HEURSTICA DO BARICENTRO UMA SOLUO O(n2) PARA O PROBLEMA DO CAIXEIRO VIAJANTE
Joaquim Elias Lucena de Freitas 1
RESUMO: Este trabalho descreve uma heurstica original para o clssico problema do caixeiro viajante. Trata-se de uma heurstica de insero, com critrio de insero pr-definido, onde o critrio a proximidade do vrtice ao centro de massa do grafo. Um aspecto interessante da heurstica a disposio inicial de quatro vrtices externos ao grafo, que formam um ciclo inicial. Os resultados, quando comparados a outras heursticas mopes mostrou-se satisfatrio, haja vista o baixo tempo computacional gasto, e baixos resultados do tamanho da soluo.
PALAVRAS CHAVE : Baricentro; Caixeiro Viajante
HEURISTC OF CENTROBARIC AN HEURISTC O(n2) FOR TRAVELING SALESMAN PROBLEM
ABSTRACT: This work describes an original heuristic for the classical traveling salesman problem. It is an heuristic of implantation, with a criteria of a pre-defined implantation, where the criteria is the proximity from the vertex to the center of the graph mass. An interesting heuristic aspect is the initial disposition of four external vertexes of the graph which form an initial cycle. The results, when compared to other heuristic myopics, showed themselves satisfactory, having in mind the low spent processing time, and low results of the solution size. KEY-WORDS : Centrobaric; traveling salesman
Engenheiro civil. Mestre em Sistemas e Computao pela UFRN. Professor de Introduo Micro Informtica I e II da Faculdade de Cincias, Cultura e Extenso do RN FACEX. Professor de lgebra Linear Aplicada Computao na Faculdade Natalense para o Desenvolvimento do RN FARN. E-mail.: Joaquimdelphi@hotmail.com.
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
118
1 INTRODUO O Problema do Caixeiro Viajante (PCV) uma dos mais tradicionais e conhecidos problemas de programao matemtica (Melamed et al., 1990). Os problemas de roteamento lidam em sua maior parte com passeios ou tours sobre pontos de demanda ou oferta. Esses pontos podem ser representados por cidades, postos de trabalho ou atendimento, depsitos etc. Dentre os tipos de passeios um dos mais importantes o denominado hamiltoniano. Seu nome devido a Willian Rowan Hamilton que, em 1857 props um jogo que denominou Around the World. O jogo era feito sobre um dodecaedro em que cada vrtice estava associado a uma cidade importante na poca. O desafio consistia em encontrar uma rota atravs dos vrtices do dodecaedro que iniciasse e terminasse em uma mesma cidade sem nunca repetir uma visita. O grafo do problema mostrado na FIG. 1.
FIGURA 1 - Jogo de Hamilton Modernamente a primeira meno conhecida do problema devida a Hassler Whitney em 1934 em um trabalho na Princeton University. Independentemente desse trabalho de Hamilton, o Problema do Caixeiro Viajante (PCV) um problema de otimizao associado ao da determinao dos caminhos hamiltonianos em um grafo qualquer. O objetivo do PCV encontrar, em um grafo G = (N, A), do caminho hamiltoniano de menor custo. 1.1 Formulaes Existem vrias formulaes para esse problema. Devido a sua importncia apresentaremos as mais difundidas. Essas formulaes podem ser consideradas como cannicas, tanto por sua larga difuso na literatura especializada, como por desenvolverem modos peculiares de caracterizao do problema. Para uma abordagem mais especfica (Lawler et. al., 1985) apresentam um bom estudo introdutrio. Dantzig et al. (1954) e Christofides (1979) formularam o PCV como um problema de programao 0 - 1 sobre um grafo G = (N, A), como se segue:
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
119
Onde a varivel binria xij assume valor igual a 1, se o arco (i,j)A for escolhido para integrar a soluo, e 0 em caso contrrio, e S um subgrafo de G, em que | S | representa o nmero de vrtices desse subgrafo. Nessa formulao assumimos implicitamente que xii no existe e que teremos n (n-1) variveis inteiras 0-1 e O(2n ) restries. As restries (01) e (02) so semelhantes as do problema de designao, de modo que, configuraes como as mostradas na FIG. 2, seriam vlidas. O conjunto de restries (03) determina a eliminao desses circuitos pr-hamiltonianos.
4 6 2 3 4 6 2 3
1 9
8 10 7
( PCV 1) Minimize z = 8 cij xij 1
9
X j =1
7
i =1
X sujeito
5
a:
10
i, j
ij
= 5
i, j
ij
= 5
i, j
ij
i =|1 5 | 1 4
x x
ij
=1 =1
j N i N S N
s o lu o ile g a l
n r e s tr i e s a s s o c ia d a s ij j =1
FIGURA 2 - Restries de cardinalidade para o PCV1 xij S
i , jSt
xij {0A i, j As equaes em |S| tornam os circuitos pr-hamiltonianos ilegais. ,1}figura mostra N que a restrio para | S | = 5 elimina circuitos pr-hamiltonianos com cinco vrtices da seguinte forma:
x15 + x 54 + x 49 + x96 + x 61 4 x 23 + x3 10 + x10 8 + x87 + x 72 4
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
120
Para cada circuito pr-hamiltonianos possvel necessrio uma restrio do tipo (03), justificando-se assim o nmero de O(2n) restries. Essa formulao destaca um importante aspecto do PCV que sua natureza combinatria. Pela formulao fica claro que solucionar um PCV determinar uma certa permutao legal de custo mnimo. A formulao de Dantzig tambm auxilia no entendimento da ligao do PCV aos problemas de seqenciamento de operaes, to comuns em manufatura. Supondo que exista um certo tempo de preparao de cada mquina para receber uma tarefa, e que as tarefas possam ser distribudas de vrias formas no conjunto das mquinas existentes, uma seqncia de operaes que minimiza o tempo de preparao das mquinas e, consequentemente, os custos do trabalho, pode ser modelado como um PCV. 2 HEURSTICA DO BARICENTRO (HB) Trata-se de uma heurstica de insero. A soluo se inicia com um ciclo formado por quatro vrtices. Esses vrtices, na realidade, no fazem parte do problema, eles so virtuais, ou seja, s existem para uso da heurstica. Os vrtices virtuais so colocados de maneira a formar um retngulo, no qual os vrtices do problema ficam localizados no interior deste retngulo. A partir da construo do ciclo inicial, a heurstica convoca cada um dos vrtices, e os adiciona ao ciclo, utilizando o critrio de insero mais barata. Observe que a convocao dos vrtices no se d de forma aleatria. Os vrtices so convocados seguindo a ordem de proximidade com o centro de massa do grafo. 1. S = 2. S = S {e1,e2,e3,e4} 4. i = 1 5. Encontrar k na lista S tal que [w(sk,vi) + w(vi,sk+1) - w(sk,sk-1)] seja mnimo. 6. Adicionar vi na k-sima posio de S. 7. i = i+1 8. Se i>n, S = S\{e1,e2,e3,e4} e pare. 9. Se no, v para o passo 5 Onde S uma lista que contm os vrtices ordenados na seqencia da soluo, V um vetor com todos os vrtices ordenados pela distncia do centro de massa onde vi isimo elemento do vetor V, {e1,e2,e3,e4} so quatro vrtices virtuais posicionados na extremidade do quadrado, e w(x,y) a distncia entre dois vrtices x e y quaisquer. A vantagem dessa heurstica em relao a insero mais prxima e insero mais distante est no tempo computacional, haja vista que ela O(n2), enquanto insero mais prxima, insero mais barata e insero mais distantes so O(n3). Quanto ao seu desempenho mdio, mostrou-se superior as demais. O princpio que norteia essa variao da heurstica de insero mais barata que, se a envoltria convexa um bom ciclo para se iniciar o procedimento, a heurstica cria uma envoltria convexa virtual (quatro pontos externos) e a partir da inicia a busca. Note-se que este procedimento elimina o procedimento inicial de busca de uma envoltria convexa que O(nlog2n) (Shamos, 1975). Na FIG. 3 apresentada a soluo encontrada por esta heurstica para o reticulado de 8 x 8 pontos (64 pontos distribudos uniformemente).
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
121
FIGURA 3 - Soluo obtida pela heurstica (HB) de valor S = 648
3 METODOLOGIA A fim de aferir a eficcia da heurstica do baricentro, comparamos os resultados obtidos para o caso de um quadrado de 400 x 400 pixeis com as seguintes heursticas: vizinho mais prximo (VMP), insero mais distante (IMD) e insero mais prxima (IMP). Em nossos testes foram utilizados instncias do PCV euclidiano em 50, 100, 150, 200 vrtices. Para cada instncia geramos 10 amostras aleatrias. O equipamento utilizado nos testes foi um Pentium com clock de 133 mhz e 48 megabytes de memria RAM. O software foi desenvolvido em Pascal, ambiente DELPHI 3.0 com os resultados armazenados em banco de dados Microsoft Access e os grficos no Microsoft Excel. 3.1 Anlise da Complexidade A heurstica do baricentro iniciada com a ordenao dos vrtices por distncia do centro de massa. A ordenao O(n log n); aps a classificao so inseridos quatro vrtices externos, passando a instncia de n para n + 4, o que no aumenta a complexidade do procedimento. Todos os vrtices so convocados pela ordem de classificao O(n) e cada vrtice convocado adicionado ao ciclo na posio mais barata , resultando em O(n2). 4 RESULTADOS Na anlise do desempenho das heursticas implementadas, utilizamos o mtodo do ajuste do menor erro quadrtico. O grfico da FIG. 4 compara o desempenho mdio de todos procedimentos implementados. Dois aspectos importantes devem ser observados para anlise do comportamento das heursticas nesse grfico: o coeficiente linear das retas e a altura das retas.
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
122
O coeficiente linear um indicativo de como as solues esto crescendo a medida que a instncia do problema vai aumentando. Valores de coeficientes altos indicam que o desempenho da heurstica piora muito com o aumento da quantidade de vrtices. Coeficientes lineares baixos indicam que o tamanho da soluo cresce de forma suave quando aumentamos a quantidade de vrtices no problema, o que uma qualidade da heurstica. A altura das retas afere o resultado mdio encontrado pela heurstica. No caso do PCV, por se tratar de um problema de minimizao os valores muito altos so considerados de m qualidade.
7000
Desempenho Mdio das Heursticas
FIGURA 4 - Desempenho6000 das heursticas mdio
5000 Na TAB. 2 so apresentados os resultados estatsticos das heursticas, quando 4000 comparados com os coeficientes lineares e seus erros quadrticos. O erro quadrtico tambm um critrio de avaliao 3000 importante, pois ele indica confiabilidade da heurstica. As heursticas que possuem erro muito grande no 2000 garantem confiabilidade. 1000 0 TABELA 2 - Resultados estatsticos das heursticas 50 Vertices 200
HEURSTICA VMP Baricentro IMP IMD . COEFICIENTE LINEAR 16,02 16,36 19,20 22,81 ERRO QUADRTICO 171,00 159,14 317,27 411,54
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
Distncia
123
A TAB. 3 exibe os resultados e os tempos mdios obtidos. Das heursticas mopes, VMP obteve o melhor resultado com os menores valores mdios, porm com tempo mdio bem superior. A heurstica do baricentro teve o segundo melhor desempenho das heursticas mopes obtendo resultado bastante prximos da VMP, e seu tempo mdio sendo o mais baixo de todas as heursticas TABELA 3 - Resultados mdios e tempos obtidos das heursticas
DESEMPENHO DAS HEURSTICAS
Instncia Heurstica Baricentro IMD IMP VMP Resultado 2459,2 3055,8 3023,2 2334 50 Resultado 60 110 116 631 Resultado 3476,5 4293,4 4181,1 3337,8 100 Resultado 110 521 550 3362 Resultado 4231,9 5500,3 5200,4 4120 150 Resultado 182 1560 1593 9519 Resultado 4935,5 6455,4 5883,5 4740 200 Resultado 269 3492 3547 20454
O grfico da FIG. 5 mostra o comportamento em tempo computacional, das heursticas em funo da quantidade de vrtices, onde se verifica que BC a mais rpida.
Relao Tempo/Quantidade de Vrtices
25000 Tempo (mls) 20000 15000 10000 5000 0
BA
IM
IM
50 100 150 200
VM
FIGURA 5 - Grfico com o tempo computacional em funo do Vrtices nmero de vertices.
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
124
5 REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS BIGGS, N. L., LLOYD, E. K., WILSON, J. Graph theory. Oxford: Clarendon Press, 1986. CHRISTOFIDES, N. The Traveling Salesman Problem, combinatorial optimization. Chichester: Wiley, p. 131-49, 1979. DANTZIG, G. B., FULKERSON, D. R., JOHNSON, S. M. Solution of a large scale Travelling Salesman Problem. Operations Research, v. 12, p. 393-410. 1954. GAREY, M., JOHNSON, D. Computer and intractability: a guide to the theory of NPCcompletness. San Francisco: Freeman, 1979. LAWLER, E. L., LENSTA, J. K., KAN, R. A. H., SHMOYS, D.B. The Travelling Salesman Problem. New York: Wiley, 1985. MELAMED, I. I., SERGEEV, S. ISIGAL, I. K. The Travelling Salesman Problem. Amsterdan: Plenum, p.1147-1173. 1990. PAPADIMITRIOU, C. H., STEIGLITZ, K. Combinatorial optimization algorithms and complexity. New York: Prentice-Hall, 1982. SHAMOS, M. I., HOEY, D. Closet point problem. Sixteen Annual IEEE Symposium Foundation of Computer Science, p. 151-62, oct. 1975.
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
125
O LIMIAR FANTSTICO: UMA LEITURA DOS CONTOS TELECO, O COELHINHO E OS DRAGES DE MURILO RUBIO
Carlos Alberto de Negreiro1 RESUMO: A literatura de Murilo Rubio explora a oposio entre o real e o fantstico causando surpresa e estranhamento. A no-lgica rege o mundo fascinante ao mesmo tempo incompreensvel e extraordinrio. nesse contexto que a ambigidade reina deixando margem possveis leituras de um mesmo dado. A escritura de Murilo Rubio caracteriza-se como uma literatura fantstica em que desenvolveu uma narrativa peculiar e prpria guisa das outras expresses de literatura fantstica como Franz Kafka ou Gabriel Garcia Marquez. A tecitura da narrativa fantstica em Murilo Rubio se constitui a partir do trabalho esmerado de reelaborao da linguagem e do mecanismo de citao, estabelecendo uma rede de intertextos, ampliando as possibilidades de leitura. PALAVRAS-CHAVE: Literatura fantstica; fantstico; Murilo Rubio
THE FANTASTIC THRESHOLD: A READING OF MURILO RUBIOS SHORT STORIES TELECO THE LITTLE RABBIT AND THE DRAGONS
ABSTRACT: Murilo Rubios work exploits the opposition between the real and the fantastic causing surprise and wonder. The non-logic rules the fantastic word which is at the same time incomprehensible and uncommon. It is in this contex that ambiguity reings leaving possible readings about the same point on the edge. Murilo Rubios writing is characterized as fantastic literature which is characterized by a similar and proper narrative different from other kinds of fancy and imagination literature like Franz Kafkas or Gabriel Garcia Marquezs. The fancy and imagination literature narrative in Murilo Rubios constitutes itself from an accurate work of language elaboration and a mechanism of quotation, establishing a web of intertexts spreading the possibilities of reading. KEY-WORDS: Fancy and imagination; fantastic; Murilo Rubio.
1 Graduado em Letras. Mestrando em Estudos da Linguagem (UFRN). Professor da Rede Particular de Ensino de Natal. Pesquisador do Ncleo de Estudos da Linguagem (NEL)/Natal-RN. Pesquisador da Base de Pesquisa Linguagem e Psicanlise/(FACEX/RN). Av. Ayrton Senna, 1823, Eucaliptos. Natal/RN. CEP 59.088-100. Tel.: (0xx84)966-3342. E-mail: cnegreiro@uol.com.br
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
126
DEDICADO LZARA GRANDESPRITO LUMINAR DE MINHA SENDA
Contristado fantasma de nadas conjeturais, nascido dentro da poesia sente o peso de seu real, sua outra realidade, contnuo. Seu testemunho do no ser , sua testemunha do ato inocente de nascer, vai saltando da barca para uma concepo do mundo como imagem. A imagem como um absoluto, a imagem que se sabe imagem, a imagem como a ltima das histrias possveis. O prprio fato de sua aproximao indissolvel, nos textos de imagem e semelhana, marca seu poder dscolo e como ficar sempre como a pergunta do incio e da despedida; pois, quanto mais nos aproximamos de um objeto ou dos recursos intangveis do ar, com mais grotesca preciso deduziremos que um impossvel, uma ruptura sem mnemsine do anterior. Nem possvel que um orgulho desacordado ao encurvar a rede da imagem possa prescindir da constituio dos corpos de onde partiu. A semelhana de uma imagem e a imagem de uma semelhana, unem a semelhana a uma Forma, a imagem o desenho de sua progresso. E verdade que uma imagem ondula e desvanece se no se orienta, ou ao menos consegue reconstruir um corpo ou um ente. Nenhuma aventura, nenhum desejo em que o homem tentou vencer uma resistncia, deixou de partir de semelhana e de uma imagem; ele sempre se sentiu como um corpo que se sabe imagem, pois o corpo, ao se tomar a si mesmo como corpo, verifica tomar posse de uma imagem. Lezama Lima
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
127
Os mais loucos sonhos da fantasia tm algum fundo de razo, e quem sabe se tudo o que um homem pode imaginar no sucedeu, sucede ou suceder alguma vez em algum em outro mundo. As combinaes possveis talvez sejam infinitas. S falta saber se todo o imaginvel possvel. (Miguel de Unamuno Do sentimento trgico da vida )
Voc pode escolher entre a plula vermelha e a azul; (...) Se escolher a azul, voc vai acordar de manh em sua casa e sua vida vai permanecer a mesma. Mas, se escolher a vermelha, vai descobrir o quo funda a toca do coelho de Alice. Essa uma das falas do personagem Morpheus, do filme Matrix (The Matrix, EUA, 1999. Direo: Irmos Wachowski), a fico cientfica mais recente a chegar nos cinemas deste ano. E na citada fala, podemos averiguar alguns motes: a questo das escolhas e o coelho de Alice, fazendo aqui a referncia obra de Lewis Carroll, Alice no Pas das Maravilhas, do filme Alice vemos a discusso do real. Encarando o real aqui no s como tudo aquilo que existe no mundo atravs dos sentidos, que diz respeito e que est ligadas s coisas, como tambm sobretudo aquilo que ningum pe em dvida seja verdadeiro (Jos Paulo Paes, 1996). Isso se ope ao que fantstico, palavra que designa tudo quanto seja mero produto da imaginao. O fantstico aplica-se melhor a um fenmeno de carter artstico, no caso a literatura que se aproveita peculiarmente de criar um universo ficcional, mesmo tentando equacionar esse universo ao real. Se o que vemos no filme Matrix e na histria de Alice, nos faz pensar apenas no fantasioso, ou seja apenas produto da imaginao, o que pensar de uma literatura como a de Jorges Luis Borges, Jlio Cortzar, passando por Edgar Allan Poe e Franz Kafka e chegando at a de Murilo Rubio? Todos eles puseram em suas narrativas o real em discusso. Borges, no livro Discusso, comenta sobre a novela no ensaio A arte narrativa e a magia, neste o autor distingue dois processos causais da narrativa: o natural, que o resultado incessante de incontrolveis e infinitas operaes, e o mgico, que lcido e limitado, onde profetizam os pormenores. Dessa forma a nica possibilidade de honradez novela reside no mgico. Assim, procura ressaltar dentro do carter ficcional das narrativas o elemento do fantstico. Observamos com veemncia o que nos diz Borges citado por Monegal,em seu Borges: uma potica da leitura:
Os romances realistas comearam a ser elaborados nos princpios do sculo XIX, enquanto todas as literaturas comearam com relatos fantsticos. O que primeiro encontramos nas histrias da literatura so narraes fantsticas. (...). Por outro lado, a idia de que a literatura coincide com a realidade uma idia que veio aparecendo de modo muito lento: assim, os atores que, nos tempos de Shakespeare ou de Racine, representavam as obras destes, no se preocupavam, do traje que deveriam vestir no palco, no tinham essa espcie de escrpulo arqueolgico defendido pela literatura realista. A idia de uma literatura que coincida com a realidade , pois, bastante nova e poder desaparecer; em troca, a idia de contar eventos fantsticos muito antiga, e constitui algo que h de sobreviver por muitos sculos. (MONEGAL, 1980: 176)
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
128
Quando a narrativa explora a oposio entre real e o fantstico temos uma narrativa fantstica. Em nenhum momento se perde a noo da realidade. Por no perd-la o que causa surpresa e estranhamento. Ao contrrio dos contos de fadas, em que o maravilhoso no contrasta com o real, esse efeito faz parte dele, ou seja, o leitor sabe que a Bela Adormecida ser despertada, e ter um final feliz; enfim, esse leitor adequa-se a um final previsvel, pois acredita que a fada ir ajudar a princesa, e que consequentemente o prncipe a salvar. No fantstico esse processo diferenciado porque o que acontece um mundo de imprevisibilidade e de aparentes absurdos. A no-lgica rege o mundo fascinante e ao mesmo tempo incompreensvel, que o extraordinrio. onde a ambigidade reina deixando margem possveis leituras de um mesmo texto se aproveitando da temtica do duplo que um dos temas recorrentes deste tipo de literatura. Vejamos o que nos diz Todorov sobre o fantstico:
O fantstico ocorre nessa incerteza; ao escolher uma ou outra resposta deixase e o fantstico para se entrar um gnero vizinho. O estranho ou o maravilhoso. O fantstico a hesitao experimentada por um ser que s conhece as leis naturais, face a um acontecimento aparentemente sobrenatural. O conceito de fantstico se define pois com relao aos de real e de imaginrio. (...) (TODOROV, 1992:31)
Conceituar o fantstico no reside apenas demonstrar que se trata de algo sobrenatural ou que se encontra aqum de nossa suposta realidade, mas de imprimir de uma certa forma uma conceituao em que Borges explora no somente o fantstico mas outro aspecto do tema a aparente evaso desse tipo de literatura, podemos observar o que diz Monegal: A literatura fantstica vale-se de fices no para evadir-se da realidade, mas para expressar uma viso mais profunda e complexa da realidade. Toda essa literatura destina-se mais a oferecer metforas da realidade por meio das quais o escritor quer transcender as observaes pedestres do realismo do que evadir-se para um territrio gratuito. Da que a literatura fantstica requeira mais lucidez e rigor, mais autntica exigncia de estilo que a mera imitao da realidade cotidiana. (MONEGAL, 1980: 179) O inslito, o mundo mgico, o mundo do absurdo so elementos que compem um limiar fantstico, isto , o ponto a partir do qual este efeito ou fenmeno comea a produzir-se. Nesse sentido, a presena do fantstico na literatura camufla uma realidade proibida, ou seja, representa um mundo em que no pode ser impresso pela linguagem comum ou automatizada. Numa outra vertente consideramos o que Borges examina como os procedimentos de uma literatura fantstica: a) a obra de arte dentro da mesma obra; b) a contaminao da realidade pelo sonho; c) a viagem no tempo; d) o duplo. Todos esto mergulhados na ambigidade. Na obra de Murilo Rubio, esses procedimentos esto presentes, caracterizando como pertencente a um escritor do gnero da narrativa fantstica, a que permanece fiel
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
129
durante toda a sua produo literria. O heri dos contos muriliano, como averiguou o crtico Jorge Schwartz em seu estudo sobre A potica do uruboro, se perfaz por meio dos traos de linguagem que confluem com o percurso do uruboro, serpente mtica que morde sua prpria calda: um trajeto circular kafkaniano e borgeano, cujas questes vitais da existncia so reconstitudas. Assim, o que presenciamos nessa escritura atravs do carter da metfora uma espcie de mscara em que subjaz outros textos. Assim, o que tentamos observar uma presena desses traos que insistentemente tendem a surgir na narrativa fantstica de Murilo Rubio: as depuraes e antropomorfoses. Dessa forma, o que se pretende depreender aqui, como se constri o signo da metamorfose na escritura de Murilo Rubio, e como esses dois recursos aqui denominados de depuraes e antropomorfoses surgem nesse universo fantstico como tentativas de reconhecimento da essncia do homem, indivduo que se utiliza de vrias roupagens para ser aceito em determinados espaos do mundo. Nos contos Teleco, coelhinho e Os drages e em grande parte da escritura de Murilo Rubio, observamos que o processo de construo e elaborao da linguagem alude a uma certa alquimia2 de misturas e purificaes. Quando investigado um tema cujo teor simblico corresponde as antropomorfoses, no primeiro sentido, temos uma atribuio de forma ou carter humanos a objetos no humanos; na filosofia e teologia, a antropomorfose vista como uma doutrina que confere Divindade forma, atributos e atos humanos; e ao comentar sobre o ponto de vista histrico eclesistico, a antropomorfose tem o efeito de heresia, segundo a qual se afirmava ter Deus um corpo de forma humana sob a alegao de que a Bblia diz que Deus formou o homem, sua imagem e semelhana. No entanto, observamos no trao de linguagem que se repete nos contos de Murilo Rubio, as transformaes contnuas das personagens, revelando sucessivamente, a necessidade de adaptao a um mundo onde a pureza e a inocncia no encontram mais lugar. Na obra de Murilo Rubio verifica-se um procedimento de reelaborao e reescritura da palavra. Um exerccio dessa constante reelaborao dos contos pode ser visto como a prpria metamorfose, que se d tanto no nvel da construo do texto como na temtica adotada. Como diz o crtico Davi Arrigucci Jr. este processo relaciona-se mudana contnua de faces e nomes de determinadas personagens, como o caso de Teleco, Godofredo e suas mulheres, Alfredo, Petnia, e outros mais. Faces em nomes escorregadios que se colam ora aqui ora ali carregados por um mesmo fluxo.(ARRIGUCCI JR, 1987:151). Diversos crticos tentaram aproximar a obra de Murilo Rubio com a escritura de Kafka. Tal comparao podendo parecer repetio, faz um certo sentido, uma vez que a escritura do autor de A Metamorfose trata da tragdia de Gregor Samsa, um homem que acorda um certo dia metamorfoseado num monstruoso inseto, sofrendo toda espcie de angstia, vtima de uma metfora grotesca da condio humana. Murilo Rubio, ao falar da prpria obra, e dessa suposta comparao com a produo literria de Kafka, explica como sendo uma mera coincidncia, possivelmente uma sincronicidade, fruto talvez de uma similaridade de formao literria. Ele nos diz:
2 Alquimia (Arte da transmutao. Uma operao simblica como um fim em si mesmo. Simbolismo alqumico
situa-se no plano cosmolgico. As duas fases de coagulao e soluo correspondem s do ritmo universal. A pratica da alquimia permite que se descubra em si mesmo um espao de purificao. Simboliza a prpria evoluo do homem, de um estado em que predomina a matria para um estado espiritual. Transformar ouro em metal o mesmo de o homem em puro esprito.) CHEVALIER, Jean. & GHEERBRANT, Alain. Dicionrio de smbolos. Rio de Janeiro: Jos Olympio, 1991. p. 38
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
130
Eu tive uma srie de influncias de escritores que influenciaram Kafka. De livros como, por exemplo, a Bblia, o Velho Testamento. Os judeus lem muito o Velho Testamento. Tambm a mitologia e os contos do folclore alemo, como as histrias de fadas, em que era normal a transformao de uma pessoa em animal e vice-versa. O conto Teleco, coelhinho, foi fruto de leituras demoradas da mitologia e do mito de Proteu3 , que por detestar predizer o futuro, transformava-se em animais. A metamorfose, de Kafka, exatamente a mesma coisa. Ento, nem Kafka, nem muito menos eu inventamos a metamorfose. Eu s fui ler o Kafka completo quando trabalhei na Embaixada brasileira na Espanha, entre 1956 e 1960. (RUBIO, 1998:275-76)
Em Teleco, coelhinho, Murilo Rubio inicia a narrativa com um coelho, que atribudo de caractersticas humanas, pede um cigarro a um homem que silenciosamente observa o mar. Sem perceber inicialmente de que se tratava de um coelho, o homem pede para que este no o atrapalhe, j que o mesmo observava a infinitude do mar. No entanto, a insistncia de Teleco e sua interpelao delicada, surpreendem e desarma o homem que antes pensara estar falando com um moleque. O homem praticamente adota nascendo desse enredo uma forte amizade. Entretanto, trazendo uma semelhana do que acontece no conto Os Drages, o suposto coelho comea a sofrer vrios tipos de transformaes, numa tentativa v de adaptao. Podemos dizer que isso lembra a depurao: propriedade que ilustra a purificao do ser atravs das constantes mudanas de formas, no conto isso se torna em vo, pois tem como conseqncia o aniquilamento do sujeito. Outros aspectos que merecem destaque na obra de Murilo Rubio a pardia, o dialogismo, a transtextualidade, e principalmente, o trabalho de citao. Este, nitidamente percebido no decorrer de toda sua obra, desde o Ex-mgico, de 1947, at O convidado, de 1974. A produo literria de Murilo Rubio um dado quase fantstico seguindo a trade processo/forma/contedo amalgamada ao sistema autor/fbula/trama, ele rescreveu mais do que escreveu. Esse reindicia o signo da metamorfose que se emerge por meio das constantes depuraes, como por exemplo, no conto Teleco, coelhinho, que diferentemente do coelho de Alice, se situa no baixo, e pedindo um cigarro, no est correndo como na fbula A lebre e a tartaruga, ou na pressa desnorteada do coelho descrito em Lewis Carrol; ou Os drages que antropomorfizados, ou seja, com atitudes e aes humanas so forados a se conformar de acordo com a organizao social imposta pelos humanos. O aparente clima ldico destes contos servem como um vu para encobrir as questes existenciais do ser humano. nessa exerccio da palavra reescrita que Murilo Rubio procura revelar uma constante busca da forma, elemento que no se dissocia da trade citada anterior3 PROTEU Um dos deuses secundrios do mar, na Odissia, especialmente encarregado de conduzir os rebanhos de foca. Ele evoca as ondas do mar, capazes de representar, na ocasio das tempestades, as imagens fugitivas do cavalo, do carneiro, do porco, do leo, do javali etc. Ele dotado do poder de tomar todas as aparncias que desejar: pode tornar-se no s um animal, mas um elemento, como a gua e o fogo. Ele faz uso desse poder particularmente quando quer se subtrair aos indagadores. Pois ele possui o Dom de profeta, mas se recusa a aconselhar os mortais que o interrogam (GRID, 398). In: CHAVALIER, Jean., GHEEBRANT, Alain. Dicionrio de smbolos. 5 ed. Rio de Janeiro: Jos Olympio, 1991.
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
131
mente, como nos mostra o estudioso Jorge Schwartz, no trabalho A potica do uroboro. Na pesquisa, Jorge investiga a relao das epgrafes e sua importncia como elemento independente e revelador na obra de Murilo Rubio, como resultante desse estudo denominado de uroboro significando carter cclico e mostrando as diversas faces/fases da serpente, presentes aqui como elemento de construo do literrio, indicando consequentemente o percurso que texto e leitor podem fazer. Nesse contexto de citaes, e de como notificamos essa repetio na obra de Murilo Rubio, citaremos o terico Antoine Compagnon, que precisamente tenta definir um lugar do sujeito na obra de citao, indicando um sentido de ambivalncia, de um valor duplo:
A reescrita uma realizao, no somente no sentido musical de uma traduo. O trabalho da citao, apesar de sua ambivalncia ou por causa dela, uma produo de texto, working paper. A leitura e a escrita, porque dependem da citao e a fazem trabalhar, produzem texto no seu sentido mais material: volumes. A modalidade de existncia da citao o trabalho. Ou ainda, se a citao contigente e acidental, o trabalho da citao necessrio, ele o prprio texto. (COMPAGNON, 1996:34)
No conto Os drages, o autor inicia seu texto com a seguinte epgrafe: Fui irmo de drages e companheiro de avestruzes (J, 30,29) Do interstcio do texto bblico remetendo mitologia, o drago aparece essencialmente como smbolo de foras e guardio severo de tesouros ocultos, por vezes ambivalente se manifestando como eixo do destino. A cabea do drago que indica o lugar onde se deve construir a sede da existncia consciente, ope-se a calda do drago, que revolve todas as influncias vindas do passado. O drago tambm representa o smbolo do mercrio filosofal: dois drages se embatem com as duas matrias da Grande Obra, um alado e o outro no, para significar justamente a fixidez de um e a volatilidade do outro. a prpria transmutao, presente na alquimia aludindo as metamorfoses e por sua vez as antropomorfoses. No referido conto, os drages so estranhos que chegam num determinado municpio que j possui as regras de uma sociedade supostamente provinciana. As crianas brincavam furtivamente com os drages sabiam na sua ingenuidade de quem se tratavam. Os adultos no possuam essa compreenso. Muitos drages no se adaptaram ao trabalho escravo e exploratrio por parte dos humanos e sucumbiram, como historicamente aconteceu com os indgenas no tempo do Brasil Colnia. Os outros que lutavam, foram se adaptando as mazelas humanas(fornicaes, vcios...) paulatinamente caminhavam para a mais completa extino, com a exceo de apenas um, o Joo, que teve uma educao formal e dominava a linguagem dos humanos. Entretanto, o conto demonstra a metfora da tentativa de adaptao dos seres a uma determinada ordem. Murilo Rubio utiliza a epgrafe na inteno de chamar a ateno do leitor, alertando-o para uma possvel relao que se estabelece entre os textos: o bblico, o mitolgico e o literrio. Perspectiva de leitura que especificamente so elucidados
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
132
no limiar fantstico da escritura de Murilo Rubio. REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS ARRIGUCCI JNIOR, Davi. Minas, assombros e anedotas (os contos fantsticos de Murilo Rubio). In: Enigma e comentrio: ensaios sobre literatura e experincia. So Paulo: Companhia das Letras,1987. ______. O mgico desencantado ou as metamorfoses de Murilo. In: Achados e perdidos: ensaios de crtica. So Paulo: Polis, 1979. BAKHTIN, Mikhail. Questes de literatura e esttica: a teoria do romance. Traduzido do por Aurora Benardini et al. 2. ed. So Paulo:UNESP/HUCITEC, 1990. Traduo do russo. ______. Esttica da criao verbal. Traduo por Maria Ermantina Galvo Gomes Pereira. So Paulo: Martins Fontes, 1992. Traduo de: Estetika slovesnogo tvortchestca. BBLIA sagrada. Trad. por Domingos Zamagna et al. 40. ed. Petrpolis: Vozes/ Santurio, 1982. BORGES, Jorge Luis. O livro de areia. Traduzido por Lgia Morrone Averbuck. 7. ed. So Paulo: Globo, 1995. Traduo de: El libro de arena. ______. e GUERRERO, Margarita. O livro dos seres imaginrios. Traduo. por Carmem Vera Cirne Lima. Rio de Janeiro: Globo, [1985?]. Traduo de: El libro de los seres imaginarios. CALVINO, Italo. Seis propostas para o prximo milnio: lies americanas. Traduo por Ivo Barroso. 2. ed. 4. reimp. So Paulo: Companhia das Letras, 1998. Ttulo original: Six memos for the next millenium. Trad. do italiano. CARPENTIER, Alejo. A literatura do maravilhoso. Traduo por Rubia Prates Goldoni e Srgio Molina. So Paulo: Revista dos Tribunais/Edies Vrtice,1987. (O vermelho e o negro; v. 1) CHIAMPI, Irlemar. O realismo maravilhoso: forma e ideologia no romance hispanoamericano. So Paulo: Perspectiva, 1980. (Coleo Debates; v.160). COMPAGNON, Antoine. O trabalho de citao. Traduo por Cleonice P. B. Mouro. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1996. Ttulo original: La second main ou la travail de la citation. (Coleo Humanitas; 9) HOFFMANN, E. T. A. Contos fantsticos. Traduo por Cladia Cavalcanti. Rio de Janeiro: Imago, 1993. Trad. de: Der goldner, Die Automate, Der Sandmann. (Coleo Lazuli) KAFKA, Franz. A metamorfose. Traduo por Modesto Carone. 14. ed. So Paulo: Brasiliense, 1993. Traduo de: Die Verwandlung. LOVECRAFT, Howard Phillips. O horror sobrenatural na literatura. Traduo
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
133
por Joo Guilherme Linke; pref. de E. F. Bleiber. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1987. Traduo de: Supernatural horror in literature. MAINGUENEAU, Dominique. Elementos de lingstica para o texto literrio. Traduo por Maria Augusta de Matos. So Paulo: Martins Fontes, 1996. Traduo de: lments de linguistique pour le text littraire. (Coleo Leitura e Crtica) MONEGAL, Emir Rodrguez. Borges: uma potica da leitura. Traduo e introduo por Irlemar Chiampi. So Paulo: Perspectiva, 1980. Traduo de: Borges: Una Poetica de la lectura. (Coleo Debates; 140) PAES, Jos Paulo. Um seqestro divino: sobre os contos de Murilo Rubio. In: A aventura literria: ensaios sobre fico e fices. So Paulo: Companhia das Letras, 1990. ______. Histrias fantsticas. So Paulo: tica, 1996. (Coleo Para gostar de ler; 21) RODRIGUES, Selma Calasans. O fantstico. So Paulo: tica, 1988. (Srie Princpios; 132) RUBIO, Murilo. Contos reunidos. Org. e posfcio Vera Lcia Andrade. So Paulo: tica, 1998. RUBIO, Murilo. O pirotcnico Zacarias. 16. ed. So Paulo: tica, 1993. (Coleo Nosso Tempo) ______. Seleo de textos, notas, estudos biogrfico, histrico e crtico e exerccios por Jorge Schwartz. So Paulo: Abril Educao, 1982. (Literatura comentada) SCHWARTZ, Jorge. Murilo Rubio: a potica do uroboro. So Paulo: tica, 1981. (Coleo Ensaios; 74) TODOROV, Tzvetan. Introduo literatura fantstica. Traduo por Maria Clara Correa Castello. 2. ed. So Paulo: Perspectiva, 1992. (Coleo Debates; v. 98)
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
134
NATURALISM IN JOHN STEINBECKS THE GRAPES OF WRATH
Daise Lilian Fonseca Dias1
ABSTRACT: The school of Naturalism dominated American letters during the important era of the twenties, however, the influence of its philosophy can be found in Steinbecks The Grapes of Wrath, written in 1939. This movement arose from the attempt to apply to literature the methods of the social sciences, for one of the naturalists main mottoes was to turn literature into a document of society. Many naturalists, like Steinbeck, gathered data from actual life and included them in their literary works. With this novel, the writer proves that Naturalism inspired a literature of revolt, both literary and specially political. KEY-WORDS: Naturalism; literature; society. NATURALISMO EM AS VINHAS DA IRA DE JOHN STEINBECK RESUMO: O Naturalismo dominou as letras americanas durante a importante era dos anos vinte, porm a influncia de sua filosofia encontra-se presente no romance As Vinhas da Ira de Steinbeck, escrito em 1939. Esse movimento surgiu como um esforo no sentido de aplicar literatura as cincias sociais, visto que um dos principais lemas dos naturalistas era transformar a literatura em documento da sociedade. Muitos naturalistas, como Steinbeck, reuniram informaes da vida atual e as incluram nos seus trabalhos literrios. Com este romance, o autor prova que o Naturalismo produziu uma literatura de revolta tanto literria quanto poltica, principalmente. PALAVRAS-CHAVES: Naturalismo; literatura; sociedade.
1 Mestranda em Literatura Anglo-Americana pela UFPb. Membro das bases de pesquisa Teatro e Cultura Popular e Ncleo de Pesquisa de Arte e Cultura (NEPAC) da FACEX. End.; Cond. Parque das Pedras, bl-L, apt. 103. Nepolis, Natal/RN. CEP: 59.067-800. E-mail: daise@samnet.com.br.
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
135
The Grapes of Wrath, the name given the novel by Steinbecks first wife Carol Henning (1906-1983), was taken from Julia Ward Howes Battle Hymn of the Republic, composed in 1862. (Demott, 1989, pp.xxii). The novel provides a vehement denunciation of agricultural conditions and prejudice against the Okies, the name given by Californians to migrants from Oklahoma during the Great Depression years (1930s). Steinbecks masterpiece is a naturalistic tragedy, and the school of Naturalism dominated American letters during the important era of the Twenties. The original form of Naturalism arose from the attempt to apply to literature the method of the physical and social sciences, making literature a document of society. Steinbeck (1902-1968), as many naturalists, used to gather copious data from actual life and included it in his work, thus trying to remove literature from the realm of the fine arts and putting it into the field of the social sciences. As a naturalist, Steinbeck did not abandon the literary traditions of the past; his work becomes a form of art comparable to the Greek Tragedy. For example, the tragic is linked to a balance between consciousness and loss, there is also the matter of culpability without precise causes, and the religious universe is ambiguous (divinity-humanity); also, there are echoes of the Homeric epic: the return of the expected hero and journeys of self-descovery. Steinbecks work is also concerned with the less elegant aspects of life, for its focus is upon self-preservation. Naturalism, furthermore, is the literature of revolt, both political and literary, turned toward the land, the farm, and the peasant. This school represents in part a reaction to industrialism, and even to civilization itself. Naturalism focuses also on the the decline of traditional values of the family and mans intimacy with nature. The novel is the story of the brutal migration of a family, the Joads, from Oklahoma to Californias corrupt Promised Land. It is an ironic exodus from home to homelessness, from individualism to collective awareness, from selfishness to communal love. (Demott, 1989, pp. xxiii), from I to we. This exodus starts because the dryness in the Joads State, Oklahoma, made their land unproductive, and so, as with many people, they did not have another source to provide their living. Man alone was not able to survive without help from nature, so they asked help from banks; then came the economic disaster, and injustice took its own place. Steinbeck seems to bring to his work a kind of nostalgia for the primitive life. His heroes are rural people, illiterate and hard-working, but this nostalgia goes beyond nature; it reaches the interior of his characters who are people capable of sharing and providing, unexpectedly, seeking ways to help others, even strangers, as Rose of Sharon did in giving her breast to a starving man in the last scene of the novel. Steinbecks characters are truly representations of the ordinary man he so well portrayed in his novels, where man usually has a good nature, but injustice, pride and hatred can drive him to atittudes of extreme violence and wrath, mainly when the characters are protecting their family friends. Young Tom Joad is an example of a man of good nature, although he kills two men. Both deaths happened accidentally and led him to a personal exile and total separation from his family. The first man he kills had been a friend - both were drunk - and he acted in self-defence. The second time, he was acting against the stupid way his friend Jim
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
136
Casy had been killed because of his ideals of justice and better agricultural conditions of work and life in California. Toms good nature was challenged first by self-defence, and secondly by hatred against injustice in the shape of wicked men. Good and evil became one, and Ma Joads analysis of her sons attitude reinforces this: ...you done what you had to do. I cant read no fault on you. (Grapes, 1939, pp. 535) When fear turns into wrath, mans nature reacts in a mix of good and evil. The Great Depression era in the United States favoured all kinds of violence towards small landowners who ended up being driven from their own piece of land, unable to pay loans and expenses in general. In 1952, Steinbeck declared in an interview to Voice of America: When I wrote The Grapes of Wrath, I was filled...with certain angers...at people who were doing injustices to other people.(Demott, 1989, pp. xxxviii). In The Grapes of Wrath he denounces the division of classes: for on the one hand, the poor and the newly landless farmers, and on the other hand, those who were getting rich by exploiting the unfortunates. What is clearly seen is that in the first group most of the people are honest, simple people who just want a piece of land to work on in order to supply their familys needs. But there is the other side of society that humiliates the desperates and sucks from them everything they have, as is shown when the Joads sell almost everything they had for unfair prices established by the sellers/buyers. Honest people are exploited, unable to react, treated even as animals that were supposed not to have any feelings or necessities. The innocents have to regroup themselves and suffer a good deal of agony in order to put up a united front against their exploiters, although the novel shows only a minority capable of such a reaction as in real life. Before the weak reaction against injustice, there is a speech in The Grapes of Wrath that expresses faithfully mans attachment to his land.
If a man owns a little property is him, its part of him and its like him. If he owns a property only so he can walk on it and be sad when it isnt doing well, anda feel fine when the rain falls on it, that property is him, and in some way hes bigger because he owns it. Even if isnt successful hes big with his property. That is so. (The Grapes of Wrath, pp. 50.)
This is the Christian belief that man came from clay, so man and nature are one; and in this novel the level of identification with land is so deep that when man loses it, the symbol of his strength, he loses his course, and he sometimes even loses himself. The Grapes of Wrath portrays the loss of land and the struggle to be in touch with it again-for it is a source of life-and to have it back. Steinbeck has been criticized for the things he wrote in his masterpiece, he has even been blamed for presenting a false image of the Great Depression period. For the American people, the novel looked too much like their reality and that shocked them and made them not want to have it shown to the world. In Friedmans opinion (1967, pp. 113 ), ...to argue that the function of literature is to transmit unaltered a slice of life is to misconceive the fundamental nature of language itself: the very act of writing is a process of abstraction, selection, omission, and arrangment. And that is why Steinbecks characters and all the historical aspects present in the novel
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
137
are more than they really are, for they are an abstract of the truth. In a letter to his friend and editor Pascal Covici after finishing The Grapes of Wrath, the author said: ...this book is finished and it is a bad book and I must get rid of it It is bad because it isnt honest. Oh! These incidents all happened but Im not telling as much of the truth about them as I know (Working Days, p. x). The novel from the social point of view reflects the commitment of the author with his people, a man conscious of his time who makes fiction a personal way to exalt the kindness and simple way of life of his people, but who also makes fiction a tool against injustice. The novel presents a shocking view of this part of American history, which is the Great Depression period and as a novel it cannot be judged simply as a piece of newspaper reporting. Steinbecks criticism does not limit itself to California; it denounces the entire American way of treating the desperate people and the capitalistic values imposed on them and on any other country that might have the same problem. The kind of denunciation found in The Grapes of Wrath elucidates the cruelty man shows whenever there is greed for wealth. Nature, however, is where the characters can find support to keep their faith; it is an equilibrium point in their chaotic universe. The Joads did not find good working conditions; they did not get the white house with a fence surrounding it that they had so much dreamed of, and they did not find their lost children, but they found themselves, each one alone, and they also found the principles of sharing, of justice, of brotherhood. Ma Joads final speech reinforces the naturalistic view of work, for she still believes that by working they will get what they need and want, which is basically a piece of land of their own. BIBLIOGRAPHY DEMOTT, Robert. Preface. In: STEINBECK, John. Working Days. U.S.A.: Peguin Books, 1989. FRENCH, Warren. John Steinbecks Non-fiction Revisited. Twaynes United Authors Series. New York: Prentice Hall, 1996. ______. John Steinbecks Fiction Revisited. Twaynes United Authors Series. New York: Macmillan, 1994. FRIEDMAN, Norman. Point of View un Fiction. In: STEVICK, Philip. The Theory of the Novel. New York: The Frye Press, 1967. HEINEY, Donald., DOWNS, Lenthiel H. Recent Literature to 1930. Essentials of Contemporary Literature of the Western World. Woodbury, New York: Barrons Educational Series, 1973. LISCA, Peter. The Wide World of John Steinbeck. New York: Gordian Press, r.p.t., 1981. STEINBECK, John. The Grapes of Wrath. New York: The Viking Press, 1969.
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
138
ESPELHO, SIGNO E IMAGEM : A PROBLEMTICA DA REPRESENTAO EM O RETRATO OVAL DE EDGAR ALLAN POE
Llian de Oliveira Rodrigues1 RESUMO: O espelho encerra uma relao dialtica do eu com o mundo, em que h dois momentos distintos: o espelho tanto pode ser um receptculo para a projeo do EU, como tambm um indicador de respostas quele que busca a sua imagem mais profunda, autntica. Possveis articulaes podem ser observadas entre o Mito de Narciso, metfora da busca da identificao de um EU, e o signo peirceano na sua relao com a linguagem. Pretendemos aqui explicitar a relao proposta, traando um paralelo que nos permitir reflexes sobre o duplo carter do signo e a imagem especular com seu efeito sobre os indivduos. Investigamos o fenmeno do duplo, na literatura com a anlise do conto O Retrato Oval do escritor Edgar Alan Poe, retirando os aspectos que detectarmos de grande relevncia para o estudo proposto. PALAVRAS-CHAVE: Semitica; literature; Edgar Allan Poe; duplo. MIRROR, SIGN AND IMAGE: THE PROBLEMATICAL OF REPRESENTATION IN EDGAR ALLAN POES THE OVAL PORTRAIT ABSTRACT: The mirror holds a dialetics relation of the self with the world, where there are two distinct moments: the mirror can be a receptacle for the projection of the Self, as well as an indicator of answers to the one who searches its own deep and authentic image. Possible articulations can be observed among the Narcisus Myth, the metaphor of the quest for identification of a SELF, and the Piercian sign in its relation with language. We intend to make explicit the proposed relation, tracing a parallel that will allow us come reflections on the double character of the sign and image and its effect over the individuals. We investigated the phenomenon of the double in literature with the analysis of Edgar Allan Poes short story The Oval Portrait, pointing out aspects of great relevance we detected for the proposed study. KEY-WORDS: Semiotics; literature; Edgar Allan Poe; double
1 Graduada em Letras. Mestre em Comunicao e Semitica (PUC-SP). Professora da Rede Municipal de Natal.
Professora do Curso de Pedagogia da FACEX/RN. Professora da disciplina Aquisio e Desenvolvimento da Linguagem no PROBASICA/UFRN/SEDC-RN. Pesquisadora da base de Linguagem e Psicanlise da FACEX/ RN. Pesquisadora do Ncleo de Estudos da Linguagem (NEL)/Natal/RN. Rua Praia de Guajiru, 9216, Ponta Negra 59.092-220 Natal/RN. E-mail: lila99@uol.com.br
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
139
O que um espelho? Como a bola de cristal das videntes, ele me arrasta para o vazio que no vidente o seu campo de meditao, e em mim o campo de silncios. Esse vazio cristalizado que tem dentro de si espao para se ir para sempre em frente sem parar: pois o espelho o espao mais fundo que existe. Clarice Lispector O signo para Peirce alguma coisa que representa uma outra coisa para algum, sob certa medida e sob certo aspecto. Quando fala-se em coisa, a proposio dizer que h uma realidade concreta, material e fsica. Existindo essa materialidade, pretende-se dizer tambm que o signo essncia. Poderamos dizer, ento, que essa materialidade da coisa toma corpo no sentido de fala oral, de fala escrita, de impresso, os sons emitidos ao falar, palavras escritas em pedras entre outros. Tudo isso ns podemos dizer estar no campo da realidade fsica, mas h uma materialidade sensvel tambm, no apenas fsica, como: a forma rtmica que o corpo plasticamente configura na dana, uma simples mancha de cor no papel, desenhos grficos que desde as grutas vm crescentemente povoando a face do mundo, construindo um mundo humano sgnico, uma outra realidade onde bailam os signos, se assim poderamos dizer. Trabalhando-se, ento, as classificaes, os trs cercos do mundo que se encontram no estado de vir a ser, temos a seguinte relao: o primeiro deles poderia ser colocado como um ser que no mundo encontra-se no estado de vir a ser. No segundo momento, o ser defronta-se com o objeto e no terceiro, h uma significao, uma forma, um conceito significante que materializa o significado. De outra forma, ns poderemos dizer que h um cone, que se apresenta como uma representao, que mantm com o objeto com o qual se refere uma relao de qualidade; ns temos um ndice, que estabelece uma relao de fato com o objeto; e ns temos o smbolo, que mantm com o objeto uma relao imposta, o significar. O signo permite conscincia apropriar-se da representao do objeto, que passa a ser para esta, o prprio objeto. O signo reflete e refrata o real, pois no o objeto. Isso significa que se o signo a representao do objeto e esse mesmo signo passa a ser o objeto, ou ele deixa de ser o objeto ou deixa de ser o signo. Ento entramos na problemtica da brecha existente entre o signo e aquilo que ele representa, o signo reflete o objeto, o objeto em si, uma verdade para si. Nesta reflexo, de certa forma, deforma o objeto que reflete, pois por mais que lhe seja fiel, no pode ser ele. Assim, a presena de signos delata a ausncia do objeto. O semioticista Umberto Eco nos acrescenta ainda: Para que um antecedente se torne signo do conseqente, necessrio que o antecedente esteja potencialmente presente e perceptvel, enquanto o conseqente deve estar necessariamente ausente Eco (1989:24). Isto interessante, porque a presena do signo anuncia a vida e morte do objeto.
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
140
A humanidade tem uma busca, que extremamente mtica, de apreender o objeto tal qual . Temos por exemplo, uma possibilidade de que o desenho dos animais dos primeiros homens de nossa espcie eram uma tentativa de apreenso da alma, do enfraquecimento do animal antes mesmo de ca-lo, antes mesmo de t-los. Ento, como se a apreenso da representao do animal fosse a apreenso do esprito do animal, da sua alma. Santaella prope como incio para esse processo de apreenso da alma dos objetos, a fotografia e esta como: processo fsico-qumico de correspondncia ponto a ponto, finalmente a prpria realidade que o homem se tornou capaz de flagrar. Parece enfim, transposta a brecha da diferena entre o signo e o objeto por ele representado (Santaella, 1992:38). Mas a fotografia ainda carecia de um movimento, pois algo ainda parado. Ns temos ento, os irmos Molire inventando o cinema, em 1895, ou seja, pondo as fotos em movimento que construdo pela projeo rpida das fotografias. Temos depois a televiso com o corpo e o tempo que vai pondo o mundo flagrado no instante mesmo do seu ir existindo (Santaella, 1992:39). Mas o mundo tridimensional, ou passa a ser. Surge, ento, a holografia como mais um elemento que atende a uma necessidade nova criada. Dessa forma, podemos perceber que h algo que parece o inverso, ou seja, parece, ento, que quanto mais o objeto se aproxima, quanto mais ele parece ser capturado pela conscincia, ocorre o inverso: h uma fuga do real. Ento, ao utilizarmos uma imagem tcnica, ns temos o registro como explicitamente no sendo a realidade. Temos a imagem que apreendida e emitida por uma mquina, cuja natureza limitada: s apreende parte do real e pesa ao ponto de vista tambm, do observador. Ns temos uma necessidade, instrumentos que atendem ao desenvolvimento dessa necessidade, chegando inclusive imagem virtual. Prosseguindo com a anlise desse processo, quanto mais estreito parece o vnculo fsico entre o registro e o objeto registrado, mais se alarga a fenda aberta entre signo e realidade. O registro tcnico congela o instante, o flagrante eterno. A eternizao aponta para o avesso, ou melhor dizendo, a irrepetibilidade de morte irremedivel do flagrante capturado. O que a imagem captura, portanto, o rapto da vida (Santaella, 1992:40). De outra forma, posso dizer que a foto raptou um pouco da vida, para instantes aps lan-la ao aparente eterno. Essa idia nos pe a refletir sobre a vida e a morte inclusas no signo. E nos pomos a questo: possvel romper o duplo carter do signo, ser ele e ser outro? Mas h linguagem e pensamento, e Santaella (1992:42) nos prope: no h linguagem sem signo, no h qualquer atividade de conscincia que no seja signo ns oscilamos entre estar nas coisas e fora dela, estar no outro e fora dele, e estar em ns e fora de ns. E conclui, citando Lacan : sou onde no estou, estou onde no sou. Da vem a proposio: um eu que pensa, presente vetoriado para o futuro, que est alm do eu representado. Imaginemos, ento, um indivduo refletindo sobre si mesmo. Para este ser refletir
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
141
sobre si mesmo necessrio que haja um ser que pensa e um ser objeto da reflexo. H, ento, uma duplicao do ser, ou do eu. O primeiro eu avana na corrente da vida, o eu que no para, o eu que continua a refletir. O segundo eu observado o que eu transformei em signo, que eu analiso, que eu olho, que congelei. E se voc tem o eu que est refletindo, voc no tem o verdadeiro objeto da reflexo. E j que no tem, fica difcil ter a metalinguagem que caa sobre mim, que no me torne estagnado, mas me permita ser e analisar-me, no ir, no meu estar, no meu momento agora. Ento, a relao entre os dois Eus, passa a ser um eu pensante, ativo portanto, que enquanto pensa, no fluxo da vida, o vir a ser, no to conhecvel, o eu por vir; e um segundo eu, o eu pensando, passivo portanto, que est sob a ao do eu pensante, do eu ativo. E esse eu passivo aparece como um outro conhecvel, meio passado, meio futuro. Assim, como coloca Santaella, no s o pensamento, mas o prprio eu dialgico. H, portanto uma auto-identidade, possui uma fenda, h eus, e na medida em que um eu o signo, no foi possvel aproximar a fenda. Dessa forma, na prpria anlise de mim mesmo, quando uma conscincia cai sobre si, quando ela se prope a refletir, parece no conseguir refleti-la no seu prprio existir, mas parece necessitar, de dentro dela, de uma referncia que no o eu existindo, mas o eu que existe e parou parece para ser analisado. NARCISO E O OLHAR A fascinao de ver-se mitolgica. Narciso, como atesta a mitologia grega, filho da ninfa Lirope e do rio Cefiso, viveria sob a profecia do cego Tersias de que teria vida at o momento que no se visse. Por ser belssimo ao chegar idade adulta, seria objeto de amor de vrias moas e ninfas, mas mantm-se sempre insensvel a este sentimento. Castigado por Nmesis a amar um amor impossvel, Narciso sucumbe dentro de si, quando um dia, ao inclinar-se sobre uma fonte para matar a sede, percebe seu rosto e enamora-se de si, morrendo a contemplar-se. Temos o fenmeno do olhar a evocar sentimentos de temor, mistrio e amor. Recordemos a narrativa do mito de Eros e Psiqu, em que a esposa cedeu tentao do ato proibido de olhar o rosto do marido, o Deus Eros. A punio da jovem pode ser relacionada com poder do olhar, como se fosse esse o caminho da fuso com o outro, como se a apreenso do eu se desse pelo canal do olhar do outro. Na figurao bblica, Deus teve o olhar universal. Na mitologia, dipo o rei que tudo v, mas que no conhece a verdade de si mesmo. Ao cegar-se, interioriza sua viso. Tirsias, o adivinho, aquele que v para dentro, que v o que est acima do visvel, todos eles configuram a autoridade do olhar, a importncia desse elemento nas relaes entre indivduos. Jacques Lacan, nos seus escritos sobre a fase do espelho, explica que esta fase a que demarca fronteiras entre o imaginrio e o simblico. A imagem de uma criana de seis a oito meses, refletida no espelho permite a deflagrao de um processo em que esta criana reconstri os fragmentos ainda no unificados do prprio corpo, em uma imagem nica, desencadeando assim a construo da prpria identidade. No entanCarpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
142
to, o espelho, nesta experincia, figura como uma ilustrao, pois de fato o olhar do outro que funciona como espelho na edificao do eu. Nos sculos XIV e XVI, os neoplatnicos chegaram a definir o verdadeiro amor como pura contemplao, de tal forma a identificar o ser que v com o ser visto. Narciso aquele que mata a verdade de si mesmo. Ao olhar para si, confunde o seu olhar com o olhar do Outro, criando ento, uma outra imagem, o seu duplo. E o seu aparecimento desafia a realidade do sujeito a existir e afast-lo de sua verdade levando-o ao jogo ilusrio da aparncia. O olhar de Narciso desencadeia o processo que Freud chama de narcisismo primrio. Funde sujeito e objeto, negando a auto-identificao. Narciso, ao direcionar o seu amor, faz a escolha errada do objeto. Dirige a si, o amor que deveria enderear ao outro. Viola o natural e regride a um estado endopsquico, como se tivesse cometido um incesto intra-psquico. A imagem simblica ideal do eu aquela que dar lugar ao objeto amado. A psicanlise freudiana nos diz que a evoluo do eu passa por estgios que vo desde o narcisismo primrio at culminar onde, no processo de constituio da sua identidade, o objeto amado toma o lugar do ideal do eu. Narciso no se reconhece em sua imagem, afastando-se, assim, da evoluo natural. Concentra investimentos libidinais num eu ideal que assume como sua prpria imagem. Concentra seu olhar num simulacro. O seu duplo refletido parece abolir a idia de identidade. Ao olhar no espelho, podemos colher a imagem correspondente nossa, mas que no somos ns. Pode ter um certo grau de identidade com o real, mas pode encobrir e deformar esta realidade. Para os que vivem sob o signo de Narciso, esse fato pode significar a diferena entre a vida e a morte. O REFLEXO DO RETRATO Um castelo suntuoso recentemente abandonado, com vrios quadros de grande valor artstico, envolvidos com molduras de finssimo acabamento. Dentre eles, um quadro chama a ateno do viajante - que se abriga no castelo - por sua vivacidade. Este o cenrio do conto O Retrato Oval de Edgar Alan Poe, que pretendemos sob a tica do signo e do espelho, analisar neste trabalho. No conto, temos a paixo como desencadeadora de um processo de transferncia. Seguindo a narrativa, o grande interesse do viajante despertado em particular por um quadro de uma jovem. O observador deixa prender sua ateno, por achar que neste quadro, alm da execuo e tcnicas perfeitas, h vida, como se o retrato aprisionasse a imago da moa. A imagem reproduzida tem uma impresso de sobrenaturalidade e mistrio, como se a alma da jovem ficasse presa na imagem imvel.
Mas aquela comoo to sbita e to intensa no me viera nem da execuo da obra, nem da imortal beleza do semblante. Menos do que tudo poderia ter
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
143
sido minha imaginao que, despertada de seu semitorpor. teria tomado aquela cabea de uma pessoa viva.
Tomado pelo mistrio, o viajante descobre o livro que descrevia as pinturas e a sua histria, e fixa sua ateno no verbete que descreve a histria do Retrato Oval. Este descreve a histria de uma jovem muito bela que desposa o pintor do quadro. Estudioso e apaixonado pela arte, o marido dispensa poucas atenes esposa e dedica-se fervorosamente execuo de seu trabalho. Suas duas grandes paixes eram, a sua esposa e a arte. Decide ento, pintar o retrato de sua amada, e a partir da que podemos identificar as relaes com o signo. Anteriomente, ao discutirmos o signo na sua relao com o objeto que representa, lembramos que o signo reflete o objeto em si, uma verdade para si. Nesta reflexo, de certa forma deforma o objeto que reflete, pois por mais que lhe seja fiel, no pode ser objeto. H ento, a existncia da fenda. Dessa forma, a presena do signo delata a ausncia do objeto. No conto, a jovem vai gradativamente definhando, diante do pintor e seu retrato. O fato a metfora da significao. O pintor, aos poucos substitui a jovem, seu objeto de amor, pelo outro, a pintura, que permite eterniz-la, naquele instante. Existe a fenda entre o retrato e o que ele reflete, pois o retrato vai aos poucos sobrepondo-se ao rosto da modelo. O pintor dirige os olhos para a jovem, na medida em que esta se encontra no lugar de seu modelo. A significao, passa de um foco (jovem/modelo) para outro (retrato) e nessa medida, h a inverso em que a modelo passa a ser o signo e, o retrato, o objeto representado. Estabeleceu-se ento, o jogo de metamorfoses entre o modelo e o retrato. O reflexo (retrato) rene e exibe as portas de um vazio que imperiosamente indicado: a fenda entre o signo e a representao. O olhar soberano do pintor comanda um tringulo visual que tem em seus vrtices a imagem especular, a imagem real e a relao modelo/retrato, todas centralizadas num ponto: os olhos do artista. Partindo-se do olhar do pintor aparece o reverso da tela. Da, podemos observar a prevalncia do olhar. O pintor v, mas no visto, e aquele que no se deixa ver o mesmo que detm o poder. A dicotomia entre o ver e o ser visto correlata do fenmeno do poder. A fascinao consiste precisamente em saber que se visto com intensidade. Para evitar o poder excessivo da viso, preciso que os parceiros do olhar, tenham a mesma densidade. Quando h desequilbrio de poder na relao, o olhar de um pode congelar o movimento do outro, congelar o outro como objeto. No conto, o pintor trabalha a sua tela como se o retrato procurasse fixar a identidade da modelo. Na mitologia, Eros no queria ser visto, mas olhava. Psiqu conquista com grande sacrifcio o privilgio e com isso perde sua identidade.
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
144
Aps o reflexo/retrato completo no sabemos quem refletir no espelho/retrato, e o reflexo se dar ao nvel da existncia, aquilo que olhado, mas no visvel, e, no extremo da profundidade fictcia, torna-se visvel, mas indiferente a todos os olhares. Mostrase ento, o que falta em cada olhar: os espectadores que o admiravam, o belo retrato, a imagem criada pelo artista e o pintor, que tinha como imagem real, as tintas dispostas na tela, formando uma imagem. Na composio do quadro existe a lacuna. A imagem da moa cola-se ao retrato como um duplo especular. Nesse momento de perda das identificaes, ela era somente um retrato, a sua imagem estava aprisionada. Era apenas uma marca simblica que a sustentava frente ao real. REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS BRANDO, J. S. Mitologia Grega, Vol. II. 5. ed. Petrpolis: Vozes, 1992. COUTINHO, O. A Semiose do Espelho. Angulo, Lorena, v. 59, p. 9-12, mai./ jul., 1994. DOR, J. Introduo Leitura de Lacan. Porto Alegre: Artes Mdicas, 1989. EAGLETON, T. Teoria da Literatura: uma introduo. So Paulo: Martins Fontes, 1983. ECO, U. Sobre os Espelhos e outros ensaios. 3. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1989. FERRARA, L. A. A Estratgia dos Signos. So Paulo: Perspectiva, 1981. FOUCAULT, M. As Palavras e as Coisas. So Paulo: Martins Fontes, 1992. JULIEN, P. O retorno a Freud de Jacques Lacan - Aplicao ao espelho. Porto Alegre: Artes Mdicas, 1993. LISPECTOR, C. Os Espelhos. In: Para no esquecer. 5. ed. So Paulo: Siciliano, 1994. NASIO, J. D. O Conceito de Narcisismo. In: Os 7 Conceitos Cruciais da Psicanlise. Rio de Janeiro: Zahar , 1989. PIGNATARI, D. Semitica e Literatura. So Paulo: Cultrix, 1987. S, O. A Escritura de Clarice Lispector. Petrpolis: Vozes, 1993. SANTAELLA, L. O signo luz do espelho. In: Cultura das Mdias. So Paulo: Razo Social, 1992. SODR, M. A Mquina de Narciso. Rio de Janeiro: Achiam, 1984. VERNANT, J. P. Mito e Pensamento entre os Gregos. So Paulo: Difuso Europia do Livro/EDUSP, 1973.
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
145
AUGUSTO DOS ANJOS: A IRONIA INFAUSTA
Rosilda Alves Bezerra1 RESUMO: A poesia de Augusto dos Anjos analisada a partir da ironia infausta revela insistente repetio no trao potico escolhido como construo de linguagem. O aspecto irnico argumentado constitui o homem como uma mistura de qualidades contraditrias. Percebemos nos poemas de Augusto dos Anjos, o contraste entre o homem com suas angstias e esperanas, inseguro perante um destino obscuro, incerto e inflexvel, em que propicia legtimas possibilidades e proximidades de uma exibio da ironia trgica e suas manifestaes na vida humana. PALAVRAS-CHAVE: Augusto dos Anjos; ironia; psicanlise; poesia
AUGUSTO DOS ANJOS: THE UNLUCKLY IRONY ABSTRACT: Augusto dos Anjoss poetry analized from the unluckly irony perspective, shows an insistent repetion in the poetic trace chosen as language construction. The ironic aspect argued constitutes the man as a mix of contradictory qualities. We observed in his poems the contrast among man with his anguishes and hopes, for man is insecure before an obscure, uncertain and inflexible destiny which provides lawful possibilties and proximities of an exhibition of the tragic irony and its manifestations in human life.
KEY-WORDS: Augusto dos Anjos; irony; psychoanalysis; poetry
1 Graduada em Letras (UFRN). Mestre em Comunicao e Semitica (PUC/SP). Doutoranda em Letras (UFPB). Pesquisadora da Base de Pesquisa Linguagem e Psicanlise da Faculdade de Cincias, Cultura e Extenso do RN (FACEX)/Natal e do Ncleo de Estudos da Linguagem (NEL). End.: Av. Ayrton Senna, 1823 - Bl. 24, Ap. 301 Eucaliptos. CEP 59.088-100 - Natal, RN; Tel.:( 0xx84) 208-5197. E-mail: rosiselva@uol.com.br
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
146
Era a elegia pantesta do Universo, Na podrido do sangues humano imerso Prostitudo talvez, em suas bases.. Era a cano da natureza exausta, Chorando e rindo na ironia infausta Da incoerncia infernal daquelas frases. Augusto dos Anjos Posso eu aprender a sofrer Sem dizer algo irnico ou engraado Sobre o sofrimento? Auden
Lendo o poema Monlogo de uma sombra, no livro Eu e outras poesias, de Augusto dos Anjos, interessei-me em particular pela estrofe acima. Tentava descobrir nas minhas inquietaes porque as palavras ironia infausta chamavam-me a ateno. O infausto estava retratado no sentido doloroso que a palavra imprime. Infausto na sua significao prpria de dor que se processa continuamente. E a ironia? Como caberia nesse contexto do infausto? O vrio campo semntico abrange o vocbulo ironia vindo do grego (eironeia), que significa dissimulao, interrogao dissimulada. Nesse sentido designa a arte de interrogar, com vistas a provocar o surgimento das idias, formando assim, uma figura de retrica. O primeiro registro de eironeia surge na Repblica de Plato. Segundo (MUECKE, 1995: 33), ironia enquanto modo de tratar o oponente num debate e enquanto estratgia verbal de um argumento completo foram ignorados a princpio, e durante duzentos anos e mais a ironia foi encarada principalmente como uma figura de linguagem. A ironia socrtica consistia em propor questes dissimuladamente simples e ingnua ao interlocutor, a fim de confundi-lo e mostrar-lhe a fraqueza das opinies ou dos raciocnios. Como o processo acabava irritando e ridicularizando o adversrio, a palavra passou a adquirir conotao satrica. Entretanto, utilizado pelo filsofo Scrates no contato com os seus discpulos moos, sensatos e amantes da verdade, a ironia resultava no alargamento progressivo das conscincias. Modernamente, o termo assumiu o indeciso contorno de figura de pensamento e de palavra. A ironia, nesse sentido, funciona, pois, como um processo de aproximao de dois pensamentos, e situa-se no limite entre duas realidades, e precisamente a noo de balano, de sustentao, a sua caracterstica bsica, do ponto de vista da estrutura. A ironia resulta do inteligente emprego do contraste, com vistas a perturbar o interlocutor (formando da a interrogao). Enquanto modo de expresso, a ironia representa elemento estruturador de um texto, aparecendo sob diferentes formas de linguagem: na lingstica colocada como construo de linguagem; na vertente psicanaltica, o estilo freudiano ocupouse de usar diversos registros de escrita, com o objetivo de demonstrar descritivamente, narrativamente e dissertativamente o quanto de mistrio leva pulsionalidade do fazer potico. Na poesia de Augusto dos Anjos, o seu trao potico possibilita vrios tipos de ironia. Em determinados momentos repete-se um processo
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
147
interrogativo da falta eterna que possui o homem que interroga, buscando de seu interlocutor/ leitor as respostas desse riso escamoteado; a ironia autotraidora e a ironia dramtica fazem parte desse sentido potico, que identifica o homem isolado criando seu prprio objeto, em eterna busca da verdade. A expresso irnica inserida no fazer potico de Augusto dos Anjos to sria que causa horror. No entanto, o ouvinte experiente est iniciado no mistrio que se esconde velado. O homem aspira unidade e infinitude, isto , a eternidade com conscincia de morte, e o mundo se lhe afigura fantasmagnico cindido e finito. As interrogaes de trao potico de Augusto dos Anjos surgem precisamente em busca de interlocutores que tentem desvendar a dor humana que contnua, e se renova. Como observamos nestes versos: Ah! Dentro de toda a alma existe a prova De que a dor como um dartro se renova. (Monlogo de uma sombra) Para escamotear essa dor, o poeta coloca em evidncia vrios disfarces, entre elas a mais importante da inconscincia das mscaras de cera/ Que a gente prega, com um cordo, na cara. (As cismas do destino). Os esforos para tir-la da luta constante de palavras para conseguir afastar a mscara toma o aspecto triste e desolado do tdio. Com novas formas consegue afast-la, porm novamente recupera sua antiga mscara, e a dor recomea, ou como diz o poeta, se renova. Na poesia de Augusto dos Anjos, a ironia infausta revela uma linguagem do humano que sofre alm dele mesmo. Configurando um trao essencial de seu discurso, pudemos caracteriz-lo como um escritor irnico, extrapolando o estudo dos traos literrios encontrados na poesia, e traando a biografia do indivduo. O livro de poemas Eu, permeado pelo pessimismo, dvida e desconsolao, sempre em sintonia com a realidade amarga, anloga doena que o acompanhava incessantemente, notificando a excentricidade do poeta. H uma negao do amor; praticamente inexiste, e de uma certa forma esse tema ironicamente o que causa dor e sofrimento: Que mal o amor me tem feito! Duvidas?! Pois, se duvidas, vem c, olha estas feridas, Que o amor abriu no meu peito. Passo longo dias, a esmo... No me queixo mais da sorte nem tenho medo da Morte Que eu tenho a Morte em mim mesmo! (Canto ntimo) A linguagem da busca, de algo perdido, da monera, da saudade, uma constante na escritura de Augusto, temos dessa forma, uma ironia infausta ligada diretamente ao passado. A retrica que o poeta notifica retrata a ironia infausta como uma das modalidades do desabafo, implicando toda uma relao do sujeito que no idoCarpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
148
latra a realidade, pelo contrrio, notifica-se uma nostalgia por algo intensamente perfeito. Mas esta nostalgia no esvazia a realidade, diferente disso, o contedo da vida revela um significativo momento numa realidade profunda, cuja plenitude atrai a alma: Da saudade na campa enegrecida Guardo a lembrana que me sangra o peito, Mas que no entanto me alimenta a vida. (Saudade) Poderamos dizer que a ironia a figura de retrica (antfrase) que supe uma certa posio do sujeito diante dessa busca da verdade. A ironia revela o funcionamento do inconsciente como retrica, na medida que o conflito inserido no ntimo do ser entre a vontade de querer e o desejo no realizado, do ponto de vista do inconsciente, s pode se dizer pelo inverso. Nos versos abaixo, observamos a desiluso do poeta perante este enigma que absorve amor e saudade : Parece muito doce aquela cana. Descasco-a, provo-a, chupo-a ... Iluso treda! O amor, poeta, como a cana azeda, A toda a boca que o no prova engana. (Versos de amor) A ironia infausta implica dor dissimulada, poeticamente existe uma preocupao em desvendar esse enigma do amor, para o qual temos no mesmo instante a interrogao infinda: Quis saber que era o amor, por experincia, E hoje que, enfim, conheo o seu contedo, Pudera eu Ter, eu que idolatro o estudo, Todas as cincias menos esta cincia! (Versos de amor) Apesar da resistncia na repetio do trao potico de Augusto dos Anjos com relao ao amor, trata esse tema, como uma espcie de iluso, por conseguinte, no possvel duvidar da realidade do amor, nem de sua importncia. O poeta descreve de modo que somente ele entenda diferente: Certo, este o amor no que, em nsias, amo Mas certo, o egosta amor este que acinte Amas oposto a mim. Por conseguinte Chamas amor aquilo que eu no chamo. (Versos de amor) s vezes, a ironia tem uma propriedade que tambm caracterstica para toda ironia, uma certa nobreza, que provm do fato de que ela gostaria de ser compreendida, mas no diretamente. No h tema algum que desperte tanto interesse como o que trata do bem ou do mal da espcie, porque o indivduo para esta o que a superfcie
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
149
de um corpo para o prprio corpo. A ironia que est impregnada na poesia de Augusto dos Anjos identificada como componente especfico de uma dor, da descoberta de seu ser, e a procura de algo que responda a sua amargura infinita. S aceita a solido quem acredita que se no fosse a dor, a nossa existncia no mundo no teria nenhuma razo de ser. E nesse sentido, o poeta do Eu parece inserir sua linguagem Os conflitos, os motivos ocultos que explicariam o comportamento de Augusto dos Anjos no trao escritural possibilitam uma conscincia e um desejo em que o campo de batalha localizado no ntimo do ser, e sua exteriorizao reconhecida como mtodo para suportar a dor.A ironia infausta concebida como construo de linguagem, para a no imploso da alma. Sua forma de apresentar-se o riso. Mostrando-se com dentes que se expem ofuscando o entendimento de quem o escuta. Este interlocutor nunca sabe se os dentes so para devor-los ou se representam expresso de alegria. o riso escamoteado, de couraa. o riso que se mostra escondendo a dor: E muita vez, meia-noite, ri Sinistramente, vendo o verme frio Que h de comer a minha carne toda! (Poema negro) Ria, num sardonismo doloroso De ingnita amargura (Numa forja) E hoje, para guardar a mgoa oculta, canta, solua o corao saudoso, Chora, gargalha, a desgraada estulta. (A louca) E entre a mgoa que a mscara eterna apouca A Humanidade ri-se e ri-se louca No carnaval intrmino da vida. (A mscara) A alegria do irnico consiste exatamente em parecer aprisionado naquela mesma fixao que mantm o outro preso. A ironia se mostra como aquela que compreende o mundo, que procura mistificar o mundo circundante, no tanto para ocultarse quanto para fazer os outros se revelarem. Mas a ironia tambm pode se mostrar quando o irnico procura levar o mundo circundante a falsas pistas a respeito dele mesmo. Nesse sentido, a poesia de Augusto dos Anjos manifesta o que o crtico rris Soares comentara sobre a potica do autor: S a dor possui a faculdade de aumentar, aclarando, essa manifestao imediata e poderosa da sensibilidade, enquanto a alegria, no seu rodopiar eterno de faisante, danando ao som do pandeiro, a dispersa e anula. (COUTINHO & BRAYNER, 1973) Desse modo, o poeta se auto intitula como um ser monstruoso: Eu sou, por conseqncia, um ser monstruoso! Em minha arca enceflica indefesa
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
150
Choram as foras ms da Natureza sem possibilidade de repouso. (Noli me tangere) A felicidade nesse contexto praticamente suprimida. E nesse trao de insatisfao revelado que todo o bem negativo, e toda satisfao tambm o , porque suprime um desejo ou termina um pesar. Isso significa que na poesia augusteana nunca a alegria maior que a almejada, e que a dor sempre a excede. Na sua poesia infausta, a nica fora criadora e redentora a dor: Ah! Como o ar imortal a Dor no finda! Veio e vai desde os tempos mais transatos Para outros tempos que ho de vir ainda. (As cismas do destino) Nesse contexto irnico de dor, o sentido da busca incessante o meio de diluio na multido para dela manter-se isolado. E nesse espao de procura que ironia infausta assume a face do que mais necessita dos outros para afirmar seu isolamento. Assim, os termos grotescos so enumerados, a dor, como elemento caracterstico dessa ironia autodestrutiva se faz presente intensificando a elaborao dos versos: Na evoluo de minha dor grotesca, Eu mendigava aos vermes insubmissos Como indenizao dos meus servios O benefcio de uma cova fresca. (Os doentes) Numa perspectiva literria condizente potica de Augusto dos Anjos, no deixa de colocar ironicamente que o homem sensato aquele que consegue ser comediante de si mesmo e das suas prprias desgraas. Alguns poemas escatologicamente construdos absorvem os aspectos norteantes da utilizao irnica como a arte de persuadir, assim tambm, como discurso que pode servir ao trgico apelo essncia religiosa do ser quanto ao cmico. Ao observarmos a comunicao cotidiana, a figura de linguagem irnica aparece principalmente nas classes elevadas. O irnico uma vtima exigida como sacrifcio pelo desenvolvimento do mundo; no que o irnico sempre precise cair como uma vtima, no sentido estrito, mas sim porque o zelo no servio do esprito do mundo o devora. A escrita potica de Augusto dos Anjos preenche perfeitamente a complexidade desse episdio, porque a sua dor colocada obsessivamente a cada momento; sua preocupao gira em torno, no s do ttulo de seu prprio livro Eu, embora o egocentrismo que sugere o nome, no condiz totalmente com sua grafia potica. A linguagem potica desenhada pelo poeta indica propositadamente uma certa universalizao e integrao com os cosmos, como se ele contivesse todas as dores da humanidade, perfeitamente observveis nos versos: Porque, para que a dor perscrutes, for a
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
151
Mister que, no como s, em sntese, antes Fosses, a refletir teus semelhantes, A prpria humanidade sofredora. (As cismas do destino) Alguns elementos contribuem para uma dimenso discursiva desse fenmeno de linguagem: a ironia como retrica do inconsciente permite pontuar as especificidades da dimenso psicanaltica assumida pela teoria freudiana. O confronto existente entre essa perspectiva retrica possibilita a visualizao do processo de produo da ironia como uma particularidade da linguagem, apreensvel num plano discursivo. O trao irnico, de certa forma, tende a no usufruir do gozo, pois no se permite ser feliz. No entanto, a realidade perde em tais instantes sua validade. Esse procedimento da no permisso felicidade, circula pela instabilidade que a alegria proporciona. A felicidade s seria alcanada se fosse retirado do prprio sujeito o mximo de prazer, e que no necessitasse do outro para complet-lo. A felicidade que se repete no trao potico de Augusto est no futuro ou no passado, nunca no presente; o que distncia o admira, desaparece logo que se deixa seduzir. Enquanto indivduo, quanto menos o ser necessitar do outro, mais poder ele encontrar a felicidade. Pois esse outro sempre inconstante, inseguro, instvel; e nesse contexto que o homem, ora uno, ora universal s tem vontade e desejos; essa necessidade que o constrange, e as imperiosas exigncias materiais preenchem a sua existncia, revelando assim, que o eu o sintoma humano por excelncia: Ser homem! Escapar de ser aborto! Sair de um ventre inchado que se anoja, comprar vestidos pretos numa loja e andar de luto pelo pai que morto. (Gemidos de arte) O conceito de ironia infausta busca elaborar uma leitura crtica que incorpora um olhar que procura se identificar com a desordem que ele quer combater, ou assumir frente a essa uma relao de oposio, mas naturalmente, sempre de tal modo que esteja consciente de que a aparncia dele o contrrio daquilo em que se apoia, e que saboreie essa inadequao. Na poesia de Augusto, os males do mundo, ele os aponta em si mesmo, passeia perplexo, no sendo mais que a sombra, o espectro de seu passado: Quem foi que viu a minha Dor chorando?! Saio. Minhalma sai agoniada. Andam monstros sombrios pela estrada E pela estrada, entre estes monstros, ando ! (Queixas noturnas) A partir da potica do Eu, pudemos seguir uma linha de continuidade temtica nas Outras poesias. O monlogo interior, a fragmentao dos episdios, o horizonCarpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
152
te reflexivo de sondagem existencial, a temtica do autoconhecimento e expresso, os limites do dizvel descortinam na fico augusteana uma poesia voltada para a tematizao do problema do ser e do dizer, principalmente de qual tipo de linguagem se um exerccio de reflexo para o homem que deseja conhecer- utiliza para desenvolver esse dizer. Que sou eu, neste ergstulo das vidas Danadamente, a soluar de dor?! Trinta trilhes de clulas vencidas Nutrindo uma efemeridade interior. (Anseio) O poeta aliado a sua conduta de psique ainda em processo de formao tem a prpria condio irnica como modo de sobrevivncia dor de ser alma. neste aspecto que a sublimao tende a processar-se. Diz-nos a esttica freudiana, que a sublimao um dos destinos da pulso, e a psicanlise fornece uma leitura do homem, propiciando-lhe um conhecimento da alma. A ironia constitui apenas uma forma subordinada de vaidade irnica de desejar ter testemunhas para estar bem certo e seguro de si; e igualmente uma simples inconseqncia, que a ironia tem em comum com todos os pontos de vista negativos, que ela, por definio procura o isolamento: Eu, somente eu, com minha dor enorme os olhos ensangento na viglia! E observo, enquanto o horror me corta a fala, O aspecto sepulcral da austera sala E a impassibilidade da moblia. (Poema negro) Mas essa solido de que fala Augusto algo que o atrai como espcie de sentimento aristocrtico. Ou como coloca Schopenhauer, quanto mais nobre o homem, menos prazer sente no convvio social, preferindo a solido. O homem podendo contar apenas consigo mesmo. E no intuito de sublimar essa solido que o trao do poeta revela-se irnico de grau poder dissimulativo, sendo nas fraturas e impasses da conscincia de seu texto que se capta a falta. A solido e o isolamento representam o destino de todos os espritos elevados. No seu discurso transparece as leituras dos filsofos lidos pelo autor, como Herbert Spencer, Ernst Haeckel, e principalmente Arthur Schopenhauer, na obra Dores do mundo. A influncia do filsofo alemo contribuiu sistematicamente para a construo de suas idia, notificando uma negao evidente da existncia material, com isso permitindo uma mortificao moral contnua. A solido auxilia no processo da interrogao, da busca de si mesmo. O filsofo alemo Schoupenhauer, no livro A vontade de amar, fala sobre a dor de modo realista:
Se no fosse a dor, poderamos dizer que a nossa existncia no mundo no teria nenhuma razo de ser. um absurdo pensar que a dor, que nasce da vida e enche o mundo, seja apenas um acidente, e no o prprio fim. Cada desgraa pessoal apresenta-se como uma exceo, mas, como somos todos desgraCarpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
153
ados, a desgraa geral a regra.
Esse querer conhecer-se a si prprio identifica-se como um trao de linguagem que se estende e se repete na pesquisa profunda do mistrio das coisas que o poeta absorve. Seu trao escritural devidamente empregado de forma que cada palavra signifique uma determinada coisa. Essa escassez de humor, mostra uma condio potica que procura estranhamente ironizar sua condio espiritual. O novo, por outro lado, ele no possui. Apenas sabe que o presente no corresponde idia. Ele o que deve julgar. Num certo sentido, o irnico proftico, pois ele aponta sempre para a frente, para algo que est em vias de chegar, mas no sabe o que seja. Ele proftico; mas se orienta, se situa ao contrrio do profeta. Nesse aspecto, Augusto soube decifrar poeticamente seus pensamentos profticos: Por antecipao divinatria, Eu, projetado muito alm da Histria, Sentia dos fenmenos o fim... (Canto de onipotncia) Revela-se porm, uma certa ironia, quando notamos o ttulo do poema. Esta mesma liberdade, este flutuar d ao trao da ironia infausta um certo entusiasmo, na medida que ele, se embriaga na infinitude das possibilidades, necessitando de um consolo por tudo o que naufraga, pode buscar refgio no enorme fundo de reserva da possibilidade. Entretanto ele no se entrega a esse entusiasmo de destruio que h nele, pois mostra em grande parte de seus poemas que a dor a sade dos seres que se fanam, a riqueza da alma, o psquico tesouro, e a alegria das glndulas do choro de onde todas as lgrimas emanam. A potica de Augusto dos Anjos busca incessantemente nas profundezas do ser a ironia, esta figura que se afigura metaforicamente como um monstro catico e ordenador. o alicerce da alma, funcionando como um sustentculo de si mesmo, insistindo numa eterna procura do objeto perdido, angustiado em poder suprir o desejo, de cobrir uma falta que persiste com a finalidade nica de que o sujeito continue a desejar. A conscincia da falta instaura o devir do sujeito. Na ironia, o sujeito bate em retirada constantemente, contesta a realidade de todo e qualquer fenmeno, para salvar a si prprio, na independncia negativa em relao a tudo. Nesse poema o autor ironiza com a leitura do outro: Dizes que sou feliz. No mentes. Dizes Tudo que sentes. A infelicidade Parece s vezes com a felicidade E os infelizes mostram ser felizes. (Iluso) Para que a formao da ironia infausta na poesia de Augusto se desenvolva completamente, exige-se que o mesmo tempo o sujeito tome conscincia de sua ironia, se sinta negativamente livre ao condenar a realidade dada, e goze a liberdade negativa. A subjetividade, nesse caso, tem de ser desenvolvida. No entanto, sempre que a subjetividade se
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
154
faz valer, e isso uma constante na poesia de Augusto, aparece a ironia. No, no quero meus sonhos sepultados No cemitrio da desiluso, Que no se enterra assim sem compaixo Os escombros benditos do passado Ai! No me arranques dalma este conforto! Quero abraar o meu passado morto Dizer adeus aos sonhos meus perdidos. (Tempos idos) A procura de si mesmo, o decifrar-se: a falta enquanto elemento estrutural, e a dor que no cessa formam na escritura de Augusto dos Anjos o dilema da culpabilidade. Homem que apesar de todo sofrimento revela a influncia do tempo em que viveu com a decadncia da Fazenda Pau DArco, e da morte das pessoa mais queridas. De uma certa forma, a culpa tem presena insistente nessa potica que ironiza a prpria sorte. O poema a seguir imprime a angstia aterradora do medo que o poeta sofre, e por sua vez passa a influncia para sua prpria linguagem: A Esfinge h de falar-vos ainda E eu, somente eu, hei de ficar trancado Na noite aterradora de mim mesmo!. (Trevas) Estes fatores resignam o sujeito a adequar-se ao que no h, formando assim o princpio da castrao. Nesse processo em que h o conhecimento da falta, h o devir do sujeito, este sempre inacessvel processo em movimento (alis podemos pensar o ato criativo como uma das buscas desejantes do sujeito). Assim, como colocou Lacan no Seminrio (Os escritos tcnicos de Freud), a relao do imaginrio e do real, e na constituio do mundo tal como ela resulta disso, tudo depende da situao do sujeito que essencialmente caracterizada pelo seu lugar no mundo simblico, ou, em outros termos, no mundo da palavra. Rollo May, em O homem a procura de si mesmo, disserta esse aspecto da autocondenao como sendo um disfarce da arrogncia. Os que julgam combater o orgulho condenando-se a si mesmos deveriam entender que est muito prximo do orgulho. Autocondenao um substituto da autovalorizao. O substituto autocondenatrio proporciona ao indivduo um racionalizao do dio por si mesmo, acentuando assim a tendncia execrao pessoal. O egosmo e a excessiva preocupao de si com sua pessoa brotam, na verdade, do dio por si mesmo. (MAY, 1998) Talvez tal argumento possa ser aceito neste aspecto de Augusto dos Anjos, pois a contradio se faz presente em vrias passagens de sua escritura: ora de condenao, ora de carter punitivo e de culpabilidade. A ironia infausta exigida como sacrifcio pelo desenvolvimento do mundo; no que
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
155
a dor que se mascara precise cair como uma vtima, no sentido estrito, mas sim porque o zelo no servio do esprito do mundo a devora. Nota-se no fragmento abaixo, como o prprio ttulo j indicia uma necessidade de colocar prova seu mais puro temor Deus, e a dvida de continuar vivendo com o mesmo sofrimento que lhe permeia a alma: Oh Deus, eu creio em ti, mas me perdoa! Se esta dvida cruel qual me magoa Me torna nfimo, desgraado ru. Ah, entre o medo que o meu ser aterra, No sei se viva pra morrer na terra No sei se morra pra viver no cu (Ceticismo) O ato criativo seria secundrio, representaria a forma e a assinatura deste algo e deste lugar no qual o poeta foi determinado. Aquele que cria, sublima e faz sua assinatura porque inventa, fabrica um nome para si prprio. Pensar a falta como essencialidade do desejo pensar tambm esta relao com a lei, a lei como sendo aquela que interdita todos os gozos estrutura-se com o desejo: onde h lei, h desejo. Da a necessidade do sujeito vir sempre a desejar, baseando-se numa espcie de gozo que dificilmente poder ser saciado.: Na ansiedade desse gozo falho Busco no desespero do trabalho, Sem um Domingo ao menos de repouso, Fazer parar a mquina do instinto, Mas, quanto mais desprezo, sinto A insaciabilidade desse gozo! (Gozo insatisfeito) Vejamos, por exemplo, o assinalamento do conflito interior (gozo e dor), isto , a conscincia da dor mascarada pela ironia. Esse estranhamento conflitivo tanto pode ser apontado como uma tenso existencial, como tambm sustentado por uma interpretao psicanaltica: a dor da alma. Ironicamente, essa dor tem muito do amor no realizado, e sempre sua escritura traz essa interrogao. Augusto dos Anjos, na sua poesia defende um amor impossvel, o sentimento puro, espiritual, fluido, etreo, inacessvel. Desse conjunto, que ajuda a entender uma dimenso irnica ultrapassando um trabalho de frases e caractersticas particulares de um escritor, possvel assinalar alguns elementos que podem ser deslocados para uma outra reflexo sobre a ironia, desconhecendo num primeiro momento, e para efeito metodolgico, os limites existentes entre discursos literrios e no-literrios. Dentre estes aspectos alinham-se: o carter provisrio, a conscincia de si, o estado de reflexo e a dissipao da iluso. Pelo fato de o sujeito ver a realidade ironicamente, no consegue relacionar ironicamente consigo mesmo ao impor sua concepo da realidade. Faamos uma leitura sobre o que escreve um poeta extremamente moderno, de estilo potico spero e objetivo, que fugia do prazer, e passava esse desejo abertamente infausto para sua escritura. No entanto necessrio entender melhor nas enCarpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
156
trelinhas esse excesso de negaes que deixa desprender da poesia de Augusto: Melancolia! Estende-me a tuasa! s a rvore em que devo reclinar-me... Se algum dia o prazer vier procurar-me Dize a esse monstro que fugi de casa! (Queixas noturnas) A prpria existncia do poeta est inserida no contedo potico desta ironia que no ntimo de seu ser causa-lhe a dor. No s a dor do poeta mais de todos que dela participam. Esse carter infausto na poesia de Augusto dos Anjos como tentativa de mostrar a dor profunda, s funciona como um dilogo ou interlocuo dos inconscientes. Nesse processo de linguagem, nasce uma certa contradio que baseia-se, principalmente, na autocondenao. Augusto quer ser Cristo: dominar todos os contrastes, possuir a onipotncia da divindade, passar pelo mesmo sofrimento, resgatar a dor que s imagina. Eu fui cadver, antes de viver! Meu corpo, assim como o de Jesus Cristo, Sofreu o que os olhos de homem no tm visto E olhos de fera no puderam ver. (Dolncias) Quando se inscreve como algum que j soube o que ser cadver, a contradio de sua prpria potica se faz presente no poema em que o medo da morte se mescla com o lado irnico de uma vida que carrega a dor de ser alma. como se a morte fosse o fim de tudo, e o caminho mais prximo a paz eterna: Quem me dera morrer ento risonho Fitando a nebulosa do meu sonho E a Via-Lctea da Iluso que passa! (Ecos dalma) Nesse contexto de referncia irnica, em que est inserido o risonho, o trao caracterstico desse ser aniquila a realidade com a prpria realidade, colocando-se dessa forma ao servio da ironia do mundo. Cada realidade histrica individual contudo apenas momento na realizao da idia, ela carrega em si mesma o germe de sua runa. No entanto existe o outro lado da ironia. Kierkegaard ao mencionar essa realidade histrica, afirma que: A ironia pode ainda mostrar-se de uma maneira mais indireta atravs de uma relao de oposio, quando ela d preferncia s pessoas mais simples e mais limitadas, no para bular-se delas, mas sim para escarnecer dos homens sbios.(KIERKEGAARD, 1991) Notoriamente na poesia de Augusto dos Anjos esse tipo de linguagem freCarpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
157
qente. Um exemplo tpico, quando o poeta homenageia carneiro morto, elege o verme como um Deus, clama a pureza do epilptico, oferece versos a um co, ama o coveiro ofertando-lhe um ltimo credo: Como ama o homem adltero o adultrio E o brio a garrafa txica de rum, Amo o coveiro este ladro comum Que arrasta a gente para o cemitrio! (ltimo credo) Na ironia, segundo Kierkegaard, o sujeito quer constantemente afastar-se do objeto, o que ele consegue ao tomar conscincia a cada instante de que o objeto no tem nenhuma realidade. Nesse sentido, esse sentimento pelo outro traz um certo distanciamento, pois denota-se nos versos do poeta o gozo subjetivo, o sujeito se liberta da vinculao qual est preso, deixando-se levar pelo fim irnico. Octvio Paz, no livro Labirinto da solido, faz uma observao importante sobre o sentimento do ser humano:
o homem o nico ser que se sente s e o nico que a busca do outro. Sua natureza consiste num aspirar a se realizar em outro. O homem nostalgia e busca de comunho. Por isso cada vez que se sente a si mesmo, sente-se como carncia do outro, como solido. Sentir-se s possui um duplo significado: por um lado, consiste em ter conscincia de si; por outro num desejo de sair de si. A solido uma pena, isto , uma condenao e uma expiao. um castigo, mas tambm um a promessa de fim do nosso exlio. (PAZ, 1984)
Augusto dos Anjos cultua esta solido em seus versos, mas implora pela interao do outro para se expor, para que apiadem de seu trao obsessivo e lastimvel de sobrevivente nico das palavras. Sua linguagem imagtica, alegrica permitindo-nos absorver mais que uma pura leitura macabra, apotica e grotesca. Para conter a dor a linguagem sublimada pelo riso sarcstico. A ironia infausta rir e chora exaurindo a angstia encandeada na poesia de Augusto dos Anjos numa linguagem incondicionalmente realista.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS ANJOS, Augusto dos. Eu e outras poesias. Obra Completa: Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. ARRIV, Michel. Linguagem e psicanlise, lingstica e inconsciente: Freud, Saussurre, Pichon, Lacan. Traduo de Lucy Magalhes. Rio de Janeiro: Zahar,
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
158
1999. BRAIT, Beth. Ironia em perspectiva polifnica. Campinas: Editora da UNICAMP, 1996. GULLAR. J. R. F. Augusto dos Anjos ou vida e morte nordestina. In: ANJOS, Augusto dos. Toda a poesia. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978. KIERKEGAARD, Sren Aabye. Sobre o conceito de ironia. Traduo de lvaro Luiz Montenegro Valls. Petrpolis: Vozes, 1991. LACAN, Jacques. Ideal do eu e eu-ideal. In: O Seminrio 1 - Os escritos tcnicos de Freud. Rio de Janeiro: Zahar, 1979. MAY, Rollo. O homem a procura de si mesmo. Traduo de urea Brito Weissenberg. Petrpolis: Vozes, 1998. MUECCKE, C. D. Ironia e o Irnico; traduo, Geraldo Gerson de Souza. So Paulo: Perspectiva, 1995. PAZ, Octvio. O labirinto da solido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984. SCHOPENHAUER, Arthur. O mundo como vontade e representao. Traduo de M. F. S Correia. Porto: RS. ______. A vontade de amar. Traduo de Aurlio de Oliveira. Rio de Janeiro: Ediouro, s/d. VIANA, Chico. (Francisco Jos Gomes Correia). O evangelho da podrido. Joo Pessoa: UFPB, 1994.
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
159
GLOBALIZAO E DESEMPREGO Estado, Mercado e Sociedade Civil
Paulo Srgio Oliveira de Arajo1
RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo especular sobre as possibilidades postas sociedade civil, no projeto capitalista dos nossos dias. uma tentativa de traar cenrios e perspectivas que so postos em torno dos debates sobre globalizao e desemprego. O desemprego aqui tratado, com o status de uma nova questo social. O mercado discutido atravs das mudanas nas relaes de produo. O estado, por sua vez, analisado sob a tica da extino ou do fortalecimento, enquanto que a configurao das foras polticas adquirida articulada de forma a contemplar tanto o global como o local.
PALAVRAS-CHAVE : globalizao; desemprego; capitalismo; cincia poltica.
GLOBALIZATION AND UNEMPLOYMENT State, Market and Civil Society
ABSTRACT: The present work aims to especulate about the possibilities given to the civil society in the contemporary capitalism project. Its an attempt to trace the sceneries and perspectives which are given, around the debates on globalization and unemployment. Unemployment is treated here, as a status of a new social issue. The market, is discussed through the changes into relations of production. The state, is analyzed under the extinction or strengthment points of view, while the political acquired configuration forces, are articulated in order to contemplate either the global or the local sphere. KEY-WORDS : globalization; unemployment; capitalism; political science.
1 Socilogo, Mestre em Cincias Sociais (UFRN), Consultor em Desenvolvimento Sustentvel; Professor da Faculdade de Cincias, Cultura e Extenso do RN FACEX E-mail.: psoara@ig.com.br
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
160
1 DESEMPREGO : A NOVA QUESTO SOCIAL 1.1 A evoluo do trabalho, sua crise e prognsticos O trabalho assalariado teve sua evoluo acelerada com as reformas polticas e econmicas proporcionadas pelas Revolues Francesa e Industrial. Primordialmente dava-se s margens da sociedade e paulatinamente foi-se nela instalando, porm subordinado a outras formas de relaes de produo, tendo em seguida difundido-se por todas as partes, orientando as trajetrias de vida e escolhas profissionais de toda a sociedade. A nova questo social que se coloca, o fato de atualmente a sociedade baseada no trabalho assalariado estar vivenciando uma de suas mais graves crises, caracterizando um cenrio onde cada vez mais trabalhadores encontram-se sem emprego ou mesmo perdendo o interesse em procur-lo, fazendo com que muitos sintam-se inteis para o mundo, numa populao crescente que Robert Castel2 chama de supernumerrios. A reestruturao produtiva de que tantos falam hoje em dia, nada mais que uma tentativa de estabelecimento de uma nova configurao (como tentativa de ordenao poltica, social e econmica), onde novas maneiras de habitar o mundo possam ser encontradas. O certo , ainda recorrendo ao pensamento de Castel, que o todo econmico nunca fundou uma ordem social e um lugar na sociedade no pode limitar-se a uma questo de descobrirem-se jazidas de empregos que exploradas dariam conta dos problemas de desestabilizao, de instalao da precariedade no trabalho e dos sobrantes, verdadeiros exrcitos de excludos, o que sem dvida parece constituir-se como cenrio atual, com o qual devemos lidar e para o qual so esperadas alternativas, neste limiar do sculo XXI. Tentativas de qualificao profissional com vistas a uma futura insero econmica parecem ser a nova e falsa ideologia qual diversos pases por todo o mundo comeam a recorrer, apesar da prpria lgica do modelo configurar-se como poupadora de mo-de-obra, atravs da inovao tecnolgica. O modelo desenvolvimentista, calcado na livre empresa, no pleno emprego, e no crescimento econmico a qualquer preo, alcanou seu apogeu nos anos dourados das dcadas de 50 e 60. Atravs das teorias keynesianas, com uma ascendente taxa de endividamento das naes, o crescimento econmico impulsionado proporcionou at mesmo o emprego vitalcio em alguns pases. No cenrio interno buscava-se a coeso social, enquanto externamente procurava-se a supremacia do poder militar e uma crescente competitividade no mercado internacional. O desemprego entretanto, sempre foi um problema que preocupou os diversos governos, j que a exploso demogrfica, a ameaa comunista e os movimentos contestatrios de maio de 1968, ameaavam a ordem e o progresso, verdadeira ideologia desenvolvimentista, tributria do mais puro positivismo comteano. Os intelectuais sinalizavam atravs
2
CASTEL, Robert. Las Metamorfosis de la Cuestin Social. Buenos Aires: Paids, 1997.
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
161
de estudos temticos sobre a desigualdade social, a injustia e explorao do trabalho e da necessidade de proteo dos excludos, que tal modelo tinha um carter inacabado, era individualizante e excludente e tinha efeitos perversos no cenrio econmico, e que, finalmente, representava uma ameaa ao estado do bem-estar social at ento tentado. Este bem-estar social era garantidor de benefcios de sade, educao e habitao, e dava-se nos interstcios da socializao primria, dado a crescente ausncia dos pais, envolvidos pelo pleno emprego urbano-industrial, na manuteno de suas famlias e na consequente reproduo da fora de trabalho. A partir de 1970, o trabalho assalariado comeou a perder hegemonia, cedendo espao ao trabalho provisrio, por tempo determinado, de jornada parcial ou mesmo ao seguro-desemprego, identidade pelo trabalho, com repercusses seja na escola, no trabalho, na vida social, ou no universo poltico-cultural como um todo. 1.2 Depoimentos sobre a globalizao e o desemprego Em entrevistas publicadas em diversas revistas, importantes atores sociais emitiram pareceres sobre os novos processos polticos e econmicos que o processo de globalizao vinha equacionando e que torna-se interessante referenciar, exatamente pelas mudanas em seus modos de pensar, fruto do que ocorria no cenrio internacional que tentamos, agora, reconstituir. Na revista Veja de 28/11/90,3 o socilogo italiano Domenico De Masi, autor do livro A Emoo e a Regra,4 comentava que nos Estados Unidos nos ltimos anos, os operrios passaram de 45% para 18% da Populao Economicamente Ativa e acrescentava que nas fbricas do tempo de Karl Marx, a proporo era de quatro empregados de escritrio para cada 100 operrios. Hoje (em 1990) dos 1400 funcionrios da IBM da Itlia, apenas 700 so operrios. V-se desta forma que o cenrio do trabalho assalariado modificou-se de forma que a mudana pelo caminho socialista, como alternativa aos problemas de incluso social, nos moldes do passado, parece totalmente invivel. Na revista Exame de 15/05/91,5 o ento deputado federal pelo PT, Aluzio Mercadante Oliva, representante da esquerda com razes marxista-leninistas, afirmava que o lucro pertence ao capital. Os aumentos de produtividade que devem ser repartidos com os trabalhadores, ou seja, a luta de classes (motor da histria) estaria para ele sendo substituda pela negociao de participao nos lucros do capital. Seu companheiro de partido, Jos Genono, ex-guerrilheiro armado das serras do Araguaia, afirmava, nesta mesma reportagem, que era preciso criar outro projeto de socialismo, democrtico e humanista, com a generosidade das revolues burguesas e o ideal de justia das socialistas. O historiador Jacob Gorender chamava, ali, a ateno para a existncia de formas de propriedade social que no so estatais, como no caso das cooperativas, que pareciam ser uma terceira via entre os percalos de um mercado liberal e as dificuldades de um estado burocratizante. Numa outra reportagem sobre globalizao, publicada pela revista Veja de 03/ 04/96,6 o socilogo e presidente Fernando Henrique Cardoso, afirmava que a
3 4 5 6
REVISTA VEJA. A fora das novas idias. So Paulo: Ed. Abril, 28/11/90, pp. 5-7. DE MASI, Domenico. A Emoo e a Regra. Rio de Janeiro: Jos Olympio, 1997. REVISTA EXAME, A Nova esquerda aperta a mo invisvel. Sp Paulo: Ed. Abril, 15/05/91, pp. 42-9 REVISTA VEJA. A roda global. So Paulo: Ed. Abril, 03/04/96, pp. 80-9.
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
162
globalizao est multiplicando a riqueza e desencadeando foras produtivas numa escala sem precedentes tornando universais valores como a democracia e a liberdade envolvendo diversos processos simultneos: a difuso internacional da notcia, redes como a Internet, o tratamento internacional de temas como meio ambiente e direitos humanos e a integrao econmica global. Outro expoente bastante conhecido e protagonista do modelo anterior da dinmica econmica global, Antnio Delfim Neto, dizia que:
a globalizao a revoluo do fim do sculo. Com ela a conjuntura social e poltica das naes passou a ser desimportante na definio dos investimentos. O indivduo tornou-se uma pea na engrenagem da coorporao. Os pases precisam-se ajustar para permanecer competitivos numa economia global - e a no podem ter mais impostos, mais encargos ou mais inflao que os outros.7
J a economista Maria da Conceio Tavares afirmava que a globalizao tendo comeado na dcada de setenta, a partir do aumento da produo das empresas,
foi acelerada porque as empresas precisam estar em vrios pases para se aproveitar das variaes cambiais. Alm disso a globalizao uma bolha especulativa, que se expressa no mercado de derivativos. a jogatina da moeda diria. Isso afeta empregos. H uma recesso tambm globalizada.8
O sindicalista Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho da CUT, afirmava que:
as polticas internacionais uniformizam mecanismos de produo para obter maior produtividade. Quando a globalizao usada para melhorar a vida das pessoas descobrindo um remdio, por exemplo, ela positiva. Mas a tendncia de que se desconsidere o ser humano, aumentando o desemprego. Os que esto empregados tm de estar integrados com os avanos tecnolgicos.9
Nos pensamentos contidos nessas entrevistas vimos diferentes correntes ideolgicas concordarem em torno do cenrio que se delineava, fazendo crer que alianas cada vez mais amplas e inimaginveis viriam ocorrer no cenrio poltico nacional e internacional, que longe de significarem hegemonia, pareciam sinalizar a realidade assustadora do final de um estgio social baseado no trabalho assalariado, alicerce do poder representado pelos diversos atores acima referenciados.
7 8 9
REVISTA VEJA, op. cit., p. 83. REVISTA VEJA, op. cit., p. 86. REVISTA VEJA, op. cit., p. 87.
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
163
2 MERCADO : MUDANA NAS RELAES DE PRODUO Numa publicao sobre o processo de globalizao e suas relaes com a organizao produtiva, Jacob Gorender10 afirma ser a globalizao um nome novo para um antigo processo de internacionalizao ou de criao de um mercado mundial, nascido com o prprio capitalismo. As transformaes no capitalismo mundial passam pela reorganizao das empresas, de seus mtodos de produo, de suas relaes de trabalho e das prprias polticas financeiras dos governos nacionais. A partir da crise mundial de superproduo de 1929, as idias de John Maynard Keynes passaram a representar alvio tanto para os conservadores como para os progressistas. A crise poderia representar um avano do comunismo, que dificilmente seria possvel na frmula clssica do partido nico representando o operariado, cuja ausncia em muitos lugares, obrigava a cooptao nas diferentes fraes de classe, como condio de sobrevivncia no jogo poltico da disputa eleitoral aberta s massas. As idias Keynesianas fizeram-se presentes no processo de reconstruo do ps-guerra atravs do Plano Marshall, onde um estado de bem-estar social era necessrio manuteno da ordem para o pleno emprego das foras produtivas rumo ao progresso. O modelo de organizao da produo, baseado na produo em massa para mercados massificados, chamado de fordista por sua origem nas fbricas de automveis americanas de Henry Ford, comeava a dar sinais de inflexibilidade a partir da dcada de 70. A estabilidade proporcionada pelo Welfare State (estado de bemestar social), teria ocasionado uma desmotivao dos trabalhadores representada pelo abandono do trabalho em prol do seguro-desemprego, da rotatividade no emprego, do absentesmo, do alcoolismo e do fraco empenho na produo (que constituiram-se nos principais argumentos dos crticos neo-liberais ao welfare-state), fatores estes agudizados nos pases que optaram pelo planejamento centro-estatal de suas economias (os ditos pases do socialismo real), onde a produtividade alcanava baixssimos ndices, e a qualidade dos produtos e o respeito ao meio ambiente eram subjugados. Com as crises do petrleo de 1973 em diante, o modelo Keynesiano, passou a ser questionado, dado as crescentes dificuldades fiscais dos estados e os alarmantes ndices de inflao alcanados. Da mesma forma que o fordismo implantou a organizao cientfica do trabalho desalojando a produo artesanal, e acentuando uma diviso entre o trabalho intelectual de um lado (representado pela nova classe mdia de diretores e gerentes), e o trabalho manual de outro (representado pela massa dos trabalhadores do cho da fbrica), as inovaes tecnolgicas (representadas pela automao eletrnica impulsionada pelos japoneses), demonstraram a inadequao fordista aos novos tempos.
10
GORENDER, Jacob. Globalizao, tecnologia e relaes de trabalho. In: ESTUDOS AVANADOS/USP. Revista do Instituto de Estudos Avanados/USP. So Paulo: IEA, 1997.
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
164
O modelo produtivo japons, surgido nas fbricas da Toyota no Japo e protagonizado pelo Eng. Ohno, tinha como fundamento a reorganizao produtiva, sendo cada estgio da produo encarado como uma fbrica dentro de outra fbrica, com o ritmo da produo sendo determinado na frente do processo produtivo e no na retaguarda como no fordismo, pelos estoque de matrias-primas para a produo. Assim, tcnicas como Just-in-Time (estoques mnimos), e CQCs (controle de qualidade de produtos), desempenharam um papel muito mais importante para o xito do modelo do que poderiam parecer supor os baixos salrios praticados ou a intensidade do ritmo de trabalho, cujas razes estavam fincadas na milenar cultura japonesa. Este cenrio produtivo, qual seja, o da organizao japonesa do trabalho, um elemento concreto do processo de globalizao capitalista, conforme as idias de Gorender, que desencadeou profundas transformaes. Estas ocorreram em diversas esferas, quais sejam: a das inovaes tecnolgicas, a das polticas financeiras e industriais dos diversos pases, a do comrcio mundial e da dinmica das empresas multinacionais, a das relaes internacionais, a da organizao produtiva dos outros pases (visando ganhos produtivos), a das relaes de trabalho pelas formas de emprego utilizadas (gerando inclusive desemprego) e, finalmente, a das ideologias, estilos de vida e comportamentos individuais. A atual fase de globalizao poderia ser classificada como uma nova fase do capitalismo mundial, onde o capital financeiro teria alcanado a sua hegemonia. Alguns autores chegam mesmo a afirmar que vivemos um perodo psmoderno(Lyotard, Connor, Bell, Harvey, dentre outros...), um perodo ps-industrial, onde os servios tomariam o lugar das indstrias e o cio poderia instalar-se na sociedade. Outros autores afirmam, ser esta apenas uma nova fase do capitalismo industrial. O que no pode deixar de ser percebido, no entanto, que na relao entre as empresas multinacionais e os estados nacionais, o abrigo poltico e as salvaguardas jurdicas, alm dos gastos pblicos na sustentao do mercado, desempenharam papel fundamental e demonstraram a fora dos estados nacionais no processo de globalizao, apesar da constante influncia dessas empresas multinacionais nas suas polticas internas e externas, tanto nos pases-sede destas organizaes, onde centralizam-se as pesquisas e o desenvolvimento de novos produtos e onde tomam-se decises estratgicas, como naqueles onde estabeleceram-se subsidirias. O ex-diretor do Instituto de Economia da UNICAMP, Prof. Wilson Cano, em entrevista ao semanrio O Poti (Natal-RN) de 20/08/95, afirmava que,
para romper barreiras, bem como outras de cunho institucional - como por exemplo, legislaes nacionais restritivas ao comrcio e ao capital internacional - o capitalismo fez nascer uma nova ideologia (neoliberal), para justamente dar sustentabilidade econmica e poltica para a converso dessas imensas massas de ativos financeiros,
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
165
agora volatilizadas no cassino global das bolsas de valores internacionais, e acrescentava, que um exame mais cuidadoso da economia internacional na ltima dcada, mostraria por exemplo, que cerca de 50% do comrcio internacional de produtos industrializados no fruto de decises polticas comerciais (nacionais), mas sim de decises das grandes empresas transnacionais.11 Os processos de restruturao organizacional acima referidos associados ao emprego crescente de tecnologias poupadoras de mo-de-obra, criaram milhes e milhes de desempregados e geraram uma maior carga de trabalho sobre os ainda empregados. Porm a indispensabilidade da presena do operador humano na mais moderna das mquinas, ainda que em nmero reduzido, assinala que tais efeitos podem ser minimizados atravs de uma crescente reduo das jornadas de trabalho para a socializao do emprego, que vem sendo assumida cada vez mais por atuantes sindicatos nacionais, como bandeira de luta e pauta de negociao na mesa dos empresrios. 3 ESTADO : EXTINO OU FORTALECIMENTO? A anlise do papel do Estado no processo de globalizao pode ser desenvolvida atravs do pensamento da economista Maria da Conceio Tavares12 e do socilogo alemo Claus Offe. A primeira autora, fala que a atual fase de globalizao divide-se em cinco momentos interligados e que caracterizariam fases de sua evoluo. A internacionalizao do capital em sua forma comercial e de crdito teria tido origem com a expanso do capitalismo mercantil intra-europeu e com os imprios coloniais do sculo XVI em diante. J a internacionalizao produtiva surgiu apenas aps a Primeira Revoluo Industrial com origens na expanso das filiais inglesas no mundo e de uma nova diviso internacional do trabalho, proposta pela Inglaterra sob a gide do padro monetrio ouro-libra esterlina. A internacionalizao das grandes empresas, contudo, deu-se somente com a Segunda Revoluo Industrial, onde a concorrncia interestatal entre as grandes potncias teria gerado as grandes guerras mundiais pelos mercados. A transnacionalizao produtiva, entretanto, teve origem no ps-guerra com a expanso das empresas norte-americanas, sendo portanto diferente da liberalizao comercial e financeira, j que as matrizes e filiais saltaram as barreiras protecionistas nacionais e regionais e expandiram-se multinacionalmente pela Amrica Latina e pelo Mercado Comum Europeu, com o devido apoio dos Estados nacionais. A globalizao financeira sobreposta transnacionalizao produtiva, portanto, fenmeno mais recente, cuja origem dse no receiturio neo-liberal americano, de polticas de desregulamentao cambial e financeira com a economia mundial submissa a uma lgica financeira global de velocidade sem precedentes na histria do capitalismo. O incio desta globalizao financeira teve origem nos tratados do sistema de Bretton Woods, quando a quebra do padro monetrio dlar-ouro com a hegemonia
11 Os conceitos de empresas multinacionais e transnacionais so diferentes, sendo as ltimas legtimas represen-
tantes de uma fase financeira globalizada. No cabem aqui detalhes. 12 CONJUNTURA ECONMICA. Edio Especial/50 Anos. So Paulo: FGV, nov/1997.
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
166
do dlar americano, possibilitou a flutuao cambial e a mobilidade do capital financeiro. Os E.U.A. sofreram ento um forte aporte de capitais estrangeiros, possibilitando uma maior supremacia de sua moeda, a desregulamentao financeira, a liberalizao dos mercados cambiais e financeiros, e a elevao do patamar internacional dos juros. Estando o dlar como moeda-referncia internacional, lastreado em ttulos da dvida externa americana, muitos dos mercados financeiros de pases em crise nele sustentaram-se, a partir da dcada de 80. No precisa-se de Harvard para perceber que na nova ordem mundial, os E.U.A. saram fortalecidos e o FED (Banco Central Americano), mais poderoso que o FMI (Fundo Monetrio Internacional). Este cenrio unipolar favorece bastante o crescimento da economia americana. Na Amrica Latina e Europa, os efeitos desta globalizao foram malficos dos pontos de vista econmico, social e nacional, onde na sobrevalorizao de suas moedas e na diminuio de suas vantagens competitivas e de suas margens de crescimento econmico, seus Estados nacionais perderam capacidade de investimentos e subordinaram-se lgica unipolar. Para a China, entretanto, os efeitos da globalizao foram benficos, pois um maior poder de controle do Estado sobre a economia, com os baixos salrios praticados, e especialmente, a posio favorvel no mbito das exportaes pela desvalorizao monetria em relao ao dlar, tornaram-na extremamente competitiva, alcanando nveis altssimos de crescimento e acumulao. At 1990, o Brasil esteve protegido, porm atrasado neste processo de globalizao, pois somente com a liberalizao financeira e comercial e a desregulamentao cambial, impulsionada pelo Presidente Fernando Collor de Mello, foi possvel o aporte de novos capitais e o aumento do crdito e dos investimentos. Tal regenerao dos aparelhos de interveno do Estado obedecia ao receiturio neoliberal, atravs de polticas de insero internacional. A elevao das taxas de juros para atrao de investidores desaqueceu a economia gerando menos crescimento e desemprego. O centro das decises migrou para um grupo restrito de empresas e bancos multinacionais, cuja lgica no residia na rentabilidade de longo prazo, mas na maximizao dos ganhos nos mercados financeiros. Problemas centrais colocaram-se neste cenrio, quais sejam, o da perda de espaos de autonomia para a formulao de polticas nacionais de desenvolvimento econmico e social sustentado, e o do papel do estado dentro desse processo crescente de globalizao. Se a globalizao vier a significar um estabelecimento de uma lgica unipolar comandada pelos E.U.A, ento ela significar o fim dos Estados nacionais em sua configurao atual, ou pelo menos a sua rearticulao em torno de blocos, estando logicamente os E.U.A. e a China em posio privilegiada. Porm, se ela significar apenas uma redefinio de hierarquias e espaos de autoridade no exerccio da soberania, ento as capacidades polticas de cada pas que estaro em cena, fortalecendo portanto o papel dos Estados-nao, num novo tipo de proteo pblica, restaurando a economia e a seguridade social, em defesa dos interesses dos cidados, com especial nfase na preservao da cultura e identidade nacionais, independncia e democratizao da educao, imprensa e difuso cultural, no importando portanto a natureza da propriedade, mas sim o carter pblico de sua gesto. O segundo autor,13 num ensaio sobre o estado do bem-estar e o desemprego,
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
167
afirma que as foras reformistas social-democratas, o socialismo cristo, as elites esclarecidas da poltica conservadora e os grandes sindicatos, que teriam sido os responsveis pela implementao do Welfare State. A partir das crises da dcada de setenta, este passou a ser considerado como uma doena para a paz social e o progresso, j que as altas protees e impostos teriam corrodo as capacidades de investir e trabalhar dos operrios e dos governos. Com o fim do consenso dos anos dourados de 50 e 60, as foras polticas representadas pelas velhas classes mdias (fazendeiros e comerciantes), pelos inseridos poltica e economicamente (os atuais neoliberais), pelos operrios sindicalizados e pela nova classe mdia (comunidades libertrias, auto-sustentabilistas, etc.), entraram em conflito. As perspectivas de restruturao poltica sinalizariam trs diferentes configuraes: a) Na primeira, graves crises econmicas ocorreriam com o predomnio do neoliberalismo; b) Na segunda, a social-democracia e o eurocomunismo se fortaleceriam com a crise atingindo a antiga classe operria; c) Na terceira, um modelo no-burocrtico se estabeleceria, mais igualitrio, descentralizado, com a hegemonia das novas classes mdias e do operariado, o que caracterizaria uma nova sociedade auto-suficiente de bem-estar. Tais cenrios, contudo, no passam de especulaes dos seus autores, mas sobretudo, so capazes de fornecer luzes e dicas de como deve-se encarar a complexa realidade de desestruturao-estruturao de um novo mundo globalizado. 3.1 Globalizao e foras polticas O processo de globalizao intensificou-se nas dcadas de 80-90, e tornou porosos os limites e fronteiras entre o nacional e o internacional, entre o interno e o externo, o que configurou um sistema global transnacional bifurcado. De um lado tm-se os estados nacionais, as ONGs, as organizaes intergovernamentais, as comunidades libertrias, e a mdia formadora da opinio pblica, e do outro, as corporaes transnacionais, e os agentes sociais transnacionalizados como nos movimentos ambientalistas, por exemplo, que sugerem a existncia de uma lgica societria globalizante. O Estado vem perdendo seu papel central de regulador da vida social e constituidor de identidades nacionais, pela relativa eroso dos sistemas democrticos baseados no territrio nacional, atravs do crescente aumento do poder transnacionalizado. Este processo contudo, no restringe-se dimenso econmica, e segundo Viola14 , teria no mnimo treze dimenses, quais sejam: a militar, a econmica, a financeira, a comunicacional-cultural, a religiosa, a interpessoal-afetiva, a cientfico-metodolgica, a populacional-migratria, a ecolgico-ambiental, a esportiva, a epidemolgica, a criminal-policial e a poltica. A tese central do autor que o processo de globalizao estaria enfraquecendo,
13
OFFE, Claus. Trabalho e Sociedade : Problemas Estruturais e Perspectivas para o futuro da Sociedade do trabalho. Vol. II-Perspectivas. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro,1991 14 VIOLA, Eduardo(org.). Incertezas de Sustentabilidade na Globalizao. Campinas: Editora da UNICAMP, 1996.
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
168
especialmente em suas dimenses econmica, financeira e comunicacional-cultural, a capacidade regulatria dos Estados-naes, onde o reforamento de estruturas infranacionais reacionrias ao processo, estariam erodindo a democracia, gerando incertezas e uma diviso entre includos e excludos. Viola classifica os pases em desenvolvidos (OCDE, Leste Asitico e frica do Sul), superpotncias (E.U.A.), continentais(como Rssia, ndia, China e Brasil), emergentes (boa parte da sia, Leste Europeu, e possuidores de petrleo), estagnados e extremamente pobres (Amrica Latina e frica), alm dos excludos politicamente por terem sistemas autoritrios de poder. Em sua opinio o mundo estaria dividido entre foras conservadoras de um lado e progressistas de outro, que combinadas com as tendncias globalistas ou nacionalistas, configurariam diversos grupos polticos, que oscilariam entre a defesa de medidas protecionistas ou liberais, nacionalistas ou globalistas, ambas com ou sem nfase na necessidade de mudana no modelo de desenvolvimento, ou seja, sustentabilistas ou no. Identifica ainda, os diversos grupos e seus representantes nos diversos pases. O importante neste tipo de anlise a nfase implcita que se d ao processo de globalizao que frequente e ideologicamente confundido com o de homogeneizao, que de maneira alguma parece estar acontecendo. 4 SOCIEDADE CIVIL: O RESGATE DA CIDADANIA COMO TAREFA PREEMENTE O pensamento de Claus Offe em entrevista concedida revista Veja de 08/04/ 98, novamente faz-se til na anlise em questo, quando enfatiza que as ideologias acabaram. O Estado, o mercado e as entidades comunitrias formaro a nova ordem social. Para ele, o estado do bem estar social acabou. A questo ento no passaria pelo tamanho do Estado, se minimalista ou empreendedor, mas por sua eficincia na satisfao dos anseios dos cidados. Neste contexto, o discurso neoliberal da diminuio do estado caracterizou-se como dogma, tanto quanto a defesa cega do capitalismo. O que pode (e deve) ocorrer uma garantia de sade e educao, mas como forma de concorrer no mundo globalizado. Aqui cabe um alerta para o que chama-se de falsa ideologia da qualificao, pois esta somente pode traduzir-se em ganhos concorrenciais, quando no generalizada, caso contrrio foraria necessariamente uma queda na taxa mdia de valorizao da fora de trabalho, pois a mo-de-obra de todos os pases estariam em iguais de qualificao. Continua Offe,
a famlia, os vizinhos, a comunidade em que cada um vive a reserva moral da sociedade. inegvel o resultado positivo da ao comunitria, mas tambm h pssimos exemplos de aes comunitrias. Por isso defendo um tringulo de foras : o Estado, o Mercado e a Comunidade, mas sem a hegemonia de nenhum setor.15
Este pensamento parece ser o mais coerente com os referidos cenrios da globalizao e
15
OFFE, Clauss, op. cit.
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
169
as perspectivas que se avizinham para o poder regulador do Estado-nao na vida social e o trabalho como categoria sociolgica chave. Para o presidente da ABONG - Associao Brasileira de Organizaes NoGovernamentais, Slvio Caccia Bava, em artigo no Jornal da ABONG, No. 09, de Janeiro de 1995, trs pontos de vista sobre as relaes entre o Estado e a Sociedade Civil devem ser levantados. Primeiro, a possibilidade de um Estado mnimo tendo como instncia reguladora o Mercado, com ampla liberdade de atuao dos oligoplios. Segundo, um Estado totalitrio, igualmente regulador da vida das pessoas e empresas, representado pela ditadura de um partido nico, caracterizando burocraticismo e apatia social. E terceiro, um Estado relacionando-se com a Sociedade Civil, onde os espaos pblicos seriam construdos e controlados pela sociedade, numa crescente submisso do Estado ao controle da Sociedade Civil, sendo este o maior desafio das ONGs, na busca de vitria sobre as tendncias conservadoras no seio da sociedade, somente possvel com a radicalizao da democracia. Neste mesmo caminho, parece sinalizar a anlise feita por Adam Schaff em seu livro Sociedade Informtica,16 onde defende a idia de uma sociedade autogovernada, que pela evoluo dos meios de comunicao(proporcionada pela informtica) tornaria a democracia direta possvel, numa crescente descentralizao do poder central, dando aos governos locais uma funo de complementaridade. Porm, tudo depender da formao poltica da sociedade, com a formao cultural desempenhando importante papel. Schaff, contudo, no visualiza apenas este cenrio cor-de-rosa, mas sim, um outro no qual o totalitarismo reinaria com o apoio de governos militares, obtendo das massas e das camadas mdias da populao irrestrita concordncia, comprada pelos altos nveis de consumo e proteo propriedade privada individualista. Para Jorge Tapia, professor do Instituto de Economia da UNICAMP, num artigo no Jornal da ABONG, No. 17, de Novembro de 1996, a globalizao deve ser entendida como um conjunto de mudanas estruturais da economia global, que alteram as opes dos Estados Nacionais, empresas, classes sociais, geraes e indivduos. A globalizao ento, no terreno da poltica, faria com que temas como a cidadania, a integrao social, e a solidariedade, viessem a tona, sendo o plano dos valores, o local de tomada das decises. O desafio, para ele, seria ento duplo, tanto na esfera poltica, como no plano tcnico. 4.1 O pensamento cardosiano O Presidente Fernando Henrique Cardoso, em entrevista revista Veja,17 procurava abstrair-se da funo de presidente e usar suas habilidades de socilogo para analisar sua atuao. Para ele, a lgica de estruturao da sociedade brasileira teria mudado, no sendo percebida pelos investidores externos. No Brasil do Futuro, que ele estaria construindo no presente, a sociedade seria
16 17
SCHAFF, Adam. A Sociedade Informtica. So Paulo: Brasiliense,1995. REVISTA VEJA. As Razes do Presidente. So Paulo: Ed. Abril, 10/09/97, pp. 22-33.
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
170
mais democrtica, mais permeabilizada, descentralizada, com mais canais de expresso, onde seriam maiores as capacidades para tirar-se proveito das condies e oportunidades de nossas potencialidades naturais. Para FHC, no adianta discutir a globalizao, ela j estaria instalada. Caberia ento, a discusso dos aspectos positivos e negativos, para a tomada de decises. A globalizao teria um lado de renascimento, com os capitais liberados circulando pelo mundo, e um lado de mal-estar (malaise), com uma grande sensao de insegurana no mundo, que seriam a grande causa da crise mundial, pela flutuao dos sistemas de previdncia. A crise mundial, portanto seria a crise da insegurana na capacidade da razo de estruturar a vida social e econmica. Para ele, como na sua antiga Teoria da Dependncia, h fatores universais, mas as reaes dependem da estruturao interna de cada pas. Na Europa, por exemplo, qualquer inovao tecnolgica geraria desemprego, pela inelasticidade da oferta de investimentos. Os E.U.A., a China e o Japo seriam os grandes beneficiados com a globalizao. No Brasil, as alternativas possveis seriam os investimentos no setor agrcola atravs do assentamento produtivo de famlias (pequena economia familiar PRONAF),18 sendo fundamental as reformas do Estado para tornarem possveis as respostas nas reas econmica e social. Para FHC, a internacionalizao significa competitividade, enquanto que o subsdio e o fechamento, paralisao e atraso. Segundo o Presidente/Socilogo, a globalizao diferente da desnacionalizao, da excluso, e da homogeneizao. Nesta ltima, apenas a base produtiva se homogeneizaria, permanecendo as diferenas culturais e as formas de identidade, tendo como grande desafio a radicalizao da democracia. Dependeria do Estado e da Sociedade a capacidade interna de organizao das variveis. Nem Mercado, nem Estado, a Sociedade Civil seria o fiel da balana. 5 GLOBALIZAO E DESEMPREGO : CENRIOS E PERSPECTIVAS Para Jeremy Rifkin, autor do best-seller, The End of Work,19 o que separa a era da informao da era industrial, seria o fato desta configurar-se pelo trabalho humano massificado, e a outra, por um trabalho intelectualizado em projeto e realizado por robores, tendo frente uma pequena elite com altos nveis de qualificao e tima remunerao. Portanto, o desemprego tecnolgico seria inevitvel. Nessa dinmica, dois problemas se colocariam. Primeiro, os trabalhadores dispensados seriam tambm consumidores de bens e servios, que descapitalizados forariam uma queda global nas vendas, como vem ocorrendo ultimamente. Segundo, os esquemas de proteo ao trabalho, protagonizados pelo Welfare State, construram ao longo dos anos poderosos fundos de penses, fontes vitais para captao de recursos financiadores de novos investimentos, geradores de emprego. Assim teramos um crculo vicioso. Cada novo emprego subtrado, alm de si mesmo, subtrairia
18 19
PRONAF-Programa Nacional de Agricultura Familiar. RIFKIN, Jeremy. O Fim dos Empregos : O Declnio Inevitvel dos Nveis dos Empregos e a Reduo da Fora Global de Trabalho. So Paulo: Makron Books, 1995.
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
171
outros novos empregos que poderiam ser gerados pelos investimentos produtivos proporcionados pelos fundos de penso, a poupana dos trabalhadores, qual constantemente os governos recorrem no auxlio ao mercado com fome eterna de novos recursos. O setor de mercado criaria capitais e empregos, que no seriam suficientes. O Estado criaria capitais e empregos, que tambm seriam insuficientes. A sociedade Civil criaria capital social e empregos. O capital comercial e o social se interdependeriam, um complementando o outro. Para Rifkin, a esperana residiria num redimensionamento do contrato social, pois tanto os trabalhadores, quanto os empregadores e os governos disto dependem. O xito do mercado e de um governo democrtico residiria no xito do setor civil. Paul Singer,20 num recente livro sobre Globalizao e Desemprego, de junho de 1998, advoga a idia de que a soluo para os dilemas entre o Mercado e o Estado, estaria no fortalecimento da Sociedade Civil. Atravs de uma insero econmica planejada, no que chama de economia solidria, a acumulao autnoma (representada pelas pequenas empresas familiares) teria papel central, substituindo a relao monetria entre bens e servios, por uma espcie de moeda social, restringindo a acumulao especulativa individual, e estimulando as iniciativas cooperadas de produo e consumo. Singer, tomou por exemplo, as experincias de Michael Linton, que no incio da dcada de 80, criou um sistema de emprego e comrcio parcialmente lastreado em moeda local, que forava os associados a trocarem seu poder aquisitivo acumulado, por bens e servios dentro do sistema. O LET - Local Employment and Trading System, vem crescendo bastante nos ltimos anos, contando com dezenas de comunidades nos E.U.A., Gr-bretanha, Canad, Irlanda e Nova Zelndia. Outras iniciativas associadas, como as experincias de microcrdito iniciadas em 1976 pelo Banco Grameen21 de Bangladesh, e recentemente adaptadas pelo Programa de Crdito Solidrio do BNB-Banco do Nordeste do Brasil, parecem sinalizar alternativas aos cenrios desempregadores impulsionados pela globalizao. 6 REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS CASTEL, Robert. Las metamorfosis de la cuestin social. Buenos Aires: Paids, 1997. CONJUNTURA ECONMICA. Edio Especial/50 Anos. So Paulo: FGV, nov. 1997. CORREIO DA UNESCO. Ano 23, n. 3, mar. 1997. DE MASI, Domenico. A emoo e a regra. Rio de Janeiro: Jos Olympio, 1997. EXAME. A nova esquerda aperta a mo invisvel. So Paulo: Abril, p. 42-9, 15 mai. 1991. GORENDER, Jacob. Globalizao, tecnologia e relaes de trabalho. In: ESTU20 21
SINGER, Paul. Globalizao e desemprego. So Paulo: Contexto, 1998. Correio da UNESCO. Ano 23, n. 3, mar/1997.
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
172
DOS AVANADOS/USP. Revista do Instituto de Estudos Avanados/USP. So Paulo: IEA, 1997, p. 311-61. JORNAL DA ABONG, n. 17, nov. 1996. MILLS, C. Wright. A Nova classe mdia. Rio de Janeiro: Zahar, 1969. OFFE, Claus. Trabalho e sociedade: problemas estruturais e perspectivas para o futuro da sociedade do trabalho. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, v. 2, 1991. RIFKIN, Jeremy. O Fim dos Empregos: o declnio inevitvel dos nveis dos empregos e a reduo da fora global de trabalho. So Paulo: Makron Books, 1995. SCHAFF, Adam. A sociedade informtica: as consequncias sociais da segunda revoluo industrial. So Paulo: Brasiliense, 1995. SINGER, Paul. Globalizao e desemprego. So Paulo: Contexto, 1998. VEJA. A fora das idias. So Paulo: Abril, p. 5-7, 28 nov. 1990. VEJA. A roda global. So Paulo: Abril, p. 80-9, 3 abr. 1996. VEJA. As razes do Presidente. So Paulo: Abril, p. 22-33, 10 set. 1997. VIOLA, Eduardo (Org.). Incertezas de sustentabilidade na globalizao. Campinas: Editora da UNICAMP, 1996.
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
173
Normas para apresentao de trabalhos
A revista Carpe Diem destina-se divulgao de trabalhos inditos relativos a estudos de natureza terica e experimental no campo da pesquisa, resumos de teses ou dissertaes, monografias, trabalhos de concluso de cursos, comunicaes e artigos de reviso produzidos pelo corpo docente e discente desta e de outras instituies. Os trabalhos encaminhados para publicao devero obedecer as seguintes normas: 1. Os originais devem ser submetidos ao Conselho Editorial em portugus, ingls ou espanhol, de preferncia em disquete HD de 3 , com a indicao do(s) autor(es) e do arquivo, gravado no Word for Windows 7.0 ou uma verso mais nova, acompanhado de 02 (duas) cpias impressas em papel A4 (210 x 297 mm) e com os seguintes atributos: 1.1 espao simples entre linhas e espao duplo entre pargrafos; 1.2 espao duplo entre partes e entre texto e exemplos, tabelas, figuras ou ilustraes (grficos, fotos, gravuras, esquemas) e citaes; 1.3 letra Times New Roman, de tamanho 18 para ttulos, 14 para subttulos, 12 para nome(s) do(s) autor(es), texto e ilustraes (tabelas, figuras etc), 10 para epgrafes e citaes, 9 para notas de rodap; 1.4 margens (superior e esquerda) de 3 cm e (inferior e direita) de 2 cm; 1.5 tabulao padro de 1,27 cm (1/2 polegada); 1.6 alinhamento justificado. 2. O trabalho deve conter no mximo 20 (vinte) pginas com o seguinte formato: 2.1 Ttulo O ttulo, em portugus, (ingls ou espanhol, quando for o caso), deve ser digitado em letras maisculas, em negrito e centralizado no alto da primeira folha; 2.2 Nome(s) do(s) autor(es) O(s) nome(s) do(s) autor(es), em negrito, deve(m) ser mencionado(s) por extenso, centrado(s) em letra minscula, duas linhas abaixo do ttulo e numerado, (exemplo.: Jos Francisco de Oliveira1), separados por ponto e vrgula (;), no caso de mais de um autor. Ainda na primeira pgina, em nota de rodap, deve(m) ser mencionado(s) dados relativos a qualificao do(s) autor(es), instituio, endereo, telefone, fax e email, (quando for o caso). Ex.: Economista. Especialista em Administrao de Empresas (UFRN). Professor do Curso de Administrao da FACEX. Av. 21 de Outubro, 25 Centro; CEP 59.075-840 Natal, RN; Tel.: (0xx84)225-2222; e-mail: jfraneira@ativa.com.br. 2.3 Resumo A palavra Resumo, em negrito, seguida de dois pontos (:) deve estar duas linhas abaixo do(s) nome(s) do(s) autor(es), sem adentramento e, na mesma linha, o incio do texto digitado em portugus, no podendo exceder o limite de 200 palavras;
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
174
2.4 Palavras-chave A expresso Palavras-chave, em negrito, seguida de dois pontos (:), deve estar duas linhas abaixo do final do Resumo, sem adentramento, devendo conter, no mximo, 5 palavras; 2.5 Abstract O Abstract, em negrito, seguido de dois pontos (:), deve estar duas linhas abaixo do final das Palavras-chave, sem adentramento, podendo ser a verso para o ingls do Resumo; 2.6 Key-words A expresso Key-words, em negrito, seguida de dois pontos (:), deve estar duas linhas abaixo do final do Abstract, podendo ser a verso para o ingls das Palavras-chave; 2.7 Texto do trabalho Os subttulos do texto, sem adentramento, devem estar em negrito e em letras minsculas, sendo apenas a primeira letra de cada subttulo em maiscula. O texto do trabalho deve obedecer ao sistema de numerao progressiva de acordo com a NB-69. Quando o artigo for descrio de trabalho de pesquisa experimental, deve conter os seguintes subttulos: a) Introduo A introduo deve apresentar o(s) objetivo(s) do trabalho, a sua relao com outros da mesma rea de pesquisa e as razes que levaram o(s) autor(es) realizar(em) o trabalho. b) Metodologia A metodologia ou material e mtodos deve conter informaes disponveis na reviso de literatura que permitam o desenvolvimento do trabalho. c) Resultados Os resultados devem ser apresentados de forma clara e sucinta, podendo ser utilizadas TABELAS (numeradas em nmeros romanos Ex.: TAB. I) ou ilustraes (grficos, fotos, gravuras, esquemas) denominadas FIGURAS, numeradas no texto com algarismos arbicos, de forma abreviada, entre parnteses ou no, de acordo com a seguinte redao: (FIG. 1), FIG. 2, que permitam uma melhor compreenso dos dados obtidos. As tabelas e as figuras devem trazer abaixo um ttulo ou legenda digitada, com indicao da fonte, se for o caso. d) Discusso e concluso A discusso deve analisar os resultados, tentando relacion-los com dados existentes na literatura, devendo ser encerrada com as principais concluses do trabalho. e) Referncias bibliogrficas A expresso Referncias bibliogrficas, sem adentramento, deve ser colocada duas linhas antes dos autores, relacionados em ordem alfabtica, sem numerao, sem espao entre as referncias e de acordo com a ABNT, norma NBR-6023 As citaes bibliogrficas devem seguir as normas da NBR-6023: Para LIVROS: a) autor; b) ttulo da obra em negrito; c) nmero da edio (se no for a primeiCarpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
175
ra); d) local da publicao; e) nome da editora; f) data de publicao. Ex.: GIL, Antonio Carlos. Metodologia do Ensino Superior. So Paulo: Atlas, 1990. Para ARTIGOS: a) autor; b) ttulo do artigo; c) ttulo do peridico em negrito; d) local da publicao; e) nmero do volume; f) nmero do fascculo; g) pgina inicial e final; h) ms e ano. Ex.: ANDRADE, Ana Maria Cardoso de. Novas possibilidades em informao popular. Revista da Escola de Biblioteconomia da UFMG, Belo Horizonte, v.20, n.1, p. 23-41, jan./jun. 1991. f) Notas de rodap As notas (no bibliogrficas) devem ser resumidas ao mximo e colocadas ao p das pginas, ordenadas por nmeros arbicos que no texto sero colocados logo aps a frase a que diz respeito e elevadas. g) Citaes Citaes de at trs linhas devero vir entre aspas, ao longo do texto. Citaes com quatro ou mais linhas devero com recuo de 2,5 cm da margem esquerda e ter espaamento simples. Citaes, parfrases e dados devem incluir a indicao da fonte ( sobrenome do autor, ano e pgina). Ex.: [(Lima, 1994, p. 45)] 3. O trabalho deve ser indito e no ter sido enviado para quaisquer outros rgos editoriais ou anais de congresso para publicao. 4. O trabalho deve ser redigido em portugus, ingls ou espanhol e estar sob a forma de artigo (mximo de 20 pginas), comunicao (mximo de 10 pginas), resenha ou ensaio cientfico (mximo de 10 pginas), resumo de tese ou dissertao (mximo de 2 pginas). 5. Os artigos e outras publicaes devero ser avaliados pelo Conselho Editorial ou por consultores ad hoc. 6. O Conselho Editorial no se responsabiliza pelos conceitos ou afirmaes expressos nos trabalhos assinados, que so de inteira responsabilidade do(s) autor(es). 7. Os originais do trabalho, inclusive o disquete, no sero devolvidos ao(s) autor(es). 8. O(s) autor(es) tero o direito a 02 (dois) exemplares, por artigo, da Revista FACEX. 9. O tamanho padro de impresso da revista de 260 x 360 mm (aberto). 10. O trabalho deve ser enviado Coordenao de Pesquisa e Extenso da FACEX, aos cuidados do Prof. Francisco de Assis Maia de Lima, no seguinte endereo:
FACULDADE DE CINCIAS, CULTURA E EXTENSO DO RN FACEX
Coordenadoria de Pesquisa e Extenso CPE A/C Prof. Francisco de Assis Maia de Lima Rua Orlando Silva, 2897 Capim Macio CEP 59.080-020 Natal, RN Tel.: (0xx84)217-8348
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
176
Carpe Diem, Natal, Ano 1, n.1, mai. 2001
S-ar putea să vă placă și
- TRAJETÓRIA DE VIDA-CIENTÍFICA DA EDUCAÇÃO MUSICAL NO BRASIL: SÍNTESE AGREGADORA DE UMA UNIDADE NA DIVERSIDADEDe la EverandTRAJETÓRIA DE VIDA-CIENTÍFICA DA EDUCAÇÃO MUSICAL NO BRASIL: SÍNTESE AGREGADORA DE UMA UNIDADE NA DIVERSIDADEÎncă nu există evaluări
- Nos Professores Brasileiros de Fisica Estivemos No CERN - 2 PDFDocument546 paginiNos Professores Brasileiros de Fisica Estivemos No CERN - 2 PDFbrunokfouriÎncă nu există evaluări
- O Professor-Pesquisador no Ensino de CiênciasDe la EverandO Professor-Pesquisador no Ensino de CiênciasÎncă nu există evaluări
- Pesquisa e Formação em Museologia no Brasil: Tendências nos Cursos de GraduaçãoDe la EverandPesquisa e Formação em Museologia no Brasil: Tendências nos Cursos de GraduaçãoÎncă nu există evaluări
- Formação de professores de Química: concepções epistemológicas, pedagógicas e prática docenteDe la EverandFormação de professores de Química: concepções epistemológicas, pedagógicas e prática docenteÎncă nu există evaluări
- Conexões Insuspeitas: Mapas Conceituais, Pirâmide Informacional e a Formação de ProfessoresDe la EverandConexões Insuspeitas: Mapas Conceituais, Pirâmide Informacional e a Formação de ProfessoresÎncă nu există evaluări
- Nanociência e Nanotecnologia em Ação: Uma Proposta de Ilha Interdisciplinar de Racionalidade com Tópicos de Física Moderna e ContemporâneaDe la EverandNanociência e Nanotecnologia em Ação: Uma Proposta de Ilha Interdisciplinar de Racionalidade com Tópicos de Física Moderna e ContemporâneaÎncă nu există evaluări
- Fundamentos de Química GeralDe la EverandFundamentos de Química GeralEvaluare: 5 din 5 stele5/5 (12)
- Laboratórios Escolares de Ciências: Guia PráticoDe la EverandLaboratórios Escolares de Ciências: Guia PráticoÎncă nu există evaluări
- História Da Educação - RHE - N. 31Document284 paginiHistória Da Educação - RHE - N. 31Revista História da Educação - RHEÎncă nu există evaluări
- Aprendendo Química a Partir do Tema Mineração: Proposta de Atividades para o Ensino MédioDe la EverandAprendendo Química a Partir do Tema Mineração: Proposta de Atividades para o Ensino MédioÎncă nu există evaluări
- Relações Étnico-Raciais no Contexto Quilombola Currículo, Docência e TecnologiaDe la EverandRelações Étnico-Raciais no Contexto Quilombola Currículo, Docência e TecnologiaÎncă nu există evaluări
- Nanopartículas Magnéticas: Um Estudo EstruturalDe la EverandNanopartículas Magnéticas: Um Estudo EstruturalÎncă nu există evaluări
- 1254 188 PBDocument217 pagini1254 188 PBTeresa Francisco NamacurraÎncă nu există evaluări
- Teoria e práxis: Oliveira Vianna como consultor jurídico do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio (1932-1940)De la EverandTeoria e práxis: Oliveira Vianna como consultor jurídico do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio (1932-1940)Încă nu există evaluări
- O Ginásio Vocacional de Rio Claro – Perspectivas HistóricasDe la EverandO Ginásio Vocacional de Rio Claro – Perspectivas HistóricasÎncă nu există evaluări
- Roteiro Curricular Básico (RCB):: Uma Proposta Interdisciplinar da Área de Ciências da Natureza para o Ensino Médio a Partir de "Situação De Estudo"De la EverandRoteiro Curricular Básico (RCB):: Uma Proposta Interdisciplinar da Área de Ciências da Natureza para o Ensino Médio a Partir de "Situação De Estudo"Evaluare: 4 din 5 stele4/5 (1)
- Práticas linguísticas na escola indígena Tururukari-UkaDocument249 paginiPráticas linguísticas na escola indígena Tururukari-Ukaedmilson00Încă nu există evaluări
- Licenciatura em Educação FísicaDe la EverandLicenciatura em Educação FísicaÎncă nu există evaluări
- Ebook FinalDocument218 paginiEbook FinalKarine PillaÎncă nu există evaluări
- Desafios do jornalismo: novas demandas e formação profissionalDe la EverandDesafios do jornalismo: novas demandas e formação profissionalÎncă nu există evaluări
- Ciências Da Religião Aplicada PDFDocument216 paginiCiências Da Religião Aplicada PDFNeuton FilhoÎncă nu există evaluări
- Glossário de Ciências em Libras: Uma Proposta Pedagógica Bilíngue para Alunos SurdosDe la EverandGlossário de Ciências em Libras: Uma Proposta Pedagógica Bilíngue para Alunos SurdosEvaluare: 5 din 5 stele5/5 (1)
- A Capoeira e Os MestresDocument170 paginiA Capoeira e Os MestresExemalandroÎncă nu există evaluări
- O professor de língua inglesa: novos rumos para o curso de licenciaturaDe la EverandO professor de língua inglesa: novos rumos para o curso de licenciaturaÎncă nu există evaluări
- ASPAS LV03 Vamos Falar Sobre Quadrinhos PDFDocument286 paginiASPAS LV03 Vamos Falar Sobre Quadrinhos PDFpns.palomaÎncă nu există evaluări
- Relações Teoria-Prática Na Formação De Professores De Ciências e BiologiaDe la EverandRelações Teoria-Prática Na Formação De Professores De Ciências e BiologiaÎncă nu există evaluări
- Ser Bacharel e Ser Professor: Problematizando A Ação Docente dos BacharéisDe la EverandSer Bacharel e Ser Professor: Problematizando A Ação Docente dos BacharéisÎncă nu există evaluări
- Cultura Corporal Lutas: Da Universidade à Educação BásicaDe la EverandCultura Corporal Lutas: Da Universidade à Educação BásicaÎncă nu există evaluări
- Os Laboratórios Didáticos de um Curso de FísicaDe la EverandOs Laboratórios Didáticos de um Curso de FísicaÎncă nu există evaluări
- Atividades Aquáticas: Um Olhar Dirigido ao EnsinoDe la EverandAtividades Aquáticas: Um Olhar Dirigido ao EnsinoEvaluare: 5 din 5 stele5/5 (1)
- Congresso Construir Caminhos Ensinar AprenderDocument30 paginiCongresso Construir Caminhos Ensinar AprenderDeyve RedysonÎncă nu există evaluări
- Amazônia e Trabalho Infantil: Uma Abordagem Envolvendo Política Pública, Crianças Indígenas e FronteirasDe la EverandAmazônia e Trabalho Infantil: Uma Abordagem Envolvendo Política Pública, Crianças Indígenas e FronteirasÎncă nu există evaluări
- A Maçonaria em PernambucoDocument101 paginiA Maçonaria em PernambucoAugusto CésarÎncă nu există evaluări
- Educación Física: Ideas y reflexiones disruptivasDe la EverandEducación Física: Ideas y reflexiones disruptivasÎncă nu există evaluări
- Educação musical a distância: Abordagens e experiênciasDe la EverandEducação musical a distância: Abordagens e experiênciasEvaluare: 5 din 5 stele5/5 (1)
- Revista de Ciências da EducaçãoDocument678 paginiRevista de Ciências da EducaçãoLuís Antonio GroppoÎncă nu există evaluări
- Avaliação Da Precisão Na Localização Dos Pontos Cefalométricos Da Análise Frontal de RickettsDocument74 paginiAvaliação Da Precisão Na Localização Dos Pontos Cefalométricos Da Análise Frontal de RickettsCaroline SalesÎncă nu există evaluări
- A Comunicação Científica em PeriódicosDe la EverandA Comunicação Científica em PeriódicosÎncă nu există evaluări
- A concepção do professor acerca da leitura e da formação continuada na alfabetizaçãoDe la EverandA concepção do professor acerca da leitura e da formação continuada na alfabetizaçãoÎncă nu există evaluări
- A Fisica No BrasilDocument284 paginiA Fisica No BrasiljoesleylopesÎncă nu există evaluări
- A Trajetória do INEP no Contexto das Políticas Públicas BrasileirasDe la EverandA Trajetória do INEP no Contexto das Políticas Públicas BrasileirasÎncă nu există evaluări
- A Fisica No BrasilDocument284 paginiA Fisica No BrasilKelvinSÎncă nu există evaluări
- Hist. Educação Estudo BibliometricoDocument119 paginiHist. Educação Estudo BibliometricoAdma DaninÎncă nu există evaluări
- 314Document118 pagini314Bruna DiasÎncă nu există evaluări
- Ensino de ciências e matemática: desafios, compreensões e horizontes da pós-graduaçãoDe la EverandEnsino de ciências e matemática: desafios, compreensões e horizontes da pós-graduaçãoÎncă nu există evaluări
- A Construção de Identidade(S) Profissional(Is) em Educação FísicaDe la EverandA Construção de Identidade(S) Profissional(Is) em Educação FísicaÎncă nu există evaluări
- Manual de Normas IFPRDocument113 paginiManual de Normas IFPREvelyn De LimaÎncă nu există evaluări
- Tensões identitárias de professores de educação físicaDe la EverandTensões identitárias de professores de educação físicaÎncă nu există evaluări
- Como Fazer Sua Rede de Ensino Conquistar o Pódio do IDEBDe la EverandComo Fazer Sua Rede de Ensino Conquistar o Pódio do IDEBÎncă nu există evaluări
- ANAIS Do I e Do II Seminários Internacionais Da ABRALITEC - Versão DigitalDocument205 paginiANAIS Do I e Do II Seminários Internacionais Da ABRALITEC - Versão DigitalNatani MaryÎncă nu există evaluări
- Caderno de Programação X CBHEDocument109 paginiCaderno de Programação X CBHEbocharttÎncă nu există evaluări
- Revista de Ciências da Educação UNISALDocument544 paginiRevista de Ciências da Educação UNISALJorge Monteiro JúniorÎncă nu există evaluări
- O MEDITAR COMO MERGULHO NO SILÊNCIO ABISSAL: Reflexões Sobre o Pensar e o Habitar Na Carta Sobre o Humanismo de HeideggerDocument24 paginiO MEDITAR COMO MERGULHO NO SILÊNCIO ABISSAL: Reflexões Sobre o Pensar e o Habitar Na Carta Sobre o Humanismo de Heideggerneves1313Încă nu există evaluări
- O MEDITAR COMO MERGULHO NO SILÊNCIO ABISSAL: Reflexões Sobre o Pensar e o Habitar Na Carta Sobre o Humanismo de HeideggerDocument24 paginiO MEDITAR COMO MERGULHO NO SILÊNCIO ABISSAL: Reflexões Sobre o Pensar e o Habitar Na Carta Sobre o Humanismo de Heideggerneves1313Încă nu există evaluări
- QUALIDADEDocument1 paginăQUALIDADEneves1313Încă nu există evaluări
- Schneider, A Contradição Da Linguagem em Walter BenjaminDocument391 paginiSchneider, A Contradição Da Linguagem em Walter BenjaminleandrokotzÎncă nu există evaluări
- O Mito Das Sacolas Plásticas e o Mercado (II) Ojornaldehoje02abr12Document1 paginăO Mito Das Sacolas Plásticas e o Mercado (II) Ojornaldehoje02abr12neves1313Încă nu există evaluări
- A BIOPOLÍTICA DO VELHO IMPERIALISMO DA GLOBALIZAÇÃO NEOLIBERAL O Jornal de Hoje 28 de Maio de 2012Document1 paginăA BIOPOLÍTICA DO VELHO IMPERIALISMO DA GLOBALIZAÇÃO NEOLIBERAL O Jornal de Hoje 28 de Maio de 2012neves1313Încă nu există evaluări
- Coliseum Futebol Clube 2000Document1 paginăColiseum Futebol Clube 2000neves1313Încă nu există evaluări
- O MEDITAR COMO MERGULHO NO SILÊNCIO ABISSAL: Reflexões Sobre o Pensar e o Habitar Na Carta Sobre o Humanismo de HeideggerDocument24 paginiO MEDITAR COMO MERGULHO NO SILÊNCIO ABISSAL: Reflexões Sobre o Pensar e o Habitar Na Carta Sobre o Humanismo de Heideggerneves1313Încă nu există evaluări
- O MEDITAR COMO MERGULHO NO SILÊNCIO ABISSAL: Reflexões Sobre o Pensar e o Habitar Na Carta Sobre o Humanismo de HeideggerDocument24 paginiO MEDITAR COMO MERGULHO NO SILÊNCIO ABISSAL: Reflexões Sobre o Pensar e o Habitar Na Carta Sobre o Humanismo de Heideggerneves1313Încă nu există evaluări
- QUALIDADEDocument1 paginăQUALIDADEneves1313Încă nu există evaluări
- O legado kantiano na filosofia de BenjaminDocument19 paginiO legado kantiano na filosofia de Benjaminneves1313Încă nu există evaluări
- Feira de ArtesanatoDocument1 paginăFeira de Artesanatoneves1313Încă nu există evaluări
- Historia e Tradicao - Elementos Sobre Critica e Continuidade Na Filosofia Da Historia - Francisco Ramos NevesDocument14 paginiHistoria e Tradicao - Elementos Sobre Critica e Continuidade Na Filosofia Da Historia - Francisco Ramos Nevesneves1313Încă nu există evaluări
- Estudos Contemporâneos Sobre Teoria Políti-CA E REVOLUÇÃO CULTURAL: Uma Abordagem A Partir Da Noção de Filosofia Da História em Walter BenjaminDocument24 paginiEstudos Contemporâneos Sobre Teoria Políti-CA E REVOLUÇÃO CULTURAL: Uma Abordagem A Partir Da Noção de Filosofia Da História em Walter BenjaminNeves SevenÎncă nu există evaluări
- O MITO DAS SACOLAS PLÁSTICAS E O MERCADO (III) OJornaldeHoje09abr12Document1 paginăO MITO DAS SACOLAS PLÁSTICAS E O MERCADO (III) OJornaldeHoje09abr12neves1313Încă nu există evaluări
- (CONTEXTO-UERN) Nova Hermenêutica Histórico-Crítica Revolução Anamnésica e Solidariedade Histórica em Walter BenjaminDocument8 pagini(CONTEXTO-UERN) Nova Hermenêutica Histórico-Crítica Revolução Anamnésica e Solidariedade Histórica em Walter Benjaminneves1313Încă nu există evaluări
- O MITO DAS SACOLAS PLÁSTICAS E O MERCADO (II) OJornaldeHoje02abr12Document1 paginăO MITO DAS SACOLAS PLÁSTICAS E O MERCADO (II) OJornaldeHoje02abr12neves1313Încă nu există evaluări
- (CONTEXTO-UERN) Nova Hermenêutica Histórico-Crítica Revolução Anamnésica e Solidariedade Histórica em Walter BenjaminDocument8 pagini(CONTEXTO-UERN) Nova Hermenêutica Histórico-Crítica Revolução Anamnésica e Solidariedade Histórica em Walter Benjaminneves1313Încă nu există evaluări
- O MITO DAS SACOLAS PLÁSTICAS E O MERCADO (I) Jornal de Hoje26 Março 2012Document1 paginăO MITO DAS SACOLAS PLÁSTICAS E O MERCADO (I) Jornal de Hoje26 Março 2012neves1313Încă nu există evaluări
- Ainda Podemos Falar em Esquerda e Direita Na Política2Document1 paginăAinda Podemos Falar em Esquerda e Direita Na Política2neves1313Încă nu există evaluări
- CRISE MUNDIAL E GLOBALIZAÇÃO (II) Ojornaldehoje07out.11Document1 paginăCRISE MUNDIAL E GLOBALIZAÇÃO (II) Ojornaldehoje07out.11ramosnevesÎncă nu există evaluări
- AINDA PODEMOS FALAR EM ESQUERDA E DIREITA NA POLÍTCAjornaldehoje19ago11Document1 paginăAINDA PODEMOS FALAR EM ESQUERDA E DIREITA NA POLÍTCAjornaldehoje19ago11neves1313Încă nu există evaluări
- CRISE MUNDIAL E GLOBALIZAÇÃO (IV) Ojornaldehoje10e11dezDocument1 paginăCRISE MUNDIAL E GLOBALIZAÇÃO (IV) Ojornaldehoje10e11dezneves1313Încă nu există evaluări
- UFRN - Quando A Meritocracia Subjuga o Critério Social Ojornaldehoje21jul11Document1 paginăUFRN - Quando A Meritocracia Subjuga o Critério Social Ojornaldehoje21jul11neves1313Încă nu există evaluări
- CRISE MUNDIAL E GLOBALIZAÇÃO (III) Ojornaldehoje07nov.11Document1 paginăCRISE MUNDIAL E GLOBALIZAÇÃO (III) Ojornaldehoje07nov.11neves1313Încă nu există evaluări
- A NOVA-VELHA ESTRATÉGIA DA DIREITA E AS ELEIÇÕES Jornaldehoje19jan2012Document1 paginăA NOVA-VELHA ESTRATÉGIA DA DIREITA E AS ELEIÇÕES Jornaldehoje19jan2012Neves SevenÎncă nu există evaluări
- CRISE MUNDIAL E GLOBALIZAÇÃO (III) Ojornaldehoje07nov.11.bDocument1 paginăCRISE MUNDIAL E GLOBALIZAÇÃO (III) Ojornaldehoje07nov.11.bneves1313Încă nu există evaluări
- A Cegueira Política Dos Mil OlhosDocument1 paginăA Cegueira Política Dos Mil Olhosneves1313Încă nu există evaluări
- BEM VINDO AO ATIVISMO QUÂNTICOoJornaldehoje01jan.2012Document1 paginăBEM VINDO AO ATIVISMO QUÂNTICOoJornaldehoje01jan.2012Neves SevenÎncă nu există evaluări
- Assessoria Tabela SalarialDocument7 paginiAssessoria Tabela SalarialelifariasÎncă nu există evaluări
- Primeiro Simulado Com ComentariosDocument16 paginiPrimeiro Simulado Com ComentariosLuanesbarreto SantosÎncă nu există evaluări
- Diário Oficial do Estado da Paraíba altera leis sobre proteção social e remuneração de militaresDocument2 paginiDiário Oficial do Estado da Paraíba altera leis sobre proteção social e remuneração de militaresRoberta SantosÎncă nu există evaluări
- ELO - Repactuação - 17 e 18-05-2018 - APOSTILA PDFDocument112 paginiELO - Repactuação - 17 e 18-05-2018 - APOSTILA PDFAgenciaPontoeVirgulaÎncă nu există evaluări
- A Função Social Do Professor PDFDocument20 paginiA Função Social Do Professor PDFFerdinando MeloÎncă nu există evaluări
- Relatório Do Desenvolvimento Humano 2015. O Trabalho Como Motor Do Desenvolvimento HumanoDocument310 paginiRelatório Do Desenvolvimento Humano 2015. O Trabalho Como Motor Do Desenvolvimento Humanogeografia e ensino de geografiaÎncă nu există evaluări
- Tabela Salarial 2018 - Tabela de Cargos e Salários de Todas As ProfissõesDocument195 paginiTabela Salarial 2018 - Tabela de Cargos e Salários de Todas As ProfissõesSalarioÎncă nu există evaluări
- Cálcular Preço de Projeto-2021Document6 paginiCálcular Preço de Projeto-2021Elaine CrisÎncă nu există evaluări
- Higienização de Sofá SebraeDocument31 paginiHigienização de Sofá SebraeGeorgy OvchinnikovÎncă nu există evaluări
- CTPSDigital 70125203616 19-02-2024Document2 paginiCTPSDigital 70125203616 19-02-2024Walter BarretoÎncă nu există evaluări
- Sistema ERP completo para contabilidade e gestãoDocument33 paginiSistema ERP completo para contabilidade e gestãoAlex BozzÎncă nu există evaluări
- Como Gerar A Guia Do FGTS ComplementarDocument4 paginiComo Gerar A Guia Do FGTS ComplementarBreno GamboniÎncă nu există evaluări
- Lei Sobre O Trabalhador Avulso: Federações e SindicatosDocument27 paginiLei Sobre O Trabalhador Avulso: Federações e SindicatosEmanuelly AlvesÎncă nu există evaluări
- MP 937 RESUMO REDUÇÃO SALÁRIO SUSPENSÃO CONTRATO BENEFÍCIO EMERGENCIALDocument4 paginiMP 937 RESUMO REDUÇÃO SALÁRIO SUSPENSÃO CONTRATO BENEFÍCIO EMERGENCIALJulio Alves MarquesÎncă nu există evaluări
- Convenção ColetivaDocument27 paginiConvenção ColetivakingtrashÎncă nu există evaluări
- Como Executar o Fechamento Do Arquivo SEFIP - MetadadosDocument6 paginiComo Executar o Fechamento Do Arquivo SEFIP - MetadadosIsis StrucklÎncă nu există evaluări
- Lei 8.112: Regime Jurídico dos Servidores PúblicosDocument128 paginiLei 8.112: Regime Jurídico dos Servidores PúblicosMatheus GleydsonÎncă nu există evaluări
- Simulados de Previdênciario Prof. Italo RomanoDocument21 paginiSimulados de Previdênciario Prof. Italo RomanoGabriela LeiteÎncă nu există evaluări
- Petição Inicial PDFDocument4 paginiPetição Inicial PDFJenny SantosÎncă nu există evaluări
- HESPANHA, Antonio M. O Direito No Início Da Era Moderna e A Imaginação Antropológica Da Antiga Cultura Europeia.Document21 paginiHESPANHA, Antonio M. O Direito No Início Da Era Moderna e A Imaginação Antropológica Da Antiga Cultura Europeia.Monique MarquesÎncă nu există evaluări
- Tabela de Honorarios Profissionais 2017Document10 paginiTabela de Honorarios Profissionais 2017Alexandre CoutinhoÎncă nu există evaluări
- Estatuto Policia Militar de AlagoasDocument37 paginiEstatuto Policia Militar de Alagoasjohnnyrabelo5Încă nu există evaluări
- Remuneração Estratégica e DesafiosDocument120 paginiRemuneração Estratégica e DesafiosLuiz Eduardo KuhnÎncă nu există evaluări
- Convenção Coletiva ParáDocument23 paginiConvenção Coletiva ParáevieiraÎncă nu există evaluări
- Regime jurídico dos servidores públicos civis da UniãoDocument35 paginiRegime jurídico dos servidores públicos civis da UniãoFernanda PantaleãoÎncă nu există evaluări
- Lei Complementar 444-85Document47 paginiLei Complementar 444-85Lidio JonasÎncă nu există evaluări
- Lista de ExercíciosDocument9 paginiLista de ExercíciosduduepÎncă nu există evaluări
- CCT 2015-2017 Sintrasades X SindhesDocument17 paginiCCT 2015-2017 Sintrasades X SindhesGabriela PradoÎncă nu există evaluări
- CCT Contadores 2022 RegistradaDocument13 paginiCCT Contadores 2022 RegistradaIcaro LyraÎncă nu există evaluări
- Livro 9 O Capitalismo Ainda e AqueleDocument193 paginiLivro 9 O Capitalismo Ainda e AqueleBetty SolanoÎncă nu există evaluări